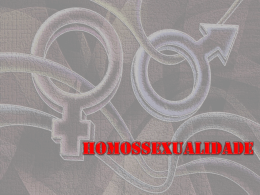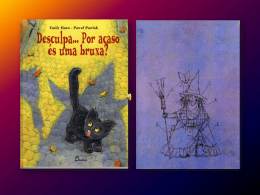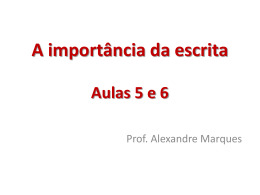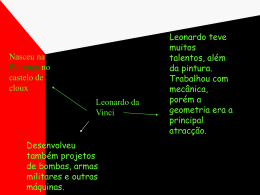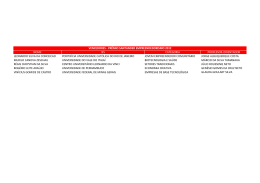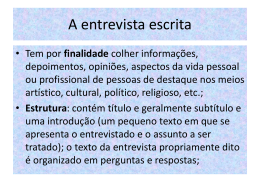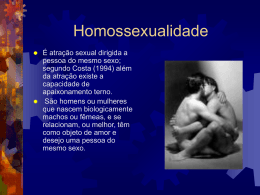XV ENCONTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DO NORTE E NORDESTE PRÉ-ALAS BRASIL 04 a 07 de Setembro de 2012, UFPI Teresina-PI GT05 – CULTURAS CORPORAIS, SEXUALIDADES E TRANSGRESSÕES: NOVAS MORALIDADES EM DEBATE NA ERA DOS DIREITOS HUMANOS DOR, RESSENTIMENTO E NEGOCIAÇÃO: homossexualidade e soropositividade na trajetória de um herdeiro MARCIO ZAMBONI1 Resumo O objetivo desse trabalho é analisar a articulação entre a experiência da homossexualidade, o diagnóstico da soropositividade e o campo de possibilidades de agência disponível para certos sujeitos no contexto de camadas altas na cidade de São Paulo. Para tal, partirei de uma análise dos conflitos de identidade e reconhecimento que marcaram a trajetória de um entrevistado que se afirma como homossexual, vive com HIV e descende dos proprietários de um grande grupo empresarial. Nesse esforço devo considerar o lugar central ocupado por certos atributos associados a gênero no estilo de socialização que caracteriza a formação de sucessores para grupos empresariais de capital familiar assim como a forte associação entre HIV e sexualidade que desde os primeiros anos da epidemia marca os debates na esfera pública e a formulação de políticas de saúde. 1 Formado em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. Pesquisador vinculado ao Numas-USP (Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença da USP), Mestrando em Antropologia pelo PPGAS-USP e bolsista (M1) pela FAPESP. 1 Introdução O objetivo desse trabalho é analisar a articulação entre a experiência da homossexualidade, o diagnóstico da soropositividade e o campo de possibilidades de agência disponível para certos sujeitos no contexto de camadas altas na cidade de São Paulo. Para tal, partirei de uma análise dos conflitos de identidade e reconhecimento que marcaram a trajetória de um entrevistado que se afirma como homossexual, vive com HIV e descende dos proprietários de um grande grupo empresarial. Nesse esforço devo considerar o lugar central ocupado por certos atributos associados a gênero no estilo de socialização que caracteriza a formação de sucessores para grupos empresariais de capital familiar assim como a forte associação entre HIV e sexualidade que desde os primeiros anos da epidemia marca os debates na esfera pública e a formulação de políticas de saúde. Conheci o principal personagem deste paper, Leonardo2, de 44 anos3, por intermédio de João, 49 anos, um dos interlocutores privilegiados da minha primeira pesquisa de iniciação científica: Homossexualidades em camadas altas da cidade de São Paulo4. Tenho trabalhado com esse tema (homossexualidades em camadas altas) desde 2009, quando iniciei a pesquisa em questão. O foco da investigação foi, em seu primeiro momento, pensar as interações entre classe, raça e (homos)sexualidade focalizando a questão da agência entre indivíduos pertencentes a camadas altas. O projeto proposto para a FAPESP se estruturava sobre duas lacunas identificadas a partir de um levantamento no banco de teses da CAPES5 acerca da bibliografia que trata da homossexualidade. Por um lado, a categoria classe, embora fosse apropriada com alguma frequência para definir ou recortar o campo era pouquíssimas vezes tematizada pelas pesquisas. Por outro lado, se as camadas médias e baixas eram recorrentemente referidas, não encontrei naquele momento nenhum projeto que se propusesse a trabalhar com camadas altas. 2 Os nomes dos entrevistados e informantes, bem como das pessoas às quais esses fizeram referência, foram trocados tendo em vista a preservação de suas identidades. 3 Idades referentes à realização da entrevista. 4 Realizada nos anos de 2009 e 2010 com o financiamento da FAPESP (Processo 2009/01764-9) e sob a orientação de Laura Moutinho. 5 Pesquisa realizada em Abril de 2008 no banco de teses da CAPES, disponível no site www.capes.gov.br. 2 A minha entrada em uma rede de homens e mulheres homossexuais na faixa dos 40 a 55 anos, que acabaria se consolidando como o principal núcleo da pesquisa, se deu a partir da surpreendente disposição de um amigo da minha mãe, que tinha então 50 anos. Em uma festa os dois conversaram a respeito da pesquisa que eu estava iniciando e, no dia seguinte, fiquei sabendo que “como homossexual e pertencente à classe média alta” (em suas palavras), ele havia se voluntariado para conceder uma entrevista - e que eu poderia entrar em contato se houvesse interesse. Não tinha pensado em trabalhar com essa faixa etária e achava que poderia ser estranho ou constrangedor conversar com amigos da minha mãe, mas acabei me convencendo de que poderia ser uma boa ideia. Depois de uma breve correspondência virtual, marcamos uma data para realizar a entrevista em sua casa. Ao final desta, pedi para ele indicar, se possível, amigos seus para realizarmos novas entrevistas. Recebi, poucos dias depois, nome, email e telefone de 2 amigos que haviam também se mostrado dispostos a contribuir com a pesquisa. Uma dinâmica semelhante caracterizou o trabalho de campo até que, 6 meses depois, eu havia realizado 9 entrevistas (6 homens e 3 mulheres) em 27 visitas (de 1 a 5 por entrevista) atingindo um total de 55 horas de gravação (de 3 a 10 horas aproximadamente por entrevista). O desenvolvimento do trabalho de campo se deu dessa forma: não como efeito de um planejamento prévio, mas porque foi esse o espaço que me foi aberto pela rede. Percebi que havia nesses indivíduos uma disposição para falar abertamente sobre suas vidas, e procurei ser sensível a essa demanda6. Os entrevistados compartilhavam com seus amigos a experiência e esses, quando, por curiosidade ou interesse, se mostravam dispostos, eram-me indicados para que conversássemos. A dinâmica do trabalho de campo se desenhou, então, como o inverso do que eu havia imaginado no projeto de pesquisa: os indivíduos foram a princípio recrutados para entrevistas em profundidade (se mostrando imediatamente disponíveis ou tendo sido indicados por amigos) a partir das quais passei a estabelecer, com alguns, outras espécies de contato (e-mail, encontro tomar café ou jantar, ir no cinema, compartilhar momentos de produção artística). 6 Essa disposição em falar no âmbito privado de uma entrevista sugere a importância do marcador geracional na forma como se deu o trabalho de campo. Se por um lado pessoas mais velhas são mais difíceis de encontrar e abordar em espaços de sociabilidade por outro parecem mais abertos em falar uma vez que o contato é estabelecido - além, é claro, de terem uma experiência de vida mais extensa. 3 Neste contexto, dois marcadores que ganharam força ao longo do trabalho de campo passaram a integrar o núcleo de problemas teóricos que orientou o desenvolvimento da pesquisa. Primeiramente, a faixa etária dos entrevistados (em contraste com a minha) - que caracteriza de forma decisiva a elaboração de narrativas por parte dos entrevistados e a natureza das relações de sociabilidade que o grupo pesquisado estabelece. Além disso, a soropositividade se afirmou como um questão pertinente uma vez que a maior parte dos homens entrevistados se disseram soropositivos no momento da entrevista e afirmaram em vários sentidos a importância dessa condição (e da convivência com pessoas afeadas pelo vírus) em sua trajetória e na forma como hoje administram suas vidas. Posteriormente, a minha segunda pesquisa de iniciação científica, “Entre memórias, dores e (re)negociações: o lugar da AIDS na trajetória de indivíduos que viveram o inicio da epidemia na cidade de São Paulo”7 renovaria o meu olhar sobre a questão do HIV/AIDS no universo estudado8. O marcador “classe”, sempre em diálogo com a problemática da “raça”, caracterizou de forma decisiva a abordagem da (homos)sexualidade no primeiro projeto, enquanto a soropositividade articulada à peculiaridade da experiência vivida por essa geração é o centro gravitacional do segundo. O projeto de mestrado tenciona, então, articular estas duas chaves etnográficas focando as possibilidades de agência disponíveis para os indivíduos da rede estudada, com o objetivo de analisar as formas pelas quais esses marcadores sociais da diferença ganham consistência na elaboração de narrativas sobre o passado ou na definição das interações concretas percebidas no presente. Desenhado este esboço do contexto mais amplo da pesquisa na qual o debate desta comunicação se insere, partirei para a descrição mais detalhada do meu encontro com Leonardo. 7 Realizada em 2011 com bolsa PIBIC/CNPq e sob a orientação de Laura Moutinho. O estudo contaria ainda com o apoio da pesquisa "Entre a exclusão, o reconhecimento e a negociação: (homos)sexualidade e raça em uma perspectiva comparada", financiada pelo CNPq (Edital Gênero – processo No 402916/2008-5 - coordenado pela Professora Laura Moutinho). 8 4 Encontro João me havia sido apresentado pelo primeiro entrevistado da pesquisa e desde nosso primeiro encontro para a realização da entrevista tivemos uma grande afinidade. Além disso, ele mostrou uma excepcional disponibilidade em encontrar outros interlocutores. Um dos contatos estabelecido por João foi Leonardo. Pelo que o primeiro me disse, o próprio Leonardo insistiu para que João o indicasse para a pesquisa quando ficou sabendo que ele havia participado de uma pesquisa com esta temática. Mandei um e-mail para Leonardo e recebi uma resposta simpática: Marcio, No problem, podemos marcar uma entrevista na semana que vem, em algum café aqui perto da minha casa, nos Jardins. Eu também fiz um doutorado em Londres, já há muitos anos, relacionado a homossexualidade, e sei como é difícil o processo de trabalho em campo, por isso quando o João comentou sobre o seu trabalho eu não hesitei em me disponibilizar. Acho mais fácil combinarmos por telefone (...) Me liga. Abraço, Leonardo Liguei e marcamos um encontro em um café nos Jardins (bairro particularmente valorizado próximo à região central da cidade de São Paulo), conforme o previsto. Na primeira vez que marcamos de nos encontrar, Leonardo não apareceu no local indicado. Liguei para ele algumas vezes enquanto o esperava mas não fui atendido. Depois de mais uma série de e-mails trocados e algumas outras ligações não atendidas, marcamos novamente no mesmo local alguns dias depois. Lá, já de início não me senti muito confortável vestindo camiseta, bermuda, tênis e mochila das costas (meu uniforme em campo para dias quentes): aparentemente o dress code era muito mais sofisticado (o que eu não imaginava, se tratando a princípio de um café de rua): Me dei conta de que não tinha visto nenhuma foto do entrevistado antes e não tinha certeza se ele me reconheceria quando chegasse. Fui alocado pelo maître em uma mesa perto da porta, e mandei um SMS avisando que havia chegado. Alguns segundos depois um homem de baixa estatura aparentando pouco mais de 30 anos aparece e pergunta: “você é o 5 Márcio?”. Era meu entrevistado. Depois me explicou: “É que não vem muita gente aqui com cara de antropólogo, sabe? Eu não sabia como você era porque a gente não conversou sobre isso, mas quando você chegou eu desconfiei que fosse você. Quando recebi a mensagem tive certeza”. Aparentemente, um erro grosseiro na indumentária ajuda a identificar um antropólogo. (transcrição do diário de campo) Leonardo diz ter feito um Ph.D. em sociologia na Inglaterra no final da década de 1990. Trabalhou com AIDS, homossexualidade e religião. Antes de começar o roteiro, tentei saber um pouco mais sobre sua tese mas ele não pareceu disposto a conversar a respeito. “Mas a gente está aqui para a sua pesquisa, não é?”. Pouco depois de eu dizer que a minha pesquisa era de iniciação científica, Leonardo me disse que tinha um compromisso dali a uma hora (olhando depois o e-mail tive a impressão de que ele imaginava ser uma pesquisa de doutorado). Algo da empolgação inicial visível nos e-mails havia claramente se perdido. Foi, em verdade, a minha primeira experiência verdadeiramente desafiadora em campo. Tive dificuldade de desenvolver qualquer espécie de identificação ou empatia com o entrevistado. Suas narrativas afluíam sempre para um sufocante ressentimento direcionado aos seus pais, independentemente das minhas tentativas de deslocá-las desse eixo9. Se durante o processo me senti entre irritado, desorientado e impotente, teria depois a impressão de que havia sido inflexível, impaciente ou insensível. Percebi então a importância da empatia ou da identificação com o entrevistado (que havia se mostrado presente em todas entrevistas até aquele momento) e de uma certa atmosfera de conforto e descontração durante a entrevista. Acreditava (talvez um pouco inocentemente) que o humor presente nas demais entrevistas era efeito da forma como eu as vinha conduzindo - e momentos de descontração eram fundamentais para que o entrevistado mantivesse certo nível de atenção e interesse por um período mais prolongado. Só a partir da entrevista de Leonardo que percebi que o que possibilitava o humor era especialmente a relação que o próprio entrevistado mantinha com a sua memória, diretamente associada à percepção de realização individual no presente. Retomando a entrevista, percebi diversos momentos em que tentei levar a narrativa para algo mais descontraído, aliviar de alguma forma a atmosfera pesada da 9 Tive, naquele momento, a impressão de que o eixo em torno do qual o entrevistado insistia em articular o depoimento nos levava repetidamente a um conjunto muito estrito de narrativas - enquanto pretendia, através do roteiro, recuperar sua trajetória de forma mais ampla. 6 entrevista10. Uma situação em particular deixaria clara minha dificuldade de mobilizar seu senso de humor. Tratava-se, para mim, a partir da experiência com as pesquisas anteriores, de um comentário típico de um momento de descontração: Os padres também, do colégio...Eu contava para os padres, na confissão, que eu tinha fantasia sexual com homens. E o que eles falavam? Ah, eles mandavam eu rezar cinco ave-marias, seis pai-nossos, entendeu? A afirmação de uma incompreensão tida como absurda (como padres que recomendavam pai-nossos para aliviar a homossexualidade) havia sido até então bastante típica de uma situação de deboche. Eu, como resposta, ensaiei um sorriso e estranhei não ter sido correspondido. Ele não pareceu ofendido, mas retomando a situação posteriormente tive a impressão de que posso ter sido bastante insensível. Depois que me dei conta de que lidava com uma pessoa que se definia como “profundamente espiritualizada, mas não religiosa”, e que tinha “diálogos constantes com Deus” (lembremos ainda o tema da sua tese). O fato dos padres terem tratado sua homossexualidade dessa forma tinha uma gravidade que eu não fui capaz de dimensionar. O sentido do seu comentário talvez fosse a indignação, não o deboche. Em verdade, toda a vida que transparecia pela sua narrativa era carregada de um gravidade que eu não fui capaz compreender nem de abordar com suficiente delicadeza. Seu depoimento no momento da entrevista me parecia apenas dramático ou extravagante, enquanto o que de fato parecia me mover era a irritação que eu sentia diante da insistência do entrevistado em marcar uma certas posições de hierarquia - especialmente em termos de classe mas também em termos de conhecimento. Poderíamos dizer que não fui capaz de construir um espaço de identificação com o entrevistado, talvez porque tivéssemos projetos diferentes para aquele encontro. A entrevista não teve continuidade. Ao final da seção da entrevista sobre vida escolar o entrevistado precisou ir embora. Conversamos rapidamente depois ainda e, entre outras sugestões para a minha pesquisa (que soaram mais como críticas), Leonardo afirmou que “Não tem nada a ver trabalhar com gay e lésbica na mesma pesquisa. As pessoas acham que tem a ver mais são coisas completamente diferentes, 10 Nas entrevistas anteriores, os momentos de descontração haviam se mostrado fundamentais para manter a atenção e a disposição dos interlocutores em continuar falando. 7 você vai ver”. Tentei marcar ainda na sua presença o próximo encontro, mas ele pediu para eu entrar em contato. Tentaria algumas vezes sem sucesso até concluir que era mais provável que ele não quisesse dar continuidade à entrevista. Decidi então respeitá-lo. Por um lado, fiquei profundamente decepcionado com a minha incapacidade de ter sido sensível às demandas desse entrevistado (apesar de ter consciência de que eu não era culpado pelo fato de ele ter expectativas diversas) e preocupado por imaginar que o possa ter ofendido. Por outro, fiquei feliz em perceber como, mesmo tendo nos desentendido, produzimos juntos um material bastante denso. Sou, portanto, grato pela sua participação e admiro sua paciência e disposição ao enfrentar um pesquisador inexperiente, relativamente insensível e talvez inconveniente. Tentemos então reconstituir alguns elementos centrais de sua trajetória a partir das narrativas às quais tive acesso. Formação Leonardo se formou em um ambiente conservador em termo de valores e bastante marcado em termos de classe: Meu pai e minha mãe, eles eram parte de uma coisa que não tem muito mais hoje em dia. [Por] que a sociedade naquela época era bem mais aristocrática. Primeiro que era ditadura, entendeu? Não existia essa igualdade que existe hoje entre os cidadãos. E o meu pai e a minha mãe faziam parte do high society. Então era todo mundo daí. Era todo mundo muito rico, muito glamouroso, as mulheres eram muito lindas. A gente era criado... Eu tinha uma babá austríaca, para você ter uma idéia. Nem era brasileira, ela era austríaca. Então tudo era muito chique. As crianças entravam, davam um beijinho e saiam, entendam? Eles não lidavam muito com as crianças. O entrevistado é o primogênito (e o único filho homem) de um empresário extremamente rico. Nesse contexto, a masculinidade se mostraria central, sendo diretamente associada à posição de um sucessor. A reflexão que Adriana Piscitelli (2004) elabora sobre a questão da sucessão em grupos empresariais de capital familiar é particularmente útil para iluminar algumas das tensões que permeiam a formação de Leonardo. Em Jóias de Família, a antropóloga ressalta a importância de gênero na 8 transmissão da herança (moral e material) que qualificará para as posições de liderança certos descendentes em detrimento de outros: Gênero diferencia, assim, o grupo de herdeiros/as ligados por laços de parentesco. Separa homens de mulheres, recortando os laços criados pela identidade de sangue [...]. Mas, marca, também, distinções entre os herdeiros (homens). Os sucessores que, concentram poder econômico e decisório, são associados aos estilos de masculinidade mais valorizados nos relatos. (PISCITELLI, 2004, p. 139) Dentro de um grupo de herdeiros (descendentes dos proprietários do capital), se destacam os sucessores (que concentrarão o poder decisório do grupo empresarial) - através de um processo muito particular de socialização que valoriza certos atributos associados a gênero. Assim, as tendências homoeróticas que Leonardo afirma apresentar desde cedo se mostrariam problemáticas: Meu pai era muito galanteador. A gente circulava com os Matarazzo11. Era esse tipo de gente. Você já deve ter ouvido falar, não é? Já. Então, era isso. Mas ali ser homem era muito importante. Só que eu era uma criança efeminada. Aos 6 ou 7 anos de idade eu fui no quarto dos meus pais. Eu era uma criança muito precoce, eu aprendi a ler e escrever antes de ir para a escola. Porque eu queria aprender, então eu tinha uma professora particular e já entrei na escola alfabetizado. E eu falei para eles que eu tinha fantasias sexuais com homem. Aí no dia seguinte eles me levaram em uma psicóloga e lá eu fiquei durante 6 anos. (...) Uma psicóloga que tentou curar a minha homossexualidade. Você acha que já estava manifesta aos 6 anos? Já, mas já estava manifesta muito antes. (Em itálico, ênfase do entrevistado) Em vários aspectos sua formação seria experienciada como extremamente incômoda, sendo recuperada com profundo ressentimento: Me fala um pouco mais sobre a educação da sua família em termos de... Muito rígida! Ela era muito rígida. Meu pai era muito rígido. Eu era o melhor aluno da escola sempre. Eu chegava para ele com o boletim, tudo 10, e mostrava para ele querendo sei lá, algum reconhecimento e ele 11 Família numerosa e extremamente rica (pelo menos até meados dos anos 1980) de empresários paulistanos, descendentes do Conde Francesco Matarazzo. Decidi manter o nome da família pelo fato de serem personagens públicas bastante conhecidas na cidade. 9 falava “Não fez mais do que a obrigação”. Entendeu? Ele era bem assim. E ele me forçava a andar a cavalo, que era uma coisa que eu não gostava. Eles me punham no judô, para ver se eu ficava um pouco mais masculino. Era muito importante isso para eles. Mas eles não assumiam que eles tinham um filho homossexual. (...) Eu só fui me assumir com 28 anos, durante todo esse tempo houve uma farsa. Mas você acha que eles deveriam assumir isso, quando você era criança? Claro que sim! Eles teriam me poupado muito sofrimento da minha parte. A falta de reconhecimento por suas conquistas (como desempenho escolar e acadêmico acima da média) assim como a indisposição dos pais em lidar com sua homossexualidade parecem ser centrais para a relação que Leonardo estabelece hoje com essas lembranças. Refletindo sobre a noção de herança neste contexto, Adriana Piscitelli observa que esta “apresenta diversas dimensões: refere-se à transmissão de patrimônio espiritual, moral e material entre gerações” (2004, p. 107). Em seguida, a autora atenta para uma dimensão particular da herança, que parece importante para compreendermos o caso que estamos analisando: O aspecto crucial da herança, reiteradamente tematizado, diz respeito à transmissão das qualidade que fluem através das gerações, particularmente da circulação daquelas que, singularizando o fundador [do grupo empresarial], possibilitaram a criação da sua obra. Em parte importante das histórias, a herança dessas qualidades, apresentada como critério fundamental para a seleção de sucessores, converte seus privilégios numa consequência da herança espiritual e moral neles corporificada. Trata-se do projeto que os pais de Leonardo buscavam concretizar no curso de sua conflituosa formação: a incorporação de qualidades (tidas como “familiares) através da socialização que permitissem a legitimação (e talvez a naturalização) de sua posição enquanto sucessor na liderança das empresas ligadas à família. Essa intenção já está muito explicitamente expressa em seu nome, que é o mesmo do seu pai acrescido do sufixo Junior. Como único descendente direto do sexo masculino, havia não apenas amplas perspectivas mas também grandes expectativas a respeito de Leonardo. Para este, no entanto, a resultante de sua experiência de socialização no ambiente familiar é 10 absolutamente negativa - uma grande desconfiança em relação à importância da herança familiar: Eu acho que eu aprendi tudo o que eu tinha que aprender sozinho. Muito do que eu aprendi que era correto eu tive que desaprender na minha vida fora do Brasil. Todos os preconceito que eu aprendi, tudo aquilo que eu carregava comigo. (...) Eu não acho que os meus pais ensinaram muita coisa para mim, eles não passaram muito tempo comigo. Eles não sentaram comigo e falaram “olha, a vida é assim ou assado”. Sabe? Não teve muito isso. Eu aprendi meio por osmose. (...) Resumindo a minha história com a minha família eu diria assim: infelicidade total. Até então acompanhamos um conflito entre expectativas familiares explícitas e insatisfações subjetivas latentes retomadas a posteriori. Vejamos como Leonardo narra as situações concretas nas quais esta tensão foi negociada também de forma explícita. Deslocamentos Um primeiro e importante deslocamento em relação a esse universo sufocante seriam as viagens que realizaria aos Estados Unidos: Eu comecei a viajar sozinho para os Estados Unidos. Eu era fascinado pelos Estados Unidos quando eu era adolescente. Pela cultura gay dos Estados Unidos. Eu comecei a fazer curso de inglês durante as férias. Então eu saia do Brasil, ficava 3 meses fora nas férias de verão, estudando inglês. Então o que eu fazia? Aos 17 anos eu tinha uma vida completamente gay. (...) Foram 5 cursos de inglês. E lá eu era um garoto gay como qualquer outro. Assim, totalmente gay. Eu vivia no ghetto. E lá eu descobri que existiam departamentos de universidades dedicados ao homossexualismo. E eu não sabia que existia. Acho que aqui nem existia. E eu queria ser isso, entendeu? Eu queria ser uma acadêmico dedicado aos estudos de gênero. Um deslocamento espacial em relação ao universo do high society paulistano associado à integração bem sucedida a um universo onde a homossexualidade podia ser vivida abertamente permitiram portanto a elaboração de um projeto alternativo de realização. Nesse mesmo período um novo fator complexificaria suas escolhas: 11 Quando eu tinha 17 anos, antes de ser identificada a causa da AIDS, eu já tinha HIV. E obviamente eu não contei para os meus pais. Essa foi uma das razões pelas quais eu quis ir embora do Brasil. Eu não queria envergonhar eles, já bastava o fato de eu ser gay. Morrer de AIDS naquela época era uma vergonha horrorosa. Eu não sei nem se você pode imaginar, se você leu. Mas você não viveu isso. A pior coisa que podia acontecer com uma pessoa era ela ter AIDS. A pior. Pior que você ser assassino. A coisa mais feia, mais nojenta, mais repugnante. Por um longo tempo ainda, no entanto, Leonardo seguiria o projeto que lhe havia sido reservado: ser o sucessor do seu pai. Não revelou à sua família sua condição de HIV positivo nem afirmou diante deles sua identidade homossexual (embora a vivesse de forma relativamente aberta no exterior). Se formaria em uma faculdade de administração de elite no Brasil, faria um estágio na Europa e MBA nos Estados Unidos, onde trabalharia em um banco por alguns anos depois de se formar. Aos 27 anos (5 anos depois de deixar o país) uma situação complexa o levaria a voltar para o Brasil e enfrentar a família: Os Estados Unidos não aceitavam imigrantes permanentes que fossem soropositivos. O Obama acabou de mudar isso. (...) Meu visto provisório de trabalho tinha acabado. Se eu não fosse positivo eu teria um green card12, assim, em 2 minutos. Mas eu não apliquei porque ia ser testado, ia ser rejeitado e ia ser deportado. Foi ai que eu voltei para o Brasil e contei para eles. Que eu era positivo há 10 anos. Ai foi aquele choque, aquele drama tal. Ai eu fui para Londres. Foi ai que eu fiz meu doutorado. O diagnóstico, como vimos, se mostrou problemático em sentidos muito diversos. Para Leonardo, no entanto, a vergonha parece ser sua dimensão mais crítica. E esse sentimento estava ligado em grande parte à impossibilidade de manter o silêncio não apenas a respeito do seus status mas também de sua homossexualidade consequência, por um lado, da forte associação divulgada na esfera pública entre HIV e sexualidade no primeiro momento da epidemia (PERLONGHER, 1987) e, por outro, a certas políticas públicas de prevenção (como a política de concessão de vistos nos Estados Unidos ou a definição de grupos de risco no Brasil). O enfrentamento em relação à família, em grande parte centrado na afirmação da homossexualidade, significaria uma ruptura profunda em relação um determinado conjunto de expectativas que lhe havia sido reservado: 12 Espécie de visto permanente para estrangeiros. 12 Meu pai queria que eu fosse o sucessor dele. Então tudo que eu estudei, tudo que eu fiz depois quando eu fui embora. Tudo foi para um dia eu voltar, tomar conta das coisas dele. Até o dia que eu falei: “olha, eu sou gay”. Aí nesse dia ele falou: “então não dá para você realmente tomar conta das minhas coisas”. Só nesse dia que ele falou isso. Embora eu entenda, porque eu sempre soube que eu era gay. Mas a farsa era tão grande que acho que ele chegou a acreditar que eu não era gay. Todo mundo realmente começou a acreditar. Sei lá, às vezes ele achou que era uma fase que poderia passar. Uma das coisas que ele falou quando eu falei que eu era gay foi “Não dá para reverter?”. Foi a primeira coisa que ele me perguntou: “Não dá para reverter?”. De uma forma ou de outra, Leonardo entende esse momento menos como um enfrentamento voluntário do que como a eclosão de um conflito latente. O fator decisivo seria em última instância a incompatibilidade entre o projeto de sucessão do pai e sua homossexualidade - ou o fato de que ele não apresentava o estilo de masculinidade associado à família e valorizado para o lugar de sucessor. Essa situação se mostrava particularmente dramática visto que: Eu sou o único filho homem, então quer dizer, o nome do meu pai acabou, então isso pesou muito. A afirmação da incompatibilidade com os pais o deslocava do seu destino de sucessor, mas esse deslocamento não parece suficiente para abrir caminho à elaboração de um projeto alternativo de realização. Não podemos esquecer que mesmo deixando de ser o sucessor, ela continuava sendo herdeiro (e pôde portanto dispor de um grande volume de bens materiais desde a maioridade). Alguma espécie de reconhecimento por suas conquistas individuais (empreendidas no sentido de corresponder às expectativas do pai) e da sua homossexualidade parecem ser demandados em uma retórica profundamente marcada pelo ressentimento. A ida para a Inglaterra tendo em vista um doutorado (que versaria sobre homossexualidade, AIDS e religiosidade) parece então significar o empreendimento de um projeto alternativo de realização que vinha ao encontro de um desejo antigo de trabalhar academicamente com gênero e sexualidade. Nesse sentido, não apenas o deslocamento, mas também o próprio tema da pesquisa de doutorado se mostrariam decisivos para seu reposicionamento diante de si mesmo e de seu destino: 13 Foi só ai, no meu doutorado, que eu consegui aceitar tudo o que me aconteceu. E me aceitar também. Foi só depois, quando eu comecei a ler sobre história da homossexualidade, tudo isso. (...) Saber que existiram indivíduos assim. Conhecer a fundo como era tratada a homossexualidade na Grécia, por exemplo, foi uma coisa que me fez muito bem. Saber por exemplo que na época medieval era permitido, existiam casamentos homossexuais, abençoados pela igreja. Tem um monte de coisa, não sei se você sabe disso. Mas tem muita coisa que foi escondida, que a ortodoxia foi limando, fingindo que nunca existiu. Mas os gays sempre existiram, e ser homossexual hoje não é a mesma coisa que ser homossexual na Grécia. Mas o homoeroticismo [sic] sempre existiu. Foi isso que te ajudou. Ah, ajudou muito. Aliás, acho que foi a única coisa que te ajudou. (...) Para mim a educação foi fundamental. Sobretudo a partir da sociologia. Até então não. Mas quando eu comecei a estudar gênero, sexualidade, corpo, religião, história da sexualidade. Foucault! Principalmente Foucault. E Butler, sabe essa gente? Sei. Tudo isso. Isso ai foi muito bom. Queer theory e tal. No entanto, pouco depois de concluir seu doutorado uma série de complicações relativas à sua saúde (consequência direta do HIV) o levariam de volta ao Brasil em uma situação extremamente delicada. Não tendo o apoio que esperava da família, sua situação ficou ainda mais tensa: Quando eu voltei para o Brasil eu precisava do apoio emocional deles e eu não tive. Ai eu pirei, eu literalmente eu pirei. (...) E eles tiveram que lidar com isso também. E foi uma coisa pública, porque como eles têm uma vida pública, meu pai foi um homem público. E como eles circulam muito na sociedade, e tem amigos que falam sempre da vida uns dos outros, foi uma coisa que aconteceu na frente de todo mundo. E hoje eu falo abertamente que sou sorpositivo, meus amigos sabem, eu não tenho vergonha de falar. Então foi muito doloroso para eles, mas hoje eles me aceitam mais. A dimensão pública que o conflito tomou parece ter sido decisiva para que sua situação tivesse alguma espécie de efeito mais profundo sobre sua família: Você acha que a sua trajetória transformou de alguma forma a sua familia? Completamente. Em que sentido? Ah, porque eles... (risos). Eles pagaram. Eles pagaram tudo, tudo que eu achei que eles tinham que pagar. Não foi nem conscientemente, foi como 14 a vida foi indo e levando. (...) Eles pagaram caro os erros que eles fizeram no passado. Nesse sentido, fazer os pais “pagarem caro pelos erros” parece para Leonardo uma contrapartida legítima para o sofrimento produzido pelos mesmos ao longo de uma formação traumática e pela relativa ausência de reconhecimento. Aqueles são vistos inclusive como os principais responsáveis por grande parte dos problemas que ele enfrentou e ainda hoje enfrenta. Assim, este entrevistado afirma não estar desconfortável diante do fato de não ser independente financeiramente: Eu não me deixo acanhar por causa disso, entende? Por que eu acho que muito dos problemas que eu tenho hoje em dia e essa história de não ser bem sucedido financeiramente tem a ver com o fato de eu não ter podido escolher o que eu queria estudar. Porque eu não pude escolher. Eu tive que fazer a faculdade de administração, depois eu tive que sair do Brasil para fazer estágio em uma empresa alemã que era associada ao meu pai. Eu fiquei lá um ano com um empresa de guindaste, ponte rolante, que é uma coisa que não tem nada a ver comigo. (...) Então acho que muito disso é culpa deles. Então eles tem que arcar, se eles podem. E isso não me acanha. Não deixo de fazer nada do que eu quero porque eu recebo uma mesada deles hoje em dia. Aliás, pelo contrário. Às vezes eu faço até um pouco mais só para causar um pouco de stress. Conclusões A retórica de Leonardo articula diretamente classe, gênero e sexualidade. Em sua trajetória esses elementos se combinam negativamente, conspirando para uma situação de sofrimento, frustração, imobilidade. O projeto a ele destinado pelo grupo familiar restringiu as possibilidades de projetos de realização alternativos especialmente porque, para o entrevistado, o reconhecimento de sua orientação sexual e de certas conquistas simbólicas por esse grupo era crucial. Estamos aqui dialogando com a análise que Laura Moutinho (2006) faz da trajetória de jovens negros homossexuais em uma favela carioca. Se, para a autora, uma simples “somatória de adversidades” não dá conta da experiência de seujeitos simultaneamente pobres, negros e homossexuais - também para Leonardo a experiência de ser rico, homossexual e soropositivo não pode ser explicada apenas em termos de uma posição privilegiada contraposta a duas adversidades. 15 Por um lado, a forma particular pela qual este interlocutor se inseria em uma estrutura de classes produziu uma forte tensão com o desejo de afirmar para si uma identidade homossexual. Como vimos, Leonardo era peça chave em um projeto econômico e político muito amplo. O desenvolvimento de um certo estilo de masculinidade era fundamental para garantir a estabilidade de um grande grupo empresarial que, por ser de capital familiar, dependia profundamente de um plano seguro de sucessão. O diagnóstico intensificaria uma crise que, de acordo com Leonardo, estava latente desde a primeira infância - tornando o confronto inevitável. Mas não podemos deixar de olhar, por outro lado, para os momentos em que a experiência da homossexualidade associada à posição de classe foi produtiva ou abriu novas possibilidade de agência. Foi em torno da homossexualidade que Leonardo se desvencilhou das expectativas sufocantes dos pais e se engajou na produção acadêmica. Além disso, o recurso a um escândalo público (na ocasião de sua volta ao país) obrigaria os pais a se sensibilizarem diante da sua condição de soropositivo e da afirmação da homossexualidade. Em sua busca por um reconhecimento difícil Leonardo pode ter encontrado mais dor, ressentimento e frustração do que realização - e foram precisamente os primeiros os eixos de suas narrativas. Não podemos deixar de reconhecer, no entanto, que ele foi muitas vezes criativo em seus agenciamentos e que esses se mostraram efetivos em sua imprevisibilidade. 16 Bibliografia BOURDIEU, Pierre. “A ilusão biográfica”. In. FERREIRA, Marieta; AMADO, Janaina (Org.). Os usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996. ___. A Distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp, 2008. BUTLER, Judith. Problemas de Gênero. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2003. CRAPANZANO, Vincent. Imaginative Horizons: an essay in literary-philosophical anthropology. Chicago e Londres: The University of Chicago Press, 2004. DOUGLAS, Mary. Pureza e perigo. São Paulo: Perspectiva, 1996. DUARTE, Luiz Fernando Dias. “A sexualidade nas ciências sociais: leitura crítica das convenções”. In: PISCITELLI, Adriana; GREGORI, Maria Filomena; CARRARA, Sergio (Org.). Sexualidade e Saberes: convenções e fronteiras. Rio de Janeiro: Garamond, 2004. FOUCAULT, Michel. História da sexualidade. 13. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1999. v. 1: A vontade de saber. ___. História da sexualidade. Rio de Janeiro: Graal, 2007. v. 2: O Uso dos prazeres. GUIMARÃES, Carmem Dora. O homossexual visto por Entendidos. Rio de Janeiro: Garamond/CLAM, 2004. MCCLINTOCK, Anne. Couro Imperial: raça, travestismo e o culto da domesticidade. Cad. Pagu. Campinas, n. 20, 2003. MISKOLCI, Richard. “Pânicos Morais e controle social - reflexões sobre o casamento gay.” Cad. Pagu. Campinas, n.28, 2007. MOUTINHO, Laura. Negociando com a adversidade: reflexões sobre "raça", (homos)sexualidade e desigualdade social no Rio de Janeiro. Rev. Estud. Fem. [online]. 2006, vol. 14, no. 1 pp. 103-116. ___. Razão, "cor" e desejo: uma análise comparativa sobre relacionamentos afetivo-sexuais "inter-raciais" no Brasil e África do Sul. São Paulo: Editora da UNESP, 2004. MOUTINHO, Laura ; LOPES, Pedro ; ZAMBONI, Marcio ; Ribas, Mario ; SALO, Elaine . Retóricas ambivalentes: ressentimentos e negociações em contextos de sociabilidade juvenil na Cidade do Cabo (África do Sul). Cad. Pagu, n. 35, 2010. PERLONGHER, Nestor. O que é AIDS. São Paulo: Brasiliense, 1987. PISCITELLI, Adriana. Jóias de Família: Gênero e parentesco em histórias sobre grupos empresariais brasileiros. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2006. POLLAK, Michel. “A homossexualidade masculina, ou: a felicidade no gueto?” In: ARIÉS, P.; BÉJIN, A. (orgs.). Sexualidades Ocidentais. São Paulo: Brasiliense, 1985. ___. Os Homossexuais e a AIDS: sociologia de uma epidemia. São Paulo: Estação Liberdade, 1990. ___. “Memória, Esquecimento, Silêncio”. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, 1989 SCOTT, Joan Wallach. “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”. Educação & Realidade. Porto Alegre, vol. 20, nº 2, 1995. SIMÕES, Julio Assis. “Homossexualidade masculina e curso da vida: pensando idades e identidades sexuais”. In: PISCITELLI, Adriana; GREGORI, Maria Filomena; CARRARA, Sergio (Org.). Sexualidade e Saberes: convenções e fronteiras. Rio de Janeiro: Garamond, 2004. VELHO, Gilberto. Individualismo e Cultura: notas para uma antropologia da sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1981. 17
Download