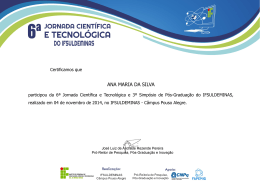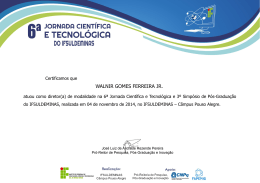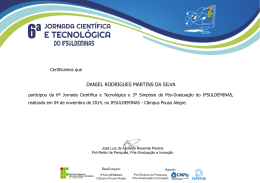100 95 75 25 5 0 100 95 75 25 5 0 ISSN 1984-428X AGROBASE 090437 Publicação Quadrimestral Científica e Tecnológica - IFSULDEMINAS v.3 – n.3 – Dezembro/2011 100 95 75 Pouso Alegre – Minas Gerais Dezembro – 2011 25 5 0 100 95 75 25 5 0 Ministério da Educação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Presidente da Replública Dilma Roussef Ministro da Educação Aloizio Mercadante Secretário de Educação Profissional e Tecnológica Marco Antônio de Oliveira Reitor do IFSULDEMINAS Sérgio Pedini Pró-Reitor de Administração e Planejamento José Jorge Guimarães Garcia Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Marcelo Bregagnoli Pró-Reitor de Ensino Marcelo Simão da Rosa Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional Mauro Alberti Filho Pró-Reitor de Extensão Renato Ferreira de Oliveira Ficha Catalográfica Agrogeoambiental / Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. - Vol. 3, n.3 A224 (dez. 2011) - Pouso Alegre: IFSULDEMINAS, 2011. Quadrimestral (set./dez.) ISSN 1984-428X 1. Ciências Agrárias. 2. Ciências Biológicas 3. Ciências Exatas 4. Ciências da Terra. I. IFSULDEMINAS. 100 95 75 Os artigos assinados são de responsabilidade dos autores e não expressam a opinião da equipe editorial da Revista Agrogeoambiental ou do IFSULDEMINAS. É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta revista, desde que citada a fonte. 25 5 0 100 95 75 25 5 0 Expediente Editores Secretária Camilo Oliveira Prado Éder José da Costa Sacconi Cássia Mara Ribeiro de Paiva Comissão editorial Pamela Hélia de Oliveira Dennis Hanson Costa Capa Cristiani Fortes Gris José Luiz de Andrade Rezende Pereira Marcelo Bregagnoli Wellington Marota Barbosa Bibliotecária Maria Aparecida Brito Santos Conselho editorial Alessandro Sales Carvalho - UFJF Alexandre de Carvalho - IFSULDEMINAS Aline Manke Nachtigall - IFSULDEMINAS Ana Cristina Ferreira Moreira da Silva - IFSULDEMINAS André Delly Veiga - IFSULDEMINAS Angelita Duarte Corrêa - UFLA Brígida Monteiro Vilas Boas - IFSULDEMINAS Carlos Alberto Machado Carvalho - IFSULDEMINAS Carlos Cesar da Silva - IFSULDEMINAS Carlos Eduardo de Andrade - IFSULDEMINAS Carlos Edwar C. Freitas - UFAM Carlos Henrique Rodrigues Reinato - IFSULDEMINAS Carlos Magno de Lima - IFSULDEMINAS Claudino Ortigara - IFSULDEMINAS Cléber Kouri de Souza - IFSULDEMINAS Denis Miguel Roston - UNICAMP Dulcimara Carvalho Nannetti - IFSULDEMINAS Éder Clementino Dos Santos - IFSULDEMINAS Edilson Lopes Serra - UFLA Edu Max da Silva - IFSULDEMINAS Erick Menezes de Azevedo - UNIFEI Eugenio José Gonçalves - IFSULDEMINAS Fabiano Ribeiro do Vale - UFLA Fabrício Gomes Gonçalves - UFES Felipe Campos Figueiredo - IFSULDEMINAS Felipe Moreton Chohfi - UNICAMP/IFMG Gerson de Freitas Silva Valente - IFSULDEMINAS Geslaine Frimaio da Silva - UNIP Isabel Ribeiro do Valle Teixeira - IFSULDEMINAS Jamil de Morais Pereira - IFSULDEMINAS João Olympio de Araújo Neto - IFSULDEMINAS Joel Augusto Muniz - UFLA José Euclides Stipp Paterniani - UNICAMP José Mauro Costa Monteiro - IFSULDEMINAS José Venícius de Souza - IFSULDEMINAS Joyce Silvestre Sousa - IFSULDEMINAS Julierme Wagner da Penha - IFSULDEMINAS Kátia Regina C. Balieiro - IFSULDEMINAS Leandro Carlos Paiva - IFSULDEMINAS Leonardo Rubim Reis - IFSULDEMINAS Lilian Vilela Andrade Pinto - IFSULDEMINAS Lucia Ferreira - IFSULDEMINAS Luciana Faria - IFSULDEMINAS Luiz Carlos Dias Rocha - IFSULDEMINAS Luiz Flávio Reis Fernandes - IFSULDEMINAS Marcelo Carvalho Bottazzini - IFSULDEMINAS Marcos Caldeira Ribeiro - IFSULDEMINAS Maria de Fátima F. Bueno - IFSULDEMINAS Maria José Brito Zakia - ESALQ Marlei Rodrigues Franco - IFSULDEMINAS Max Wilson Oliveira - IFSULDEMINAS Miguel Angel I. T. Del Pino - IFSULDEMINAS Paulo César Lima Segantine - USP Priscila Pereira Botrel - IFSULDEMINAS Renata Mara de Souza - IFSULDEMINAS Rodrigo P. De Oliveira - IFSULDEMINAS Roger Nabeyama Michels - UTFPR Rosa Toyoko S. Frighetto - EMBRAPA Silvana da Silva - IFSULDEMINAS Silvio Henrique Dellesposte Andolfato - UTFPR Verônica S. Paula Morais - IFSULDEMINAS Victor Gonçalves Bahia - UFLA Walter de Paula Lima - ESALQ 100 95 75 Tiragem de 500 exemplares Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação IFSULDEMINAS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais) Rua Ciomara Amaral de Paula, 167, Medicina - Pouso Alegre-MG - Cep 37550-000 (35) 3449 6150 - [email protected] 25 5 0 100 95 75 25 5 0 EDITORIAL A Revista Agrogeoambiental foi classificada na última avaliação da CAPES como Qualis B5, motivo de orgulho para a comunidade científica do IFSULDEMINAS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais). Este indicador resulta do compromisso na busca da excelência do trabalhado científico, sendo um reflexo das ações planejadas e executadas durante o ano. Este importante indicador contribui para solidificar o trabalho de fomento à pesquisa que o Instituto tem realizado com a participação coletiva dos diversos segmentos e órgãos democráticos. A atuação dos avaliadores, da CAPEPI (Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFSULDEMINAS), o apoio institucional da reitoria e a atuação da equipe da Pró-Reitoria tem sido determinantes na busca da excelência da qualidade da investigação publicada em nossa revista, assim como no apoio à educação formativa, em detrimento da educação informativa tradicional. Atualmente, o envio de artigos de diferentes instituições de ensino e de pesquisa tem contribuído com a melhoria do nível da publicação. Na busca da formação de cidadãos críticos, criativos, competentes e humanistas, o Instituto tem buscado parcerias com instituições públicas e privadas que visem ao aprimoramento da qualificação do corpo de servidores, criando uma conscientização da indissociabilidade da pesquisa com o ensino e a extensão. O Programa Institucional de Qualificação (PIQ), elaborado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e aprovado pelo CONSUP no final de 2011, incorpora a qualificação de seus quadros técnico-administrativos às preocupações do Instituto. O IFSULDEMINAS, com seus 12.400 alunos distribuídos em 6 campi e 27 Polos de Rede, no ano de 2011 teve seu número de bolsas de fomento à pesquisa duplicado junto a FAPEMIG. O IFSULDEMINAS foi inserido nos programas do CNPq (PIBIC, PIBITI, PIBIC-EM, Ciências Sem Fronteiras, Jovens Talentos para a Ciência, etc) e a efetivação do programa interno de fomento a projetos e bolsas aos discentes vai ao encontro de uma política interna de incentivo à formação intelectual ampla do indivíduo, através da experimentação científica. Neste volume, homenageamos Luiz Carlos Dias Rocha, professor do campus Inconfidentes do 100 IFSULDEMINAS, um dos fundadores da Revista Agrogeoambiental e assíduo contribuidor desse 95 periódico. 75 Boa leitura! 25 5 0 100 95 75 25 5 0 Sumário ARTIGOS CIENTÍFICOS Abordagem do processo de comunicação e a participação dos agentes envolvidos com a produção integrada Pág. 17 Gisele Lara de Almeida, Stella Regina Reis da Costa, André Luis de Sousa dos Santos Avaliação alelopática de Tithonia diversifolia na germinação e no crescimento inicial de Bidens pilosa e Brachiaria brizantha Pág. 23 Paulo Vinicius Anderson de Oliveira, Suzelei de Castro França, Marcelo Bregagnoli, Paulo Sérgio Pereira Avaliação da correção gravimétrica do terreno calculada a partir de Modelos Digitais de Elevação e associados ao Sistema Geodésico Brasileiro e ao EGM2008 Pág. 31 Karoline Paes Jamur, Rogers A. D. Pereira, Silvio Rogério Correia de Freitas, Fabiani D. Abati Miranda Avaliação do efeito borda na distribuição da avifauna em fragmentos florestais de Cerrado Pág. 37 Bruno Senna Corrêa, Marcelo Passamani, Aloysio Souza de Moura Composição bromatológica de duas variedades de cana-de-açúcar submetidas a diferentes doses de adubação mineral Pág. 43 Franklin Meireles de Oliveira, Poliana Batista de Aguilar, Benara Carla Barros Frota, Kléria Maria Souza Marques, Edivânia Souza Zeferino, Martolino Barbosa da Costa Júnior Influência de fatores ambientais sobre o desempenho de um sistema de bombeamento fotovoltaico: um estudo de caso Pág. 51 José Airton Azevedo Santos, Roger Nabeyama Michels Utilização de Biotech® para prevenção do entupimento de gotejadores Pág. 57 Kaio Golçalves de Lima Dias, Thiago Henrique Pereira Reis, Francisco Dias Nogueira, Maria Juliana Lasmar, Cesar Henrique Caputo de Oliveira, Paulo Tácito Gontijo Guimarães REVISÕES TÉCNICAS Avaliação mercadológica da borracha natural no Brasil Pág. 67 Danubia Rejane Silva Brito, Waldeídes de Castro e Sousa, Joabel Raabe, Sidney Araujo Cordeiro Compostagem de lodo de esgoto para uso agrícola 100 Pág. 73 Mário Viana Paredes Filho Homenagem ao Professor Luiz Carlos Dias Rocha 95 75 Pág. 81 25 5 0 100 95 75 25 5 0 ARTIGOS CIENTÍFICOS 100 95 75 25 5 0 100 95 75 25 5 0 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 Abordagem do processo de comunicação e a participação dos agentes envolvidos com a produção integrada Gisele Lara de Almeida Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, [email protected] Stella Regina Reis da Costa Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro André Luis de Sousa dos Santos Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial Resumo A fruticultura é um dos segmentos mais dinâmicos e competitivos do setor agrícola brasileiro. No Brasil são produzidas dezesseis espécies de frutas sob o sistema de produção integrada. A Produção Integrada-PI envolve 339 entidades públicas e privadas, no entanto, ainda é incipiente o conhecimento em torno dos avanços conquistados pela PI. A comunicação e a informação pertinente são fundamentais para promover a melhoria contínua da PI e têm assumido papéis importantes na superação de barreiras técnicas. Assim, este trabalho teve por objetivo identificar os canais de comunicação entre os principais agentes envolvidos com o planejamento da PI e suas participações no processo de comunicação, para levar informações aos agentes regulamentadores e coordenadores do programa. Esta pesquisa foi feita a partir de uma entrevista com o coordenador da Produção Integrada no Ministério da Agricultura, com base em formulários que abordavam o planejamento e a implementação da produção integrada e a participação dos principais agentes envolvidos com o Programa. Concluiu-se que há a necessidade de promover maior integração entre os agentes, criando canais de comunicação mais eficazes e focados na coleta de dados e informações necessários ao planejamento da produção integrada no Brasil. Palavras-chave: Comunicação interativa; PI Brasil; Planejamento. Approach the process of communication and participation of those involved with the integrated production Abstract The fruit is one of the most dynamic and competitive in the Brazilian agricultural sector. In Brazil there are sixteen species of fruit produced under integrated production system. The Integrated Production-IP involves 339 public and private entities; however, is still incipient knowledge about the advances made by the IP. The communication and relevant information are essential to promote the continuous improvement of IP and have played important roles in overcoming technical barriers. This work aimed to identify the channels of communication between the key players involved with the planning of IP and their participation in the communication process, to take the information provided to regulators and coordinators of the program. This research was made from an interview with the coordinator of Integrated Production in the Ministry of Agriculture, based on forms that addressed the planning and implementation of integrated production and participation of key stakeholders involved with the program. It was concluded that there is a need to promote greater integration among the agents, creating channels of communication more effective and focused on gathering data and information necessary for the planning of integrated production in Brazil. 100 95 75 Key words: Interactive communication; IP Brazil; Planning. 25 5 0 17 Abordagem do processo de comunicação e a participação dos agentes envolvidos com a produção integrada Introdução O Brasil é terceiro maior produtor mundial de frutas (Ferraz, 2009). Fazendo uma análise dos dados de Exportação do Agronegócio Brasileiro, observa-se que a partir do ano de 2005 (MAPA, 2011), o país vem agregando mais valor às suas frutas frescas. O atual contexto do mercado internacional de frutas sinaliza para um novo cenário, no qual o sistema de produção da Produção Integrada é um dos exemplos mais bem sucedidos e reconhecidos universalmente (Protas et al., 2001, apud Farias, 2002). Anteriormente conhecido por Produção Integrada de Frutas - PIF, a Produção Integrada Agropecuária - PI Brasil é um sistema baseado na sustentabilidade ambiental, segurança de alimentos, viabilidade econômica e rastreabilidade de todas as etapas da cadeia produtiva de alimentos. A PI Brasil foi instituída em 31 de agosto de 2010 pela Instrução Normativa n.º 27 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, e prevê a inserção de tecnologias que propiciam a certificação e o aumento da competitividade dos seus produtos. Atualmente a PI Brasil envolve 339 entidades públicas e privadas, dentre as quais se destacam: a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq, o Inmetro, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, Associações de Produtores, Cooperativas, Empresas Agropecuárias e Certificadoras (Andrigueto et al., 2008). Este sistema de produção tem despertado também o interesse e o reconhecimento pelos produtores, os quais conduziram 35,5 mil ha em projetos de produção integrada para a fruticultura brasileira em 2005. A implantação do sistema de produção integrada no Brasil tem apresentado resultados de destaque como: a) aumento de emprego e renda na ordem de 3,0% (PIF Maçã); b) diminuição dos custos de produção da maçã (40,0% em fertilizantes e 25,0% em inseticidas) e, no mamão, em torno de 44,0% da totalidade – campo e pós-colheita; c) indicadores de redução em pulverizações; d) diminuição de resíduos químicos nas frutas; e) melhoria da qualidade do produto consumido, da saúde do trabalhador rural e do consumidor final (Andrigueto; Kosoki, 2005). No entanto, em entrevista realizada em 15 de junho de 2011 com o coordenador da Produção Integrada da Cadeia Agrícola na Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, ficou constatado que ainda é incipiente o conhecimento em torno dos avanços conquistados pela PI Brasil. Até 2008 o monitoramento do andamento do programa e do seu nível tecnológico era feito com base nos projetos fomentados pelo MAPA, por meio dos relatórios dos coordenadores de cada projeto. Nos dois últimos anos, visando à ampliação da produção integrada para todos os produtos do agronegócio brasileiro, a PI Brasil trabalhou muito na elaboração de normas, registros de avaliação da conformidade, etc. A falta de registros efetivos e confiáveis do andamento do programa compromete seu planejamento futuro e o desenvolvimento de novas perspectivas para a produção integrada de frutas. As ações voltadas para o crescimento, estruturação e melhoria da PI Brasil são estabelecidas no chamado Plano Pluri Anual – PPA. O processo de elaboração do PPA tem como uma de suas entradas o indicador de Participação das exportações brasileiras de frutas na balança comercial, porém, informações como mecanismo de transferência de tecnologia adotado, manifestações da sociedade, opinião do produtor rural, necessidades e disponibilidade de recursos, divulgação e mercado externo também deveriam compor o conjunto de dados para a análise crítica durante o planejamento do programa. Ainda, a compreensão de fatores como o avanço nas práticas de plantio, manejo e comercialização de frutas no país, a contribuição que a produção integrada ofereceu às exportações e à balança comercial brasileira, o grau de efetividade das ferramentas de avaliação da conformidade adotadas, entre outros, é urgente e indispensável, uma vez que servirão como dados para o acompanhamento, desenvolvimento e expansão do sistema de produção integrada de frutas. Sem a informação pertinente, na grandeza e qualidade requeridas, é quase impraticável promover a melhoria contínua da PI Brasil. Neste contexto, processos de comunicação eficazes são necessários para se estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o sistema de produção integrada no país. A comunicação e a informação têm cada vez mais assumido papéis importantes no comércio internacional de alimentos, em especial na superação de barreiras técnicas. Para Cardoso (2006), tanto a busca pela excelência, quanto a preocupação com o consumidor e com o futuro do planeta, têm produzido novas concepções de negócios. São mudanças econômicas com transformações significativas para os mercados. Nesse contexto contemporâneo, a comunicação torna-se fundamental na tomada de decisão e, pensar na comunicação e na informação como elementos estratégicos, é um desafio que precisa ser ultrapassado. A comunicação eficaz e interativa permeia por todos os membros da cadeia produtiva de frutas e permite a disseminação das melhores práticas agrícolas e das tecnologias emergentes aceitas no comércio internacional de frutas in natura; a implementação dos processos necessários à promoção da segurança de alimentos; o entendimento e o atendimento aos requisitos dos clientes e consumidores e ainda, permite a retroalimentação do sistema, provendo dados para ações 100 95 75 25 5 0 18 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 de melhoria em planejamentos futuros. Assim, o objetivo principal deste trabalho foi identificar os canais de comunicação entre os principais agentes envolvidos com o planejamento da Produção Integrada Agropecuária e suas participações no processo de comunicação para levar informações aos agentes regulamentadores e coordenadores do programa, MAPA e Inmetro, promovendo a retroalimentação do programa. Metodologia Como a pesquisa está pautada num estudo sistêmico voltado para a retroalimentação da Produção Integrada Agropecuária, a estratégia de pesquisa adotada foi o estudo de caso, no qual foi estudado o caso da produção integrada de maçã, por ter sido a cultura pioneira na Produção Integrada no Brasil. Uma vez que este trabalho contempla investigar a maneira como ocorre o processo de comunicação dentro da estrutura da Produção Integrada, e a forma como os agentes envolvidos com este processo estão articulados, fez-se necessário ouvir a coordenação da Produção Integrada Agropecuária a respeito da atual organização da PI Brasil e dos trabalhos voltados para o desenvolvimento da PI que vêm sendo desenvolvidos pelo MAPA e também representantes da cadeia produtiva de maçã. Dessa maneira, a coleta de dados foi feita a partir de uma entrevista, realizada em 15 de junho de 2011 na Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo – SDC do MAPA, com o coordenador de Produção Integrada da Cadeia Agrícola do Ministério da Agricultura; com o coordenador da Produção Integrada de Uva e com o representante da Associação Gaúcha dos Produtores de Maçã, ambas em agosto de 2011. Foram utilizados como instrumental de pesquisa formulários de entrevista elaborados pelos autores. Os formulários abordavam temas relacionados ao planejamento, à implementação da Produção Integrada Agropecuária e à participação dos principais agentes envolvidos com o Programa, inclusive nos processos de comunicação. As questões foram desenvolvidas com base nos trabalhos publicados por Andrigueto e Sanhueza , e nos requisitos do Manual FAO de Boas Práticas Agrícolas, da Instrução Normativa MAPA n.º 27 de 31/08/2010 da PI Brasil, da Instrução Normativa MAPA n.º 5 de 22/09/2005 da PI-Maçã, da Instrução Normativa MAPA n.º 12, de 29/11/2001 da PI-Uva, da Instrução Normativa MAPA n.º 11, de 18/09/2003 da PI-Uva e do Manual do Pequeno Agricultor do GlobalGAP. Resultados e discussão A partir das opiniões dos agentes participantes da cadeia produtora de maçã e do coordenador da Produção Integrada Agropecuária no MAPA, foi possível identificar os canais centrais de comunicação existentes entre os principais agentes envolvidos com o programa. O fluxo de informações segue conforme apresentado na Figura 1 abaixo. Produtor Rural EMBRAPA Packinghouses MAP Produtores de pesticidas, agentes de limpeza e sanitização CNPq SEBRAE INMETRO 100 95 75 Varejistas, clientes e consumidores Figura 1: Atual fluxo do processo de comunicação no Programa Nacional de Produção Integrada Agropecuária 25 5 0 19 Abordagem do processo de comunicação e a participação dos agentes envolvidos com a produção integrada De acordo com o observado na Figura 1 acima, atualmente, os maiores canais de comunicação entre os principais agentes envolvidos com o planejamento da produção integrada consistem: a) na comunicação do MAPA com entidades como Embrapa, Inmetro, CNPq e SEBRAE; b) na comunicação do MAPA com produtores de pesticidas e de produtos de limpeza e sanitização; c) na comunicação das Embrapa com o produtor rural, com as packinghouses e com o CNPq; d) na falta de comunicação dos agentes que promovem a PI com a rede varejista e com clientes e consumidores; e) na falta de feedback de todos os membros da cadeia produtiva de alimentos para o MAPA, e; f) na centralização do MAPA. Com a aplicação dos formulários de entrevista e, considerando a participação dos principais agentes envolvidos com o planejamento e condução do Programa Brasileiro de Produção Integrada, foi observado que: a) apenas a Embrapa contribui efetivamente para retroalimentar o programa e sua participação no planejamento da PI não é dada de maneira formal e sistêmica; b) considerando a PI um programa de Avaliação da Conformidade, ficou constatado que, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, a condução dos processos de estudo dos impactos sociais e econômicos propiciados pela Produção Integrada, de acompanhamento do mercado, de promoção da educação e informação do consumidor e de promoção da PI nos acordos de reconhecimento internacionais não vem ocorrendo de maneira sistêmica. Tais fatores constituem pontos chave para o sucesso da PI enquanto atividade de avaliação da conformidade. c) a atual estrutura de comunicação não contempla um mecanismo formal, sistêmico e eficaz de transferência de tecnologia. De maneira estruturada, esse processo ocorre apenas entre a Embrapa e as unidades piloto onde os projetos de PI são geridos; d) o MAPA vem centralizando ao longo dos anos todo o processo de planejamento e condução da PI, sem que haja uma rotina de análise crítica do programa e uma ferramenta que proporcione a coleta de informações e de dados, vindos de todas as partes interessadas na Produção Integrada, que subsidiem essa análise. Desta forma, muitas informações importantes para o desempenho e desenvolvimento da produção integrada no país estão sendo, provavelmente, perdidas, em função da falta de canais formais e estruturados de comunicação, em especial com os produtores, com a rede varejista e com consumidores. Ficou constatado que é necessário revisar o processo de comunicação entre os agentes da PI Brasil para um melhor planejamento do programa. Dentre as oportunidades de melhoria identificadas, as principais foram: a) O canal de ouvidoria do MAPA não possui uma metodologia para receber, atender, tratar e registrar as manifestações de produtores e empresas parceiras do programa. b) O grau de satisfação do produtor rural com o programa não é medido. c) O MAPA não realiza trabalhos de pesquisa de opinião com clientes e consumidores nos mercados alvo da PI Brasil. d) A prospecção de demanda da PI Brasil se dá apenas pela seleção dos projetos encaminhados pelos pesquisadores das Embrapa. e) Não estão inseridas no canal de comunicação entidades chave para a transferência da tecnologia gerada com os projetos de PI e para o desenvolvimento da agricultura no país, como a Emater e as secretarias estaduais de agricultura. Para sanar as dificuldades encontradas nos processos de comunicação da PI Brasil, o MAPA está desenvolvendo ações estratégicas voltadas para a melhoria dos canais de comunicação entre os agentes da Produção Integrada em todo o país. Dentre outras ações, merece destaque a implementação do Sistema e Gestão da Produção Integrada – SIGPI, o qual, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Cooperativismo do Ministério, já está pronto e consiste na informatização de todos os dados relativos ao andamento da PI no Brasil. Esta ação é central na solução das falhas de comunicação enfrentadas pelos agentes envolvidos com a PI, pois, consiste na construção de um banco de dados que reunirá informações sobre o número de agricultores aderidos à PI, área, produção, cursos realizados, pessoas capacitadas, infraestrutura de PI, parceiros públicos e privados, ganhos de produtividade, redução de uso de insumos (agroquímicos, água, adubos, etc.), e que será uma importante ferramenta administrativa de coleta de dados para a retroalimentação do programa, contribuindo com informações substanciais para o seu planejamento e para sua melhoria contínua. Considerando o papel de cada agente no desenvolvimento da produção integrada, são apresentas a seguir algumas oportunidades de melhoria que o MAPA e o Inmetro, gestores da PI Brasil, poderiam implementar para promover a retroalimentação do programa. a) Estabelecer, implementar e manter uma metodologia para atender as manifestações do produtor rural, e que permita extrair informações a respeito das dificuldades e facilidades encontradas com o programa; das suas necessidades comercias e técnicas; entre outras. b) Estabelecer, implementar e manter um canal direto de contato com o consumidor do mercado interno, de forma a identificar suas necessidades e expectativas. c) Estabelecer, implementar e manter uma metodologia formal para divulgar a PI Brasil para os clientes do mercado internacional, alvo do programa. d) Estabelecer, implementar e manter uma metodologia para identificar as necessidades da sociedade quanto ao 100 95 75 25 5 0 20 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 andamento da produção integrada no país. e) Realizar a prospecção de demanda da PI Brasil com base nos dados advindos dos anseios da sociedade e dos mercados, utilizando ferramentas da qualidade adequadas de priorização para cada novo projeto. f) Estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente novos indicadores relacionados à qualidade da comunicação entre os principais agentes envolvidos com a PI e as demais partes interessadas, atribuindo autoridade e responsabilidade sobre tais indicadores aos agentes envolvidos. Tais indicadores poderiam ser somados aos já trabalhados pelo MAPA no Plano Pluri Anual da PI Brasil. Com relação à divulgação da PI Brasil para os clientes do mercado internacional, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Cooperativismo em parceria com a Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio-SRI, ambas do MAPA, está trabalhando na estruturação de um projeto que permitirá realizar missões voltadas especificamente para a divulgação da PI Brasil em feiras internacionais, baseada nas prospecções de mercado feitas pela SRI. Atualmente, a divulgação da PI Brasil nessas feiras tem sido realizada com a colaboração de outros agentes do Ministério, os quais não estão diretamente envolvidos com as atividades de produção integrada. Para implementar tais ações, seria necessário que o MAPA, inicialmente, descentralizasse e organizasse a estrutura que compõe a cadeia de Produção Integrada no país. Para uma condução bem sucedida deste novo modo de gerenciar a Produção Integrada, seria fundamental que o MAPA: a) criasse e estabelecesse novos canais diretos de comunicação; b) descrevesse metodologias de trabalho; c) fizesse uso das ferramentas de administração da qualidade para o estabelecimento e manutenção das ações de melhoria do Programa; d) estabelecesse registros para os organismos envolvidos com a PI Brasil; e) capacitasse os personagens envolvidos com o registro e o fluxo das informações da Produção Integrada e; f) divulgasse periodicamente e de maneira sistêmica tais informações para todas as partes interessadas, incluindo a sociedade. Grande parte destas ações o MAPA já vem promovendo por meio do desenvolvimento e da consequente implementação do SIGPI. Acredita-se que este programa se consolide em um novo canal de comunicação do MAPA com os agentes da PI e entre todas as partes envolvidas com o Programa e sirva de base para o registro das principais atividades relacionadas com a Produção Integrada e de fontes de informações confiáveis e na de qualidade requerida, relativas aos programas de produção integrada conduzidos em todo o país. Dessa forma, o fluxo ideal de comunicação e informação necessário ao bom andamento da PI Brasil poderia ser de acordo com o apresentado na Figura 2 a seguir: Produtor Rural EMBRAPA SEBRAE MAPA INMETRO CNPq Figura 2. Exemplo do fluxo ideal do processo de comunicação no Programa Nacional de Produção Integrada Agropecuária Fonte: Adaptação do modelo de comunicação interativa na cadeia produtiva de alimentos, apresentado na ABNT NBR ISO 22000:2006 EMATER Secretarias agropecuárias estaduais Packing Houses Produtores de pesticidas, embalagens, agentes de limpeza e sanitização 100 Varejistas 75 Clientes e consumidores 95 Satisfação 25 5 0 21 Abordagem do processo de comunicação e a participação dos agentes envolvidos com a produção integrada Observando a Figura 2 acima, observa-se que os autores propõem: a) uma atuação mais eficiente do MAPA e do Inmetro como órgãos gestores da PI, estabelecendo os requisitos necessários ao seu pleno desenvolvimento; b) a comunicação direta do MAPA e do Inmetro com o produtor rural e com clientes e consumidores para medir o sucesso, a penetração, a adequação e a satisfação da sociedade com a PI; c) a comunicação direta do MAPA e do Inmetro com os agentes envolvidos com PI no país, a fim de facilitar o acompanhamento dos indicadores do Programa e promover o desenvolvimento e a melhoria contínua da atuação destes órgãos nas atividades de PI, no âmbito do SBAC; d) a participação de organismos que atuam fundamentalmente na extensão rural; e) uma maior inter-relação entre todos os agentes que participam da PI, e; f) a comunicação direta dos agentes envolvidos com a PI com o produtor rural e com clientes e consumidores. Conclusão Os principais canais de comunicação e informação identificados são aqueles que envolvem o MAPA, as Embrapa, o Inmetro, poucas redes varejistas e o produtor rural. Dentre estes canais participam com o fornecimento de informações apenas o MAPA, o Inmetro, a Embrapa e o próprio produtor rural. Assim, pode-se concluir que há uma necessidade de promover maior integração entre os personagens envolvidos com o planejamento e o desenvolvimento da Produção Integrada, criando canais de comunicação mais eficazes e focados na coleta de dados e informações necessários à perfeita condução do programa no Brasil. Cabe ao MAPA estruturar tal sistema, buscando envolver de maneira metódica todos os agentes que participam da produção integrada no Brasil. Referências bibliográficas ANDRIGUETO, J. R.; KOSOSKI, A. R. Desenvolvimento e conquistas da produção integrada de frutas no Brasil até 2004. Brasília, 2005. MAPA. Disponível em: <http://www.fundagres.org.br/downloads/pimamao/200 5_cap _06.pdf >. Acesso em: 20 ago. 2009. ANDRIGUETO, J. R. et. al. Produção integrada de frutas e sistema agropecuário de produção integrada no Brasil. Brasília, abr. 2008. Disponível em: <http://www. agricultura.gov.br/pls/portal/docs/PAGE/MAPA/SERVICOS /PROTECAO_INTEGRADA_DE_FRUTAS1/PROD_INTEGRA DA_TEXTOS/LIVRO%20PIFSAPI%2013%20MAIO%2008%20R EVISADO_0.PDFf>. Acesso em: 24 ago. 2009. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. ABNT NBR ISO 22000:2006, Sistemas e Gestão da Segurança de Alimentos – Requisitos para qualquer organização na cadeia produtiva de alimentos. CARDOSO, O. O. Comunicação empresarial versus comunicação organizacional: novos desafios teóricos. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro, v. 40, n. 6, p. 1123-44, nov.-dez. 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ %0D/rap/v40n6/10.pdf>. Acesso em: 08 jul. 2011. FARIAS, R. M. Produção Convencional x Integrada em Pessegueiro na depressão central do Rio Grande do Sul. 2002. 102 p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2002. Disponível em: <http:// www.lume.ufrgs.br/ bitstream/handle/10183/3410/000337740.pdf?sequence=1 >. Acesso em: 04 set. 2009 FERRAZ, M. S. Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas. Revista On Line Brasil Alimentos. São Paulo, ago. 2009. Disponível em: <http://www. brasilalimentos.com.br/neg%C3%B3cios/2009/brasil%C3%A9-o-terceiro-maiorprodutor -mundial-de-frutas>. Acesso em: 27 fev. 2010. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA. Exportação do agronegócio brasileiro – total: ranking por valores de 2010. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/portal/page/portal /Internet-MAPA/pagina-inicial/internacional/indicadorese-estatisticas/balanca comercial>. Acesso em: 28 fev. 2011. PROTAS, J. F. S.; KREUZ, C. L.; JAPAIASSÚ, M. F. Sistemas de produção integrada e convencional de maçã: uma análise comparativa de custos. Seminário sobre produção integrada de frutas. 3. 2001, Bento Gonçalves. Anais. Bento Gonçalves, RS: Embrapa Uva e Vinho, 2001, p. 38-41. 100 95 75 25 5 0 22 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 Avaliação alelopática de Tithonia diversifolia na germinação e no crescimento inicial de Bidens pilosa e Brachiaria brizantha Paulo Vinicius Anderson de Oliveira Suzelei de Castro França Unidade de Biotecnologia, Universidade de Ribeirão Preto, [email protected] Marcelo Bregagnoli Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, campus Muzambinho Paulo Sérgio Pereira Unidade de Biotecnologia, Universidade de Ribeirão Preto Resumo O objetivo deste projeto foi de avaliar o potencial alelopático do extrato e frações purificadas das espécies vegetais Tithonia diversifolia na germinação de Brachiaria brizantha e Bidens pilosa. A germinação foi avaliada quanto aos aspectos: percentual de germinação, velocidade de germinação, número de folhas, altura das plântulas, tamanho das raízes, peso e sobrevivência das mesmas. Os resultados obtidos permitiram concluir que Tithonia diversifolia mostrou-se tóxico para as plantas daninhas utilizadas. Adicionalmente, devido a inibição da germinação e o retardamento do desenvolvimento radicular e aéreo ficou confirmado o efeito alelopatico do ácido clorogênico isolado desta espécie. Palavras-chave: Tithonia diversifolia; Ácido clorogênico; Alelopatia. Allelopathic effect of Tithonia diversifolia on germination and early seedling growth of Bidens pilosa and Brachiaria brizantha Abstract The aim of this work was to evaluate the allelopathic potential of crude extracts and purified fractions of Tithonia diversifolia in the germination process of Brachiaria brizantha and Bidens pilosa. Several germination parameters were investigated: proportion of germination, growth rate, number of leaves, plant height, root elongation, plant weight and survival. Obtained results lead to the conclusion that Tithonia diversifolia extract showed enhanced toxicity against tested weeds. Additionally due to germination inhibition and retarding on the development of aerial parts and root system it was confirmed the allelopathic effect of the chlorogenic acid isolated from that specie. Keywords: Tithonia diversifolia; Allelopathy; Chlorogenic acid. 1. Introdução A fim de reduzir infestações de plantas em cultivos agrícolas, estudos vêm utilizando recursos naturais a procura de compostos químicos presentes nas plantas resultantes do metabolismo primário e secundário para o controle racional das plantas invasoras. O primeiro grupo é composto de substâncias formadas a partir da fotossíntese, sendo divididas em: carboidratos, proteínas, lipídeos e ácidos nucléicos. O segundo é representado por substâncias formadas a partir da energia do metabolismo dos compostos primários (GAVILANES et. al., 1988). Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray pertence à família Asteraceae, tribo Heliantheae, conhecida popularmente como margaridão, compreende 13 espécies, das quais 7 foram investigadas quimicamente sendo isoladas destas, lactonas sesquiterpênicas, com esqueleto carbociclico do tipo heliangolídeo e germacrolídeo e, ainda, diterpenos e flavonóides (BARUAH et al., 1979; PEREZ et al., 1992; PEREIRA et al., 1997; KUO & CHEN, 1997). Margaridão é comum em certas regiões do México, América Central (SCHUSTER et aI., 1992) e no Brasil é amplamente distribuída. Essa espécie pertence à mesma tribo 100 95 75 25 5 0 23 Avaliação alelopática de Tithonia diversifolia na germinação e no crescimento inicial de Bidens pilosa e Brachiaria brizantha do girassol (Helianthus annuus), o qual apresenta elevada atividade alelopática contra plantas daninhas de onde foi isolado sequiterpenos não lactônicos derivado de heliannanos (AZÂNIA et al, 2003; LEATHER, 1983). O objetivo geral deste trabalho foi avaliar o potencial alelopático do extrato bruto, e purificados da espécie Tithonia diversifolia usando Bidens pilosa e Brachiaria brizantha como planta invasora. 2. MATERIAIS E MÉTODO 2.1 Coleta e preparo do material vegetal O material vegetal de Tithonia diversifolia foi coletado na Coleção de Plantas Medicinais da Universidade de Ribeirão Preto, utilizando partes aéreas (caule, folhas e flores) in natura. As partes foram submetidas à seleção, processo de secagem em estufa de circulação de ar quente à 40ºC, moagem em moinho de facas. 2.2 Preparo do Extrato A partir de 850g do material seco e triturado, foram realizados macerações sucessivas por 8 horas com 3 litros de água a 100 ºC obtendo-se 910 mL de extrato aquoso na primeira extração, que posteriormente foi macerado novamente por 12 horas com 3 litros de água a 100 ºC obtendo 1920 mL. No final das macerações foram reunidos os extratos das duas extrações e submetido a liofilização a fim de se tornar um extrato sólido rendendo 133,33 g de extrato seco. 2.3 Fracionamento dos extratos O extrato aquoso seco de T. diversifolia foi submetido ao fracionamento cromatográfico aquoso em Sephadex ® LH20 nas condições descritas a seguir: 2 g de extrato diluídos em 6 ml de água destilada e submetidos a cromatografia em coluna (75 x 2,5 cm), eluídas com água. Frações de 5 mL foram coletadas, e posteriormente reunidas em 3 frações (TIT01, TIT02 e TIT03) de acordo com visualizações dos perfis por cromatografia em camada delgada comparativa (CCDC) em placas de sílica gel (10 x 10 cm, J.T.Baker Si250F®), eluídas em BAW (n-butanol:ácido acético:H2O, 4:1:5, fase superior); observadas em lampadas de UV 254 e 366 nm e reveladas com Ninhidrina e/ou Vanilina Sulfúrica. O processo de purificação foi realizado 5 vezes, para armazenamento de maior quantidade de fracionado a serem utilizados nos re-fracionamentos seguintes, e devidos a demanda para os bioensaios. 2.4 Purificação dos constituintes ativos Uma parte de 0,400 g da fração TIT02, obtida do fracionamento do extrato aquoso, foi dissolvido em 4 mL de água, centrifugada e filtrada para purificação em HPLC (Shimadzu®), nas condições: Coluna reversa (10 x 250 mm), fase móvel H2O (ácido acético 0,1 %), fluxo de 2,0 mL/min, detecção a 280 nm e coleta de 2 mL/tubo, sendo o tempo total de análise de 130 min. Todas as frações foram caracterizadas fitoquimicamente através de CCDC em placas de sílica gel (10 x 10 cm, J.T.Baker Si250F®), eluídas em BAW, observadas em UV 254 e 366 nm e reveladas com Ninhidrina ou Vanilina sulfúrica onde foram reunidas segundo perfil e concentradas em liofilizador, resultando em 2 frações denominadas de TIT02.01a e TIT02.01d (Fração desprezada). O restante de 0,669 g da fração TIT02 obtida do fracionamento do extrato aquoso foi também purificado em HPLC (Shimadzu®), nas condições: Coluna reversa (10 x 250 mm), fase móvel MeOH:H2O: 0:100 à 10:90 gradiente linear por 80 min; 10:90 à 80:20 gradiente linear por 30 min; 80:20 à 0:100 gradiente linear por 2 min; 0:100 isocrático por 8 min, sendo o tempo total de análise de 120 min. O fluxo foi 2,0 mL/min, a detecção a 280 nm e a coleta de 2 mL/tubo. Todas as frações foram caracterizadas fitoquimicamente através de CCDC nas mesmas condições de análise anterior, reunidas segundo perfil e concentradas em liofilizador, resultando em 2 frações denominadas de TIT02.01b e TIT02.01d (Fração desprezada). Após comparações dos perfis cromatográficos foram reunidas as duas frações TIT02.01a e TIT02.01b denominada em TIT02.01ab. A fração reunida foi dissolvida em água e submetida ao fracionamento em HPLC (Shimadzu®), nas condições: Coluna reversa (10 x 250 mm), fase móvel MeOH:H2O: 0:100 isocrático por 50 min; 0:100 à 80:20 gradiente linear por 10 min; 80:20 à 0:100 gradiente linear por 10 min; 0:100 isocrático por 20 min, sendo o tempo total de análise de 90 min. O fluxo foi 1,0 mL/min, a detecção a 280 nm e a coleta de 1 mL/tubo. Todas as frações foram caracterizadas fitoquimicamente através de CCDC nas mesmas condições das análises anteriores, reunidas segundo este perfil e concentradas em liofilizador, resultando em 14 frações. 2.5 Identificação da substância purificada Para identificação das substâncias semi-purificadas, 3 das 14 frações foram dissolvidas em DMSO-d6 e submetidas à técnica de RMN de 1H e 13C, 300 e 75 MHz. As frações purificadas também foram analisadas por HPLC analítico nas condições: Coluna reversa (4,6 x 250 mm), fase móvel MeOH:H2O (Ácido Acético, 0,1%, v/v): 0:100 à 15:85 gradiente linear por 25 min; 15:85 à 100:0 gradiente linear por 5 min; 100: 0 à 0:100 gradiente linear por 2 min; 0:100 isocrático por 8 min, sendo o tempo total de análise de 40 100 95 75 25 5 0 24 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 min. O fluxo foi 1,0 mL/min e a detecção a 280 nm. Nesta análise comparativa foi utilizado o ácido clorogênico (Aldrich), frações e o extrato bruto (50 mg/mL). 2.6 Execução e avaliação da germinação das plantas daninhas com o extrato As espécies Bidens pilosa e Brachiaria brizantha foram selecionadas como alvos receptores dos aleloquímicos pela sua relevância dentre as espécies de ervas daninhas na agricultura. Para os testes de germinação das espécies utilizadas como invasoras nos extratos vegetais foi utilizado uma câmara de germinação da marca Marconi, modelo MA 1403/UR, com condições controladas em 23 ºC, 80 % de umidade relativa do ar e fotoperíodo de 13 h/Luz. Nas avaliações foram utilizadas caixas acrílica Gerbox de dimensões 7,0 x 7,0 x 7,0 cm, 2 g de espuma fenólica moída como suporte, 25 mL de extrato vegetal em três dosagens diferentes (1%, 2% e 4%) e 20 (vinte) sementes por Box, sementes estas passada por assepsia com cercobin 1% (p/v) por 1 hora em agitação e hipoclorito de sódio 0,5% (p/v) por 30 min, sob agitação. Para segurança das informações foram feitos grupos de seis boxes para cada dose de extrato, sendo 3 com sementes de B. brizantha e 3 com sementes de B. pilosa mais 1 box com água destilada como controle, finalizando em 24 boxes por experimento submetidos a condições em câmara de germinação, com vistorias diárias e coleta de dados no 7º, 14º e 21º dias após a semeadura com 3 repetições por extrato a fim de garantir a legitimidade dos dados coletados. Nas coletas de dados foram anotadas as seguintes informações: percentual de germinação, velocidade de germinação, número de folhas, altura das plântulas, tamanho das raízes, peso e sobrevivência das mesmas. 2.7 Avaliação da germinação das plantas daninhas com os fracionados A metodologia de avaliação da germinação com os fracionados ficou definida utilizando as avaliações com os extratos como base com pequenas alterações. Alterações foram feitas quanto ao recipiente que foi utilizado anteriormente, redefinido para cubetas de vidros (h = 8,5 cm e d = 2,2 cm) com tampas plásticas, 150 mg de espuma fenólica moída, umedecida com 1,5 mL de solução aquosa contendo os fracionados à 1 % para todas as frações e cinco sementes passada por assepsia por cubeta. Câmara de germinação com condições controladas em 23 ºC, 80 % de umidade relativa do ar e fotoperíodo de 13 h/luz foi utilizada nos testes. Para segurança das informações foram feitos grupos de 10 cubetas para cada fração, sendo 5 com sementes de B. brizantha e 5 com sementes de B. pilosa mais 1 cubeta com água destilada no lugar do extrato para cada espécie usado como controle. Todo o experimento foi realizado com materiais autoclavados e executado em fluxo laminar para não haver contaminações. Os materiais foram submetidos a condições em câmara de germinação, vistorias diárias e coleta de dados no 7º, 14º e 21º dias após a semeadura e 3 repetições por fracionado a fim de garantir a legitimidade dos dados coletados. Os dados foram coletados as mesmas informações que para a avaliação com o extrato. 2.8 Análises estatísticas As análises foram realizadas em triplicata e o delineamento adotado foi o inteiramente casualizado (DIC). Os resultados foram submetidos a ANOVA através do programa da Universidade Federal de Lavras - SISVAR V.4.3 (FERREIRA, 2003), sendo as médias dos tratamentos comparados pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância (SCOTT & KNOTT 1974). 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 3.1 Fracionamento do extrato O fracionamento em coluna com o extrato aquoso de T. diversifolia, resultaram em 3 (três) frações de acordo com visualizações em CCDC, denominadas TIT01, TIT02 e TIT03, que após processo de liofilização apresentaram peso de 3,5297, 3,2419 e 3,0323g, respectivamente. Na cromatografia em coluna o extrato foi fracionado e através de observações em CCDC foi agrupado em 3 frações. Após bioensaios com estas frações, observou-se que a atividade que o extrato apresentava estava presente na TIT02. Mediante ao fato da atividade estar na fração TIT02 iniciou-se o isolamento das substâncias desta fração através de HPLC com duas fases móveis diferentes H2O:ácido acético (0,1%) e MeOH:H2O. No fracionamento com fase móvel H2O:Acido acético a amostra inicial (0,400 g) foi dividida em 16 (dezesseis) frações, onde através de observações do cromatograma e a CCDC, agrupou-se as frações 3, 4 e 5 em uma só amostra denominada de TIT02.01a que apresentou peso igual a 0,059 g, as demais frações foram agrupadas em outra amostra denominada de TIT02.01ad que foi desprezada. No fracionamento com fase móvel MeOH:H2O a amostra inicial (0,669 g) foi dividida em 13 frações, onde através de observação do cromatograma e a CCDC, agrupou-se as amostras 3, 4 e 5 em uma só amostra denominada de TIT02.01b que apresentou peso igual a 0,075 g., as demais frações foram agrupadas em outra amostra denominada de TIT02.01bd que foi desprezada. 100 95 75 25 5 0 25 Avaliação alelopática de Tithonia diversifolia na germinação e no crescimento inicial de Bidens pilosa e Brachiaria brizantha As duas amostras TIT02.01a e TIT02.01b foram reunidas em uma só fração denominada TIT02.01ab após observações do cromatograma e da CCDC, onde mostraram conter as mesmas substâncias. A amostra TIT02.01ab (0,134 g) foi submetida ao fracionamento em HPLC com fase móvel MeOH:H2O dividida em 14 frações. Através de observações do cromatograma em HPLC e da CCDC, destas quatorze frações, 3 (três) foram enviadas para análise em RMN 1H (300MHz) e RMN 13C (75MHz) denominadas como TIT02.01.05ab, TIT02.01.07ab e TIT02.01.08ab. Comparações entre cromatogramas de HPLC do extrato bruto (Fig. 1A), do purificado TIT02.01.07ab (Fig. 1B) e do padrão (ácido clorogênico) (Fig. 1C), juntamente com as comparações de dados da literatura (IWAI et al., 2004; CORSE et al., 1962; MORISHITA et al., 1984), nos permitiu a identificação da substância isolada como sendo o ácido clorogênico. Os espectros de RMN de 1H e 13C da sub-fração TIT02.01.07ab, indica que a substância majoritária é um derivado do ácido hidroxicinâmico (IWAI et al., 2004). Os dados de RMN de 1H mostra que os deslocamentos e a multiplicidade são características do ácido clorogênico. E os deslocamentos nos espectros de RMN de 13C comprovam esta informação. 100 95 75 Figura 1: Cromatogramas a 280 nm em HPLC e espectros de ultravioleta do extrato bruto de Tithonia diversifolia (A), fração TIT02.01.07ab (B) e do ácido clorogênico (C). 25 5 0 26 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 3.2 Bioensaios com extratos e fracionados Na primeira fase do projeto foi analisado o extrato bruto da espécie medicinal proposta, sobre a germinação das duas espécies invasoras. E na segunda fase foram realizados bioensaios com as frações purificadas do extrato bruto. As Tabelas 1 e 2 mostram os resultados alelopáticos obtidos nos bioensaios quanto aos aspectos: numero de sementes germinadas, velocidade de germinação, número de folhas, altura das plântulas, tamanho das raízes, peso e sobrevivência das mesmas. Concentrações Avaliações (%) (dias) Controle 1% 2% e 4% Controle 1% Controle 1% Controle 1% Controle 1% 7 14 21 7 14 21 7 14 21 7 14 21 7 14 21 7 14 21 7 14 21 7 14 21 7 14 21 7 14 21 7 14 21 Invasoras Bidens pilosa Brachiaria brizantha Número de sementes germinadas 33,33 ± 2,08 a 31,33 ± 2,08 38,33 ± 4,50 a 38,66 ± 4,50 46,00 ± 2,00 a 47,00 ± 2,00 33,66 ± 1,52 a 7,66 ± 1,52 48,00 ± 1,15 b 11,66 ± 1,15 50,66 ± 2,51 a 11,66 ± 2,51 ng ng ng ng ng ng Desenvolvimento das plântulas (mm), 10,33 ± 0,57 a 10,33 ± 0,57 16,66 ± 1,52 a 56,66 ± 2,51 51 ± 2,64 a 82,00 ± 2,00 17,66 ± 1,15 b 3,33 ± 0,57 42,33 ± 0,57 b 56,66 ± 3,05 71 ± 1,73 b 81,66 ± 2,08 Desenvolvimento radicular das plântulas (mm) 3,66 ± 0,57 a 3,66 ± 0,57 28,66 ± 2,51 a 27,66 ± 1,52 53,00 ± 3,46 a 61,66 ± 3,05 3,33 ± 0,57 a 3,00 ± 0,00 28,00 ± 2,64 a 22,66 ± 2,08 59,66 ± 1,15 b 61,66 ± 2,08 Peso das plântulas (mg) 8,66 ± 0,57 a 7,66 ± 0,57 11,33 ± 1,52 a 10,66 ± 0,57 15,33 ± 0,57 a 17,00 ± 2,00 15,00 ± 2,00 b 6,00 ± 0,00 20,66 ± 0,57 b 8,33 ± 0,57 23,66 ± 1,52 b 14,66 ± 1,52 Numero de folhas das plântulas 2 ± 0,00 a 2 ± 0,00 4 ± 0,00 a 4 ± 0,00 4 ± 0,00 a 4 ± 0,00 2 ± 0,00 a 2 ± 0,00 4 ± 0,00 a 4 ± 0,00 4 ± 0,00 a 4 ± 0,00 e e e f f f e e e e e e e e e e f f e e e e e e e e e e e e 100 95 75 Tabela 1: Número de sementes germinadas, desenvolvimento das plântulas (mm), desenvolvimento radicular das plântulas (mm), peso das plântulas (mg) e número de folhas das plântulas em contato com o extrato bruto de Tithonia diversifolia. Médias comparadas estatisticamente de acordo com o estágio de avaliações (dias), quando acompanhadas das mesmas letras não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. ng – sementes não germinadas. 25 5 0 27 Avaliação alelopática de Tithonia diversifolia na germinação e no crescimento inicial de Bidens pilosa e Brachiaria brizantha Amostras Avaliações (dias) Invasoras B. pilosa B. brizantha Número de sementes germinadas Controle TIT01 TIT02 TIT03 7 14 21 7 14 21 7 14 21 7 14 21 32,00±2,08 a 39,00±8,08 a 45,33±2,08 a 28,00±1,52 b 32,66±1,15 b 41,00±2,51 a 11,33±0,57 c 20,00±1,00 c 25,00±0,00 c 35,33±0,57 d 42,66±2,08 d 52,66±2,08 d Controle TIT01 TIT02 TIT03 3,66±0,57 a 29,00±1,73 a 52,66±2,08 a 3,33±0,57 a 28,66±1,15 a 59,33±2,08 b 3,66±0,00 a 28,00±2,30 a 53,00±1,15 a 3,33±0,57 a 28,33±1,52 a 52,66±2,51 a B. pilosa Controle TIT01 7 14 21 7 14 21 2±0,00 a 4±0,00 a 4±0,00 a 2±0,00 a 4±0,00 a 4±0,00 a 31,66±8,08 e 34,66±2,08 e 47,66±0,57 e 7,66±1,15 f 11,66±2,08 f 11,66±2,08 f 9,00±1,52 g 13,33±1,52 g 24,66±1,52 g 31,66±0,57 h 35,00±2,08 h 47,66±1,15 e 10,50±0,50 a 16,66±0,57 a 51,00±1,00 a 9,83±1,25 a 16,50±1,32 b 48,00±1,73 b 10,50±1,75 a 16,50±0,57 b 51,00±0,57 a 14,33±1,52 a 22,00±1,00 c 57,83±1,25 c B. brizantha B. pilosa TIT02 TIT03 10,33±0,28 e 57,00±1,00 e 81,33±2,88 e 9,50±0,86 e 56,00±0,00 e 81,50±2,78 e 10,50±0,50 e 57,00±1,60 e 81,00±2,30 e 10,16±1,25 f 56,16±0,28 e 82,00±1,73 f Peso das plântulas (mg) 4,00±0,00 e 8,66±0,57 a 27,33±0,57 e 11,33±1,52 a 63,33±1,15 e 15,33±0,57 a 3,33±0,57 e 8,66±1,52 b 25,33±0,57 f 11,33±0,57 b 62,00±2,00 f 15,66±2,08 b 2,00±0,00 e 7,00±0,00 c 16,33±1,52 e 8,33±0,57 c 43,66±2,00 e 10,66±1,52 c 3,00±0,00 e 12,33±0,57 d 27,00±3,00 g 16,66±0,57 d 62,66±3,21 g 19,66±1,15 d Número de folhas das plântulas 2±0,00 e 4±0,00 e 4±0,00 e 2±0,00 e 4±0,00 e 4±0,00 e B. brizantha Desenvolvimento das plântulas (mm) Desenvolvimento radicular das plântulas (mm) 7 14 21 7 14 21 7 14 21 7 14 21 B. pilosa 7 14 21 7 14 21 2±0,00 a 4±0,00 a 4±0,00 a 2±0,00 a 4±0,00 a 4±0,00 a 7,66±0,57 e 10,66±0,57 e 17,00±2,00 e 7,00±1,00 f 10,00±1,00 f 17,33±1,15 f 5,33±0,57 g 7,00±1,15 e 13,66±1,52 g 6,66±1,15 h 1,66±1,52 g 18,33±1,15 h B. brizantha 2±0,00 e 4±0,00 e 4±0,00 e 2±0,00 e 4±0,00 e 4±0,00 e 100 95 75 Tabela 2: Número de sementes germinadas, desenvolvimento das plântulas (mm), desenvolvimento radicular das plântulas (mm), peso das plântulas (mg) e número de folhas das plântulas em contato com as frações do extrato bruto de Tithonia diversifolia. Médias comparadas estatisticamente de acordo com o estágio de avaliações (dias), quando acompanhadas das mesmas letras não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. 25 5 0 28 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 Os resultados mostram que B. pilosa em interação com o extrato à 1% obteve maior índice germinativo comparado com o controle, mostrando ter efeitoestimulatório quanto à germinação, e inibitório nas demais concentrações. Já as sementes da espécie B. brizantha em contato com o extrato obtiveram menor índice de germinação no extrato à 1 % e inibitório nas demais concentrações comparado com o controle. Leather (1983) relatou que a resposta da germinação depende da fonte do extrato, da concentração e da espécie utilizada. Além disso, demonstrou o efeito alelopático do extrato de Helianthus annuus conhecido popularmente como girassol pertencente à mesma tribo da espécie T. diversifólia, relacionando com os resultados apresentados. Os resultados da primeira avaliação mostram que a espécie B. pilosa em interação com o extrato à 1 % apresentou desenvolvimento superior comparado com o controle. Já as sementes da espécie B. brizantha apresentou menor desenvolvimento na primeira semana após semeio e diferença insignificante nas demais avaliações comparado com o controle com inibição total da germinação nas concentrações de 2 e 4 %. Quanto ao desenvolvimento radicular de B. pilosa e B. brizantha comparado com o controle, os resultados das avaliações não mostram alterações significativas quanto ao crescimento das raízes para ambas as espécies em estudo. Porém quanto ao peso das plântulas houve alteração significativa quanto ao peso das plântulas da primeira espécie e pouca alteração de peso na segunda espécie. Tongma et. al. (1998) relatam o menor desenvolvimento e peso das plântulas testadas em seu trabalho utilizando T. diversifolia como planta doadora de aleloquimico (s). Os resultados das avaliações não mostram alterações quanto ao número de folhas para ambas espécies em estudo comparado com o controle. Os efeitos alelopáticos podem variar quanto à sua intensidade, visto que a ação dos aleloquímicos é condicionada por diversos fatores, tais como concentração, temperatura e outras condições ambientais. Geralmente, os efeitos causados tendem a ser dependentes da concentração dos aleloquímicos, ou seja, tendem a ser mais acentuados em concentrações mais altas, sendo essa tendência observada nos bioensaios de crescimento. Entretanto, Reigosa et al. (1999) afirmam que os efeitos alelopáticos podem escapar deste padrão, já que os efeitos observados resultam do somatório de uma série de alterações moleculares. Maraschin-Silva (2005) mostrou que os efeitos de extratos vegetais sobre as raízes de Lactuca sativa reforçam esta idéia, e mostra que o número de folhas normalmente não é alterado com o aumento da concentração dos aleloquímicos, mas sim o tamanho das partea aérea. Neste estudo a fração TIT02, rica em ácido clorogênico e tido como aleloquímico (KEELER & TU, 1991; DUKE, 1992; LYNDON & DUKE, 1989; RUSSELL, 1986), como tóxica para B. pilosa e B. brizantha inibindo a germinação e desenvolvimento. Dowd & Vega (1996) relataram o efeito alelopático e inseticida do ácido clorogênico, apontando a diminuição do desenvolvimento como o principal efeito em plantas usadas como alvo. Concomitante ao trabalho provou que a concentração do ácido é maior na partes vegetais nos meses de verão, apontando a maior competição por nutrientes e água para o desenvolvimento como justificativa para a conclusão. 4. Conclusões Os resultados obtidos permitem concluir que a metodologia utilizada nos bioensaios mostrou-se confiável com o uso da espuma fenólica como suporte, passando confiabilidade aos dados coletados. A metodologia de fracionamento do extrato bruto mostrouse eficiente para separação das substâncias presentes nos extratos e no isolamento do ácido clorogênico. As espécies utilizadas como invasoras apresentam resultados o mais próximo para o estudo evoluir para um produto, pois, são espécies com resistência a aleloquimícos e agrotóxicos. A espécie Tithonia diversifolia mostrou-se positiva quanto ao uso de seu extrato, frações e o ácido clorogênico isolado desta como aleloquimicos, inibindo a germinação, retardando o desenvolvimento radicular e retardando o desenvolvimento minimizando a matéria seca as plantas receptoras. Referências Bibliográficas AZANIA, A. A. P.; AZANIA, C. A. M.; ALVES, P. L. C. A.; PALANIRAJ, R.; KADIAN, H. S.; SATI, S. C.; RAWAT, L. S.; DAHIYA, D. S.; NARWAL, S. S. Allelopathic Plants. 7. Sunflower (Helianthus annus L.). Allelopathy Journal, India, v.11, n.1, p.1-20, 2003. BARUAH, N.C.; SHARMA , R. P.; MADHUSUDANAN, K. P.; THYAGARAJAN, G.; HERZ, W. MURARI, R.. Sesquiterpene lactones of Tithonia diversifolia. Steriochemistry of the tagitinins and related compounds. Journal of Organic Chemistry, Baltimore, v. 44, n. 11, p.1831-1835, 1979. 100 95 75 CORSE, J.; SONDHEIMER, E.; LUNDIN, R. 3-feruloylquinic acid : A 3′-methyl ether of chlorogenic acid. Tetrahedron, v.18, n.11, p.1207-1210, 1962. 25 5 0 29 Avaliação Abordagem alelopática do processo de Tithonia de comunicação diversifoliaena a participação germinação e no crescimento dos agentesinicial envolvidos de Bidens compilosa a produção e Brachiaria integrada brizantha DOWD, P. F.; VEGA, F. E. Enzymatic oxidation products of allelochemicals as a basis for resistance against insects: effects on the corn leafhopper Dalbulus maidis. Natural Toxins, v.4, n.2, p.85-91, 1996. PEREIRA, P. S.; DIAS, D. A.; NASI, A. M. T. T.; VICHNEWSKI, W.; HERZ, W. Sesquiterpenes lactones from Tithonia diversifolia (Hemsl) A.Gray. Phytochemistry, Oxford, v. 45, p.1445-8, 1997. DUKE, J.A.; Handbook of phytochemical constituents of gras herbs and other economic plants. CRC Press: Boca Raton, 320. 1992. PEREZ, A. L.; LARA, O.; ROMO DE VIVAR, A. Sesquiterpenoids and diterpenoids from Tithonia longiradiata. Phytochemistry, Oxford, v. 31, n. 12, p. 422731, 1992. FERREIRA, D. F. SISVAR (Sistema para análise de variância de dados balanceados) v.4.3, UFLA. 2003. GAVILANES, M. L.; CARDOSO, C.; BRANDÃO, M. Plantas daninhas como medicamentosas de uso popular. Informe Agropecuário, v.13, n.150, p. 21-29, 1988. IWAI, K.; KISHIMOTO, N.; KAKINO, Y.; MOCHIDA, K.; FUJITA, T. In vitro antioxidative effects and tyrosinase inhibitory activities of seven hydroxycinnamoyl derivatives in green coffee beans. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 52, n.15, p.4893-4898, 2004. KEELER, R.F.; TU, A.T.; Toxicology of plant and fungal compounds In: Dekker, M., Handbook of Natural Toxins. Ed. New York, 6, 665, 1991. KUO, Y. H.; CHEN, C. H. Diversifolol, a novel re-arranged eudesmane sesquiterpene from the leaves of Tithonia diversifolia. Chemistry and Pharmaceutical Bulletin, v.45, 1223-1224, 1997. LEATHER, G. R. Sunflowers (Helianthus annuus) are allelopathic to weeds. Weed Science, Champaign, v. 31, n. 1, p. 37-42, 1983. REIGOSA , M. J.; SANCHEZ-MOREITA, A.; CONZALEZ, L. Ecophisiological approach in allelopathy, Critical reviews in plants sciences, p. 577, 1999. RUSSELL, G. B. Phytochemical resourdes from crop protection. New Zeiland Journal Technology, v.2, p.127134, 1986. SCHUSTER, A.; STOKES, S.; PAPASTERGIOU, F.; CASTRO, V.; POVEDA, L.; JAKUPOVIC, J. Sesquiterpene lactones from two Tithonia species. Phytochemistry, Oxford, v. 31, n. 9, p. 3139-41, 1992. SCOTT, A. J.; KNOTT, M. A. A cluster analyses method for grouping means in the analyses of variance. Biometrics, Washington, v.30, n.3, p.507-512, 1974. TONGMA, S.; KOBAYASHI, K.; USUI, K. Allelopathic activity of Mexican sunflower (Tithonia diversifolia) in soil. Weed Sciences, Lawrence, v.46, p.432–437, 1998. LYDON, J.; DUKE, S. The potential of pesticides from plants. In CRAKER, L.; SIMON, J., Eds Herbs, Spices & Medicinal Plants: Recent Advances in Botany, Horticulture, & Pharmacology. Oryx Press: Phoenix, 4, 141, 1989. MARASCHIN-SILVA, F. Extração aquosa de aleloquímicos e bioensaios laboratoriais de alelopatia. Dissertação (Mestrado em Botânica) - Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. p. 87, 2004. 100 95 MORISHITA, H.; IWAHASHI, H.; OSAKA, N.; KIDO, R. Chromatographic separation and identification of naturally occurring chlorogenic acids by 1H nuclear magnetic resonance spectroscopy and mass spectrometry. Journal of Chromatography, v.315, p.253260, 1984. 75 25 5 0 30 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 Avaliação da correção gravimétrica do terreno calculada a partir de Modelos Digitais de Elevação e associados ao Sistema Geodésico Brasileiro e ao EGM2008 Karoline Paes Jamur Universidade Federal do Paraná, [email protected] Rogers A. D. Pereira Universidade Federal do Paraná, [email protected] Silvio Rogério Correia de Freitas Universidade Federal do Paraná, [email protected] Fabiani D. Abati Miranda Universidade Federal do Paraná, [email protected] Resumo A avaliação dos curtos comprimentos de onda do geopotencial normalmente está vinculada aos efeitos gravimétricos da topografia do terreno. Em vista da ausência de informação altimétrica em resolução adequada, utilizam-se modelos digitais de elevação, os quais têm como referência sistemas de altitudes globais, ao contrário de, por exemplo, o caso brasileiro, onde as altitudes estão vinculadas a um sistema local. Neste trabalho busca-se avaliar o quão diferente pode ser este efeito, levando em conta altitudes fornecidas pelo Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e altitudes fornecidas pelo modelo digital de elevação Digital Topographic Model 2006.0 (DTM2006.0), o qual é o Modelo Digital de Elevação (MDE) utilizado para calcular o Earth Gravitational Model 2008 (EGM2008) que é um modelo de geopotencial global. Para isto, foi produzido um aplicativo para efetuar o cálculo das correções do terreno a partir de dados do DTM2006.0 (vinculado ao EGM2008) e do SGB por aproximação linear. Com estes resultados foi possível quantificar o efeito do emprego de correções do terreno, em diferentes sistemas de referência, via o cálculo de anomalias de altitude. Palavras-chave: Correção do Terreno; Modelo Digital de Elevação; Sistema Geodésico Brasileiro; EGM2008. Evaluation of gravimetric terrain correction computed from Digital Elevation Models and associated with the Brazilian Geodetic System and the EGM2008. Abstract The evaluation of the short wavelengths of the geopotential is usually linked to the gravimetric effect of topography of the land. Because of the lack of information on proper resolution, altimetry was used through digital elevation models, which have global height reference systems, unlike, for example, the Brazilian case, where the elevations are linked to a local system. In this study, seek to assessed how different can be this effect, taking into account heights provided by the Brazilian Geodetic System (BGS) and heights provided by the digital elevation model DTM2006.0 (used to compute the global geopotential model EGM2008). For this, an application was built to carried out the calculation of terrain corrections from data DTM2006.0 and BGS by linear approximation. With these results, it was possible to calculate the terrain effect correction using different vertical reference systems through the height anomaly computation. Keywords: Terrain Correction; Digital Elevation Model; Brazilian Geodetic System; EGM2008. 100 95 1.Introdução 75 Um passo imprescindível no cálculo do geóide a partir de dados gravimétricos com resolução decimétrica, por exemplo, tal como exigido nas aplicações atuais, como a vinculação de dados GNSS (Global Navigation Satellite System), é o cálculo das anomalias da gravidade com a consideração dos efeitos gravitacionais das massas topográficas. Na atualidade, o cálculo da 25 5 0 31 Avaliação da correção gravimétrica do terreno calculada a partir de Modelos Digitais de Elevação e associados ao Sistema Geodésico Brasileiro e ao EGM2008 correção do terreno, de forma sistemática, tem sido possível com a utilização de modelos digitais de elevação (MDE) do terreno, locais ou globais. A anomalia de Bouguer é obtida a partir da correção Bouguer, que remove o efeito das massas entre a estação e o geóide e também a correção ar-livre. Uma correção simplificada é feita levando em consideração a hipótese de que entre o ponto e o geóide existe uma placa infinita plana e horizontal, com densidade r constante e espessura equivalente a altitude do ponto. Já, a correção de Bouguer completa, além de remover os efeitos da placa plana infinita na redução da estação ao geóide, considera os efeitos da topografia relativa à placa via a correção do terreno, sempre positiva. Efetivamente, o cálculo da anomalia de Bouguer é feito pela soma da correção de Bouguer simples ou completa com a correção ar-livre assumindo que o espaço entre o plano da estação e o plano do geóide, seja preenchido uniformemente com massa, no caso de uma estação situada acima do geóide e uniformemente sem massa se estiver abaixo do geóide. No caso da anomalia isostática considera-se também, a correção topo-isostática, a qual envolve também a consideração de heterogeneidades de massa abaixo do geóide, entendidas como massas de compensação da topografia acima do geóide. A eliminação dos efeitos das massas topográficas e de compensação para a redução da gravidade observada ao geóide é bastante complexa. Com a aplicação da correção de terreno nas anomalias gravimétricas, as massas externas ao Geóide são verticalmente comprimidas sob o Geóide, consequentemente, o potencial gravitacional da Terra é alterado. A diferença entre o potencial gravitacional das massas topográficas antes da correção e depois do processo de redução é chamado de efeito indireto do Potencial sendo a alteração correspondente ao geóide denomina-se efeito indireto. Quando utiliza-se a anomalia gravimétrica de Faye (anomalia gravimétrica com correção ar-livre, correção atmosférica e correção de terreno), a superfície equipotencial definida é chamada de Co-Geóide. Com a adição do efeito indireto no Co-Geóide, determina-se a superfície do Geóide. Atualmente a correção do terreno pode ser obtida com base em MDEs onde se tem maior facilidade de cálculo por serem fornecidos em arquivos das elevações em grades de diferentes tamanhos e oferecendo a oportunidade do uso de outros métodos como, por exemplo, o de prismas retangulares ou método de decomposição espectral da topografia por FFT – Fast Fourrier Transform. Nesta contribuição, o efeito do terreno é obtido por aproximação linear para explorar as potencialidades do uso de altitudes advindas do modelo digital de elevação Digital Topographic Model 2006.0 (DTM2006.0) compilado em uma resolução de 30” (Pavlis, 2007) para o cálculo do geóide comparando com as vinculadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB). Para isso foi criado um aplicativo para realizar o cálculo da correção do terreno a partir de dados do DTM2006.0 e do SGB por aproximação linear e outro aplicativo para o cálculo das anomalias de altura pela teoria de Molodenskii. 2. EMBASAMENTO TEÓRICO 2.1 Altitudes – SGB O sistema de altitudes do SGB é materializado com a Rede Altimétrica de Alta Precisão (RAAP). Esta rede é formada pelas estações geodésicas altimétricas denominadas Referências de Nível (RN´s). As estações altimétricas são estabelecidas com Nivelamento Geométrico Composto com o objetivo final de gerar altitudes com a precisão necessária ao estabelecimento do controle fundamental em vista da necessidade para: estudos e pesquisas da forma da Terra e do movimento da crosta terrestre; controle altimétrico das grandes obras de engenharia; apoio para obtenção da altitude dos pontos necessários a elaboração de cartas topográficas; apoio a serviços topográficos e geodésicos em geral; construção de barragens, redes distribuidoras de água, etc. (IBGE, 2010). 2.2 Digital Topographic Model 2006.0 (DTM2006.0) O DTM2006.0 é um MDE global que incorpora os dados Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) disponíveis. Foi compilado com resoluções de 30", 2', 5', 30', e de 1°. O EGM2008 (qual utiliza dados do DTM2006.0) combina informações de anomalias da gravidade de grau baixo, com informações de grau elevado dos efeitos advindos do Residual Terrain Model (RTM), baseado no DTM2006.0, com isso, matematicamente produziu-se valores de anomalias da gravidade sobre as áreas onde seus dados não estão disponíveis. Estes valores sintéticos de anomalia de gravidade foram necessários no desenvolvimento de soluções do modelo gravitacional com desenvolvimento harmônico até o grau 2160, preservando as devidas características espectrais (Pavlis et al. 2006). 2.3 Correção do Terreno Nas reduções topográficas e isostáticas da gravidade, o efeito indireto sobre o potencial gravitacional, decorrente da aparente movimentação de massas, tem de ser considerado para uma correta determinação do geóide. Nos modernos conceitos da modelagem do campo da gravidade local e regional, a abordagem “Residual Terrain 100 95 75 25 5 0 32 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 Model” (RTM) é frequentemente aplicado na técnica Remover-Restaurar (RR) onde a massa, entre a superfície da Terra e uma superfície limitante, tem de ser levada em conta, tanto quando é removida, como quando é restaurada. Segundo Heck e Seitz (2007), embora a base de fórmulas analíticas para o cálculo dos efeitos de massa sobre a gravidade e sobre o potencial gravitacional seja relativamente simples, uma avaliação precisa consome algum tempo devido à estrutura irregular das superfícies limitantes das massas. O tempo de cálculo ainda é um problema hoje em dia, quando MDEs de alta resolução (com resolução vertical de até 9 m, como é o caso do SRTM e de 2m para o novo conceito TanDEM-X e TerraSAR-X) são utilizados. Potencialmente, tais modelos podem ser aplicados em conexão com modelos digitais de densidade. As operações de integração numérica têm de ser resolvidas, em princípio, estendendo ao longo de todo o globo com varreduras horizontais. Na Geodésia e Geofísica, muitos procedimentos para um cálculo eficiente (prismas, FFT, tesseóides, Heck e Seitz, 2007) dos efeitos de massas topográficas foram propostos e adaptados a ferramentas computacionais disponíveis atualmente otimizando essas operações de cálculo. 2.4 O Cálculo do geóide Para o cálculo da altura geoidal em um único ponto da Terra é necessário o conhecimento de anomalias da gravidade sobre toda a superfície do planeta. Esta condição é traduzida claramente na equação de PizettiStokes: é a função de Stokes. A primeira constatação devese ao problema clássico das anomalias da gravidade serem calculadas sobre o Geóide em um processo no qual este é justamente o elemento incógnito. Usualmente isto conduz à sua referência a sistemas locais. A segunda, é que a anomalia da gravidade utilizada tem que ser representativa do elemento de área escolhido. Uma terceira refere-se a como tratar as informações em uma grade ou “template” (Hofmann-Wellenhof & Moritz, 2005), uma vez que a gravidade é observada de forma esparsa e aleatória na SFT (Superfície física terrestre). No sentido de contornar os problemas acima e outros mais não apresentados aqui, técnicas alternativas de avaliação da equação (1) foram desenvolvidas. Dentre as mais famosas, é possível citar-se o RR, onde os comprimentos do geopotencial são dividos em longos, médios e curtos. Os longos estão vinculados a informações que advém de modelos globais da gravidade; os médios, às anomalias da gravidade regionais e, os curtos, às informações da topografia do terreno. Cita-se aqui, particularmente a forma como é calculada a correção do terreno (Moritz, 1980), aplicada ao cálculo de anomalias Bouguer refinadas (para interpolação de valores da gravidade) e o termo g1 de Molodenskii (apresentado na seção seguinte): 2 H - Hp 1 CT = Gr òò ds 3 2 l s (2) Onde 1 é a distância entre os pontos H e Hp, G é a constante r gravitacional e é densidade média do Terreno, interpretada, de um modo geral, como sendo 2670 kg/m³. Aqui se chama atenção para o modo como as altitudes são calculadas, embora de modo relativo, associadas a um sistema de referência. Quando, então, faz-se uma operação do tipo: N = NC + N M + N L (3) Com índices C (curtos), M (médios) e L (Longos) associados ao espectro do geopotencial pode-se encontrar anomalias da gravidade (médios comprimentos) vinculadas a um referencial local, e a topografia do terreno (curtos comprimentos de onda) vinculadas, normalmente, a um sistema global. 2.5 O Cálculo do quase-geóide segundo Molodenskii De acordo com Hofmann-Wellenhof & Moritz (2005), anomalias de altura podem ser calculadas segundo a seguinte expressão: z = R 4pg 0 òò (Dg + g )S (y)ds 1 (4) s 100 A anomalia de altura pode ser útil na avaliação do quão grande podem ser as discrepâncias devido às incompatibilidades de Datum, antes mencionadas. É necessário lembrar que o termo g1 pode ser compreendido como a correção do terreno para o local em questão. 95 75 25 5 0 33 Avaliação da correção Abordagem gravimétrica do processo do de terreno comunicação calculadae aa partir participação de Modelos Digitais de Elevaçãodos e associados agentes envolvidos ao Sistema com Geodésico a produção Brasileiro integrada e ao EGM2008 3. Região de Estudos 5. Resultados A região de estudos envolve as latitudes 28,0°S a 28,5°S e longitudes 50,5°W a 48,5°W, compreendendo parte do Estado de Santa Catarina (Figura 1). Primeiramente foram obtidas através do site do IBGE todas as altitudes vinculadas ao SGB num total de 799 (figura 1). As atitudes referidas ao DTM2006.0 foram obtidas do sítio do ICGEM (International Center for Global Earth Models). Posteriormente, foram efetuadas grades utilizando interpolador krigagem em ambos dados (figura 2 e 3). Figura 1: Área de estudos. A motivação desta quadrícula deve-se parcialmente ao não conhecimento das informações altimétricas na parte oceânica e que têm como referência o SGB e também porque nestas localidades já foram desenvolvidos outros trabalhos que possibilitaram testes de conformidade com os resultados apresentados. Figura 2: Dados em formato de grid de Altitudes referidas ao DTM2006.0. Observações em metros. 4. Metodologia Deseja-se avaliar qual o efeito de se utilizar altitudes referidas ao DTM2006 em vez de utilizarem-se altitudes referidas ao SGB quando o geóide é calculado em relação ao SGB. Assim, a partir da equação (4), é possível operar: z SGB - z DTM 2006 = - R 4pg 0 R 4pg 0 òò (Dg SGB + g1- SGB )S (y ) ds s òò (Dg DTM 2006 (5) + g1- DTM 2006 )S (y ) ds Figura 3: Dados em formação de grid de altitudes referidas no SGB. Observações em metros. A partir desses dados foi desenvolvido um aplicativo em ambiente MATLABTM por aproximação linear a partir da equação (2) para o cálculo da correção do terreno do DTM2006.0 (Figura 4) e do SGB (Figura 5). s Admitindo que as anomalias da gravidade estejam no mesmo referencial, z SGB - z DTM 2006 = R 4pg 0 òò (g1-SGB - g1- DTM 2006 )S (y)ds (6) 100 95 s 75 E então é possível obter-se a diferença devido a aproximação de um modelo digital de altitudes que esteja num referencial diferente de qualquer grandeza como, por exemplo, das anomalias da gravidade. Figura 4: Correção do terreno por aproximação linear calculado com dados do DTM2006.0. Dados em mGal. 25 5 0 34 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 Após o cálculo da diferença de grids foi utilizado a equação (6) e implementado no aplicativo para o cálculo das anomalias. Foi encontrado como resultado o valor mínimo de 10x10-5 m e máximo de -10x10-4 m. 6. Conclusões Figura 5: Correção do terreno por aproximação linear calculado com dados do SGB. Dados em mGal. A diferença entre grids da correção do terreno calculada com dados do DTM2006.0 e a correção do terreno calculado com dados do SGB (Tabela 1) resultou em um desvio médio de 0,36 mGal e rms 0,56 mGal. Mínimo Desvio médio Máximo Desvio padrão rms 0,05mGal 0,36mGal 2,59 mGal 0,33 mGal 0,56 mGal A magnitude das discrepâncias devido as incompatibilidades de Datum verificada neste artigo foi de até 10x10-5 m o que pode causar diferenças de até 2,6 mGal nas anomalias de altura verificando a influência de se usar diferentes MDEs no cálculo do geóide, com referenciais distintos. No caso aqui apresentado, utilizou-se o cálculo das anomalias de altura, obtidas a partir da fórmula de Molodenskii, bem como, modelos digitais de altitudes, que estão em referenciais diferentes, como é o caso do DTM2006.0, em referencial global e os dados do SGB, em referencial local. Referências Bibliográficas Tabela 01: Resultado da diferença entre grids das correções do terreno com dados do DTM2006.0 e SGB (dados em mGal). HECK, B., SEITZ, K. A. Comparison of the Tesseroid, Prism and Point-Mass approaches for mass reductions in gravity field modeling. J. Geodesy, 81, 2007. p.121–136. HOFMANN-WELLENHOF, B; MORITZ, H. Physical Geodesy. Bad Vöslau: SpringerWienNewYork, 2005. IBGE. Sistema Geodésico Brasileiro: rede altimétrica. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home /geociencias/geodesia/altimetrica.shtm >. Acesso: 19 de março 2010. ICGEM – INTERNATIONAL CENTER FOR GLOBAL EARTH MODELS. <http://www.icgem.gfz-potsdam.de/icgem /icgem.html>. Acesso: 15 de março de 2010. Gráfico 1: Diferenças entre as correções do terreno calculado com dados do SGB e calculado com dados do DTM2006.0 associado com as alturas geoidais. Para obter-se a diferença devido a aproximação de um modelo digital de altitudes que esteja num referencial diferente foi desenvolvido um aplicativo (em ambiente MATLABTM) utilizando a equação (6) para o cálculo das anomalias de altura. Primeiramente foi utilizada a diferença entre os grids da correção de terreno com dados do SGB e correção de terreno com dados do DTM2006.0: g1- SGB - g1- DTM 2006 (7) MORITZ, H. Advanced Physical Geodesy. Karlsruhe: Wichmann, 1980. PAVLIS N.K, FACTOR, J.K, HOLMES, S.A, (2007). TerrainRelated Gravimetric Quantities Computed for the Next EGM In: Proceedings of the 1st International Symposium of the International Gravity Field Service, vol. 18. Harita Dergisi, Istanbul, pp 318-323. 100 95 PAVLIS N.K, HOLMES, S.A, KENYON, S.C, FACTOR J.K (2006). Towards the next EGM: Progress in model development and evaluation. In A. Kılıçoğlu R. Forsberg (eds.): Gravity Field of the Earth, Proceedings of the 1st International Symposium of the International Gravity Field Service (IGFS), 28 August – 1 September, 2006, Istanbul, Turkey (accepted). 75 25 5 0 35 100 95 75 25 5 0 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 Avaliação do efeito borda na distribuição da avifauna em fragmentos florestais de Cerrado Bruno Senna Corrêa Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, campus 9 Nepomuceno, [email protected] Marcelo Passamani Universidade Federal de Lavras, [email protected] Aloysio Souza de Moura Centro Universitário de Lavras, [email protected] Resumo A perda da diversidade de fauna nos ecossistemas está associada a diversos fatores. A fragmentação florestal é considerada um fator relevante nesta redução da fauna, tendo em vista suas conseqüências diretas e indiretas. A real dimensão desta perda é um parâmetro pouco conhecido pela população em geral. Os aspectos relacionados à fragmentação são amplamente discutidos, ao longo de 20 anos de estudo na Amazônia, por Laurance e colaboradores. Apesar de estudos na literatura estejam relacionados a ambientes contínuos de floresta, poucos estudos levantam estas questões par fragmentos florestais do Bioma Cerrado. Pela concepção teórica ambientes reduzidos são considerados todos influenciados por borda, ou na verdade uma grande borda. Ainda faltam parâmetros ecológicos específicos para avaliar precisamente a dimensão de uma borda e a área mínima de fragmentos florestais que já apresentam borda e interior. Palavras-chave: Fragmentação; Taxocenose; Diversidade faunística; Interação animal-planta. Evaluation of edge effect over bird distribution along Cerrado's forest fragment Abstract The loss of the diversity of fauna in ecosystems is associated with diverse factors. The forest spalling is considered an excellent factor in this reduction of the fauna, in view of its direct and indirect consequences. The real dimension of this loss is a parameter little known by the population in general. The aspects related to the spalling, widely are argued, throughout 20 years of study in the Amazônia, for Laurance and collaborators. Although studies in literature are related continuous environments of forest, few studies raise these forest fragments questions pair of the Cerrado Biome. By the theoretical conception surrounding reduced all influenced by edge, or in the truth are considered a great edge. Still they lack specific ecological parameters to necessarily evaluate the dimension of an edge and the minimum area of forest fragments that already present edge and interior. Keywords: Fragmentation; Taxocenosis; Animal diversity; Animal plant interaction. Introdução A fragmentação florestal ocorre quando uma área de floresta nativa é transformada em uma série de remanescentes menores isolados, através da intervenção da matriz aos organismos da floresta (Burguess e Shape 1981; Harris, 1984). O processo de fragmentação apresenta aspectos importantes: perda do hábitat original, redução do tamanho do remanescente, aumento de isolamento de remanescentes (Andrén, 1994) e exposição do fragmento florestal a efeito borda como resultado da transição abrupta entre floresta e matriz (Murcia 1995). Com a fragmentação florestal é inevitável a criação de bordas artificiais que podem implementar transformações aos sistemas biológicos ocasionadas em grande parte por efeitos de borda (Rodrigues e Nascimento, 2006) A fragmentação reduz a heterogeneidade horizontal e vertical do interior das florestas. Dessa forma, a influência de fatores abióticos externos como vento, radiação solar, disponibilidade de água, temperatura e umidade, irão influenciar a 100 95 75 25 5 0 37 Avaliação do efeito borda na distribuição da avifauna em fragmentos florestais de Cerrado ocorrência de processos biológicos. Essas alterações, provocadas pelo efeito borda, pode influenciar parcialmente fragmentos maiores (100 ha ou maiores) ou influenciar a dinâmica de todo o fragmento, no caso de fragmentos menores que 20 ha; a idéia é quanto menor o fragmento, maior o efeito borda, estando essa relação ligada diretamente à disponibilidade de recursos no solo (água, minerais, microbiota), vento, radiação solar incidente, temperatura. Assim espera-se que a dinâmica de fragmentos menores esteja diretamente influenciada pelos fatores abióticos presentes nos limites externos a eles. A distribuição da flora nas bordas, irá indicar as condições que podem ser bastante particulares nos fragmentos, atuando na distribuição e densidade de comunidades terrestres. Em relação à composição e dinâmica das comunidades terrestres em ilhas oceânicas, a Teoria da Biogeografia de Ilhas proposta por Macarthur e Wilson (1967) possibilitou informações preciosas no entendimento da estrutura de paisagens fragmentadas. Segundo os autores acima citados, a riqueza de espécies em ambientes fragmentados parece estar relacionada com o tamanho e o grau de isolamento da área, sugerindo uma redução no número de espécies em ilhas menores e mais isoladas (Terborg 1976). Um fator relacionado com a distribuição e a densidade populacional das espécies no fragmento, é a estrutura da matriz. A matriz pode ser considerada como uma área entre os fragmentos (campos, savanas, áreas agricultáveis, etc), que representa uma barreira para o fluxo migratório entre um e outro fragmento (Tocher 1997). A permeabilidade da matrix irá condicionar o fluxo das espécies por meio de um sistema de metapopulações. (Harrison 1991; Hanski, 1991). A questão de como a fragmentação provoca um aumento de áreas de borda nos fragmentos, como as espécies da avifauna respondem a este efeito borda aumentado e quais seriam as estratégias específicas que deveriam ser aplicadas nas suas áreas de estudo, que apresentam intenso efeito borda será aqui discutida. Referencial teórico O efeito borda resulta de alterações em ecossistemas florestais que geram ambientes fragmentados. Em áreas de floresta, o processo de fragmentação tem produzido paisagens na qual as bordas apresentam características dominantes. Os efeitos de borda são bastante extensivos nos fragmentos remanescentes (Chen, Franklin e Spies 1993 a,b). Segundo Franklin e Forman, 1987, em alguns modelos teóricos de manejo florestal (clear-cutting), o interior de florestas não afetadas pelo efeito borda é inferior a 50% do remanescente, sendo este índice dependente do padrão de manejo e do tamanho do remanescente. Recentes estudos relacionados com efeito borda em remanescentes florestais (Murcia 1995) delimitaram três tipos de efeitos: abiótico, biológico direto e biológico indireto. O efeito abiótico envolve mudanças nas condições físicas do ambiente, resultantes da proximidade para uma matriz estruturalmente dissimilar. Os efeitos biológicos diretos envolvem mudanças na distribuição e abundância das espécies causadas por condições físicas alteradas próximas às bordas. Os efeitos biológicos indiretos resultam das mudanças nas interações das espécies nas bordas ou próximo a elas (Murcia 1995). Os remanescentes florestais limitados por cultivos agrícolas são expostos a diferentes radiações solares, vento, disponibilidade de água e disponibilidade de nutrientes que regiões de floresta contínua (Saunders, Hobbs e Arnold 1993; Hobbs 1993). Fatores como a radiação solar, temperatura e umidade dirigem processos biológicos como fotossíntese, desenvolvimento da vegetação, decomposição e ciclagem de nutrientes (Chen 1993b). A dinâmica espacial e temporal do microclima para bordas são de grande importância para entender as respostas biológicas e a distribuição e abundância de organismos em remanescentes florestais (Turton and Freiburguer in Laurance e Bierregaard 1997). Segungo Murcia (1995), a distância pela qual o efeito borda penetra dentro de fragmentos florestais é uma medida geralmente usada para indicar a intensidade da modificação do hábitat. Estudos realizados por Matlack 1993; Kapos et al. 1993; Young e Mitchell 1994 e Camargo e Kapos 1995), envolvendo medição do ar, temperatura do solo e déficit de vapor de pressão levaram a conclusão de que o efeito borda penetra somente cerca de 50 m dentro da floresta, sendo que em alguns casos não foi detectada alterações nos gradientes microclimáticos em relação a este efeito (Murcia 1995). A intensidade do efeito borda é altamente influenciada pela orientação da borda e a fitofisionomia da floresta. A quantidade de radiação solar recebida determina a extensão de vários efeitos físicos da borda, sendo essencialmente dependente em cima da orientação da borda. A fitofisionomia florestal é importante, no aspecto de afetar a quantidade de radiação solar incidente recebida no sub-bosque da floresta (Turton and Freiburguer in Laurance e Bierregaard 1997). Variáveis ambientais como radiação fotossinteticamente ativa, temperatura, déficit de pressão de vapor, velocidade do vento e fluxo de calor do solo, medidas 100 95 75 25 5 0 38 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 dentro dos dosséis da floresta, dependem da distribuição vertical dos estratos e da abertura do dossel (Fritschen 1985). O tamanho, a forma e a idade dos remanescentes irão interagir para determinar a importância dos efeitos de borda (Kapos 1989). Fatores climáticos externos podem promover maiores efeitos em remanescentes menores ou irregulares (Turton and Freiburguer in Laurance e Bierregaard 1997). Os remanescentes maiores e circulares tendem a apresentar uma área central (núcleo) maior, que parece não ser influenciada pelo efeito borda (Laurance e Yensen 1991; Saunders, Hobbs e Margulis 1991). Outro fator relevante é a característica da vegetação na borda (estágio sucessional). Bordas maduras tendem a ser fechadas pela vegetação, enquanto bordas mais abertas sofrem maior influência do efeito borda (Matlack 1994). Trabalhos relacionados com a resposta da avifauna ao efeito de borda como Galetti et al. 2003, mostraram que a redução de habitat e o efeito borda afetam as chances de consumo de frutos por aves, alterando sua distribuição em ambientes fragmentados. Os mesmos autores encontraram maior probabilidade de consumo de frutos na borda do que no interior e relacionaram esse resultado com dois fatores: a) As variações de luz encontradas na borda e no interior, que parecem afetar a comunicação entre aves e frutos (Endler, 1993); b) Aves frugívoras generalistas são mais comuns em bordas de floresta do que no interior (Candido, 2000). As espécies de avifauna podem se comportar de maneira distinta em relação ao efeito borda aumentado. No caso de espécies florestais, sensíveis a alterações de hábitats, como é o caso de chocas da mata (Thamnophilidae), sanhaços (Thraupis sp.) e gaturamos (Euphonia sp.) (Thraupidae), a redução da área natural, gera alterações no microhábitat e microclima do interior, modificando a qualidade do hábitat. Essas espécies tendem a se deslocar desses ambientes alterados, caso não consigam se adaptar aos recursos disponíveis após a ocorrência do impacto ambiental. Observa-se a migração para fragmentos próximos que possam apresentar recursos favoráveis para forrageamento e abrigo, caso já não exista espécies florestais sensíveis e competidora desses recursos, ou então migração para outras áreas que possam ser exploradas com menores índices de competição. A falta de extinções em massa para os biomas de Mata Atlântica e Cerrado sugere uma dinâmica específica da comunidade de aves (guildas). A adaptabilidade de determinadas espécies (onívoros e insetívoros) e a sensibilidade de outras espécies (insetívoros de dossel, insetívoros de solo) diante os impactos gerados pela fragmentação (em fragmentos formados) ou pelas alterações na matriz (em fragmentos naturais) pode ser explicada pelo efeito da compensação por densidade , parâmetro observado em estudos de dinâmica de comunidades. Para a área de estudo nos valos, que incluem fragmentos florestais conectados por corredores ecológicos, a situação é bastante específica. Os 8 fragmentos estudados apresentam áreas que variam de 1,0 ha para os menores fragmentos, 7,0 ha para fragmentos médios e 12 ha para os maiores fragmentos. Nesse contexto, espera-se que o efeito borda para esses remanescentes seja bastante intenso e possa alterar tanto a dinâmica de flora como a dinâmica de fauna, uma vez que estas estão diretamente relacionadas. Um fator que influencia diretamente esta dinâmica de cada fragmento, é a presença ou ausência de água. Alguns fragmentos, apresentam um córrego perene, outros formam charcos (matas paludosas). Estas características geram condições específicas para cada ambiente, favorecendo a seleção de espécies da flora adaptadas a essas condições e da fauna, diretamente relacionada. Dessa forma, tendo em vista a relação destes fatores, as estratégia a serem empregadas nesse caso de intenso efeito de borda seriam: a) Quantificação os gradientes microclimáticos ao longo da borda de cada fragmento e corredor ecológico Procedimentos: a.1) Medição de temperatura do solo em três profundidades (0 cm, 5 cm e 10 cm) (termômetro digital); a.2) Medição da temperatura ambiente em dois níveis (bulbo seco e molhado – higrômetro aspirador); a.3) Medição do déficit de pressão de vapor; b) Estabelecimento de transectos lineares para coleta de amostras: pontos a 5m fora da borda, na borda, 5 m dentro do fragmento, 10 m dentro do fragmento, 20m, 30m, 40m dentro do fragmento. Para fragmentos menores (1 ha), seguir a metodologia até o núcleo da floresta. paralelos lineares perpendiculares às bordas (N,S,L,O) do fragmento; c) Comparação das distâncias na qual as bordas penetram dentro dos fragmentos, para cada fragmento e comparar com outros fragmentos da região em situações semelhantes e com literatura para ambientes semelhantes; Procedimentos: c.1) Fotografias hemisféricas do dossel par estimar a abertura do dossel d) Cálculo da densidade de sementes e propágulos ao 100 95 75 25 5 0 39 Avaliação do efeito borda na distribuição da avifauna em fragmentos florestais de Cerrado longo das bordas nos fragmentos estudados para inferir a respeito da influência da borda na dinâmica dos fragmentos. Procedimentos: d.1) Estudo de dinâmica da comunidade de monocotiledôneas, dicotiledôneas pioneiras e dicotiledôneas secundárias das bordas dos fragmentos; d.2) Estabelecimento de parcelas contíguas de 10 x 10m paralelas na borda dos fragmentos, a 10m, 20m, 30m e 40m para o interior (contagem de todos os indivíduos na parcela, jovens, sub-adultos e adultos) d.3) Avaliação dados de dinâmica (número inicial de árvores, número de recrutas, mortalidade, recrutamento, mudança, área basal, crescimento, acréscimo, decréscimo, durante pelo menos 5 anos; d.4) Aplicação de estatística não paramétrica para avaliação dos dados de dinâmica (Kruskal-Wallis, Kolmorogov), regressão, variância, etc. Conclusão São necessários estudos mais acurados, relacionando fatores como composição florística da borda, histórico, estrutura e design do fragmento, e a distribuição sazonal da taxocenose de aves, para avaliar entre outros as interações animal-planta e suas variações para a dinâmica de ambientes fragmentados. Referências bibliográficas CAMARGO, J. L.; KAPOS, V. Complex edge effects on soil moisture and microclimate in central Amazonian forest. Journal of Tropical Ecology, v. 11, p. 205-221, 1995. CANDIDO, Jr., J.F.. The edge effect in a forest bird community in Rio Claro, São Paulo state, Brazil, Ararajuba, v. 8, p. 9-16, 2000. CHEN, J.; FRANLIN, J.F.; SPIES, T.A. Contrasting microclimate among clearcute edge and interior of oldgrowth Douglas-fir forest. Agricultural and Forest Meteorology , v. 63, p. 219-37, 1993 a. ___________________. An empirical model for predicting diurnal air temperature gradients from edge into oldgrowth Douglas-fir forest. Ecological Modelling, v. 6, p. 179-98, 1993 b. DA SILVA, J. M.; UHL, C.; MURRAY, G. Plant succession, landscape management and the ecology of frugivorous birds in abandoned Amazonian pastures. Conservation Biology, v. 10, p. 491-503, 1996. DEBINSKI, D.M.; HOLT, R.D. A survey and overview of habitat fragmentation experiments. Conservation biology, v. 14, n. 2, p. 342-355, 1999. ENDLER, J.A. The color of light in forests and its implications. Ecological Monographs, v. 63, p. 1-27, 1993. EUSKIRCHEN, E.S.; CHEN, J.; BI, R. Effects of edges on plant communities in a managed landscape in northern Wisconsin. Forest Ecology and Management, v. 148, n. 13, p. 93-108, 2001. FAGAN, W.F.; CANTRELL; R.S. COSNER, C. How habitat edges change species interactions. The American Naturalist, v. 153, n. 2, p. 165-177, 1999. FRANKLIN, J.F.; FORMAN, R.T.T. Creating landscape patterns by forest cutting: Ecological consequences and principles. Landscape Ecology, v. 1, p. 5-18, 1987. FRITSCHEN, L.J. Characterization of boundary conditions affecting forest environment phenomena. p. 3-23 In: HUTCHINSON, B.A. ; KINGS, B.B., eds. The forestatmosphere interaction. D. Reidel, Boston, Mass, 1985. GALETTI, M.; ALVES-COSTA, C.P.; CAZETTA, E. Effects of Forest fragmentation, anthropogenic edges and fruit color on the consumption of ornithocoric fruits. Biological conservation 111 (2003) 269-273. GASCON, C.; LOVEJOY, T.E.; BIERREGAARD, R.O.; MALCOLM, J.R.; STOUFFER, P.C.; VASCONCELOS, H.L.; LAURANCE, W.F.; ZIMMERMAN, B.; TOUCEHR, M.; BORGES, S. Matrix habitat and species richness in tropical forest remnants. Biological Conservation, v. 91, p. 223-229, 1999. HANSKI, I; GILPIN, M. Metapopulation dynamics: brief history and conceptual domain. Biological Journal of the Linnean Society, v. 42, p. 3-16, 1991. HARRISON, S. Local extinction in a metapopulation context: an empirical evaluation. Biological Journal of the Linnean Society, v. 42, p. 73–88, 1991. HOBBS, R.J. Effects of landscape fragmentation on ecosystem processes in the Western Australian wheat belt. Biological Conservation, v. 64, p. 193-201, 1993. 100 HOLL, K.D.; LULOW, M.E. Effects of species, habitat and distance from the edge on post-dispersal seed predation in a tropical rain forest. Biotropica, v. 29, p. 459-468, 1997. KAPOS, V. Effects of isolation on water status of forest patches in the Brazilian Amazon. Journal of Tropical Ecology, v. 5, p. 173-85, 1989. 95 75 25 5 0 40 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 KAPOS, V.; GANADE, G.M.; MATSUI, E. VICTORIA, R.L. 13C as an indicator of edge effects in tropical rain forest reserves. Journal of ecology, v. 81, p. 425-32, 1993. SAUNDERS, D. A.; HOBBS, R. J.; ARNOLD, G.W. The Kellerberrin project on fragmented landscapes: a review, 1993. LAURANCE, W.F. Edge effects in tropical forest fragments - application of a model for the design of nature-reserves. Biological Conservation, v. 57, n. 2, p. 205-219, 1991. SAUNDERS, D. A.; HOBBS, R. J.; MARGULES, C. R. Biological consequences of ecosystem fragmentation: a review. Conservation Biology, v. 5, p. 18-32, 1991. LAURANCE, W.F.; YENSEN, E. Predicting the impacts of edge effects in fragmented habitats. Biological Conservation, v. 55, p. 77-92, 1991. TERBORG, J. Island biogeography and conservation: strategy and limitation. Science, v. 193, p. 1029-1030, 1976. LAURANCE, W. F.; BIERREGAARD, R.O. Tropical forest remnants. Chicago, University of Chicago Press, 1997. LAURANCE, W.F. 2000. Do edge effects occur over large spatial scales? Trends in Ecology and Evolution 15(4): 134135. MATLACK, G.R. Microenvironmental variation within and among forest edge sites in the eastern United States. Biological Conservation, n. 66, p. 185-194, 1993. MATLACK, G.R. Vegetation dynamics of the forest edge: trends in space and sucessional time. Journal of Ecology, n. 82, p. 113-123, 1994. MURCIA, C. Edge effects in fragmented forests: implications for conservation. Trends in ecology and evolution, v. 10, n. 2, p. 58-62, 1995. TOCHER, M.D.; GASCON, C.; ZIMMERMAN, B.L.. 1997. Fragmentation effects on a central Amazonian frogs community: a ten year study. In: LAURANCE, W.F.; BIERREGAARD, R.O. Tropical forest remnants. Chicago, University of Chicago Press, 1997, p. 124-137. TURTON, S.M.; FREIBURGER, H.J. Edge and aspect effects on the microclimate of a small tropical forest remnant on the Atherton Tableland, northeastern Australia. In: LAURANCE, W.F.; BIERREGAARD, R.O. (Ed.) Tropical forest remnants: ecology, management and conservation of fragmented communities. Chicago: The University of Chicago Press, 1997. cap. 4, p. 45-54. YOUNG, A.; MITCHELL, N. Microclimate and vegetation edge effect in a fragmented podocarp-broadleaf forest in New Zealand. Biological Conservation, v. 67, p. 63-72, 1994. RODRIGUES, P.J.F.P.; NASCIMENTO, M. T. Fragmentação florestal e efeitos de borda. Rodriguésia, v. 57, n. 1, p. 63- 100 95 75 25 5 0 41 100 95 75 25 5 0 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 Composição bromatológica de duas variedades de cana-de-açúcar submetidas a diferentes doses de adubação mineral Franklin Meireles de Oliveira Universidade Estadual de Montes Claros, [email protected] Poliana Batista de Aguilar Benara Carla Barros Frota Kléria Maria Souza Marques Edivânia Souza Zeferino Martolino Barbosa da Costa Júnior Universidade Estadual de Montes Claros Resumo Objetivou-se com este experimento avaliar duas variedades de cana-de-açúcar submetidas a diferentes doses de adubação mineral e baseada nas suas composições bromatológicas aos 180 dias de ciclo, identificar a mais adequada para o uso na alimentação de ruminantes. O experimento foi instalado na Fazenda Experimental da Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, em Janaúba-MG. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados, três repetições, em parcelas subdivididas. As análises laboratoriais determinadas foram: matéria seca (MS), proteína bruta (PB), cinzas, fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN) e nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA). A variedade SP 80-1816 foi inferior com 6,05% MS, e superior com 72,36 % FDN em relação a RB 85-5453, não houve diferença (p>0,05) para FDA entre as variedades e entre os níveis de adubações. A SP 801816 foi superior com 6,05% PB, os níveis de adubação mineral referentes aos tratamentos 3, 5 e 6 apresentaram valores superiores e/ou próximos a 7% PB, e para RB 85-5453 foram os 3 e 6. A RB 85-5453 obteve 3,19% cinzas inferior a SP 80-1816, o níveis de adubação mineral referentes aos tratamentos 1 e 6 apresentaram valores inferiores para a SP 80-1816, e para a RB 85-5453 (p>0,05). A RB 85-5453 obteve 33,77% NIDIN inferior a SP 80-1816, os níveis de adubação mineral referentes aos tratamentos 1, 3, 4, e 6 apresentaram valores inferiores para a SP 80-1816, e para a RB 85-5453 (p>0,05). A RB 85-5453 obteve 29,76% NIDA inferior a SP 80-1816, os níveis de adubação mineral referentes aos tratamentos 1, 4, 5 e 6 apresentaram valores inferiores para a SP 80-1816, e para a RB 85-5453 foram os 3 e 5. A variedade RB 85-5453, apresentou a composição bromatológica mais adequada para o uso na alimentação de ruminantes aos 180 dias de ciclo. As menores doses de fertilizantes foram suficientes para o desenvolvimento da variedade RB 85-5453 e SP 80 -1816, sendo que os menores teores de cinzas, NIDIN e NIDA e maiores de PB também foram obtidos com as menores doses de adubação mineral. Palavras-chave: Alimentação; Volumoso; Ruminantes; Valor nutricional. Chemical compositon of two varieties of sugar cane under different doses of mineral fertilizer Abstract The objective of this experiment was to evaluate two varieties of sugar cane under different doses of mineral fertilizer and bromatological his compositions based on the 180-day cycle, identify the most appropriate for use in ruminant feed. The experiment was conducted at the Experimental Farm of the Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES in Janaúba-MG. The design was a randomized complete block, three replicates in a split plot. Laboratory tests were determined: dry matter (DM), crude protein (CP), ash, neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), neutral detergent insoluble nitrogen (NIDN) and acid detergent insoluble nitrogen (NIDA). The variety SP 80-1816 was lower with 6.05% DM and NDF higher with 72,36% in relation to RB 85-5453, there was no difference (p> 0.05) for FDA between varieties and between levels of fertilization. The SP 80-1816 was higher with 6,05% PB, the levels of mineral fertilizer treatments related to the 3, 5 and 6 showed higher values and / or close to 7% CP, and RB 85-5453 were 3 and 6 . RB 85-5453 obtained less 100 95 75 25 5 0 43 Composição bromatológica de duas variedades de cana-de-açúcar submetidas a diferentes doses de adubação mineral than 3,19% ash SP 80-1816, the levels of mineral fertilization treatments related to 1 and 6 showed lower values for the SP 80-1816, 85-5453 and RB (p> 0 , 05). RB 85-5453 NIDIN obtained 33,77% less than SP 80-1816, levels of mineral fertilizer treatments related to the 1, 3, 4, and 6 had lower values for the SP 80-1816 and RB for the 85 - 5453 (p> 0.05). RB 85-5453 NIDA obtained 29,76% less than SP 80-1816, levels of mineral fertilizer treatments related to the 1, 4, 5 and 6 had lower values for the SP 80-1816, 85-5453 and RB were 3 and 5. The variety RB 85-5453, presented the chemical composition more suitable for use in ruminant feeding the 180-day cycle. The lowest doses of fertilizer were sufficient for the development of the variety RB 855453 and SP 80 -1816, and the lowest of ash, and NIDA NIDIN and higher CP were also obtained with lower doses of mineral fertilizer. Keywords: Food; Forage; Ruminant; Nutritional value. Introdução No Brasil, as pastagens constituem a maneira mais prática e econômica de fornecer alimentos aos bovinos. Porém, aproximadamente 80% da matéria seca das forragens produzidas nas pastagens, durante o ano, está disponível na estação quente e chuvosa, tornando-se a estação fria e seca um período crítico, no qual a produção de forragens é insuficiente, daí a necessidade de ser complementada com outras fontes de alimentos. Dessa forma, a cana-de-açúcar tem atraído cada vez mais a atenção dos pecuaristas, sendo usada preferencialmente como fonte de volumoso, em função de apresentar as seguintes características: baixo custo por unidade de massa produzida, grandes produções obtidas em condições tropicais, facilidade de cultivo, colheita na época da seca do ano, persistência da cultura e autoarmazenamento ou conservação no campo (Landell et al., 2002). Há muito se preconiza que a melhor variedade de canade-açúcar para a indústria de açúcar é também a melhor para ser utilizada como forrageira, pois apresenta maior teor de açúcar, interessante na alimentação animal. No entanto, existem numerosas variedades de cana-deaçúcar com características bastante diversificadas e, especificamente quando se destina à alimentação animal, as principais características são as produções de matéria seca (cana-planta e cana-soca), a facilidade de colheita e a qualidade nutritiva, que inclui não somente o teor de açúcar, mas também a qualidade da fibra (Freitas et al., 2006). A cultura é bastante exigente quanto à nutrição, sendo que na ordem de extração de nutrientes, verifica-se que o potássio é extraído em maior quantidade que o nitrogênio (K>N>Ca>Mg>P). O potássio, segundo Aquino et al. (1993), estimula a o perfilhamento, crescimento vegetativo e aumenta o teor de carboidratos, óleos, lipídeos e proteínas; promove o armazenamento de açúcar e amido, ajuda na fixação do nitrogênio, regula a utilização da água e aumenta a resistência a seca, geada e moléstias. O nitrogênio é parte constituinte de todos os aminoácidos, proteínas e ácidos nucléicos, participando direta ou indiretamente de vários processos bioquímicos, a sua carência promoverá a diminuição na síntese de clorofila e aminoácidos essenciais e também na energia necessária à produção de carboidratos e esqueletos carbônicos, refletindo diretamente no desenvolvimento e produtividade da cultura (Malavolta et al., 1997). O valor nutricional da cana está diretamente correlacionado com o seu alto teor de açúcar, o resultado é um alimento nutricionalmente desbalanceado, e quando oferecido como único componente da dieta, o consumo é baixo e não é capaz de atender nem mesmo as necessidades de mantença do animal. Portanto, se o objetivo for alcançar mantença ou ganhos de peso, a canade-açúcar, necessariamente, precisa ser suplementada. Em função do seu alto teor de carboidratos solúveis, a cana é classificada como um volumoso de média qualidade, mas com baixos teores de proteína bruta e minerais (Embrapa, 2002). Assim, fica evidente a necessidade de estudos sobre o valor nutricional das variedades de cana-de-açúcar disponíveis no mercado, visando à alimentação animal. Objetivou-se com este experimento avaliar duas variedades de cana-de-açúcar submetidas a diferentes doses de adubação mineral e baseada nas suas composições bromatológicas, identificar a mais adequada para o uso na alimentação de ruminantes. Materiais e métodos O experimento foi instalado na Fazenda Experimental da Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, em Janaúba – MG. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados, com três repetições, em parcelas subdivididas (2 x 6) , sendo utilizado na parcela duas variedades de cana-de-açúcar, RB85-5453 e SP80-1816, e na subparcela adubou-se em uma só vez seis níveis de adubação mineral, 1 (0 kg ha-1 de N e K2O), 2 (14 kg ha-1 de N e 33 kg ha-1 de K2O), 3 (29 kg ha-1 de N e 66 kg ha-1 de K2O), 4 (43 kg ha-1 de N e 100 kg ha-1 de K2O), 5 (57 kg ha-1 de N e 133 kg ha-1 de K2O), 6 (71 kg ha-1 de N e 166 kg ha-1 de K2O) das fontes de Sulfato de Amônia e Cloreto de Potássio. Foi utilizado o sistema de irrigação por aspersão convencional 100 95 75 25 5 0 44 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 com aspersores de baixa pressão. Cada parcela foi composta por quatro linhas de 5 metros de comprimento (Cesnik & Miocque, 2004) espaçadas de 1,40 metros, sendo as duas linhas centrais consideradas como úteis para efeito de coleta de dados e observações, descartando-se 2 metros em cada extremidade da linha. As amostras foram coletadas no dia 16 de abril de 2010, sendo 18 amostras de cada variedade. O corte foi feito próximo ao solo retirando as folhas para, após a coleta foi realizada uma tritura prévia com auxílio de um desintegrador, as amostras foram empacotadas em sacos plásticos e posteriormente identificadas, sendo transportada imediatamente para o Laboratório de Análise de Alimentos do Departamento de Zootecnia da Universidade Estadual de Montes Claros – MG. No laboratório cada amostra foi desempacotada, homogeneizada e colocada 500g de matéria natural em um saco de papel devidamente pesado e identificado, logo após todas as amostras foram pré-secas em estufa de ventilação forçada a 55ºC, sendo revolvida frequentemente para auxiliar a secagem. Após a secagem as amostras foram moídas em moinho tipo Willey, com peneira de 1 mm, dando prosseguimento às análises realizando duplicatas das 36 amostras disponíveis. As análises laboratoriais consistiram na determinação dos teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e cinzas, segundo técnicas descritas por Silva & Queiroz (2006). E os teores de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDIN), fibra insolúvel em detergente ácido (NIDA), segundo Van Soest et al. (1991). Os dados foram submetidos à análise de variância e, quando houve diferença significativa pelo teste F, realizou-se a comparação das medias pelo teste de Scott Knott (p<0,05) para todas as variáveis estudadas, utilizando-se o software estatístico SISVAR, descrito por Ferreira (2000). Resultado e discussão Os teores médios de matéria seca (MS), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA), em porcentagem, das variedades SP 80-1816 e RB 85-5453 aos 180 dias de ciclo encontram-se na Tabela 1. VARIEDADE MS FDN FDA SP 80-1816 - 6,05 b 72,36 a 36,13 a RB 85-5453 9,12 a 61,10 b 36,56 a Média 7,58 66,73 36,34 CV% 8,66 6,81 6,81 Tabela 1. Teores médios de matéria seca (MS), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) em porcentagem, das variedades SP 80-1816 e RB 85-5453 aos 180 dias de ciclo (dados expressos na matéria seca). Médias seguidas de letras minúsculas distintas nas linhas diferem entre si pelo teste de Scott Knot (p<0,05). Quanto ao teor médio de MS houve diferença (p<0,05) entre as variedades, sendo que a RB 85-5453 foi superior. Em relação aos níveis de adubação mineral não houve diferença (p>0,05). Muraro et al. (2009) analisaram o efeito da idade de corte sobre a composição bromatológica e as características da silagem de cana-deaçúcar plantada em dois espaçamentos e três idades de corte, e encontraram valores de MS na variedade RB 72454 aproximados de 16% aos 180 dias de idade, no entanto, Freitas et al. (2006) avaliaram a divergência nutricional de genótipos de cana-de-açúcar, e observaram teores de 26% e 27,8% de MS na cana-de-açúcar colhida aos 330 dias e aos 390 dias de ciclo, respectivamente, resultados superiores aos obtidos neste experimento. O aumento do teor de matéria seca ocorre com o avanço do estádio vegetativo da planta e na cana-de-açúcar, o fator que mais determina o aumento do teor de matéria seca são os carboidratos solúveis, exclusivamente a sacarose. Quanto ao teor de FDN houve diferença (p<0,05) entre as variedades, sendo que a SP 80-1816 obteve valor superior de 11,1% em relação à variedade RB 85-5453, já em relação aos níveis de adubação mineral não houve diferença (p>0,05). O valor da FDN encontrado neste trabalho pode ter sido influenciado pela época de corte, a cana-de-açúcar quando atinge a maturação ocorre um efeito da diluição dos componentes da parede celular, em decorrência do aumento do teor de sacarose. Rodrigues et al. (1999), avaliaram o efeito da qualidade de variedades de cana-de-açúcar sobre seu valor como alimento para bovinos, e apresentaram valores médios de FDN de 50% aos 360 dias de ciclo da variedade SP 80-1816. No entanto, Rodrigues et al. (2001) trabalharam com dezoito cultivares de cana-de-açúcar destinada à alimentação animal, e observaram um teor de 50,30% de FDN para a variedade SP 80-1816. Enquanto, Azevedo et al. (2003) avaliaram variedades de cana-de-açúcar e simulação do desempenho de vacas leiteiras, e apresentaram valores médios de FDN de 51,8% para a variedade RB 85-5453 aos 426 dias após plantio, resultados inferiores aos obtidos neste trabalho. Os teores de FDN da variedade RB 85-5453 está dentro do índice ideal, segundo Van Soest et al. (1991), teores de FDN abaixo ou acima de 50 a 60% podem comprometer o consumo de forragem pelo animal. A determinação das frações fibrosas das plantas forrageiras se faz necessária devido à relação destes componentes com a regulação do consumo, digestibilidade, taxa de passagem e atividade de 100 95 75 25 5 0 45 Composição bromatológica de duas variedades de cana-de-açúcar submetidas a diferentes doses de adubação mineral mastigação na alimentação de ruminantes. Se as dietas são ricas em fibra, a densidade de energia da dieta é baixa, o consumo é limitado pelo enchimento ruminal e, o desempenho animal (produção de leite e balanço nos tecidos) decai. Em contrapartida, se as dietas apresentarem um baixo conteúdo de fibra, a fermentação ruminal é reduzida, pode haver a ocorrência de distúrbios alimentares como a acidose, o que levará a um comprometimento do desempenho e da saúde do animal. Quanto ao teor de FDA não houve diferença (p>0,05) entre as variedades e os níveis de adubações minerais. Azevedo (2002) trabalhou com quinze variedades de canade-açúcar, colhidas aos 426, 487 e 549 dias após o plantio, obteve teores médios de 26,84; 28,92 e 27,91% FDA, respectivamente, resultados inferiores aos observados neste trabalho. Entretanto, Pate et al. (2001), em estudo do valor nutricional de sessenta e seis variedades comerciais de cana-de-açúcar, plantadas no Sul da Flórida, observaram uma ampla variação na porcentagem da FDA (28,3% a 41,5%) e concluíram que, para se utilizar a cana-deaçúcar com propósito de alimentação animal, deve ser dada ênfase ao baixo conteúdo de fibra, já que valores altos de FDA significam baixa qualidade na digestibilidade da forrageira. Os teores médios de proteína bruta (PB), em porcentagem, das variedades SP 80-1816 e RB 85-5453 e tratamentos de adubação mineral aos 180 dias de ciclo encontram-se na Tabela 2. Tratamento (1) 1 2 3 4 5 6 Média Variedade SP 80 -1816 RB 85 -5453 6,47 bB 3,84 bC 7,81 aA 2,47 bD 7,77 aA 7,95 aA 6,05 5,73 bA 6,02 aA 6,38 bA 5,12 aA 3,41 bB 6,34 bA 5,50 CV% = 12,49 Tabela 2. Teores médios de proteína bruta (PB), em porcentagem, das variedades SP 80-1816 e RB 85-5453 e tratamentos de adubação mineral aos 180 dias de ciclo (dados expressos na matéria seca ). (1) Tratamento 1 (0 kg ha-1 de nitrogênio e potássio); 2 (14 kg ha-1 de nitrogênio e 33 kg ha-1 de potássio); 3 (29 kg ha-1 de nitrogênio e 66 kg ha-1 de potássio); 4 (43 kg ha-1 de nitrogênio e 100 kg ha-1 de potássio); 5 (57 kg ha-1 de nitrogênio e 133 kg ha-1 de potássio); 6 (71 kg ha-1 de nitrogênio e 166 kg ha-1 de potássio). Médias seguidas de letras minúsculas distintas nas linhas diferem entre si pelo teste de Scott Knot (p<0,05). Médias seguidas de letras maiúsculas distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Scott Knot (p<0,05). Houve interação significativa entre variedades versus níveis de adubação mineral (p<0,05). A SP 80-1816 foi superior com valor médio de 6,05% PB. Os níveis de adubação mineral referentes aos tratamentos 3, 5 e 6 apresentaram valores superiores a 7% de PB para a SP 801816, porém para RB 85-5453 foram os tratamentos 3 e 6 que apresentaram índices próximos para o atendimento dos requisitos de nitrogênio para a flora ruminal e para um bom funcionamento de rúmen, que é no mínimo 7%. Muraro et al. (2009), demonstraram valores de 5,49% PB para a variedade RB 72-454 aos 180 dias de ciclo, sendo semelhantes aos valores encontrados neste experimento. Entretanto, Mello et al. (2006), analisaram os parâmetros do valor nutritivo de nove variedades de cana-de-açúcar cultivadas sob irrigação, e observaram valores de 3,3% PB para a variedade SP 80-1816 aos 455 dias de ciclo, resultados inferiores aos deste trabalho. Adicionalmente, com a maturação, ocorre maior desenvolvimento do colmo em relação ao número de folhas, as quais apresentam maior concentração de PB. Sendo assim, com o avanço da maturação, aumenta-se a proporção de colmo: folha, reduzindo-se, dessa forma, o percentual de PB (Lovadini, 1971). Como demonstrado no tratamento 6 da variedade SP 80-1816 altos valores de PB, pode ser conseqüência da maturação tardia da planta e altos teores de nitrogênio disponíveis neste tratamento. De acordo com Preston & Leng (1980), o teor de PB em cultivares de cana-de-açúcar é baixo, sendo uma característica desta espécie forrageira. Por isso, não serve como critério de escolha de variedades para serem utilizadas na alimentação de bovinos. No entanto, isso pode ser corrigido a um baixo custo, por meio de adição de uma fonte de nitrogênio não-protéico à dieta. Os teores médios de cinzas, em porcentagem, das variedades SP 80-1816 e RB 85-5453 e tratamentos de adubação mineral aos 180 dias de ciclo encontram-se na Tabela 3. Tratamento (1) Variedade SP 80 -1816 RB 85 -5453 1 4,46 bD 2,75 bA 2 7,08 aA 3,47 bA 3 4,73 aC 3,23 bA 4 6,15 aB 2,74 bA 5 6,06 aB 3,17 bA 6 4,23 bD 3,80 bA Média 5,45 3,19 100 95 75 CV% = 13,20 Tabela 3. Teores médios de cinzas, em porcentagem, das variedades SP 80-1816 e RB 85-5453 e tratamentos de 25 5 0 46 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 adubação mineral aos 180 dias de ciclo (dados expressos na matéria seca ). (1) Tratamento 1 (0 kg ha-1 de nitrogênio e potássio); 2 (14 kg ha-1 de nitrogênio e 33 kg ha-1 de potássio); 3 (29 kg ha-1 de nitrogênio e 66 kg ha-1 de potássio); 4 (43 kg ha-1 de nitrogênio e 100 kg ha-1 de potássio); 5 (57 kg ha-1 de nitrogênio e 133 kg ha-1 de potássio); 6 (71 kg ha-1 de nitrogênio e 166 kg ha-1 de potássio). Médias seguidas de letras minúsculas distintas nas linhas diferem entre si pelo teste de Scott Knot (p<0,05). Médias seguidas de letras maiúsculas distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Scott Knot (p<0,05). Houve interação significativa entre variedades versus níveis de adubação mineral (p<0,05). A variedade RB 855453 obteve teores médios inferiores, os valores de cinzas implicam na determinação da quantidade de minerais presentes na forrageira, porém altos teores podem ser representados, por exemplo, por quantidades de sílica, não sendo favorável na alimentação de ruminantes. A variedade RB 85-5453 é de ciclo precoce podendo ser este o fato pela qual apresentou a menor quantidade de cinzas. Os níveis de adubação mineral referentes aos tratamentos 1 e 6 apresentaram valores inferiores de cinzas para a SP 80-1816, porém para a RB 85-5453 não houve diferença entre os tratamentos (p>0,05). Mendonça et al. (2004), apresentaram valores médios de cinzas de 3,2% aos 360 dias de ciclo para a variedade RB 855536, resultado similar ao verificado neste experimento para a RB 85-5453. Nussio et al. (2006) trabalharam com cana-de-açúcar como alimento para bovinos, e obtiveram teores variando de 0,81 a 6,42%. E Muraro et al. (2009) encontraram teores de 7,25% de cinzas em cana com 180 dias de ciclo para a variedade RB 72-454, resultados superiores aos observados neste experimento. Os teores médios de nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDIN), em porcentagem, das variedades SP 80-1816 e RB 85-5453 e tratamentos de adubação mineral aos 180 dias de ciclo encontram-se na Tabela 4. Tratamento (1) Variedade SP 80 -1816 RB 85 -5453 1 2 28,78 bB 46,12 aA 35,51 bA 34,24 bA 3 34,89 bB 32,30 bA 4 5 31,73 bB 41,52 aA 32,33 bA 27,05 bA 6 Média 36,58 bB 36,60 41,17 bA 33,77 CV% = 15,65 Tabela 4. Teores médios de nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDIN), em porcentagem, das variedades SP 80-1816 e RB 85-5453 e tratamentos de adubação mineral aos 180 dias de ciclo (dados expressos na matéria seca). (1) Tratamento 1 (0 kg ha-1 de nitrogênio e potássio); 2 (14 kg ha-1 de nitrogênio e 33 kg ha-1 de potássio); 3 (29 kg ha-1 de nitrogênio e 66 kg ha-1 de potássio); 4 (43 kg ha-1 de nitrogênio e 100 kg ha-1 de potássio); 5 (57 kg ha-1 de nitrogênio e 133 kg ha-1 de potássio); 6 (71 kg ha-1 de nitrogênio e 166 kg ha-1 de potássio). Médias seguidas de letras minúsculas distintas nas linhas diferem entre si pelo teste de Scott Knot (p<0,05). Médias seguidas de letras maiúsculas distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Scott Knot (p<0,05). Houve interação significativa entre variedades versus níveis de adubação mineral (p<0,05). A variedade RB 855453 houve melhor desempenho com valores inferiores. Os níveis de adubação mineral referentes aos tratamentos 1, 3, 4, e 6 apresentaram valores inferiores de NIDIN para a SP 80-1816, entretanto para a RB 85-5453 não houve diferença entre os tratamentos (p>0,05). Mello et al. (2006), trabalharam com nove variedades de cana-deaçúcar cultivadas sob irrigação, e demonstraram valores de 23,83% de NIDIN para espécie SP 80-1816 aos 360 dias de ciclo, valor inferior ao verificado neste trabalho. Os teores médios de nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA), em porcentagem, das variedades SP 80-1816 e RB 85-5453 e tratamentos de adubação mineral aos 180 dias de ciclo encontram-se na TABELA 5. Tratamento (1) Variedade SP 80 -1816 RB 85 -5453 1 2 34,56 bC 58,23 aA 31,99 bA 33,10 bA 3 42,72 aB 27,44 bB 4 5 36,70 bC 34,45 aC 31,50 bA 23,59 bB 6 39,05 aC 30,94 bA Média 40,95 29,76 100 Tabela 5. Teores médios de nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA), em porcentagem, das variedades SP 80-1816 e RB 85-5453 e tratamentos de adubação mineral aos 180 dias de ciclo (dados expressos na matéria seca ). (1) Tratamento 1 (0 kg ha-1 de nitrogênio e potássio); 2 (14 kg ha-1 de nitrogênio e 33 kg ha-1 de potássio); 3 (29 kg ha-1 de 95 75 25 5 0 47 Composição bromatológica de duas variedades de cana-de-açúcar submetidas a diferentes doses de adubação mineral nitrogênio e 66 kg ha-1 de potássio); 4 (43 kg ha-1 de nitrogênio e 100 kg ha-1 de potássio); 5 (57 kg ha-1 de nitrogênio e 133 kg ha-1 de potássio); 6 (71 kg ha-1 de nitrogênio e 166 kg ha-1 de potássio). Médias seguidas de letras minúsculas distintas nas linhas diferem entre si pelo teste de Scott Knot (p<0,05). Médias seguidas de letras maiúsculas distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Scott Knot (p<0,05). Houve interação significativa entre variedade versus níveis de adubação mineral (p<0,05). A RB 85-5453 obteve melhor desempenho com valores inferiores . Os níveis de adubação mineral referentes aos tratamentos 1, 4, 5 e 6 apresentaram valores inferiores de NIDA para a SP 801816, enquanto que para a RB 85-5453 foram os tratamentos 3 e 5. De acordo Weiss et al. (1999), a concentração de NIDA em forragens tem uma alta correlação negativa com a digestibilidade aparente da proteína. Conclusões A variedade RB 85-5453 apresentou a composição bromatológica mais adequada aos 180 dias de ciclo para o uso na alimentação de ruminantes, por apresentar menores teores de cinza, fibra em detergente neutro e nitrogênio insolúvel em detergente ácido e um maior teor de matéria seca, e os teores de proteína bruta ficaram próximos a 7% que é o valor mínimo para o desenvolvimento da microbiota ruminal. As menores doses de fertilizantes foram suficientes para o desenvolvimento da variedade RB 85-5453 e SP 801816, sendo que os menores teores de cinzas, nitrogênio insolúvel em detergente neutro e nitrogênio insolúvel em detergente ácido e maiores de proteína bruta também foram obtidos com as menores doses de adubação mineral. Referências bibliográficas AQUINO, A. B. et al. Recomendações de adubação e calagem para o estado do Ceará. Fortaleza: UFC, 1993. 248 p. AZEVEDO, J.A.G. Avaliação nutricional de variedades de cana-de-açúcar (Saccharum sp.) e simulação do desempenho de vacas leiteiras. Viçosa, MG, 2002, 90 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa - MG, 2002. AZEVEDO, J. A.; PEREIRA, J.C.; CRESCÊNCIO, P. S.; et al. Avaliação da divergência nutricional de variedades de cana-de-açúcar (Saccharum spp.) Revista Brasileira de Zootecnia, v.32, n.6, p.1431-1442, 2003. CESNIK, R.; MIOCQUE, J. Melhoramento da cana-deaçúcar. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2004. EMBRAPA GADO DE LEITE. Cana com uréia: alternativa para enfrentar o período seco. Juiz de Fora, 2002b. Disponível em: <www.cnpgl.embrapa.br/jornaleite/ aprendendo.php>. Acesso em: 22 nov. 2002. FERREIRA, D.F. Análises estatísticas por meio do Sisvar para Windows versão 4.0 In: REUNIÃO ANUAL DA REGIÃO BRASILEIRA DA SOCIEDADE INTERNACIONAL DE BIOMETRIA, 2000, São Carlos. Resumos... São Carlos: RBRAS/UFSCar, 2000. p.255-258. FREITAS, A.W.P; PEREIRA, J.C.; ROCHA, F.C. Avaliação da divergência nutricional de genótipos de cana-de-açúcar (Saccharum spp.). Revista Brasileira de Zootecnia, v.35, n.1, p.229-236, 2006. LANDELL, M.G.A.; CAMPANA, M.P.; RODRIGUES, A.A.; CRUZ, G.M.; ROSSETO, R.; FIGUEIREDO, P. A variedade IAC86-2480 como nova opção de cana-de-açúcar para fins forrageiros: manejo de produção de uso na alimentação animal. Campinas: Instituto Agronômico, Boletim Técnico IAC, 2002. 193 p. LOVADINI, L.A.C. Efeito da maturidade da planta sobre a composição em fibra bruta, celulose, lignina e digestibilidade da celulose in vitro, em variedades de cana-de-açúcar. Piracicaba: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 1971. 76p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 1971. MALAVOLTA, E.; VITTI, G. C.; OLIVEIRA, S. A. Avaliação do estado nutricional das plantas: princípios e aplicações. 2. ed. Piracicaba: Associação Brasileira Pesquisa Potassa Fosfato, 1997. 319 p. 100 MELLO, S.Q.; FRANÇA, A.F.S; LIMA, M.L.M. et al. Parâmetros do valor nutritivo de nove variedades de canade-açúcar cultivadas sob irrigação. Ciência Animal Brasileira, v.7, n.4, p.373-380, 2006. MENDONÇA, S. S.; CAMPOS, J. M.; VALADARES, S.C.F.; et al. Consumo, digestibilidade aparente, produção e 95 75 25 5 0 48 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 composição do leite e variáveis ruminais em vacas leiteiras alimentadas com dietas à base de cana-de-açúcar. Revista Brasileira de Zootecnia, v.33, n.2, p.481-492, 2004. do concentrado no consumo da cana-de-açúcar com uréia e ganho de peso de novilhas em crescimento. Revista Brasileira de Zootecnia, v.28, n.2, p.421-424, 1999. MURARO, G.B.; JUNIOR, P.R.; et al. Efeito da idade de corte sobre a composição bromatológica e as características da silagem de cana-de-açúcar plantada em dois espaçamentos e três idades de corte. Revista Brasileira de Zootecnia, v.38, n.8, p.1525-1531, 2009. RODRIGUES, A.A.; CRUZ, G.M.; BATISTA, L.A.R. Qualidade de dezoito variedades de cana-de-açúcar como alimento para bovinos. In: REUNIÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 38., Piracicaba: SP, 2001. Anais... Piracicaba: SBZ, 2001. CD-ROM. NUSSIO, L.G.; SCHMIDT, P.; SCHOGOR, A.L.B. et. al. Canade-açúcar como alimento para bovinos. In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO ESTRATÉGICO DA PASTAGEM, 3., 2006, Viçosa, MG. Anais... Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 2006. p.277-328. SILVA, D.J.; QUEIROZ, C. Análise de alimentos: métodos químicos e biológicos. Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 2002. 235p. PATE, F. M.; ALVAREZ, J.; PHILLIPS, J. D.; EILAND, B.R. Sugarcane as a cattle feed: production and utilization. Florida: University of Florida/Cooperativa Extension Service, 2001. 25 p. PRESTON, T. R.; LENG, R.A. Utilization of tropical feeds by ruminants. In: RUCKBRUSH, T.; THIVELAND, P. Digestive phisiology and metabolism in ruminants. Westport: AVI, 1980. p.620-640. VAN SOEST, P.J.; ROBERTSON, J.B.; LEWIS, B.A. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non starch polyssacarides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, v.74, n.10, p.3583-3597, 1991. WEISS, W. P. Energy prediction equations for ruminant feeds. In: CORNELL NUTRITION CONFERENCE FOR FEED MANUFACTURERS, 61., 1999, Proceedings..., Ithaca: Cornell University, 1999. p. 176-185. RODRIGUES, A.A.; BARBOSA, P.F. Efeito do teor protéico 100 95 75 25 5 0 49 100 95 75 25 5 0 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 Influência de fatores ambientais sobre o desempenho de um sistema de bombeamento fotovoltaico: um estudo de caso José Airton Azevedo Santos Universidade Tecnológica Federal do Paraná, [email protected] Roger Nabeyama Michels Universidade Tecnológica Federal do Paraná, [email protected] Resumo A energia elétrica é uma das formas de energia mais utilizadas no mundo. Ela é gerada, principalmente, nas usinas hidrelétricas, usando o potencial energético da água. A instalação de painéis fotovoltaicos tem se tornado uma fonte alternativa de fornecimento de energia elétrica em locais distantes da rede elétrica. Entretanto, esses painéis, apresentamse sujeitos a fatores ambientais como variações de intensidade solar e temperatura ambiente, que alteram os seus desempenhos. O objetivo deste trabalho é analisar o desempenho, em função da variação de temperatura e irradiação solar, de um sistema fotovoltaico de bombeamento de água na cidade de Medianeira, Região Oeste Paranaense. Palavras-Chave: Painéis fotovoltaicos; Bombeamento de água; Temperatura; Irradiação. Influence of environmental factors on the performance of a photovoltaic pumping system: a case study Abstract Electricity is one of the most widely used forms of energy in the world. It is produced mainly in hydroelectric power plants, using the potential energy of water. The installation of photovoltaic panels has become an alternative source of electrical power in remote locations of the grid. However, these panels present themselves subject to environmental factors such as variations in solar intensity and ambient temperature, which alter their performance. The objective of this work is to analyze the performance, depending on the variation of temperature and solar radiation, a photovoltaic water pumping in the city of Medianeira, Western Region Paranaense. Keywords: Photovoltaic panels; Water pumping; Temperature; Irradiation. Introdução Muitas comunidades em razão de viverem em locais de difícil acesso e muitas vezes em áreas de proteção ambiental (APA), têm dificuldades de serem atendidas pelos serviços convencionais de eletricidade, como as redes de distribuição (Costa; Eck, 1998). Para Abade (1996) e Ribeiro (2010), a geração de eletricidade por energia solar fotovoltaica, através de Sistemas Individuais de Geração com Fontes Intermitentes (SIGFI), é um recurso estratégico capaz de trazer contribuição à sustentabilidade de demandas energéticas em locais distantes da rede elétrica, evitando custos marginais superiores, além de poder prover o desenvolvimento socioeconômico e preservar o meio ambiente em zonas isoladas. Os Sistemas Individuais de Geração de Energia Elétrica com Fontes Intermitentes, utilizados em áreas rurais no Brasil, representam uma solução sustentável, pois o silício, material ativo na maioria dos módulos, é o segundo elemento mais abundante na superfície terrestre. Além disso, o sistema fotovoltaico é silencioso, estático e não causa desgaste de materiais, convertendo diretamente a energia solar em energia elétrica (Ribeiro, 2010). Os Sistemas Individuais de Geração de Energia Elétrica com Fontes Intermitentes podem ser utilizados em aplicações sociais, tais como: iluminação pública, bombeamento de água, energização de escolas, postos de saúde, centros comunitário, postos telefônicos, produção de gelo e dessalinização da água (Camus; Euzébio, 2006). 100 95 75 25 5 0 51 Influência de fatores ambientais sobre o desempenho de um sistema de bombeamento fotovoltaico: um estudo de caso Para estudos mais precisos do potencial de um determinado local, com vistas a um projeto específico, é recomendável a realização de medições locais, buscando avaliar as influências localizadas de relevo, poluição e outros (Lasnier; Ang, 1990). Na otimização de projetos de aproveitamento de energia solar é importante o conhecimento das variações anuais, sazonais e diárias da radiação solar (Cardona; López, 1999). Uma avaliação da potencialidade desse recurso exige a realização de um levantamento abrangente dos níveis de radiação solar por meio de medições com instrumentos solarimétricos e a utilização de modelos matemáticos para extrapolação dos valores medidos para áreas desprovidas de dados (Marafia, 2001). Para que a implantação de um sistema de bombeamento de água, em uma determinada região, seja melhor avaliada, ainda são necessários diversos tipos de estudos, em destaque tem-se a avaliação de fatores ambientais em condições reais de trabalho para o sistema fotovoltaico (Overstraeten; Mertens, 1996). Atendendo a essa necessidade a presente pesquisa estabeleceu como objetivo analisar o desempenho, em função da variação de temperatura e irradiação solar, de um sistema fotovoltaico de bombeamento de água na cidade de Medianeira, Região Oeste Paranaense. Material e métodos O sistema fotovoltaico (Figura 1), com dez painéis, foi montado na cidade de Medianeira, mais especificamente, nas dependências da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O município está localizado na Região Oeste Paranaense com 25º 17' 43” latitude Sul, 54º 05' 38” longitude Oeste e apresenta uma altitude de 500,7 metros. Dez painéis fotovoltaicos foram instalados (Figura 1), mas somente dois foram utilizados neste trabalho. Devido à configuração do sistema os painéis foram ligados em série. O posicionamento do conjunto fotovoltaico foi realizado por meio de uma haste vertical projetada sobre um plano horizontal, pela localização do norte geográfico utilizando o valor do meio-dia real (12 horas, 43 minutos, 44 segundos). O ângulo de inclinação do conjunto fotovoltaico em relação ao plano horizontal foi mantido constante e idêntico à latitude do local. Para a montagem do sistema fotovoltaico de bombeamento de água foram necessários os seguintes equipamentos: a) Dois painéis solares, fabricante Solarex, modelo MSX 56, tensão padrão de 12 V, corrente padrão de 3,35 A e potência de 56 W; b) Uma bomba, fabricante SolarJack, modelo SDS-D-228, tensão de 30 V. c) Um transdutor de pressão, fabricante Dicket-John, modelo 46570-0010, faixa de atuação de 0 a 100 PSI, tensão de entrada de 0 a 16VDC, tensão de saída de 0,5 a 5,0 VDC; d) Um medidor de vazão, fabricante LAO, tipo turbina, classe 0.1; e) Um transdutor de vazão aferido com precisão; f) Um micrologger da marca Campbel Scientific-INC, modelo CD23X; g) Um termopar do tipo K (cromo/alumínio) aferido para a aquisição de dados. h) Um microcomputador; i) Um piranômetro Kipp & Zonen CM3; j) Um divisor de tensão; k) Uma resistência Shunt. O termopar, colocado na parte de trás do painel fotovoltaico, fornece o valor da temperatura dos painéis (Figura 2) e o piranômetro (Figura 3) o valor da irradiação. Os divisores de tensão e as resistências Shunt forneceram os valores de tensão e corrente dos painéis fotovoltaicos. 100 95 75 Figura 1: Sistema fotovoltaico. Figura 2: Localização do Termopar. 25 5 0 52 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 Uma bomba do tipo diafragma, do fabricante SolarJack, modelo SDS-D-228, de trabalho submerso com funcionamento de tensão próxima de 30 Vcc foi alimentada pelos dois painéis e bombeou água a uma altura de 20 metros, altura entre a cisterna e a caixa de água, na qual está instalada. Resultados e discussões Figura 3: Piranômetro Kipp & Zonen Muitas vezes os efeitos do aumento da temperatura são negligenciados nos projetos de implantação de sistemas fotovoltaicos. Paltz (1995) afirma que o aumento da temperatura diminui a eficiência dos módulos fotovoltaicos, pois acarreta diminuição significativa da tensão. As curvas de tensão (V) em função da temperatura (T) para o modelo MSX 56, são apresentadas nas Figuras 6 e 7. Figura 4: Datalogger da Campbel. O sistema de aquisição de dados é constituído por um datalloger da CAMPBELL SCIENTIFIC-INC modelo CR23X (Figura 4), programado para realizar uma leitura por segundo de cada canal e armazenar a média aritmética de um minuto dos seguintes dados: a) Irradiação solar global incidente nos painéis fotovoltaicos; b) Vazão da água proporcionada pela moto-bomba; c) Pressão da água proporcionada pela moto-bomba; d) Tensão e corrente produzida pelos dois painéis fotovoltaicos; e) Temperatura nos painéis fotovoltaicos. Um medidor de vazão, fabricante Lao, tipo turbina, classe 0.1 também foi instalado para a informação do valor total da vazão. A Figura 5 ilustra os equipamentos destinados para a medição e monitoramento da vazão de água. Figura 6: Curvas V x T – 500/600 W.m-2 100 95 Figura 7: Curvas V x T – 700/800 W.m-2 75 Figura 5: Medidor de vazão e hidrômetro. O fator temperatura influência na potência e consequentemente na eficiência. Segundo Riffel (2005) a temperatura faz com que a banda de energia do material semicondutor diminua resultando no acréscimo da 25 5 0 53 Influência de fatores ambientais sobre o desempenho de um sistema de bombeamento fotovoltaico: um estudo de caso fotocorrente gerada de aproximadamente 1% a cada 2,7oC de elevação de temperatura. Na Tabela 1 apresentam-se, para os painéis Solarex, modelo MSX 56, a porcentagem de perda de potência, em função do aumento de temperatura dos módulos, de 25oC para 40oC, nas irradiações de 500W.m-2, 600W.m-2, 700W.m-2 e 900W.m-2. Irradiação -2 (W.m ) Potência (W) Potência (W) 0 0 (25 C) (40 C) Perda (%) 500 39,94 37,89 5,14 600 50,06 47,23 5,66 700 53,56 50,67 5,4 900 58,03 54,55 5,99 Média 5,5475 Tabela 1. Perda de potência. Observa-se, da Tabela 1, uma perda média de potência de 5,5475% para os valores de irradiação e temperaturas analisados. Na Figura 8 Apresentam-se as curvas de vazão (Q) em função da temperatura (T) para as irradiações de 500W.m-2, 600W.m-2, 700W.m-2, 800W.m-2 e 900W.m-2. Irradiação Vazão (L/min) Vazão (L/Min) (W.m-2) (250C) (400C) Perda (%) 500 3,81 3,67 3,67 600 4,61 4,4 4,55 700 4,81 4,61 4,16 800 4,95 4,73 4,44 900 5,06 4,84 4,35 Média 4,234 Tabela 2. Perda de vazão Observa-se dos valores obtidos da Tabela 2 uma perda de vazão, no sistema de bombeamento fotovoltaico, de aproximadamente 4,234% em média, para os valores de temperatura e irradiação analisados. Conclusões Neste trabalho apresentaram-se os resultados obtidos, de campo, de um conjunto moto-bomba alimentado por um painel fotovoltaico da marca SOLAREX, modelo MSX-56, instalado na cidade de Medianeira, Região Oeste Paranaense. Observou-se que o desempenho do sistema de bombeamento fotovoltaico foi influenciado pela variação da temperatura e irradiação solar. Observou-se, também, que com o aumento de temperatura de 25oC para 40oC, dos painéis fotovoltaicos, reduziu-se em média: a) a potência fornecida pelos painéis fotovoltaicos em 5,5475%; b) a vazão do sistema de bombeamento em 4,234%. Referências bibliográficas ABADE, A. K. Energia solar fotovoltaica no Brasil: projetos pilotos ou um grande mercado? In: 7 Congresso Brasileiro de Energia. Rio de Janeiro: UFRJ, 1996. Figura 8: Curvas Q x T. Através das curvas apresentadas na Figura 8, nota-se um decréscimo da vazão da moto-bomba, com o aumento da temperatura do painel, para um mesmo valor de irradiação. Na Tabela 2 apresentam-se as perdas de vazão do sistema de bombeamento, em função do aumento de temperatura da células, dos painéis fotovoltaicos, de 25ºC para 40ºC, para as irradiações de 500W.m-2, 600W.m-2, 700W.m-2, 800W.m-2 e 900W.m-2. CARDONA, M. S.; LÓPEZ, M. L. Performance analysis of a grid-connected photovoltaic system Energy. New York: 1999. 100 CAMUS, C.; EUSÉBIO, E. Gestão de energia: energia solar. Lisboa: Departamento de Engenharia Electrotécnica e Automação, 2006. 95 COSTA, S. H.; ECK, M. Modelo sustentável de difusão da tecnologia fotovoltaica para uso residencial. In: 17 Conferência Latino-Americana de Eletrificação Rural. Recife: 1998. 25 75 5 0 54 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 LASNIER, F.; ANG, G.T. Photovoltaic engineering handbook. Bangkok: IOP Publishing Ltd, 1990. OVERSTRAETEN, R.W; MERTENS, R. P. Physics, technology and use of fhotovoltaics. London: Modern Energy Studies, 1996. MARAFIA, H. A., Feasibility study of photovoltaic technology in Qatar. Amsterdam: Renewable Energy, 2001. PALZ, W. Energia solar e fontes alternativas. São Paulo: Hemus, 1995. RIBEIRO, T. B. S. A eletrificação rural com sistemas individuais de geração com fontes intermitentes em comunidades tradicionais: caracterização dos entraves para o desenvolvimento local. 2010. Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Energia) – Universidade de São Paulo. RIFFEL, D. B. Unidade de osmose reversa acionada por energia solar fotovoltaica sem baterias: simulação, projeto e validação experimental. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica). Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2005. SERPA, P. Eletrificação fotovoltaica em comunidades caiçaras e seus impactos socioculturais. Programa Interunidades de Pós-graduação em Energia da Universidade de São Paulo, Tese de Doutorado. São Paulo: USP, 2001. 100 95 75 25 5 0 55 100 95 75 25 5 0 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 Utilização de Biotech® para prevenção do entupimento de gotejadores Kaio Golçalves de Lima Dias Universidade Federal de Lavras, [email protected] Thiago Henrique Pereira Reis Universidade Federal de Lavras, [email protected] Francisco Dias Nogueira Empresa de Pesquisa Agropecuário de Minas Gerais, [email protected] Maria Juliana Lasmar Universidade Federal de Lavras, [email protected] Cesar Henrique Caputo de Oliveira Universidade Federal de Lavras, [email protected] Paulo Tácito Gontijo Guimarães Empresa de Pesquisa Agropecuário de Minas Gerais, [email protected] Resumo Este estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar a ação do BIOTECH® (ácido cítrico 10-2 M + complexo enzimático) na prevenção de entupimentos em gotejadores em sistema de fertirrigação. O experimento foi instalado em blocos casualizados num fatorial 8 x 4 com seis repetições sendo oito tratamentos, com soluções que continham ou não BIOTECH® misturados com alguns fertilizantes utilizados em fertirrigação e quatro períodos de avaliação da vazão dos tubogotejadores. As soluções fluíram sob pressão em tubulação de polietileno dotada de tubogotejadores com a vazão próxima a 1,6 L h-1, espaçados de 0,30 m, sendo cada tratamento composto por seis gotejadores. O fluxo foi cronometrado por 45 minutos, repetidos diariamente por um período de 34 semanas, subdividido em quatro períodos de avaliação. Durante as simulações de irrigação as precipitações químicas ocorreram gradualmente, modificando os coeficientes de variação de vazão e as uniformidades de distribuição dos tubogotejadores sendo possível concluir que o BIOTECH® minimizou a redução da vazão causada por entupimento, mas não impediu a obstrução total dos tubogotejadores pelas soluções indutoras de precipitação. Palavras-chave: Ácidos orgânicos; Enzimas; Precipitação; Gotejamento. Biotech® application to avoid cloggiong drippers Abstract This paper was conducted to evaluate BIOTECH® (Citric Acid 2.10 M + enzyme complex) action in fertirrigation system clogging prevention. The experiment was carried out in randomized blocks in a 8 x 4 factorial with six replications and eight solutions treatments containing or not BIOTECH® mixed with some fertilizers used in fertirrigation and four periods of assessment dripping pipes flow. The solutions stream flowed under pressure into polyethylene piping out flowing close to 1.6 L h-1, spaced 0.30 m apart where each treatment contained six drippers. The flow was scheduled for 45 minutes, repeated daily in 34 weeks, divided into four periods. During irrigation simulations the chemical precipitation occurred gradually modifying the variation coefficients of flow rate and the uniformity of drippers distribution being possible to conclude that BIOTECH® minimized flow reduction caused by clogging but did not avoid total drippers obstruction by precipitation inductor solutions. Keywords: Organic acids; Enzymes; Precipitation; Dripping pipes. 100 95 75 25 5 0 57 Utilização de Biotech® para prevenção do entupimento de gotejadores Introdução Devido ao grande desenvolvimento da irrigação localizada, as empresas que fabricam estes sistemas de irrigação têm aperfeiçoado seus equipamentos e dispositivos de emissão, bem como pesquisado novas tecnologias, sempre tendo como objetivos: facilitar a operação e manejo do sistema para os agricultores; proporcionar maior uniformidade de distribuição de água pelos dispositivos emissores e fazer com que haja uma redução no preço de aquisição do sistema, permitindo assim, a sua utilização por um maior número de agricultores. Atualmente a irrigação localizada deixou de focalizar exclusivamente a aplicação de água, mas leva em consideração a nutrição completa e alguns tratamentos fitossanitários da planta por meio da irrigação, devido a sua facilidade de aplicação via água junto à zona de concentração das raízes das plantas (Folegatti, 1999). A fertirrigação também se destaca pela economia no uso de fertilizantes, controle da profundidade de sua aplicação, menor incidência de doenças, economia de mãodeobra, menor trânsito de máquinas na lavoura evitando a compactação do solo, possibilidade de se fazer maior número de parcelamentos das adubações dentre outras vantagens (Alvarenga, 2004). De um modo geral, a água utilizada pode apresentar problemas de qualidade de natureza biológica, química e física (Vilela et al., 2003). A introdução de nutrientes na água de irrigação favorece o desenvolvimento de microrganismos, aumentando o risco de entupimento dos gotejadores (Pizarro, 1996). O surgimento de colônias de algas e bactérias de até 30 micra em água é bastante comum e em geral conseguem passar pelos filtros e gotejadores, contudo, podem juntar-se a outras colônias ou precipitados, formar aglomerados maiores e causar entupimento dos gotejadores (Alvarenga, 2004). Uma vez o sistema entupido, as alternativas são a troca dos emissores ou a realização de processos de recuperação, que aumentam o custo de manutenção do sistema e, em algumas circunstâncias, podem ser ineficientes (Gilbert et al., 1979). Assim, a prevenção ao aparecimento da obstrução nos emissores e nas linhas de distribuição é a melhor alternativa a ser praticada (Resende, 1999). A aplicação de ácido inorgânico encontra suporte na publicação de Rainbird (1990), mas os ácidos orgânicos de baixo peso molecular causam menos impacto na reação do solo, sobre sua microbiota e constituem fonte de energia para microrganismos do solo pela facilidade em serem biodegradados. Os ácidos orgânicos possuem a capacidade de liberar nutrientes e solubilizar precipitados químicos (Hue et al. 1986; Jayarama et al. 1998) devido principalmente à posição dos grupos OH/COOH da principal cadeia carbônica de suas moléculas. Os ácidos mais eficientes para a complexação e desintoxicação do Al são o cítrico, o tartárico, o oxálico e o málico, no grupo de eficiência moderada, destacam-se o malônico e o salicílico e, no grupo baixa eficiência o succínico, o lático e o fórmico (Huang & Violante,1986; Miyasaka et al.,1991; Delhaize et al.,1993). Inoue & Huang (1986) classificaram os ácidos orgânicos de acordo com o peso molecular e sua capacidade de complexação, em função do arranjo dos grupos funcionais carboxílicos, hidroxílicos e fenólicos, sendo: a) baixa massa molecular e fraco ou moderado poder de complexação – ácidos aspártico e salicílico; b) baixa massa e alto poder de complexação – ácidos málico, cítrico e tartárico; e c) alta massa e alto poder de complexação – taninos, ácidos fúlvicos e húmicos. A maior eficiência do ácido cítrico possivelmente ocorre em razão do mesmo possuir grupos funcionais hidroxilas e carboxilas (Struthers & Sieling, 1950) ligados a dois carbonos adjacentes, e essa posição favorece a formação de estruturas estáveis com ligações cíclicas com o alumínio (Huang & Violante,1986). Os fosfatos monovalentes como o ácido fosfórico e MAP são indicados para fertirrigação devido a sua alta solubilidade e forte reação ácida sendo considerados agentes químicos minimizadores dos problemas de obstrução de gotejadores e no caso do MAP fonte de fósforo e nitrogênio (Tisdale et al., 1985). Também, fertilizantes fosfatados possuem facilidade para formação de precipitados com Ca, Al, Fe, entre outros (Novais & Smyth, 1999) em função do pH da solução de fertirrigação. Sendo assim, torna-se interessante a execução de trabalhos de pesquisa sobre a afinidade química dos produtos veiculados nos tubogotejadores submetidos à fertirrigação permitindo uma avaliação do comportamento dos mesmos neste ambiente. Por esta razão este trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar a ação do BIOTECH® na prevenção de entupimentos em gotejadores em sistema de fertirrigação por soluções contendo produtos com grande possibilidade para formação de precipitados químicos. Material e métodos Realizou-se no Laboratório de Hidráulica (DEG-UFLA) Lavras, MG, latitude de 21°45' S, longitude de 45°00' W, 100 95 75 25 5 0 58 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 altitude de aproximadamente 918 metros, classificação climática de Köppen cwa, em temperatura ambiente protegida um experimento para simulação de fertirrigação com produtos químicos de alta solubilidade, baixa solubilidade e não solúveis porém capazes de formar suspensão. A vazão nominal inicial foi de 1,6 L por hora. O experimento foi realizado em blocos casualizados com 8 tratamentos, 4 épocas de avaliação e seis repetições constituindo-se um fatorial 8 x 4. Efetuou-se um teste com misturas de produtos químicos mais água colocados em bombonas plásticas (cor preta) com volume de 50 L, sendo que em seis bombonas adicionou-se um produto comercial denominado BIOTECH® (constituído de 52% de solução de ácido cítrico e mais 48% de um complexo enzimático, líquido, obtido de resíduos vegetais). As bombonas foram colocadas a 5,5 m de altura em relação ao sistema de gotejamento, permanecendo tampadas durante a execução do experimento. A tubulação estendeu-se por de 35 m aproximadamente para alcançar o sistema de gotejamento que continha seis gotejadores inseridos a cada 30 cm no tubo, localizado sob uma área coberta onde coletaram-se as vazões dos gotejadores, para avaliações dos volumes gotejados de cada tratamento (Tabela1). O tubo de gotejamento utilizado foi o In - line PC-16mm, 1.6 lph, (Rain Bird) que possui como principais características: autocompensação total entre 0.6 e 4.1 bar, coeficiente de variação de fabricação (CV≤ 0.04), auto lavagem durante início e término da irrigação, múltiplas entradas de água no gotejador e alta uniformidade de Tratamento Biotech® mL L -1 emissão. Todos os produtos constantes da tabela 1 foram colocados em bombonas com 50 L de água aplicados cinco dias por semana com os gotejadores acionados durante 45 minutos dia-1. Após a montagem do experimento mediu-se a vazão pela primeira vez e a partir de então, durante trinta e quatro semanas (238 dias), prosseguiram-se as medições com uma leitura semanal. O pH das soluções dos tratamentos nas bombonas foi monitorado para que a oscilação ficasse entre 6,5 e 9,5 adicionando-se HCl ou NaOH quando necessário para manutenção das características químicas desejadas em cada mistura. O experimento teve início no verão 03/02/2004 e prosseguiu até na véspera da primavera 20/09/2004 tendo sido conduzido em períodos com temperaturas altas e baixas, próprias do clima tropical. A avaliação da vazão total e monitoramento das obstruções, para os oito tratamentos, durante 238 dias foi subdividida em quatro períodos, assim compreendidos: Período 1 (03/02/2004 a 23/03/2004), 8 semanas de coleta de vazão (1 a 55 dias); Período 2 (30/03/2004 a 18/03/2004), 8 semanas de coleta de vazão (56 a 111 dias); Período 3 (25/05/2004 a 20/07/2004), 8 semanas de coleta de vazão (112 a 167 dias); Período 4 (27/07/2004 a 27/09/2004), 10 semanas de coleta de vazão (168 a 238 dias). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e testes de média (Scott-Knott, 5%), para avaliar as diferenças entre os tratamentos. Todas as análises foram realizadas utilizando-se o programa estatístico SISVAR (Ferreira, 2008). MAP mg L - Sulfato ferroso Cloreto de alumínio Hidróxido de ferro Cloreto de potássio Super fosfato triplo Super fosfato simples 1 mg L -1 mg L -1 mg L -1 mg L -1 mg L -1 mg L -1 A - - - - - - - - B 186 10 5 20 - - - - C - 10 - 20 5 - - - D 186 10 - - 5 80 - - E 186 - - 20 5 - 20 - F - - - 20 5 - 20 - G 186 - - - 5 80 20 - H 186 - - - 5 80 - 20 100 95 75 Tabela 1. Composição química dos tratamentos. 25 5 0 59 Utilização de Biotech® para prevenção do entupimento de gotejadores Resultados e discussão Durante o experimento pôde observar-se que a maior redução de vazão nos tratamentos ocorreu no período final do ensaio (168 a 238 dias), ou seja, na estação do inverno, onde a temperatura média foi de 18,5°C; seguido do período de (112 a 167 dias), medido durante a estação do outono-inverno, quando a temperatura média foi de 16,86°C. Na sequência aparece o intervalo de (56 a 111 dias), onde a temperatura média foi de 20,13°C, medida também na estação outono-inverno e a maior vazão, foi encontrada no período inicial do experimento (1 a 55 dias), quando a temperatura média foi de 21,45°C e vazão medida no verão (Figura 1). (a) (c) (b) (d) Figura 1. Vazão média de gotejadores em função dos diferentes tratamentos aplicados na solução de fertirrigação. (A) Período 1: de 1 a 55 dias do início do ensaio, com temperatura média de 21,450C; (B) Período 2: de 56 a 111 dias do início do ensaio, com temperatura média de 20,130C; (C) Período 3: de 112 a 167 dias do início do ensaio, com temperatura média de 16,860C; (D) Período 4: de 168 a 238 dias do início do ensaio, com temperatura média de 18,50C. Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, em nível de 5% de probabilidades De acordo com a literatura os precipitados químicos podem ser produzidos quando as condições iniciais da água são modificadas, como pH, temperatura, ocorrência de íons incompatíveis e, sobretudo, a evaporação da água nos emissores após cada irrigação, o que aumenta a concentração dos sais dissolvidos que se precipitam ao superar o limite de solubilidade (Pizarro, 1996), Nas Figuras elaboradas para representar cada período isoladamente, notam-se estes registros com maior clareza (Figuras 1a, 1b, 1c e 1d), com muita evidência e coerência, revelando a ação eficiente do BIOTECH®. Uma observação interessante é que quando as temperaturas começaram a aumentar no fim do inverno e princípio de primavera, não houve recuperação de vazão nos tratamentos A, C e H. Todavia, altas temperaturas e os altos valores de pH estimulam reações que podem favorecer a precipitação química, devido ao excesso de sulfato de cálcio de certas águas de irrigação (Ayers & Westcot, 1991), fato não observado no decorrer do ensaio, onde a maior redução de vazão foi observada no período mais frio, mas isso ocorreu sob ambiente coberto e, provavelmente por este ser o período final quando o problema já havia agravado. Segundo Parchomchuk (1976), Salomon (1979) e Lopez et al. (1997) a uniformidade de aplicação sofre influência da temperatura, características de fabricação dos emissores, diferenças de pressão no sistema e relevo da área. Temperaturas mais altas favorecem o desenvolvimento bacteriano e, assim, aumentam o potencial da água em 100 95 75 25 5 0 60 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 entupir os emissores, numa faixa temperatura de 25 a 35° C, ideal para desenvolvimento de bactérias (von Sperling, 1996; Cararo, 2004), entretanto não realizou-se esta avaliação microbiológica nesta pesquisa. No período 1 (1 a 55 dias), somente o tratamento B apresentou redução de vazão significativa comparando-se com os demais, não sendo a dose e/ou a concentração de BIOTECH® suficientes para permitir plena vazão (Figura 1a). A redução encontrada é atribuída à afinidade para formar, num curto prazo, precipitados entre os componentes do tratamento B. Provavelmente por sua alta solubilidade o sulfato ferroso favoreceu a reação e formação de precipitados com o MAP e com o cloreto de alumínio. O Fe precipitado forma uma incrustação vermelha, a qual pode aderir à tubulação e entupir os emissores. Algumas bactérias filamentosas como Gallionella e Leptotrhix, oxidam o Fe+2, transformando-o em Fe+3 que pode precipitar-se e provocar entupimento dos gotejadores (Pizzaro, 1996). No período 2 que compreendeu 56 a 111 dias (Figura 1b), os tratamentos foram diferenciados em três grupos semelhantes entre si, quando as maiores vazões foram obtidas nos tratamentos A, D e H. Os tratamentos C, E, F, e G obtiveram vazão intermediária e inferior aos tratamentos do primeiro grupo e superior ao tratamento B, com a menor vazão em relação aos demais. Os tratamentos D e H que, juntamente com a testemunha, obtiveram maiores vazões continham BIOTECH® assim como os grupos com vazões, intermediárias e inferiores não sendo possível fazer maiores inferências sobre o efeito deste produto. No período seguinte de 112 a 167 dias, observou-se que somente a testemunha manteve vazão superior em relação a todos os tratamentos. Os tratamentos D e H foram semelhantes, mas inferiores à testemunha, tendo havido redução da vazão em relação ao período anterior e assim se procedeu para todos os tratamentos. Os tratamentos C, E, F e G possuíam vazões semelhantes e em torno de 700 cm-3 h-1, superiores ao tratamento B com a menor vazão neste período (Figura 1c). O efeito da redução de vazão foi comum em todos os tratamentos porém a diferença desta redução se deve provavelmente às características intrínsecas das soluções que formavam os tratamentos. O último período compreendido entre 168 a 238 dias foi marcado pela obstrução total do tratamento F, dotado de componentes muito susceptíveis à formação de precipitados, sem BIOTECH®. Os demais tiveram redução de vazão proporcionais aos períodos anteriores (Figura 1d). Os tratamentos E e F diferem em sua composição, respectivamente apenas pela presença e ausência de BIOTECH® evidenciando o efeito positivo acumulado, deste produto, ao longo do tempo, no controle parcial de obstruções, mas na ausência do BIOTECH® (tratamento F), evidenciando, até o período de 238 dias, a obstrução total. Outro tratamento que não possuía o BIOTECH® foi o C, com grande redução de vazão, no entanto, este não apresentou obstrução total como o tratamento F (sem BIOTECH® e sem MAP), possivelmente atribuído à ausência de um agente acidificante (Tisdale et al., 1985). Ao observar os tratamentos que continham BIOTECH®, apesar da redução de vazão, nenhum apresentou obstrução total no curto período de simulação, ao contrario do tratamento F (sem BIOTECH®) que causou obstrução total dos gotejadores. Esta prevenção parcial de obstrução também pode estar relacionada com o tempo de duração do ensaio e a alta concentração dos agentes precipitáveis, sugerindo outros ensaios com doses de BIOTECH® mais concentradas a fim de permitir-se uma recomendação mais segura. O tratamento D obteve redução menos acentuada que os demais, exceto a testemunha, podendo ser atribuída a utilização do MAP (mono fosfato de amônio) que é sabidamente, um fertilizante recomendável como fonte de fósforo e nitrogênio para as plantas (48% de P2O5 e 15% de N) e ainda por sua alta solubilidade e forte reação ácida é considerado importante tanto como fonte de nutrientes como um agente químico minimizador dos problemas de obstrução no sistema de fertirrigação por gotejamento (Tisdale et al., 1985). Ainda no tratamento D, a presença do cloreto de potássio não tem limitações mais complexas na prática da fertirrigação e por isto é até recomendável, indicado sem restrição nas operações de fertirrigação, em relação ao uso de equipamentos no sistema de fertirrigação. O BIOTECH® e o MAP, presentes no tratamento D, podem ter contribuído positivamente na prevenção de entupimento de gotejadores, por possuírem características solubilizadoras de precipitados químicos. A fonte de fósforo foi a única diferença entre o tratamento G e H. No tratamento H com superfosfato simples, esperava-se uma maior obstrução do que o tratamento G com superfosfato triplo pela maior concentração de Ca no superfosfato simples (18 a 20% de Ca) em relação ao superfosfato triplo (12 a 14%) entretanto, isto não ocorreu. Como a concentração de Cálcio é maior 100 95 75 25 5 0 61 Utilização de Biotech® para prevenção do entupimento de gotejadores no superfosfato simples, esperava-se uma maior formação de precipitados de P-Ca em relação a P-Fe. De acordo com Pinton et al. (2001) a ligação P-Ca é mais fraca , onde a ação solubilizadora do BIOTECH® provavelmente foi mais eficiente evitando parcialmente a obstrução dos gotejadores no tratamento G. A composição química do BIOTECH® apresenta um componente em maior quantidade, o acido tricarboxílico, que tem muita afinidade química para complexar o alumínio o que evitaria a formação de fosfato de alumínio. Conclusões Houve entupimento parcial dos gotejadores em todos os tratamentos inclusive na testemunha durante os 238 dias de ensaio. O BIOTECH® minimizou a redução da vazão por entupimento, sendo que a obstrução total dos tubogotejadores foi observada no tratamento que não continha BIOTECH® e apresentava soluções portadoras de reagentes com mais afinidade para formar precipitados com o fósforo, em experimento simulador de curta duração. Agradecimentos Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG pelo apoio financeiro ao desenvolvimento do trabalho de pesquisa e concessão de bolsas e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq pela concessão de bolsa. DELHAIZE, E.; RYAN,P.R.; RANDALL, P.J. Aluminium tolerance in wheat (Triticum aestivum L.): II Aluminiumstimulated excretion of malic acid from root apices. Plant Phisiology, Rockville. v.103, n. 03, p.695-702, 1993. FERREIRA, D. F. SISVAR: um programa para análises e ensino de estatística. Revista Cientifica Symposium 6: 36–41, 2008. FOLEGATTI, M.V. Fertirrigação: citrus, flores e hortaliças. Guaíba: Livraria e Editora Agropecuária Ltda., 1999, 460p. GILBERT, R.G.; NAKAYAMA, F.S.; BUCKS, D.A. Trickle irrigation: prevention of clogging. Transactions of the ASAE, v.22, n.03, p.514-519, 1979. HUANG, P.M.; VIOLANTE, A. Influence of organic acids on crystallization and surface properties of precipitation products of aluminium. In: HUANG, P.M.; SCHNITZER, M (ed). Interactions of soil minerals with natural organic microbes. Madison: Soil Science of America, p.159-211, 1986. HUE, N.V.; GRANDDOCK, G.R. & ADAMS, F. Effect of organic acids on aluminium toxicity in subsoils. Soil Science Society American Journal, v. 50, n. 01. p. 28-34, 1986. INOUE, K. & HUANG, P.M. Influence of selected organic ligands on the formation of allophane and imogolite. Soil Science Society American Journal, v.50, n. 06, p. 16231633, 1986. JAYARAMA, V.; SHANKAR, B.N. & D'SOUZA M.V. Citric acid as a potential phosphate solubiliser in coffee soils. Indian Coffee, v.62, n. 04, p. 13-15, 1998. Referências bibliográficas ALVARENGA, M. A. R. Tomate: produção em campo, em casa de vegetação e em hidroponia. Lavras: UFLA, 2004. 400p. AYERS, R.S.; WESTCOT, D.W. A qualidade da água na agricultura. Tradução de Hans Raij Gheyi, J.F Medeiros, F.A.V. Damaceno. Campina Grande: UFPB, 1991. 218p. LOPEZ, R.J.; ABREU, J.M.H.; REGALADO, A.P.; HERNANDEZ, J.F.G. Riego localizado. 2.ed. Madri: MundiPrensa, 1997. 405p. MIYASAKA, S.C.; BUTA, J.G.; HOWELL, R. K.; FOY, C.D. Mechanism of aluminium tolerance in snapbeans: root exudation of citric acid. Plant Physiology, Rockville, v. 96, p.737-743, 1991. 100 CARARO, D.C. Manejo de irrigação por gotejamento para aplicação de água residuária visando a minimização do entupimento de emissores. 2004. 130 p. Tese (Doutorado em Agronomia) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2004. NOVAES, R. F.; SMYTH, T. J. Fósforo em solo e planta em condições tropicais. Viçosa: UFV, 399 p, 1999. 95 75 PARCHOMCHUK, P. Temperature effects on emitter discharge rates. Transactions of the ASAE, v.19, n.4, p.690692, 1976. 25 5 0 62 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 PINTON, P.; FERRARI, D.; RAPIZZI, E.; DI VIRGILIO, F.; POZZAN, T.; RIZZUTO R. The Ca2+ concentration of the endoplasmic reticulum is a key determinant of ceramideinduced apoptosis: significance for the molecular mechanism of Bcl-2 action. Embo Journal, v.20, p. 2690–2701, 2001. PIZARRO, F. Riegos localizados de alta freqüência. 3.ed. Madri: Mundi Prensa, 1996. 513p. RAINBIRD, Law. Volume irrigation system maintenance: Manual 5/90. Califórnia, 1990. 48p. RESENDE, R.S. Suscetibilidade de gotejadores ao entupimento de causa biológica e avaliação do desentupimento via cloração da água de irrigação. Piracicaba, 1999. 77p. Dissertação (Mestrado) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo. SALOMON, K. Manufacturing variation of trikle emitters. Transactions of the ASAE, v.22, n.5, p.1034-1038, 1979. STRUTHERS, P.H. & SIELING, D.H. Effect of organic anions on phosphate precipitation by iron and aluminium as influenced by pH. Soil Science, Baltimore, v.69, n. 03, p.205-214, 1950. TISDALE, S. L.; NELSON, W. L.; BEATON, J. D. Soil Fertility and Fertilizers. New York: fourth edition, 1985, 754p. VILELA, L. A. A.; GUIMARÃES, M. J. L.; SILVA, E. B.; GUIMARÃES, P. T. G.; NOGUEIRA, F. D.; COSTA, C. C.; SENNA, J. R.; JUNQUEIRA, J. Aplicação do ácido cítrico em soluções para irrigação e/ou fertirrigação: prevenção de obstrução de gotejadores e/ ou remoção de obstruções. In: VI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA EM CAFEICULTURA IRRIGADA, Araguari, 2003. Anais... Araguari: UFU,2003.226p. VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 2.ed. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 1996. 243p. 100 95 75 25 5 0 63 100 95 75 25 5 0 REVISÕES TÉCNICAS 100 95 75 25 5 0 100 95 75 25 5 0 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 Avaliação mercadológica da borracha natural no Brasil Danubia Rejane Silva Brito Universidade Federal do Piauí, campus Professora Cinobelina Elvas, [email protected] Waldeídes de Castro e Sousa Universidade Federal do Piauí, campus Professora Cinobelina Elvas, [email protected] Joabel Raabe Universidade Federal do Piauí, campus Professora Cinobelina Elvas, [email protected] Sidney Araujo Cordeiro Universidade Federal do Piauí, campus Professora Cinobelina Elvas, [email protected] Resumo Tendo em vista o grande consumo de borracha na indústria nacional e internacional, para diversas finalidades, este trabalho tem como objetivo, mostrar a importância da seringueira em âmbito comercial, dando enfoque nas oscilações de preço do principal produto proveniente desta espécie, com base em pesquisas mercadológicas encontradas na literatura, que abordam principalmente temas referentes à utilização racional de produtos naturais e a geração de renda proveniente destes. Mostrando de modo mais detalhado as características principais da fonte produtora de látex, e informações referentes às características gerais do produto, do processo produtivo, de mercado e também os desafios encontrados durante a produção e comercialização. Pode-se concluir que a adoção de medidas governamentais que incentivem o plantio da espécie que produz o látex e o investimento em pesquisas que combatam ou que venham a reduzir a incidência de pragas e doenças que atacam os seringais, seriam de fundamental importância para o controle destes plantios, bem como garantir qualidade e quantidade suficiente para atender o mercado consumidor. Palavras-chave: Seringueira; Látex; Mercado. Evaluation of the market of natural rubber in Brazil Abstract In view of the great rubber consumption in the national and international industry, for diverse purposes, this work has as objective, to show the importance of the seringueira in commercial scope, giving approach in the price fluctuations of the main product proceeding from this species, on the basis of found marketing research in literature, that mainly approaches referring subjects to the rational use of natural products and the generation of income proceeding from these. Showing in way more detailed the main characteristics of the producing latex source, and referring information to the general characteristics of the product, the productive process, market and also the challenges found during the production and commercialization. It can be concluded that the adoption of governmental measures that stimulate the plantation of the species that produces the latex and the Investment in research that fights or that they come to reduce the incidence of plagues and illnesses that attack you inject them, would be of basic importance for the control of these plants, as well as guaranteeing quality and amount enough to take care of the consuming market. Keywords: Rubber tree; Latex; Market. 100 95 1. Introdução 75 Muitas espécies de vegetais tropicais apresentam borracha natural, especialmente na família das , no entanto, quase toda a produção mundial provém de uma espécie que tem sua origem no Brasil, Hevea brasiliensis, pertencente a esta família. Existe na floresta amazônica mais de 11 espécies de seringueira do gênero Hevea e todas muito parecidas entre si. Embora seja 25 5 0 67 Avaliação mercadológica da borracha natural no Brasil grande o número de espécies que por uma incisão na casca exsudam secreção de aspecto semelhante ao látex, somente algumas produzem quantidade e qualidade suficientes para exploração em bases econômicas (UFSC, 2001). Segundo Bernardes et al. (2000), a história da produção da borracha natural brasileira mostra que o país desfrutou da condição de principal produtor e exportador mundial no final dos séculos XIX e início do século XX, passando a ser importador desta matéria prima a partir do começo dos anos cinquenta, do século passado. A utilização da borracha proveniente da seringueira é feita em diversos setores como, por exemplo: hospitalar/ farmacêutico, brinquedos, calçados, construção civil, maquinário agrícola e industrial e de autopeças. A importância econômica e industrial da borracha natural fazia da seringueira uma árvore estratégica, sendo que sementes foram levadas pelos ingleses para serem plantadas em suas colônias na Ásia. Naqueles países a seringueira foi cultivada como uma espécie comercial, diferentemente do Brasil, onde estava em seu habitat natural. Portanto, enquanto o sistema de produção brasileiro era o extrativismo, o asiático se baseava na exploração comercial. Esse foi o principal fator de sucesso da produção de borracha na Ásia. Além desse aspecto agronômico, na Ásia não existia o fungo causador do maldas-folhas (Microcyclus ulei), que é uma das doenças mais comuns dos seringais - sobretudo na Amazônia (Borracha Natural, 2011). Segundo Pereira et al. (2000) a partir da década de 60 foram elaborados no país planos ambiciosos para expandir a produção da borracha natural via cultivo da seringueira. Nos anos 70 e 80, o país investiu mais de US$ 1,0 bilhão para viabilizar a cultura na Amazônia. Todavia, apenas os seringais formados fora da região Amazônica tornaram-se viáveis e fizeram crescer a produção nacional da borracha natural. De 1971 a 2004, a produção nacional de borracha natural aumentou 400%, mas ainda é pequena quando comparada com a dos países asiáticos (CIFlorestas, 2011a). O mercado de borracha natural está em ascensão. O principal consumidor do produto é o setor automobilístico, que atualmente importa do sudeste asiático a maior parte dessa matéria prima, já que o Brasil não dá conta de suprir a demanda (Seringueira, 2011). O objetivo deste trabalho é mostrar a importância da seringueira em âmbito comercial, dando enfoque nas oscilações de preço do principal produto proveniente desta espécie, com base em pesquisas mercadológicas encontradas na literatura. 2. MATERIAIS E MÉTODOS 2.1. Características gerais do produto Hevea brasiliensis ocorre na região amazônica, na margem de rios e lugares inundáveis da mata de terra firme, é uma planta lactescente de 20-30 m de altura, com tronco de 3060 cm de diâmetro. Popularmente é conhecida como seringueira, seringa, seringa-verdadeira, cau-chu, árvore da borracha, seringueira-preta, seringueira branca (UFSC, 2011). O látex produzido pela árvore é uma suspensão aquosa contendo 30 a 40% de sólidos em forma de partículas de borracha visíveis em ultramicroscópio. Com propriedades únicas entre os produtos naturais poliméricos, a borracha natural combina elasticidade, plasticidade, resistência ao desgaste (fricção), propriedades de isolamento elétrico e impermeabilidade à líquidos e gases (GONÇALVES et al., 1990). As principais características da borracha natural que a tornam uma excelente matéria prima para setores tão variados são: elasticidade, flexibilidade, resistência à abrasão e à corrosão, impermeabilidade e fácil adesão a tecidos e ao aço (BORRACHA NATURAL, 2011). O líquido, o látex, contém em suspensão um hidrocarboneto de elevado peso molecular. A borracha assim obtida é deformável como gesso e deverá ser processada para adquirir os requisitos necessários para ser utilizada em suas inúmeras aplicações. Por aquecimento e adição de ácido acético coagula formando uma massa gomosa que, depois de separada da água e outros produtos, denomina-se “borracha bruta” (UFSC, 2011). A qualidade das borrachas naturais brasileiras é determinada, em primeira instância, através da inspeção visual, observando sua limpeza, cor, homogeneidade e defeitos. Depois, através de ensaios de laboratório específicos e normalizados são classificadas e comercializadas, com características padronizadas, exigidas pela norma ABNT-EB-1866 de 1988. Composição Química aproximada da borracha bruta: Hidrocarbonetos de borracha (93,7%); Proteínas (2,2%); Carboidratos (0,4%); Lipídios naturais (2,4%); Glicolipídios e Fosfolipídios (1,0%); Materiais inorgânicos (0,2%); outros (0,1%) (UFSC, 2011). 2.2. Método de pesquisa rápida A literatura sobre estudos que abordam aspectos técnicos e de mercado relacionados à extração de látex, proveniente de plantios de seringueira, mostra que diversos métodos de busca de informações e análise têm sido empregados, isoladamente ou de forma combinada. Entretanto, a diversidade de objetivos desses estudos e a 100 95 75 25 5 0 68 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 multiplicidade de questões relacionadas com recursos físicos, financeiros e humanos, disponíveis para os estudos, impedem uma recomendação universal de opção metodológica para a busca de informações. Em geral, métodos mais precisos de coleta de informações são mais caros e demorados (IEL/CNA/SEBRAE, 2000). Assim, segundo essas instituições, os objetivos do estudo, sua abrangência e a limitação do período de execução, optou-se por utilizar a metodologia denominada “pesquisa rápida”. A exemplo de IEL/CNA/SEBRAE (2000) e Silva (2001), este método empírico baseou-se na utilização desse enfoque metodológico de busca de informações, associado ao uso intensivo de informações de fontes secundárias. Os dados e as informações necessárias para a realização deste estudo foram obtidos em diferentes fontes, como: livros, revistas, teses e material disponível na internet, em “sites” de renome na área florestal e ambiental. Cada um dos autores pesquisou sobre determinado assunto dentro do tema central, e, posteriormente, efetivaram-se reuniões onde os conhecimentos adquiridos separadamente foram compartilhados pelos mesmos. Após intensas discussões, o trabalho foi sendo aprimorado através das diversificadas opiniões dos autores. Finalmente, foi escrito sob a forma de artigo. 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 3.1. Características de mercado A cadeia agroindustrial da borracha natural é composta por quatro segmentos: i) segmentos de insumos e serviços, que envolve máquinas e equipamentos e assistência técnica; ii) segmento produtivo, envolvendo produção e extração de látex virgem, e beneficiamento da borracha; iii) segmento consumidor, que é a indústria pesada (pneumáticos) e indústria leve (artefatos); e, iv) segmento distribuidor, que são os varejistas (de pneus e artefatos) recauchutagens e borracharias (BORRACHA NATURAL, 2011). O Brasil tornou-se o maior produtor mundial da borracha natural e passou a abastecer o comércio internacional de 1879 a 1912. Isso trouxe riqueza e desenvolvimento para cidades como Manaus, Belém e Rio Branco, na época e ainda foi responsável pela colonização do Acre, então território da Bolívia, que mais tarde foi anexado ao Brasil (LEÃO, 2000). Entretanto, a partir de 1912, as exportações brasileiras foram substituídas continuamente, até serem paralisadas no final dos anos 40 (PEREIRA et al., 2000). O fim do ciclo da borracha iniciou em 1876 quando Henry Wickham levou para Inglaterra 70 mil mudas de seringueira onde apresentaram notável desenvolvimento. Neste mesmo período, 2.000 mudas foram levadas para Malásia onde também conseguiram se desenvolver. Em 1913, as seringueiras malaias superavam a produção do Brasil: 47.000 toneladas contra 37.000 mil toneladas (LEÃO, 2000). Cerca de 70% de toda borracha natural consumida no mundo é destinada à produção de pneus, para os mais diferentes usos. As empresas pneumáticas são constituídas por grandes conglomerados econômicos que tem poder de pressão na formulação dos preços de compra. Já os países produtores dependem da comercialização desse produto, pois são economias subdesenvolvidas ou em desenvolvimento. Isso faz com que os preços, na maioria dos casos, fiquem ao sabor das políticas dos compradores, e, até recentemente, a consequência natural era que os preços sempre estavam desfavoráveis para os produtores (CONAB, 2003). Nos 10 anos compreendidos entre 1992 e 2002, o Brasil despendeu US$ 1,082 bilhão com importações de borracha natural nas suas diversas formas. No mesmo período, a produção brasileira de borracha natural totalizou 693,5 mil toneladas, o que correspondeu a 36% do total consumido pelo País. Essa participação foi crescente no período, tendo atingido mais de 45% em alguns anos devido, especialmente, aos 45.000 hectares plantados por cerca de 2.500 produtores paulistas (CIFlorestas, 2011d). Dados referentes ao ano de 2003 mostram que a produção brasileira de borracha natural estava em nono lugar na produção mundial, mesmo este sendo o berço da árvore produtora desta matéria prima, tendo a Tailândia e a Indonésia líderes deste mercado de 1999 a 2003. Vários fatores contribuíram para o sucesso da produção de borracha natural nos países asiáticos (CONAB, 2003). Segundo informação de sites especializados, 70% da borracha consumida no país é proveniente da Ásia, o que representa um gasto diário de R$ 3,6 milhões. O preço da borracha natural está em torno de R$ 3,00, o quilo, um preço considerado excelente por analistas deste assunto. O Espírito Santo contribui com cerca de 6% da produção nacional, o que representa 107 mil toneladas de borracha, plantadas em 13 mil hectares. Mais de 60% do território do município é composto por áreas rurais, mas somente uma pequena parte está ocupada (SERINGUEIRA, 2011a). Em 2004, a Região Sudeste respondeu por 60,9% da produção nacional de borracha (látex coagulado), seguida pelas regiões Centro-Oeste (21,4%), Nordeste (14,6%), Norte (2,6%) e Sul (0,5%) (AGRIANUAL, 2007). Nessas 100 95 75 25 5 0 69 Avaliação mercadológica da borracha natural no Brasil regiões há mão-de-obra especializada; maior volume de capital para investimento em tecnologia; concentração da maioria das indústrias consumidoras de borracha natural, o que reduz os custos logísticos com o transporte da matéria-prima; e clima adequado para o cultivo da seringueira (BORRACHA NATURAL, 2007). O Brasil, que no início do século XX detinha o monopólio da produção mundial, hoje responde por apenas 1,2%, não conseguindo suprir as necessidades do seu mercado interno. O consumo nacional de borracha natural em 2005 foi de 297.000 toneladas (peso seco). Sendo assim, o país importa grande parte da borracha natural que consome. As importações brasileiras em 2005 foram de 203.927 toneladas, o equivalente a 269.222 milhões de dólares (SOARES et al., 2007). Em 2008 o país de origem e centro de maior diversidade genética da seringueira, importou 220.959.374 kg de borracha natural, ou seja, aproximadamente 221 mil toneladas. Além dessa quantidade, foram importados 22.748.924 kg de látex, ou seja, aproximadamente 23 mil toneladas nesse mesmo ano (GOOGLE, 2011). No final do ano de 2010 o preço médio da borracha natural em são Paulo estava de R$ 2,60 o quilo, havendo um aumento nos meses seguintes. Em janeiro de 2011 estava de 3,05 (R$/Kg) e em fevereiro do mesmo ano estava de R$ 3,75 o quilo (CIFlorestas, 2010; 2011c). O ano de 2010 iniciou com chuvas intensas e frequentes nas principais regiões produtoras do Estado de São Paulo, maior produtor nacional, provocando a redução da oferta da matéria-prima (CIFlorestas, 2010). O aumento nos preços da borracha natural em São Paulo pode ser explicado por estas fortes e constantes chuvas que diminuíram a oferta do produto (CIFlorestas, 2011b). As projeções do consumo da borracha natural mostram que vale a pena investir em novos seringais no Brasil. Até 2030, estima-se que a demanda nacional alcance um milhão de toneladas, sendo que a produção interna é cerca de 130 mil toneladas (CIFlorestas, 2011b). Após um recorde de US$ 5.750,00 por tonelada no dia 14 de fevereiro de 2011, as cotações de borracha natural iniciaram um movimento de queda na bolsa de Cingapura, atingindo o menor valor de 2011 em 14 de março, de US$ 3.800,00 por tonelada. De acordo com Heiko Rossmann, diretor da Associação Paulista de Produtores de borracha (Apabor), o preço do Granulado Escuro Brasileiro (GEB-1) para o próximo bimestre – abr/mai, antes com expectativa de superar a casa de R$ 10,00 por quilo, agora deve se situar ao redor de R$ 9,50 por quilo, valor ligeiramente superior ao preço praticado no mercado paulista no bimestre fev/mar, de R$ 9,29 por quilo (CIFlorestas, 2011c). Tendo como fonte o Instituto de Economia Agrícola (IEA), o CIFlorestas realizou um levantamento mensal do preço da borracha natural (R$/Kg), sendo este mensalmente, desde o mês de agosto de 2002 ao mês de fevereiro de 2011. Podendo ser perceptível o aumento no valor da matéria-prima e a oscilação existente no início de 2009 ao início de 2010, tendo seu maior valor de 3,72 (R$/Kg) em março de 2011 (figura 1). 100 95 75 25 Figura 1: Oscilação de preço da borracha natural (R$/Kg). 5 0 70 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 3.2. Desafios na produção e comercialização do produto No Brasil, os fatores que prejudicaram o desenvolvimento do cultivo da seringueira foram: o sistema de produção extrativista e a ausência de pesquisa para a solução dos problemas dos seringais da região amazônica. Deste modo, quase todas as tentativas de cultivo intensivo da seringueira nessa região fracassaram devido à incidência do fungo Microcyclus ulli (SOARES et al., 2007). Entre as doenças que ocorrem na espécie, o “mal-dasfolhas”, causada pelo fungo Microcylus ulei é uma das mais conhecidas e é o principal fator limitante à expansão da heiveicultura no Brasil, principalmente na região Norte do país. O dano maior é a queda prematura de folhas, podendo levar as plantas à morte. O controle pode ser realizado utilizando clones resistentes, área de escapes ou fungicidas. Além deste fungo existem outros que prejudicam o desenvolvimento desta espécie, atacando não somente as folhas como também as flores, frutos e sementes. O ataque de pragas nestas espécies também já foi verificado (CIFlorestas, 2011a). Apesar dos desafios da heveicultura no Brasil, ela está se estabelecendo como uma atividade lucrativa, conforme observou Nish et al. (2005), Cotta et al. (2006) e Soares et al. (2006). A produção brasileira de borracha natural voltou a crescer quando a seringueira começou ser cultivada fora da Amazônia, mais especificamente em regiões em que não há o fungo Microcyclus ulli. A chuva em excesso atrapalha a produção porque o trabalho não pode ser feito. O corte no caule da seringueira é necessário para que a seiva escorra. Sem ele não é possível a extração do látex. Segundo os produtores, com a chuva a casca da seringueira fica úmida, o que dificulta a sangria. Além disso, o recipiente onde cai o látex enche de água e o produto é perdido (SERINGUEIRA, 2011b). 4 . Conclusão A cadeia produtiva da borracha natural gera emprego nas várias fases de produção: na colheita dos produtos, no transporte até as usinas de beneficiamento, nas usinas propriamente ditas, nas fábricas de pneumáticos, luvas cirúrgicas e preservativas. Essa característica de sistema de produção com grande geração de emprego e renda no campo e na cidade é importante para o cumprimento de exigências da ISO social, uma nova abordagem sobre as empresas que terão que adequar sua produção à responsabilidade social (Borracha Natural, 2011). A cada 6 ha de floresta de seringueira em produção, com estande normal de árvores, um emprego direto e bem remunerado é gerado no campo. Sendo assim, a área colhida de seringueira em 2007 (114.842 ha) gerou no Brasil 19.140 empregos diretos, considerando o rendimento de mil árvores sangradas por dia/trabalhador, estimativa bastante conservadora. Em São Paulo, a renda mensal de um prestador de serviço de sangria era, em novembro de 2008, R$ 3.500,00 (Borracha Natural, 2011). A adoção de medidas governamentais que incentivassem o plantio da espécie que produz o látex seria atrativa para as pessoas que o extraem da floresta de forma extrativista, pois seria um incentivo para a formação de cooperativas, e a adoção de plantios de seringueira de forma planejada. Investir em pesquisas que combatam ou que venham a reduzir a incidência de pragas e doenças que atacam os seringais seria de fundamental importância para o controle destes plantios, bem como garantir qualidade e quantidade suficiente para atender o mercado consumidor. Referências bibliográficas ANIP. Associação Nacional da Industria de Pneumáticos. 2009. http://www.anip.com.br. BEGA, R.M. Heveicultura: alternativa para o pequeno proprietário rural no noroeste paulista. 2004. 88p. Monografia (Especialização em Gestão do Agronegócio) – Universidade Federal de Viçosa. BERNARDES, M.S.; VEIGA, A.S.; FONSECA FILHO, H. Mercado brasileiro de borracha natural. In: BERNARDES, M. S. (Ed.). Sangria da seringueira. Piracicaba: Esalq, 2000, p. 365-388. BORRACHA NATURAL BRASILEIRA. 2011. Borracha Natural. http://www.borrachanatural.agr.br/ borrachanatural.php. BORRACHA NATURAL BRASILEIRA. 2007 Borracha Natural. http://www.borrachanatural.agr.br/ borrachanatural.php. 100 CIFlorestas. CENTRO DE INTELIGÊNCIA EM FLORESTAS. 2011a. http://www.ciflorestas.com.br/ texto.php?p=seringueira. 95 75 CIFlorestas. CENTRO DE INTELIGÊNCIA EM FLORESTAS. 2011d. http://www.ciflorestas.com.br. 25 5 0 71 Avaliação mercadológica da borracha natural no Brasil CIFlorestas. CENTRO DE INTELIGÊNCIA EM FLORESTAS. 2010. Fatores que impactam o setor florestal em 2010. dezembro, CIFlorestas. CENTRO DE INTELIGÊNCIA EM FLORESTAS. 2011b. Perspectiva dos negócios florestais em 2011. Fevereiro. CIFlorestas. CENTRO DE INTELIGÊNCIA EM FLORESTAS. 2011c. Possíveis impactos das medidas governamentais de desaceleração da economia no setor florestal brasileiro. Março. COTTA, M.K.; JACOVINE, L.A.G.; VALVERDE, S.R.; PAIVA, H.N.; VIRGENS FILHO, A.C.; SILVA, M.L. Análise econômica do consórcio seringueira-cacau para geração de certificados de emissões reduzidas. Revista Árvore, Viçosa, v.30, n.6, p. 969-979, 2006. GONÇALVES, P. de S; CARDOSO, M.; COLOMBO, C.C.; ORTOLANI, A.A.; MARTINS, A.L.M.; SANTOS, I.C.I. Variabilidade genética da produção anual da seringueira: estimativas de parâmetros genéticos e estudo de interação genótipo x ambiente. Bragantia, Campinas, v.49, n.2, p.305-320, 1990. GOOGLE. 2011. http://www.google.com.br /#q=comercio+de+borracha+natural . INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA-CNA; SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS-SEBRAE. Estudo sobre a eficiência econômica e competitividade da cadeia agroindustrial da pecuária de corte no Brasil. Brasília: IEL/CNA/SEBRAE, 2000. 403p. PEREIRA, J.P; DORETTO, M.; LEAL, A.C.; CASTRO, A.M.G.; RUCKER, N.A. Cadeia produtiva da borracha natural: análise diagnóstica e demandas atuais no Paraná. Londrina: IAPAR, 85 p. 2000. SERINGUEIRA. 2011b. Especialista prevê que se o Brasil se tornar autossuficiente no produto até 2030 surgirão mais de 200 mil empregos no setor. http://www.seringueira.com/artigos/?p=446. SERINGUEIRA. 2011a. Serra Investe na Produção de Borracha Natural. http://www.seringueira.com/artigos/?p=446. SOARES, N.S.; SILVA, M.L.; JACOVINE, L.A.G.; NOCE, R. Aspectos técnicos e sociais da heveicultura e viabilidade econômica. In: ALVARENGA, A.P.; ROSADO, P.L.; CARMO, C. A.F.S.;TÔSTO, S.G. Seringueira: aspectos econômicos sociais e perspectiva para o seu fortalecimento.Viçosa, 2006. Cap.8, p. 141-163. SOARES, N.S.; VALVERDE, S.R.; SILVA, M.L.; CAMPOS, A.C.; BRAGA, M.J. Demanda Brasileira de Importação de Borracha Natural, 1965 – 2005. Londrina: Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural. 22 a 25 de julho. 2007. UFSC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. 2011. http://www.ced.ufsc.br/emt/trabalhos/borracha/borrach a/natural_arquivos/caracter.htm. LEÃO, R.M.A. Floresta e o Homem. São Paulo. Editora da Universidade de São Paulo: Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais. 448 p. 2000. MORENO, R.M.B.; FERREIRA, M.; GONÇALVES, P. de S.; MATTOSO, L.H.C. Avaliação do látex e da borracha natural de clones de seringueira no Estado de São Paulo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.38, n.5, p.583-590, 2003. NISHI, M.H.; JACOVINE, L.A.G.; SILVA, M.L. da; VALVERDE, S.R.; NOGUEIRA, H.P.; ALVARENGA, A.P. Influência dos créditos de carbono na viabilidade financeira de três projetos florestais. Revista Árvore, Viçosa, v.29, n.2, p.263270, 2005 100 95 75 25 5 0 72 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 Compostagem de lodo de esgoto para uso agrícola Mário Viana Paredes Filho Universidades José do Rosário Vellano (UNIFENAS), [email protected] Resumo Este trabalho de revisão de literatura tem o objetivo de demonstrar o potencial existente no lodo de esgoto proveniente das estações de tratamento de esgotos, para que o mesmo seja reaproveitado e utilizado como matéria orgânica fornecedora de nutrientes para o solo. O lodo de esgoto deve ser tratado antes da sua disposição final através de tratamentos biológicos que vão reduzir a carga orgânica e promover a estabilização e higienização do composto. A compostagem apresenta-se como uma técnica viável e relativamente de baixo custo, que atende aos padrões físicos, químicos e microbiológicos exigidos pela legislação pertinente. A reciclagem agrícola do lodo de esgoto torna-se uma alternativa segura para a disposição final deste resíduo. Palavras-chave: Biossólido; Patógenos; Higienização; Matéria orgânica. Composting of sewage sludge for agricultural use Abstract This work of literature review aims to demonstrate the potential existing in the sewage sludge from sewage treatment plants, for it to be reclaimed and used as organic matter supplies nutrients to the soil. Sewage sludge must be treated before final disposal by biological treatments that will reduce the organic load and promote stabilization and cleaning of the compound. Composting presents itself as a viable technique and relatively low cost, that meets the standards of physical, chemical and microbiological required by law. Agricultural recycling of sewage sludge becomes a safe alternative for disposal of this waste. Key-words: Biossolids; Pathogens; Hygienization; Organic matter. 1. Introdução Segundo Corrêa et al. (2007), os processos de tratamento de esgoto separam a parte sólida da líquida para que o efluente tratado possa ser liberado em corpos receptores sem causar danos ao meio ambiente. Nesse processo, poluentes, nutrientes e contaminantes são concentrados em uma massa denominada lodo de esgoto, que é subproduto do tratamento. Biossólidos são definidos pela USEPA (United States Environmental Protection Agency) como qualquer produto orgânico resultante do tratamento de esgotos, que pode ser beneficamente utilizado ou reciclado. Beneficamente implica ausência de danos ambientais e de prejuízos para a saúde de animais e humanos (USEPA,1995). Em contrapartida, existe uma variedade de organismos em lodos de esgotos, tais como vírus, bactérias, protozoários e helmintos, devem ser reduzidos a níveis que não tragam problemas à saúde pública. De acordo com Pires & Matiazzo (2008), dentro das opções de disposição, a reutilização de resíduos é, sem dúvida, a opção mais interessante sob o ponto de vista econômico, ambiental e, muitas vezes, social. No Brasil, não é difundida a experiência de incorporar resíduos de esgoto e efluente aos solos, pois ainda são poucas as cidades dotadas de estações de tratamento de esgotos (Maciel et al.,2009). A técnica de compostagem é o processo de decomposição ou degradação de materiais orgânicos pela ação de microorganismos em um meio naturalmente aerado (FUNASA,2009). Pelegrino et al. (2008) descreve que as vantagens da compostagem de lodo de esgoto são muitas, podendo-se citar: economia de área em aterro sanitário, aumentando a sua vida útil; reaproveitamento agrícola da matéria orgânica; e reciclagem de nutrientes para o solo. 100 95 75 25 5 0 73 Compostagem de lodo de esgoto para uso agrícola A compostagem constitui uma alternativa econômica e ambientalmente correta para a estabilização de resíduos orgânicos industriais e de estações de tratamento, com possibilidade de aproveitamento agronômico desses resíduos (Metcalf & Eddy, 1991). A reciclagem agrícola do lodo de esgoto no Brasil se faz necessária para a reposição do estoque de matéria orgânica dos solos, devido ao intenso intemperismo das nosas condições climáticas. Dessa forma, objetivou-se com esta revisão de literatura verificar o uso agrícola do lodo de esgoto através da compostagem, analisando os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, tendo por base a bibliografia nacional e internacional relativas ao assunto. transformação em esgoto, as estações de tratamento de esgoto (ETE) concentram a poluição remanescente no lodo, antes de devolver à natureza os efluentes tratados. O lodo é, portanto, o último resíduo do ciclo urbano da água (Fernandes & Silva, 1999). Quando o lodo produzido no sistema de tratamento de esgotos sanitários é utilizado de forma útil, ele pode ser denominado “Biossólido”, conforme preconiza a Water Environment Federation (WEF). 2.1.1 Características Bettiol & Camargo (2006) descrevem que a composição do esgoto varia em função do local de origem, ou seja, se proveniente de uma área tipicamente residencial ou tipicamente industrial, e em função da época do ano, entre outros fatores. A figura 1 apresenta a composição básica do esgoto domiciliar, encontrada nas estações de tratamento (Melo & Marques, 2000). 2. REFERENCIAL TEÓRICO 2.1 Lodo de esgoto Após a utilização da água potável e sua consequente Primeiro lote (03/99) Atributo(1) Unidade(2) Fósforo Potássio Sódio Segundo lote (12/99) Terceiro lote (09/00) LB LF LB LF LB LF g/kg 15,9 16,0 31,2 21,3 26,9 12,9 g/kg 1,0 1,0 1,97 0,99 1,0 1,0 g/kg 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,9 Arsênio mg/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1 Cádmio mg/kg 12,8 3,32 9,5 2,0 9,4 2,05 Chumbo mg/kg 364,4 199,6 233 118 348,9 140,5 Cobre mg/kg 1058 239,8 1046 359 953,0 240,9 Cromo total mg/kg 823,8 633,8 1071 1325 1297,2 1230,3 Mercúrio mg/kg <0,01 <0,01 <1 <1 <0,01 <0,01 Molibdênio mg/kg <0,01 <0,01 <1 <1 <0,01 <0,01 Níquel mg/kg 518,4 54,7 483 74 605,8 72,4 Selênio mg/kg < 0,01 <0,01 <1 <1 <0,01 <1 Zinco mg/kg 2821 1230 3335 1590 3372 1198 Boro mg/kg 36,2 40,7 11,2 7,1 29,3 19,7 g/kg 248,2 305,1 271 374 292,9 382,4 6,6 6,3 6,4 6,4 6,4 5,4 % 66,4 83 80,2 82,4 71,2 82,7 % 43,0 60,5 56,8 72,5 g/kg 21 56,4 49,7 67,5 42,1 68,2 Carbono orgânico pH Umidade Sólidos Voláteis Nitrogênio total(3) Enxofre g/kg 13,4 16,3 10,8 13,3 17,1 15,7 Manganês mg/kg 429,5 349,3 335 267 418,9 232,5 Ferro mg/kg 54.181 33.793 32,5 31,7 37.990 24.176 3,7 2,5 Magnésio g/kg Alumínio mg/kg 28.781 32.564 25,3 33,5 23.283 23.317 g/kg 40,3 29,2 22,8 16,8 47,8 24,8 Cálcio 3,0 2,2 4,5 2,2 100 95 75 Tabela 1. Características químicas de três lotes dos lodos de esgotos das Estações de Tratamento de Esgoto de Franca (LF) e de Barueri (LB), localizadas no estado de São Paulo.(1) Determinados conforme o EPA SW-846-3051 (1986), no IAC (Campinas, SP). (2) Os valores de concentração são dados com base na matéria seca. (3) Os valores de concentração para o nitrogênio total e umidade foram determinados em amostras em condições originais, na Embrapa Meio Ambiente. Fonte: Bettiol (2004) e Fernandes et al. (2004). 25 5 0 74 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 ÁGUAS RESIDUÁRIAS ÁGUA SÓLIDOS ORGÂNICO INORGÂNICO PROTEÍNAS CARBOIDRATOS LIPÍDEOS AREIA SAIS METAIS 2.1.2 Poluentes do lodo de esgoto Bettiol & Camargo (2006) citam que apesar de todas as vantagens, o lodo de esgoto pode apresentar em sua composição elementos tóxicos e agentes patogênicos ao homem. Segundo Bettiol & Camargo (2006), zinco, cobre, manganês, ferro, molibdênio e níquel são micronutrientes essenciais para as plantas, mas em altas concentrações podem causar sérios problemas; o cádmio e o chumbo podem também aparecer em quantidades consideráveis, especialmente se os lodos provêm de regiões industrializadas. Neste caso, há que se controlar e monitorar a aplicação porque, em especial, zinco, cobre e níquel, se presentes em teores elevados, podem ser Figura 1. Composição do esgoto doméstico (Melo & Marques, 2000). Podese observar na Tabela 1 as variações da composição dos lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto. Tanto as respostas agronômicas, quanto os impactos ambientais, dependerão da composição dos lodos. fitotóxicos, podendo até, no caso do cádmio, ser altamente prejudicial para os animais que se alimentem destas plantas. Por isso, em todos os países onde o lodo de esgoto é aplicado na agricultura, existem normas estabelecendo, entre outras coisas, as concentrações máximas permitidas de metais pesados no lodo e o teor máximo acumulado no solo. A norma P4230 da CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), estabelece esses limites, os quais são apresentados na Tabela 2. Além destes limites, a norma também estabelece a taxa máxima de aplicação anual de metais em solos agrícolas tratados com lodo e a carga máxima acumulada de metais pela aplicação do lodo. Metal pesado Concentração máxima permitida no lodo Taxa de aplicação anual máxima Carga máxima acumulada de metais pela aplicação do lodo Arsênio 75 2,0 41 Cádmio 85 1,9 39 Cobre 4.300 75 1.500 Chumbo 840 15 300 Mercúrio 57 0,85 17 Molibdênio 75 - - Níquel 420 21 420 Selênio 100 5,0 100 100 Zinco 7.500 140 2.800 95 75 Tabela 2. Concentrações limites de metais pesados no lodo de esgoto aceitáveis para uso agrícola (base seca) em mg/kg; taxa de aplicação anual máxima de metais em solos (kg/ha/365 dias); e carga máxima acumulada de metais pela aplicação do lodo (kg/ha). Fonte: CETESB (1999). 25 5 0 75 Compostagem de lodo de esgoto para uso agrícola A mobilidade dos metais pesados depende muito da reação do solo, ou seja, se ele é mais ou menos ácido. De maneira geral, aconselha-se que o pH seja mantido acima de 5,5 para evitar que os metais pesados, potencialmente tóxicos, possam ser absorvidos pelas plantas ou ficar disponível no ambiente em quantidades que apresentem risco (Bettiol & Camargo, 2006). Os lodos de esgoto contêm patógenos humanos como coliformes fecais, salmonela, vírus e helmintos, que podem ser reduzidos com tratamentos adequados. Entretanto, é importante o monitoramento da população destes organismos, tanto no lodo a ser utilizado na agricultura, como no solo onde ele foi aplicado. Soccol & Paulino (2000) discutem amplamente os riscos de contaminação do agroecossistema com parasitos pelo uso do lodo de esgoto. A norma P4230 da CETESB, que estabelece os critérios de aplicação de lodos de sistemas de tratamento biológico em áreas agrícolas, classifica o lodo de esgoto, quanto à presença de patógenos, em classe A e B. O lodo classe A é aquele que atende os seguintes critérios: densidade de coliformes fecais inferior a 103 NMP/g de sólidos totais, e densidade de sólidos totais de Salmonella sp. inferior a 3 NMP/4 g. O lodo é considerado classe B quando a densidade de coliformes fecais for inferior a 2x106 NMP/g de sólidos totais. No caso do estado do Paraná, a norma do IAP (Instituto Ambiental do Paraná) estabelece limites para ovos de helmintos (>1/g), pois estes organismos são resistentes e de grande importância para a saúde pública brasileira. Este procedimento é premente para as condições nacionais, pois a nossa população apresenta sérios problemas com relação a esses patógenos. Outro grupo de contaminantes que merece atenção é o dos compostos orgânicos persistentes. Até o momento no Brasil, nenhuma norma estabelece limites para estes compostos. Além disso, são extremamente escassos os trabalhos com estes contaminantes no Brasil, existindo praticamente apenas uma análise apresentada por Tsutiya (2001). País Aterros Sanitários 2.2 Uso Agrícola Segundo Bettiol & Camargo (2006) a utilização do lodo de esgoto em solos agrícolas traz como principais benefícios a incorporação de macronutrientes (nitrogênio e fósforo) e micronutrientes (zinco, cobre, ferro, manganês e molibdênio). É preciso conhecer a composição do solo, para calcular as quantidades adequadas a serem incorporadas, sem correr o risco de intoxicar as plantas e em certas situações os animais e aspessoas, como também não poluir o ambiente (CETESB, 1999). Com respeito à melhoria das condições físicas do solo, o lodo de esgoto, de maneira semelhante à matéria orgânica, aumenta a retenção de umidade em solos arenosos e melhora a permeabilidade e infiltração nos solos argilosos, e por determinado tempo mantém uma boa estrutura e estabilidade dos agregados na superfície. Melo & Marques (2000) apresentam informações sobre o fornecimento de nutrientes pelo lodo de esgoto para as seguintes culturas: cana-de-açúcar, milho, sorgo e azevém. Existem ainda, informações do aproveitamento do lodo de esgoto para arroz, aveia, trigo, pastagens, feijão, soja, girassol, café e pêssego (Bettiol & Camargo, 2000). 2.3 Alternativas de tratamento e disposição final De acordo com Fernandes & Silva (1999), as principais alternativas de tratamento e destinação final de lodos de esgoto incluem a sua disposição em aterros sanitários, incineração, disposição oceânica e várias formas de disposição no solo, tais como recuperação de áreas degradadas, uso como fertilizante em grandes culturas, reflorestamento e land farming. A Tabela 3 mostra exemplos de alternativas de destino final para o lodo de esgoto praticadas em alguns países da Europa e nos Estados Unidos. A reciclagem agrícola é outra prática bastante utilizada. Ela transforma o lodo em um insumo agrícola, contribuindo para fechar o ciclo bioquímico dos nutrientes Agricultura Incineração Disposição Oceânica França 40 40 20 0 Dinamarca 27 37 28 8 GrãBretanha 19 46 5 30 Alemanha 65 25 10 0 Itália 55 34 11 0 Portugal 28 11 0 61 Bélgica 50 28 22 0 Estados Unidos 37 34 17 7 Tabela 3. Exemplos de alternativas de destino final para o lodo de esgoto praticadas em alguns países da Europa e nos Estados Unidos. Fonte: Bonnin,1998 100 95 75 25 5 0 76 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 minerais, fornecendo matéria orgânica ao solo, estocando o carbono na forma de compostos estáveis e não liberando CO2 na atmosfera(Fernandes & Silva, 1999). No Brasil, Fernandes & Silva (1999) descrevem que a questão do destino final do lodo de esgoto permaneceu esquecida até recentemente, quando modernas e eficientes estações de tratamento de esgotos foram instaladas, sem qualquer proposta do que fazer com o lodo gerado. Em certos casos, o lodo foi acumulado nas áreas próximas às estações, gerando riscos ambientais imprevisíveis. A falta de uma alternativa segura de tratamento e destino final do lodo gerado em uma estação de tratamento de esgoto pode anular parcialmente os benefícios do saneamento. Fernandes & Silva (1999) alertam que, devido ao fato do lodo também conter microrganismos patogênicos, sua disposição no solo sem qualquer tratamento pode colocar em risco a saúde pública. A compostagem é uma alternativa natural de tratamento do lodo, uma vez que a elevação da temperatura promove a desinfecção do resíduo, tendo como produto final um insumo de alto valor agronômico. 2.4 Processo de Compostagem Andreoli et al. (1999) define a compostagem como um processo biológico de degradação da matéria orgânica. Os microrganismos degradam a matéria orgânica contida no lodo puro ou em mistura com outros resíduos orgânicos (palhas, serragem, resíduos de jardinagem e podas de jardins, parques e praças, parte orgânica do lixo urbano, etc.) em processos exotérmicos que geram calor e consequentemente aumentam a temperatura das leiras. Salmonella ssp P/A Estreptococos Fecais NMP/100mL Coliformes Totais NMP/100g Coliformes Fecais NMP/100g 0 30 Ausente Ausente 0 30 Ausente Ausente 0 30 Ausente Ausente 0 30 Ausente Ausente ≤1,6x107 3,42x108 78,62% 15x106 3,6x10 76% ≥4,77x107 7,8x105 83,64% 5,73x107 2,8x106 95% ≥5x108 3,22x108 35% ≤6,86x108 6,42x107 90,6% ≥4,77x108 1,4x108 70,6% ≥5,73x108 4x107 93% ≤5x108 <200 99,9% ≤3,86x108 <200 99,9% 5,07x107 3,65x105 99,28% ≥5,73x108 <200 99,9% Dias do experimento Leira 1 Redução Leira 2 Redução Leira 3 Redução Leira 4 Redução Experimentos utilizando restos vegetais e lodo apresentaram aumentos de temperatura até alcançar a fase termófila, o que promove a eliminação dos organismos patogênicos presentes no lodo, desde que por um período de tempo compatível. Para se fazer a compostagem, deve-se misturar o lodo com resíduos orgânicos (restos vegetais picados, palha, bagaço de cana, etc.). É conveniente que o material orgânico seja picado em pedaços de 0,5 a 4,0 cm, para permitir boa aeração, algo fundamental para a atividade dos organismos. A atividade dos organismos depende também de boa umidade, sendo indicada entre 55 e 65%. A atividade microbiana consome nitrogênio na degradação e ressíntese de matéria orgânica. O carbono é retirado dos resíduos e o nitrogênio é fornecido pelo lodo. O equilíbrio ideal, ou bom estado nutricional do composto, apresenta uma relação C/N entre 20 e 30, ou seja, 20 a 30 unidades de Carbono para uma unidade de Nitrogênio. A temperatura acima de 60°C deve ser mantida por um período de no mínimo 10 dias. Quando a atividade biológica diminui, a temperatura também diminui. Nesta fase devemos revolver a leira do composto para promover a aeração e a mistura dos materiais. Se o composto aquecer é porque o processo não chegou à estabilidade. Se a temperatura se mantiver estável, é porque o composto está pronto (Andreoli et al.,1999). Na prática, para acompanhar a atividade biológica, utiliza-se enterrar mais de 0,5 m uma barra de ferro de construção na leira, deixando uns 20 ou 30 cm para fora. Ao tocarmos a barra, se atividade biológica for alta, a temperatura estará em torno de 60°C. Esta temperatura é o limite em que tendemos a soltar a barra porque está 100 95 75 Tabela 4. Redução de Salmonella spp. estreptococos fecais e coliformes totais no sistema de compostagem com resíduo verde e lodo aeróbio digerido da estação de tratamento de esgoto Belém, para o período de dia 0 e ao final da fase termófila –no dia 30. P/A = presença ou ausência em 25 g de amostra in natura. NMP/100gPS = número mais provável em 100g de peso seco. Fonte: ANDRAUS et al., 1999. 25 5 0 77 Compostagem de lodo de esgoto para uso agrícola atingindo um nível de temperatura desconfortável. Se o desconforto não for tão grande assim, a temperatura e a atividade biológica são baixas. A tabela 4, demonstra a eficiência da compostagem no processo de desinfecção para redução de salmonela, estreptococos, coliformes totais e fecais. Os resultados apresentaram uma média de redução para estreptococos de 83%. Os coliformes totais mostraram redução de 72,3% e os fecais, uma redução de 99,8%, dados que demonstram a eficiência da compostagem na remoção das bactérias entéricas presentes no lodo. Assim, a compostagem, nas condições realizadas, apresenta um produto final com excelentes características agronômicas, bastante eficaz para eliminar patógenos. O composto obtido pode ser utilizado para qualquer tipo de atividade agrícola sem riscos para a saúde humana e animal (Andreoli et al., 1999). O processo de compostagem pode ser representado pelo esquema mostrado na Figura 2. Matéria Orgânica + Micror+ O2 ganismo Segundo Fernandes & Silva (1999) no início do processo há um forte crescimento dos microrganismos mesófilos. Com a elevação gradativa da temperatura, resultante do processo de biodegradação, a população de mesófilos diminui e os microrganismos termófilos proliferam com mais intensidade. A população termófila é extremamente ativa, provocando intensa e rápida degradação da matéria orgânica e maior elevação da temperatura, o que elimina os microrganismos patogênicos, de acordo com a figura 3. Quando o substrato orgânico está em sua maior parte transformado, a temperatura diminui, a população termófila se restringe, a atividade biológica global se reduz de maneira significativa e os mesófilos se instalam novamente. Nesta fase, a maioria das moléculas facilmente biodegradáveis foram transformadas, o composto apresenta odor agradável e já teve início o processo de humificação, típico da segunda etapa do processo, denominada maturação (Fernandes & Silva, 1999). Matéria Orgânica + CO 2 estável + H 2O + Calor + Nutrientes Figura 2. Esquema simplificado do processo de compostagem (Fernandes & Silva, 1999). Os parâmetros físico-químicos fundamentais no processo de compostagem são: aeração, temperatura, umidade, relação C/N, estrutura e pH. Quando o processo de compostagem se inicia, há proliferação de populações complexas de diversos grupos de microrganismos (bactérias, fungos, actinomicetos), que vão se sucedendo de acordo com as características do meio. De acordo com suas temperaturas ótimas, estes microrganismos são classificados em psicrófilos (0 - 200C), mesófilos (15 - 430C) e termófilos (40 - 850C). Na verdade, estes limites não são rígidos e representam muito mais intervalos ótimos para cada classe de microrganismo do que divisões estanques, conforme a tabela 5. Bactérias Temperatura mínima Temperatura ótima Temperatura máxima Mesófilas 15 a 25 25 a 40 43 Termófilas 25 a 45 50 a 55 85 Tabela 5. Temperaturas mínimas, ótimas e máximas para as bactérias, em 0C. Fonte: Institute for solid wastes of American Public Works Association, 1970. Figura 3. Exemplo genérico da evolução da temperatura de uma leira de compostagem Estas duas fases distintas do processo de compostagem são bastante diferentes entre sí. Na fase de degradação rápida, também chamada de bioestabilização, há intensa atividade microbiológica e rápida transformação da matéria orgânica. Portanto, há grande consumo de O2 pelos microrganismos, elevação da temperatura e mudanças visíveis na massa de resíduos em compostagem, pois ela se torna escura e não apresenta odor agressivo. Mesmo com tantos sinais de transformação o composto não está pronto para ser 100 95 75 25 5 0 78 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 utilizado. Ele só estará apto a ser disposto no solo após a fase seguinte, chamada de maturação (Fernandes & Silva,1999). Na fase de maturação a atividade biológica é pequena, portanto a necessidade de aeração também diminui (Fernandes & Silva, 1999). O processo ocorre à temperatura ambiente e com predominância de transformações de ordem química: polimerização de moléculas orgânicas estáveis no processo conhecido como humificação. Fernandes & Silva (1999) relatam que estes conceitos são importantes, pois eles se refletem na própria concepção das usinas de compostagem. Como na fase de biodegradação rápida ocorre uma redução de volume do material compostado, consequentemente a área necessária para a fase de maturação é menor. Durante a maturação , alguns testes simples permitem definir o grau de maturação do composto e portanto a possibilidade de sua liberação para uso. Ele pode, se houver interesse, ser peneirado e acondicionado adequadamente para ser mais facilmente vendido e transportado (Fernandes & Silva, 1999). 3.Considerações Finais Quando os parâmetros do lodo de esgoto estiverem enquadrados nas normas específicas, pode ser aplicado sem restrições na agricultura. Contudo, deve-se monitorar o solo em relação aos nitratos, metais pesados, compostos orgânicos persistentes e patógenos humanos. A literatura internacional é abundante sobre o assunto, destacando-se os Estados Unidos e países da Europa Ocidental. A literatura nacional possui algumas importantes contribuições, porém é deficientes quanto à normatização, ao manejo, à fiscalização e ao controle da aplicação de lodo de esgoto na agricultura. Portanto, torna-se necessário o engajamento dos órgãos de ensino e pesquisa nos estudos sobre os efeitos do lodo de esgoto no solo e seus impactos ambientais. Segundo Evans (1998), mais de 50mil artigos científicos pesquisados sobre o assunto apontaram que nenhum efeito adverso do uso controlado do lodo foi encontrado. 4.Referências Bibliográficas ANDRAUS, S., et al. Agentes patogênicos: bactérias entéricas. Reciclagem de BiossólidosTransformando problemas em soluções. Curitiba: Sanepar, Finep, 1999. 288 p. ANDREOLI, C.V. et al. Uso e Manejo do Lodo de Esgoto na Agricultura. Curitiba: Sanepar, Finep, 1999. 98p. BETTIOL, W. Effect of sewage sludge on the incidence of corn stalk rot caused by Fusarium. Summa Phytopathologica, v.30, n.1, p.16-22. 2004. BETTIOL, W.; CAMARGO, O.A. de (Coord.). Lodo de Esgoto: Impactos Ambientais na Agricultura. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2006. 11p. BETTIOL, W.; CAMARGO, O. A. de. Lodo de esgoto na agricultura: potencial de uso e problemas. Disponível em: <http://www.iac.sp.gov.br/ECS/WORD/LodoInstitutode EducacaoTecnologica.htm>.Acesso em: 13 out. 2011. BONNIN, C. Travaux du CEN/TC 308: Préséntation des guides de bonne pratique pour la production et l'útilisation des boues. Paris, 1998. 36p. COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CETESB. Aplicação de lodos de sistemas de tratamento biológico em áreas agrícolas – Critérios para projeto e operação. São Paulo, 1999. 33p. (Manual Técnico-P4230). CORRÊA, R.S.; FONSECA, Y.M.F.; CORRÊA, A.S. Produção de biossólido agrícola por meio da compostagem e vermicompostagem de lodo de esgoto. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v.11, n.4, p. 420-426, 2007. EVANS. Acessing the risks of recycling. Water & Environment International, 27-30. England, 1998. FERNANDES, S.A.P.; SILVA, S.M.C.P. da. Manual Prático para a Compostagem de Biossólidos. Londrina: Prosab, Finep, 1999. 84p. FERNANDES,S.A.P.; BETTIOL, W.; CERRI, C.C.; CAMARGO, P. Sewage sludge effects on gas fluxes at the soilatmosphere interface, on soil δ13C and total soil carbon and nitrogen. Geoderma. v. 125. p. 49-57, 2005. F U N D A Ç Ã O N A C I O N A L D E S AÚ D E - F U N A S A . Compostagem familiar. Brasília: Funasa, 2009. 16 p. 100 INSTITUTE FOR SOLID WASTES OF AMERICAN PUBLICS WORKS ASSOCIATION. Municipal refuse disposal public administration service. 3a ed. Illinois, p.293-329, 1970. 75 95 25 5 0 79 Compostagem de lodo de esgoto para uso agrícola MACIEL, C.A.C.; SANTOS, A.B.C.R.; ANTÔNIO, F.R.; DUARTE, F.C.; FILHO, M.M. Reutilização do lodo ETE industrial na cultura de mudas de feijão. Esprírito Santo do Pinhal: UNIPINHAL, 2009. 14 p. MELO, W.J.; MARQUES, M.O. Potencial do lodo de esgoto como fonte de nutrientes para as plantas. In: BETTIOL, W.; CAMARGO, O.A (Ed.). Impacto ambiental do uso agrícola do lodo de esgoto. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2000. p.109-142. METCALF & EDDY. Design of Facilities for the Treatment and disposal of Sludge. In: WASTEWATER ENGENEERING – TREATMENT, DISPOSAL END REUSE. 3nd ed. U.S.A. Mc Graw-Hill International Editions, p. 765-926. 1991. PELEGRINO, E.C.F.; FLIZIKOWSKI, L.C.; SOUZA, J.B. de. Compostagem de lodo de estação de tratamento de esgoto. In: VI Semana de Estudos de Engenharia Ambiental. Unicentro, 2008. PIRES, A.M.M.; MATTIAZZO, M.E. Avaliação da Viabilidade do Uso de Resíduos na Agricultura. Jaguariúna: EMBRAPA, 2008. 9 p. (Circular Técnica, 19). SOCCOL, V.T.; PAULINO, R.C. Riscos de contaminação do agroecossistema com parasitos pelo uso do lodo de esgoto. In: Bettiol, W.; Camargo, O. A . Impacto ambiental do uso agrícola do lodo de esgoto. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2000, p. 245-259. TSUTIYA, M.T. Características de biossólidos gerados em estações de tratamento de esgotos. In: TSUTIYA, M.T.; COMPARINI, J.B.; SOBRINHO, A.P.; HESPANHOL, I.; CARVALHO, P.C.T.; MELFI, A.J. (Ed.). Biossólidos na agricultura. São Paulo: Sabesp, 2001, cap.4, p. 89-131. UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION - USEPA. A guide to the biossolids risk assessments for the EPA Part 503 rule, 1995. Washington: Office of Wastewater M a n a g e m e n t , E P A / 8 3 2 - B - 9 3 005,1995.195p.Mimeografado. 100 95 75 25 5 0 80 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 Homenagem ao Professor Luiz Carlos Dias Rocha O professor Luiz Carlos Dias Rocha destacou-se como pesquisador de pesticidas de baixo impacto contra os inimigos naturais da praga, e como articulador de empreendimentos em assentamentos rurais, agricultura familiar, educação ambiental e desenvolvimento sustentável no norte e sul de Minas Gerais. Nascido em 19 de abril de 1977, Luiz Carlos deixou Juramento, sua cidade natal no norte de Minas Gerais, aos 16 anos, para formar-se como técnico em agropecuária na Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes (EAFI), no sul do estado, em 1996, e como engenheiro agronômico na Universidade Federal de Lavras, em 2002. Em Lavras ele também concluiu o mestrado em 2004 e o doutorado em 2008. Tornou-se professor da EAFI em 2005, ao obter aprovação em concurso público. Sua trajetória foi marcada pela busca do aperfeiçoamento profissional e do fortalecimento da instituição e da região que o acolhiam. Com a transformação da EAFI em campus Inconfidentes do IFSULDEMINAS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais), Luiz Carlos trabalhou em conjunto com colegas do IFSULDEMINAS e de outras instituições de ensino, fechou parcerias e contatos com empresas, fundações de pesquisa e governos europeus, que hoje apoiam iniciativas no campus Inconfidentes do IFSULDEMINAS. Um de seus projetos investigou métodos de controle de pragas do morangueiro. O morango é uma das principais culturas agrícolas do sul de Minas Gerais, e os resultados dessa pesquisa formaram a base para a discussão do Sistema de Produção Integrada do Morangueiro. Em 2007, o professor Luiz Carlos se uniu ao grupo fundador da Revista Agrogeoambiental, a professora Lillian Pinto e o professor Marlei Rodrigues Franco, este último o idealizador da publicação. O primeiro volume e os primeiros fascículos foram conquistados com alegria. Hoje o professor Luiz Carlos é diretor do departamento de administração e planejamento do campus Inconfidentes do IFSULDEMINAS. “ Os anseios são muitos, os sonhos são desafiadores e as realizações serão frutos da coletividade. Que ao final da próxima década, possamos comemorar e colher os frutos do nosso trabalho. Esperamos que a Revista Agrogeoambiental seja nossa vitrine! 100 95 75 ” 25 5 0 81 100 95 75 25 5 0 Revista Agroambiental - Dezembro/2011 Instruções/Informações aos autores e leitores Periodicidade. A Revista Agrogeoambiental é quadrimestral, editada até Maio, Setembro e Dezembro de cada ano. Corpo do artigo. Deve conter o contexto claro do trabalho, informes que permitam reprodução do mesmo, hipótese(s) testada(s). Prazo para entrega de artigos. A Revista Agrogeoambiental recebe artigos originais e de submissão exclusiva em qualquer momento do ano. Idiomas. Português, inglês e espanhol. Da publicação do artigo. Poderá acontecer em um dos três momentos do ano. A Revista Agrogeoambiental enviará para revisores ou editores colaboradores sem identificação do autor e, após, o artigo poderá ser publicado sem restrição ou ser encaminhado ao autor com sugestões de mudança(s) ou não ser considerado para publicação. Abrangência. Trata-se de Revista científica e tecnológica que abrange as áreas de Agronomia, Zootecnia, Geomática, Geologia, Engenharia Florestal, Ecologia e Meio Ambiente. Composição do artigo Título (Português e Inglês); Resumo; Palavras-chave; Abstract; Key words; Introdução com Revisão de Literatura; Material e Métodos; Resultados e Discussão; Conclusão e Referências bibliográficas. Agradecimento(s); Fontes de Aquisição e Informe Verbal, quando for necessário o uso deve aparecer antes das referências. Antes das referências deverá também ser descrito quando apropriado que o trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética e Biossegurança da instituição e que os estudos em animais foram realizados de acordo com normas éticas. Título. Descrever em português e inglês (caso o artigo seja em português) - inglês português (caso o artigo seja em inglês). Somente a primeira letra do título do artigo deve ser maiúscula exceto no caso de nomes próprios. Evitar abreviaturas e nomes científicos no título. Esses devem aparecer nas palavras-chave e resumo e demais seções quando necessários. Envio de artigos para a Revista. Pelo endereço eletrônico: [email protected] Formatação. Total máximo de 15 páginas (Artigo ou Revisão); até 6 páginas (Nota científica); espaçamento 1,5. Com margens direita e esquerda de 2,5 cm e superior e inferior de 3,0 cm; Apresentação. Com editor de texto Word na versão 97 ou posterior ou BrOffice; tamanho A4 (210 x 297mm); páginas numeradas; fonte Times New Roman, tamanho 12; espaçamento 1,5. A revista é impressa em preto e branco, portanto, gráficos e figuras coloridas devem ser modificadas para tons de cinza ou soluções similares. Título. Deverá ser apresentado com fonte tamanho 12, maiúsculo, negrito, centralizado. Autor(es). O(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es) deverá(ão) ser acompanhado(s) em linha da(s) Instituição(ões) a(s) qual(ais) pertence(m) e respectivo(s) endereço(s) eletrônico(s), separados por vírgula, com fonte tamanho 12, centralizado. Texto (corpo do artigo). Com fonte tamanho 12, espaçamento 1,5, justificado. 100 95 Referências bibliográficas. Apresentadas em ordem alfabética, justificadas a esquerda, conforme normas abaixo: 75 25 5 0 83 Instruções/Informações aos autores e leitores 1. As citações dos autores no texto. deverão ser feitas com apenas inicial maiúscula seguidas do ano de publicação, conforme exemplos: Resultados semelhantes foram também observados por Silva & Souza (1999) e Soares et al. (2000), como uma má formação congênita (Batista, 2001; Correa et al., 2002); 2. Referências. As Referências deverão ser efetuadas no estilo ABNT (NBR 6023/2000) conforme normas próprias da revista; 3. Citação de livro: MALAVOLTA, E. Manual de química agrícola: adubos e adubação. 3ª ed. São Paulo. Agronômica Ceres, 1981. 596p.. 4. Capítulo de livro: GORBAMAN, A. A comparative pathology of thyroid. In: HAZARD, J.B.; SMITH, D.E. The thyroid. Baltimore: Williams & Wilkins, 1964. Cap.2, p.32-48. 5. Artigo completo (citar todos os autores): Sempre que possível o autor deverá acrescentar a url para o artigo referenciado e o número de identificação DOI (Digital Object Identifiers): ROCHA, L.C.D.; CARVALHO, G.A.; FREITAS, J.A.Toxicidade de produtos fitossanitários utilizados na cultura do crisântemo para ninfas de Orius insidiosus (Say, 1832) (Hemiptera: Anthocoridae). Revista Agrogeoambiental, Inconfidentes, v.01, n.01, p.123-134, 2009. 6. Resumos: MARAFELI, P.P.; ZACARIAS, M.S.; REIS, P.R.; OLIVEIRA, A.C.S.; MESQUITA, D.N. Ocorrência e identificação de vespas predadoras (Hymenoptera: Vespidae) em cafezal orgânico em formação (Coffea arabica L.) e sua relação com a predação do bicho-mineiro, Leucoptera coffeella (Guér.-Mènev., 1842) (Lepidoptera: Lyonetiidae). In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia. Anais... Brasília: Embrapa Café, 2007. (CD-ROM) 7. Tese, dissertação, monografia: PINTO, L.V.A. Germinação de sementes de lobeira (Solanum lycocarpum) ST. HIL: mecanismo e regulação. 2007. 67p. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal) - Universidade Federal de Lavras. 8. Boletim técnico/Circular técnico: SOUZA, J.C.; SILVA, R.A.; REIS, P.R. Complexo larva-alfinete e larva-arame importantes pragas subterrâneas na cultura da batata. Lavras: EPAMIG, 2007. 3p. (Circular Técnica, 6). 9. Documentos eletrônicos: GRIFON, D.M. Artroscopic diagnosis of elbow displasia. In: WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY CONGRESS, 31., 2006, Prague, Czech Republic. Proceedings… Prague: WSAVA, 2006. p.630636. Acesso em 12 fev. 2007. Online. Disponível em: http://www.ivis.org/proceedings/wsava/2006 /lecture22/Griffon1.pdf?LA=1 EMBRAPA. Projeto da Embrapa avalia a absorção de poluentes do lodo de esgoto pelo milho, Jaguariuna, 30 jul. 2009. Acesso em 19 ago. 2009. Online. Disponível em <http://www.cnpma.embrapa.br/nova/mostra2.php3?id= 528> 10. Agradecimentos: opcional, respeitando-se o máximo de 15 páginas do artigo. 11. Tabelas, Figuras, Gráficos. Localizados após primeira referência feita aos mesmos. Figuras e gráficos, com melhor contraste, devem ser fornecidos por email. Figuras em formato .jpg ou .gif. 12. Dotas de rodapé. Com fonte Times New Roman tamanho 10, justificado. 13. Lista de verificação: Atentar para o a “Lista de verificação” antes da submissão da proposta. A Lista encontra-se disponível no site na página. Demais informações. Sugere-se que informações outras não mencionadas nesta orientação devam seguir as normas da ABNT. Ou consultar a equipe editorial da Revista Agrogeoambiental Endereço: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação IFSULDEMINAS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais) Rua Ciomara Amaral de Paula, 167, Medicina Pouso Alegre-MG Cep 37550-000 (35) 3449-6150 [email protected] 100 95 75 25 5 0 84
Download