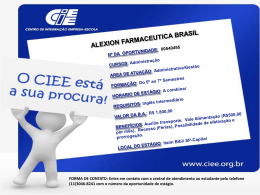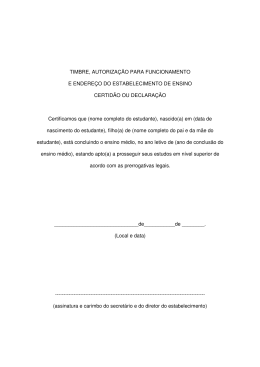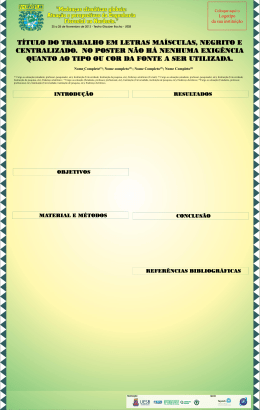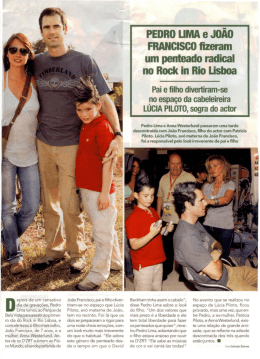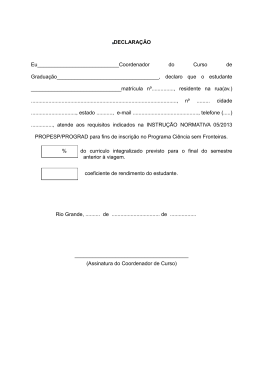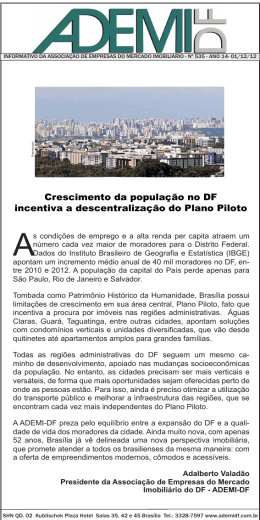ENTRE DOIS MUNDOS: TRAJETÓRIAS DOS ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E OS SIGNIFICADOS DA ESCOLA LONGE DE CASA. INTRODUÇÃO O estudo em tela tem como ideia central o percurso de escolarização de estudantes da Educação Básica. O foco é compreender os significados da escola para estudantes do Ensino Fundamental que frequentam escolas públicas do Plano Piloto de Brasília. O estudo será apresentado em dois artigos, quando este abordará estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e o outro dos anos iniciais. Os dados fazem parte de um projeto de pesquisa maior, realizado no seio da formação docente, no subprojeto Educação Física do Pibid/UnB, que analisa a cultura das escolas públicas do Plano Piloto de Brasília. Pretende como produto final, alicerçar planos de intervenção pedagógica nas práticas corporais típicas da Educação Física, adequadas para aquela realidade sociocultural. O entendimento dos significados da escola para o percurso escolar dos estudantes é relevante devido à particularidade que impõe o contexto. No Senso comum, entende-se que o atendimento nas escolas públicas do Plano Piloto é feito prioritariamente para estudantes das camadas populares que não tem acesso a escola privada e/ou pelo motivo de seus responsáveis trabalharem perto das escolas, tendo o local de residência como cidades-dormitórios. Essa representação da realidade é repetida como mantra pelos membros da comunidade escolar e mesmo nas cadeiras universitárias de formação de licenciados. Entretanto, pelas observações mais aguçadas dos participantes da pesquisa, tal modelo não perece ser preciso ou passível de tamanha generalização. Importante, então, entender Brasília, considerada uma utopia urbana. O relatório de Lúcio Costa submetido ao concurso público que levou a construção de cidade considerando a ideia de manter a paisagem natural. Em essência, o Plano Piloto, proposto por Lúcio Costa, segue as seguintes características: setorização, separação da circulação de pedestres e veículos, unidades de vizinhança, adensamento através da concentração da população em edifícios, inclusão de áreas verdes no tecido urbano, esvaziamento funcional do centro e expansão pré-definida de sua estrutura urbana, com previsão de cidades satélites. São nessas cidades que moram grande parte dos sujeitos analisados na pesquisa. 2 Brasília é dividida em quatro escalas urbanísticas. São elas a Escala Monumental concebida para conferir a cidade a marca efetiva de capital do país; Escala Gregária concebida o centro nevrálgico de Brasília, em torno da intersecção dos Eixos monumental e Rodoviário; Escala Residencial - proporcionando uma nova maneira de viver, própria de Brasília, configurada ao longo das Asas Sul e Norte do Eixo Rodoviário Residencial; e Escala Bucólica – conferindo o caráter de cidade-parque, configurada em todas as áreas livres. Assim, em decorrência da apropriação do projeto original pela população, observa-se hoje uma visível distinção urbanística entre o Plano Piloto e as Cidades Satélites. Brasília com o Plano Piloto - patrimônio histórico da humanidade - e as outras regiões administrativas do DF, conhecidas como cidades satélites e que vivem em função da vida econômica da capital, apresentam profundas distinções. Brasília possui por volta de 200 mil moradores, como previsto no projeto original. Entretanto, o Distrito Federal (DF) possui, segundo o Censo de 2010, 2.570.160 habitantes, com taxas de crescimento populacional que duplicam a média nacional¹. É a quarta unidade da federação que mais cresceu entre 2000 e 2010, atrás de Amapá, Roraima e Acre. Patriota e Vasconcelos (2012) afirmam que Brasília é uma metrópole que atrai populações para as mais diversas atividades. A expansão da malha urbana de Brasília tem sido efetuada, ao longo do tempo, por meio de processos alternados de ocupação espontânea e loteamentos informais, de um lado, e do estabelecimento de novas “cidades-satélites” e “setores habitacionais”. O universo simbólico (VELHO, 1981, 1994) dos moradores do DF se constitui a partir da construção da nova capital, quando os trabalhadores, candangos, que ergueram a capital passaram a não habitar as residências do Plano Piloto, mas em Cidades Satélites. No início, estas eram deficitárias em relação as condições de emprego, educação, saúde e lazer, por isso os moradores/trabalhadores passaram a utilizar os aparelhos urbanos instalados no Plano Piloto para satisfazerem suas necessidades. Verifica-se que esta situação perdura até o presente, porém em algumas cidades observam-se mudanças. Percebe-se a distinção entre morar no PlanoPiloto ou na periferia a partir das relações físicas e sociais e os significados que lhe são atribuídos pela população que circula pelo DF. Nessa intensa interação social, vai se constituindo a construção de distintos universos simbólicos sobre o morar e trabalhar/estudar no DF. 3 Tomando, então, a problemática dos estudantes que frequentam a escola longe de casa e a percepção de que a resposta do senso comum sobre os motivos dessa escolha não poderia ser generalizada, decidiu-se por olhar o fenômeno pela lente da análise dos indivíduos e suas singularidades. Estudar o contexto sociocultural a partir dos indivíduos não é, ainda, comumente entendido como uma possibilidade sociológica fidedigna. Entretanto, Lahire (1997), no estudo sobre as razões de sucesso nos meios populares, observou a importância do estudo dos indivíduos para encontrar indicadores que tornassem mais claro como estudantes dentro de um mesmo contexto sociocultural encontravam resultados diferentes em seus percursos escolares. Patriota e Vasconcelos (2012), por sua vez, estudaram uma realidade mais próxima ao contexto desta pesquisa ao investigar os trajetos e trajetórias de mulheres estudantes da UnB que moravam na periferia e como a escolha por um tipo de transporte para circular de casa para a universidade é cercado de uma complexa teia de relações e sentidos sobre o que seja morar na periferia e estudar na Universidade de referência em excelência da cidade. Considerando os dois estudos citados, observa-se uma lacuna importante. Apesar de não ter como foco de trabalho os trajetos realizados pelos sujeitos estudados, Lahire (1997) não se ateve a relação entre local de moradia e local da escola quando apontou as diversas dimensões de contexto que envolvia o desempenho escolar em seu trabalho. Patriota e Vasconcelos (2012), por sua vez, estudaram jovens adultas da UnB. Evidente que, apesar de se situar na mesma cidade deste estudo, a faixa etária diferente e o contexto que apresenta uma única opção de ensino superior público para jovens, torna os significados individuais de tipo e peso diferentes. No caso dos estudantes do Ensino Fundamental, existem possibilidades de escolas públicas próximas de suas residências. Ao que se acredita no trabalho pedagógico, de forma geral, é fulcral ter identificação ou gosto pela escola que se estuda para se adquirir desejo de aprender. Se, como no caso do presente trabalho e contrariamente ao padrão da maioria das cidades, as escolas se situam em locais e universos simbólicos diferentes do seu ambiente familiar, que significados isso traria aos estudantes? Assim, o objetivo específico deste trabalho é compreender quais os significados singulares que os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental conferem sobre morar na periferia e estudar nas escolas públicas do Plano Piloto de Brasília. 4 DECISÕES METODOLÓGICAS A construção coletiva do presente trabalho tem origem nas discussões e elaborações do projeto de intervenção nas escolas atendidas pelo subprojeto Educação física do Pibid/UnB. Tomando a ideia de educação pela pesquisa (1997), os licenciados deveriam conhecer o contexto das escolas vinculadas e levantar questões sobre as particularidades daquela cultura escolar que os intrigassem. As próprias experiências de vida e escola dos licenciados no contexto urbanístico singular da cidade levaram ao debate ora proposto como objeto de formação. Ao mesmo tempo, o grupo de trabalho estudava conceitos das ciências sociais, tentando encontrar paralelos entre as análises das sociedades complexas contemporâneas (VELHO, 1981, 1994) e da sociedade dos indivíduos (LAHIRE, 1997) com a realidade escolar que vivenciavam. O conceito de trajetória e a possibilidade de se realizar estudos considerando as individualidades antes de generalizações imaginadas foi central na motivação de realizar o trabalho. O conceito de “trajetórias” em Velho (1981, 1994) se tornou a chave explicativa para se pensar o fenômeno. Diferente de “trajetos” – o caminho físico que os indivíduos se apropriam ao circular pela cidade em busca de solucionar seu cotidiano, “trajetórias” é o conjunto dos caminhos, físicos e simbólicos, pelos quais se constituiu o individuo em sua história de vida e, portanto, lhe dá sentido para suas escolhas singulares (PATRIOTA, VASCONCELOS, 2012). Assim, as diferentes possibilidades de mobilidade entre os indivíduos tentam ser captadas pelo conceito de trajetória - um processo social transitório integrado por experiências e vivências pessoais, abarcando diferentes temporalidades, acarretando discernimento na percepção cultural, habitual e na compreensão da estruturação de história enquanto indivíduo. Isto, diretamente interligado às suas relações de interdependências do campo ao qual é pertencente e da maneira como é capaz de interpretá-lo. A lucidez sobre este termo possibilita o domínio sobre realidades consideradas diferentes, acarretando rudimentos na diversidade de singularidades histórico-sociais. O desenho metodológico seguiu as pesquisas de Lahire (1997) e Patriota e Vasconcelos (2012), adaptado ao tempo e circunstâncias da rotina de trabalho do Pibid. Os dados de campo definiram as categorias de analise aprofundadas. A primeira categoria foi chamada de escolha pela escola, que dirigiu o olhar dos pesquisadores para os motivos expressos pelos sujeitos para definirem a escola que estudam. A segunda, os trajetos, que analisou a rotina cotidiana dos estudantes no ir e vir da casa-escola-casa. Na 5 maioria dos casos, se teve acesso a informação pela narrativa do sujeito. Entretanto, muitas vezes foi possível uma confirmação da informação pelos pais ou por acompanhar o sujeito no trajeto casa-escola-casa. Essa diferença estará registrada no relato para efeito de precisão do dado, mas o importante para o estudo é como os sujeitos apresentam a narrativa de si para organizar sua auto identidade (GIDDENS, 2002). Foram selecionados por cada um dos licenciados/pesquisadores cinco estudantes que tivessem maior proximidade e facilidade de acesso, tanto na escola quanto no trajeto casa-escola. Durante quatro meses os licenciados/pesquisadores acompanharam a vida escolar dos estudantes e, com o tempo foram sendo definidos como sujeitos da pesquisa os estudantes que se mostraram mais solícitos em compartilhar suas experiências e compreensões da escola com os licenciados/pesquisadores. Ao final 6 estudantes compuseram os sujeitos deste trabalho. Os nomes apresentados são fictícios para preservar o anonimato. Além do acompanhamento das atividades escolares, os licenciados/pesquisadores procuraram levantar informações com os pais, professores e registros escolares dos estudantes. Os dados foram registrados em diário de campo e analisados através de uma planilha comparativa. Em todas as situações, os dados foram analisados considerando-se o estudo etnográfico mais amplo da cultura escolar e dos dados referentes ao atual contexto urbanístico de Brasília. As interpretações e conclusão foram resultado de dinâmicas de discussão entre os pesquisadores durante todo o processo. DISCUSSÃO DE DADOS Contexto escolar O Centro de Ensino Fundamental 02 de Brasília foi anexo de outra escolas da rede de ensino. Passou a ter tal designação em 1994, atendendo antiga quinta a oitava séries. Desde 2011 é uma escola de Ensino Integral, por consequência disto as séries foram reduzidas e hoje só atende estudantes do sexto e sétimos anos. Com relação à estrutura a escola possui oito salas de aula, um laboratório de informática com pouca funcionalidade dos computadores, servindo muitas vezes de depósito para materiais, uma biblioteca, uma sala de coordenação, uma sala para a direção, local destinado à secretaria, sala dos professores, lanchonete privada, cantina, banheiros para uso dos 6 estudantes, bebedouros, SOE (Serviço de Orientação Educacional) e o SAA (Serviço de Auxílio Aprendizagem). A escola está dividida em sete turmas, quatro de sétimos anos e três de sextos anos, sendo estudantes de 11 a 15 anos, com a totalidade de 230 alunos. Ao aderir o ensino integral, passou a ter a participação de Jovens Educadores através do PDAF¹ (Programa de Descentralização Administrativa e Financeira), e tem em sua grade curricular atividades no CIL (Centro Interescolar de Línguas de Brasília), CIEF (Centro Interescolar de Educação Física), para o deslocamento entre o CEF 02 e estes Centros de Ensino citados, quatro ônibus escolares públicos são utilizados pelo recebimento do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e contando com atendimento de monitores específicos para esta atividade. Está situado em uma área residencial da Asa Sul – Plano Piloto, na superquadra 107 Sul, fazendo parte da Unidade de Vizinhança I, esta Unidade seria o conjunto de quatro superquadras², sendo um lugar de confluência das escalas bucólica, gregária e residencial, se destinando a ser a área de moradia dos trabalhadores e de comércio local para o atendimento das necessidades básicas e diárias. E tendo como característica da localidade um grande centro urbano de Brasília, próximo à escola temos uma área residencial vertical, ou seja, é composta por prédios, temos um parque infantil, uma área verde e uma prefeitura da quadra. Descrição dos estudantes 1. Maria tem 14 anos de idade, estudante do 6º ano, é identificada como DI (deficiente intelectual) pela direção da escola. Observa-se que é uma estudante tranquila, comportada, que não se envolve muito com o restante da turma e demonstra dificuldades em algumas disciplinas. Nasceu no Plano Piloto, mas não se sabe realmente se morou nessa região. Hoje é moradora do Paranoá, uma cidade satélite distante 32 KM de Brasília, sendo uma região que surgiu para abrigar os primeiros trabalhadores para as obras da barragem do lago. Tem istalacoes de infraestrutura básica, serviços urbanos de pouca qualidade, falta de empregos e situações críticas de violência. A estudante mora com sua irmã, sua mãe que é separada e trabalha no Cruzeiro Velho, próximo ao Plano Piloto, e o seu pai mora em outra cidade, com sua nova esposa e seu filho de 3 anos. A estudante relata não visitar frequentemente seu pai que a telefona poucas vezes. 7 2. João tem 13 anos de idade, estudante do 7º ano, pardo, magro e de estatura média, observa-se que é um estudante comunicativo, sociável com todos da escola e com bom rendimento nos esportes. Nasceu em Brasília, morador do Cruzeiro, uma R.A com uma distancia de 5,8 KM de Brasília, local tranquilo devido à qualidade de vida da população que tem em média uma renda mensal alta, considerada um patrimônio histórico e artístico da humanidade, sendo próximo do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, em Brasília. O estudante mora com sua mãe, estudante universitária, que nasceu na Nordeste, seu pai, com origem no Norte e servidor militar, sua irmã mais nova e sua tia. 3. Ana tem 11 anos de idade, estudante do 6º. Observa-se na escola que sua conduta é de uma estudante calma, comunicativa com os colegas e monitores, além dos participantes do PIBID. Nasceu em Brasília, moradora de Vicente Pires, uma R.A com uma distância média de 18,3 km e população estimada em 17 mil famílias. Anteriormente era um setor habitacional rural, tendo nos dias atuais um grande crescimento urbano e sendo considerada uma área habitacional de classe média. A estudante convive com os pais e sua irmã de 8 anos. 4. José tem 15 anos de idade, estudante do 7º ano. Observa-se que é extrovertido, comunicativo com muitos colegas da escola e sempre ativo no intervalo, com brincadeiras, jogando tênis de mesa e se destaca pela idade acima da média doscolegas. Nasceu em Brasília, morador do Recanto das Emas, uma R.A com uma distância média de 30,9 km, e população estimada em 160 mil habitantes. Com um contínuo crescimento habitacional e urbano, é uma cidade considerada dormitório, onde as pessoas passam parte do dia trabalhando nos centros urbanos e voltam para dormir. O estudante convive apenas com seus pais. 5. Juliana relata que já estudou em uma rede de ensino particular antes de chegar ao CEF 02, porém não gostava do ambiente escolar, principalmente dos colegas que segundo ela mesmo relatou eram muito “esnobes” e por esse motivo preferiu mudar de escola. Sobre o CEF 02 ela diz que gosta de estudar lá pela proximidade da escola com sua residência, e por já ter feito amizades. 8 6. Francisco relatou que sua mãe acha mais apropriado ele estudar no Plano Piloto, alegando que a qualidade do ensino. Foi relatado por ele mesmo que não era seu primeiro ano estudando no Plano Piloto, e que já havia cerca de dois anos em outra Escola Classe próximo ao CEF 02. Ele também citou o fator de já estar acostumado com aquela rotina do trajeto de estudar no Plano Piloto, além de já ter se familiarizado com o ambiente escolar e com os amigos. Trajetos Maria relata utilizar sempre o transporte escolar para chegar à escola, tendo dificuldades nesse trajeto pelo fato de ter que acordar muito cedo por volta das 05:20 da manhã, pois pega o ônibus às 06:40 e sempre chega por volta de 07:15 da manhã, deixando-a ao lado da escola e ao término das atividades busca os estudantes em frente a escola por volta de 17: 45, chegando em casa por volta das 19:30, muito cansada. Já o João e a Ana vão e voltam da escola sempre de carro. João vai e volta com seu pai ou com um amigo de seu pai que também tem um filho que estuda na mesma escola e que moram no mesmo prédio, ele sempre acorda por volta das 06:00 da manhã para se arrumar e tomar café, chega na escola as 07:20 e na volta chega em casa por volta das 17:40. Ana relata que seu trajeto até a escola é feito com o auxilio de seu pai, tendo em vista que na maioria das vezes ele é responsável por buscá-la e levá-la até a escola, tendo como tempo estimado para chegar em casa 30 minutos. O José relata que seu trajeto até a escola é feito por transporte público, utilizando apenas um ônibus da linha 809, onde passa com grande frequência no ponto de ônibus, tem como um tempo estimado para chegar em casa de 1 hora e 30 minutos em média, sendo recorrente as situações de superlotação dos ônibus e grandes engarrafamentos. Esta linha em alguns trechos utiliza a faixa exclusiva para ônibus, o que torna mais rápido o seu trajeto, entretanto esta faixa muitas vezes não é respeitada. A Juliana relata que por morar perto da escola, acorda ás 6:30 para se arrumar e tomar café, por volta de 7:05 sai de casa e vai andando para a escola, e ao término das atividades escolares, sai por volta de 17:15 e fazer o trajeto direto para sua casa. No caso Francisco que relata acordar ás 05:00 para se arrumar e tomar café. Ás 6;30 da manhã pega o ônibus para chegar a escola. Ás 17:30 pega o ônibus escolar novamente para retornar a sua casa. 9 Observa-se que temos um grupo heterogêneo, tendo dois alunos que usam o transporte privado, dois alunos utilizam transporte público, uma aluna que vai caminhando para a escola por morar perto e outra aluna que utiliza o ônibus escolar, verificamos a partir disto também, que alguns alunos possuem um maior conforto neste deslocamento escola – casa e um tempo menor estimado para chegar ao local desejado em relação a outros. Motivos para escolha da escola A Maria diz que sempre estudou na Asa Sul. O motivo da escolha de se matricular na escola estudada foi o fato de sua mãe trabalhar perto dessa região. De acordo com a pergunta se ela gostava de estudar na escola CEF 02, foi respondido que não, justamente pelo fato dos horários e o longo tempo que gasta para poder chegar. O João diz ter estudado em outras escolas fora da Asa Sul e fora de Brasília. O motivo da escolha de se matricular no CEF 02 foi o incentivo do amigo do seu pai. De acordo com a pergunta se ele gostava de estudar no CEF 02, foi respondido que sim, mas achava a escola muito pequena e com pouca infraestrutura, mas o fato de passar muito tempo com seus amigos, mesmo achando muito cansativo se habituou ao horário integral. A Ana relata que este é o primeiro ano estudando em uma escola no Plano Piloto. O motivo da escolha de se matricular no CEF 02 foi devido a mudança da qualidade de ensino que a escola oferece para os alunos, segundo a estudante, ela se sente bem com a escola e com o ensino, anteriormente havia estudado em uma escola privada perto da sua residência e outra em Região Administrativa do DF mais distante ainda. O José relata que começou a estudar longe de casa a partir da Escola Classe que tem um ensino do 1º ao 5º ano, por influência da sua mãe. O motivo da escolha de se matricular no CEF foi a visão de sua mãe de que o ensino de qualidade está nas escolas do Plano Piloto. O estudante está em seu 3º ano na escola, sendo um aluno repetente, se diz gostar do ambiente escolar. A Juliana relata que gosta de estudar no CEF 02 pela proximidade da escola com sua residência, e por já ter feito amizades. O Francisco relatou que sua mãe acha mais apropriado ele estudar no Plano Piloto, alegando que a qualidade do ensino. Ele também citou outro fator de já estar 10 acostumado com aquela rotina do trajeto de estudar no Plano Piloto, além de já ter se familiarizado com o ambiente escolar e com os amigos. Observa-se que em certos pontos os estudantes possuem respostas equivalentes em relação ao ambiente escolar, por ser uma escola de regime integral, eles passam muito tempo juntos, isso justifica alguns argumentos dados de já estarem familiarizados com os amigos. Temos duas respostas divergentes que dizem não gostar da escola por ter uma estrutura pequena, por passar longos períodos dentro da escola e pelo tempo gasto no deslocamento. Analisamos também que o motivo de escolha ainda é a qualidade de ensino que os pais acreditam que as escolas do Plano Piloto podem oferecer. Conclusão Os trajetos são realizados de forma homogênea, tendo como base que os mesmos vão e voltam em sua maioria sozinhos e por meio de ônibus. Isto mostra uma independência precoce dos estudantes nesta faixa etária, na busca de uma qualidade de ensino melhor que seus pais acreditam que tenha, impondo esta realidade para os estudantes, eles se dispõem a passar por trajetos longos e cansativos. Em virtude destes longos trajetos, obteve-se a amostra específica de uma aluna, onde sua mãe alugou um apartamento próximo à escola e de seu local de emprego, com a finalidade de um conforto maior. É de grande importância verificar que os motivos da escolha da escola dizem muito sobre o ensino de Brasília, onde ainda a qualidade de ensino está no centro da cidade e não nas cidades periféricas. Segundo as percepções dos pais, além da qualidade de ensino, temos escolas com melhores equipamentos e estruturas de um modo geral. Este estudo é capaz de afirmar que a busca por um ensino de qualidade, mesmo com muitas dificuldades pelos alunos no deslocamento escola - casa é realizado através da crença dos pais que a qualidade de ensino trará aos seus filhos oportunidades de um futuro diferente e melhor quando comparado a eles, consequentemente podendo gerar ascensão sociais das famílias. ¹ O crescimento populacional médio da capital federal na última década foi de 2,28%, muito superior ao registrado no país, de 1,17%. Disponível em: <http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2011/04/ distrito-federal-tem-quase-26-milhoes-de-habitantes.html> ² O PDAF tem como objetivo contribuir na realização do projeto pedagógico, administrativo e financeiro das Instituições Educacionais e das Diretorias Regionais de Ensino. A superquadra é uma célula da escala residencial e se conforma como conjunto de referência para o endereçamento no Plano Piloto. O modelo de faixa residencial das superquadras de numeração 11 100,200,300,400 é composto por blocos de até seis pavimentos com exceções, para a população estimada de três a quatro mil habitantes. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DEMO, P. Educar pela pesquisa. Campinas: Ed. Associados. 2ª ed.1997 GIDDENS, A. identidade e modernidade. Rio de Janeiro: Ed. Zahar. 2002 LAHIRE, Bernard. Sucesso escolar nos meios populares: As razões do improvável. São Paulo: Ática, 1997. PATRIOTA DE MOURA & VASCONCELOS, L.F.L. 2012. “Trajetos, trajetórias e Motilidade na Universidade de Brasília”. Antropolítica: Revista Contemporânea de Antropologia, 32: 87-112. SETTON, M.G.J. Bernard Lahire: a multiplicidade das condições de socialização e cultura escolar. In GIOLO, J. AT AL. Educação e desigualdade coleção pedagógica contemporânea v.1. São Paulo: Ed. Vozes, 2011. VELHO, G. Individualismo e Cultura: notas para uma antropologia da sociedade contemporânea. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 1981. VELHO, Gilberto. Projeto e metamorfose. Antropologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro: Zahar, 1994. VIANNA, L; PINTO, F; ZENUN M; SOUZA, R. Sociabilidade, arte e patrimônio cultural em uma utopia urbana. In As artes populares no Brasil central: performance e patrimônio. Org. João Gabriel L.C., Letícia C. R. Vianna. Brasília: Idade da Pedra, 2012. Entre dois mundos: trajetórias de estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e os significados da escola longe de casa. A inquietação deste trabalho nasce das ações coletivas do Pibid UnB/Educação Física. O objetivo da pesquisa é descrever e analisar os significados de “casa” e “escola” construídos por jovens estudantes oriundos de classes populares, que moram na periferia do Distrito Federal, e estudam em escolas situadas em bairro nobre, onde residem as camadas médias da população no centro de Brasília. Tomamos como pressuposto que o sentimento de pertencimento e a constituição de identidades com a comunidade escolar é um elemento fulcral para o sucesso no percurso escolar de cada indivíduo. A estratégia metodológica partiu dos trabalhos de Lahire (1997) e Patriota e Vasconcelos (2012), descrevendo o contexto de uma Escola Classe, que atende anos finais do Ensino Fundamental, arquitetada no projeto original da capital federal pelas propostas de Anísio Teixeira, mas que atualmente apresenta projeto pedagógico e usos 12 dos espaços escolares diferentes das ideias originais que as constituíram. A investigação das visões de mundo e opiniões dos estudantes baseou-se nos relatos dos estudantes escolhidos e acompanhados em sua rotina no trajeto casa-escola e no cotidiano escolar para que, nas interações com os pibidianos, colegas e demais personagens da vida escolar, fossem registrados, em diário de campo, as representações expressas livremente, ou por questionamento direto. Dialogando os conceitos de “trajetórias” da obra de Velho (1981,1994), analisamos como se constituem as visões de mundo de cada estudante para viverem os dois espaços do cotidiano deles. Os resultados apontam que, apesar da mesma base sociocultural em que se encontram, o(a)s estudantes tentam construir coerência entre os diferentes mundos que transitam, mas diferem de modo singular em diversos aspectos. Palavras-chaves: Escola; Ensino Fundamental; trajetórias; indivíduos. Alexandre Jackson Chan-Vianna – UnB Izabela Costa Amaro – UnB Patricia Carvalho Veras – UnB Vitor de Andrade Pereira – UnB
Download