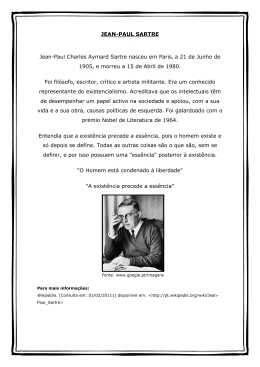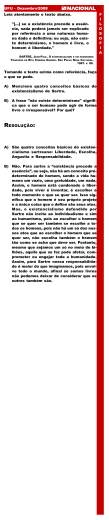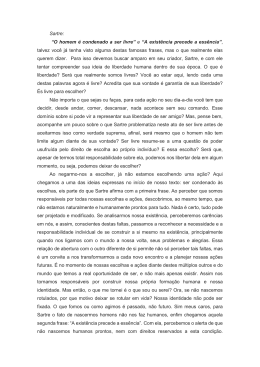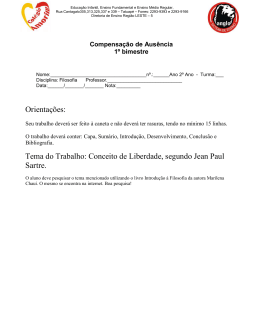Escritos Filosóficos Samir Gorsky (Coletânea 1999-2006) 2007 Índice Prefácio Os problemas do empirismo e os problemas da referência Relativismo A filosofia a partir da natureza Realismo Conhecimento Kant Teoria da Justiça segundo Rawls e Nozick Teorização do conhecimento pela abordagem do dialogo “Teeteto” Entrevista: Questões referentes ao livro “O ser e o nada” de Jean-Paul Sartre. Entrevista 2 Notas sobre as “confissões” de Agostinho De Magistro “Quem não tiver a certeza de fato nenhum, também não pode ter a certeza do que significa suas próprias palavras.” Linguagem Filosofia e Tecnologia Lukasiewicz, bivalência e verofuncionalidade Prefácio A intenção desta coletânea é meramente a de juntar em um único bloco alguns trabalhos acadêmicos realizados durante um período especificado. Esta publicação via internet visa apenas tornar acessível estes textos. Tenho consciência de vários erros ainda não corrigidos que (se forem analisados em ordem cronológica) mostram um certo desenvolvimento intelectual durante o passar do tempo. Samir Gorsky UNICAMP 2007. Os problemas do empirismo e os problemas da referência. A minha problematização geral levará em conta pontos de vista, ou posições de filósofos como Hegel, Wittgenstein, Carnap e Quine, entre outros, sendo que a pergunta a se ter em mente será acerca da melhor maneira de se abordar as investigações sobre a objetividade. Primeiramente o empirismo. “...embora todo o nosso conhecimento começa com a experiência, nem por isso todo ele se origina justamente da experiência.” (Kant, Crítica da razão pura, Int. I ). Essa frase que de início afirma o empirismo e em seguida lhe faz uma ressalva, nos coloca o problema nos dizendo que há algo no conhecimento que é anterior ao empírico, essa perspectiva que parece nos dar uma idéia segura para a objetividade não nos desinquieta, pois o que se segue dela é um conjunto de proposições, do tipo: existe algo no mundo que não é conceptual; nosso conhecimento não alcança esse algo; etc. Tais proposições são fortemente insustentáveis uma vez que elas nos levam para fora do limite do que podemos falar. Assim pulamos para dentro de uma espécie de filosofia transcendental, e passamos a ter algo contrário à “nada existe na mente que não tenha estado, primeiro, nos sentidos”. Como isso pode ser? Como podemos dizer algo como um númeno se este nunca esteve em nossos sentidos? A filosofia kantiana nos responderia que esse númeno é produto de uma extensão racional que começa no empírico e que pode dar esse salto devido a sua capacidade (da razão) de produzir proposições sintéticas a priori. Essa abstração da coisa em si pode ser considerada como uma posição iniciada em Berkeley, mas neste caso tínhamos como referência a matéria. O empirismo também possui a sua semelhança com essa maneira de colocar as coisas, uma vez que tenta mostrar que as idéias, a memória etc. provêem das sensações, ou melhor, de conjunto de sensações. O grande mérito kantiano foi o de não maximizar o empírico na formação do conhecimento e daí abrir espaço para o sintético a priori. Carnap e Quine. Carnap será nossa primeira referência a considerar algum tipo de questões na linguagem e no conhecimento como sendo do mesmo âmbito de pesquisa. Para Carnap a separação entre proposições sintéticas e analíticas possuem uma função esclarecedora dentro das ciências, ou seja, através dela evitamos alguns mal entendidos que seriam inevitáveis sem a distinção. Para isso então ele trabalhará com uma linguagem formal que abarque as ciências empíricas, uma linguagem que contenha a mesma sintática e a semântica da lógica. Dentro dessa concepção, teremos que uma proposição cientifica, para ser confirmada, tenha os critérios de testabilidade e de verificabilidade definidos, isto significa que antes de sabermos se a proposição é o caso temos que sabermos uma determinada construção formal que contenha as condições de testabilidade e significado da proposição. Assim, segundo a forma lógica proposta por Carnap, teríamos que para uma determinada proposição podemos conhecer o sua condição de teste sem que saibamos em quais caso ela seria verificada, e virse versa. Nesta teoria ocorre dois conceitos básicos: redução e definição. Em Carnap, a redução será entendida como redução das extensões às intensões, das classes às propriedades (Carnap, Meaning and Necessity, parágrafos; 23, 33). A definição será entendida como convenção, independente das sensações e por isso não testável, percebe-se que as reduções são não verificáveis pois necessitam de certas relações de acesso, relações estas que são intrinsecamente problemáticas. Para o autor do Aufbau, não se pode em uma teoria científica, haver apenas reduções, as definições sempre devem ocupar algum lugar na teoria, essa modo de tratar com esse tópico nos leva a considerar que a linguagem e suas verdade por significados são necessárias para o desenvolvimento de um projeto que pretenda ser um desenvolvimento dinâmico do conhecimento, o que nos lembra ser um pouco próxima da posição de Wittgenstein. Mas como por enquanto não chegamos lá – no termo de comparação propriamente dito continuemos com a questão sobre a separabilidade do analítico/sintético. O artigo “Dois dogmas do empirismo” escrito por Quine irá lançar complicações para a posição carnapiana, pois neste artigo haverá fortes críticas sobre a distinção de proposições analítica/sintética, distinção esta que será chamada por Quine como um dogma do empirismo. O outro dogma girará em torno do reducionismo, sendo este visto como “...a crença de que todo enunciado significativo é equivalente a algum construto lógico sobre termos que se referem à experiência imediata.” (Dois dogmas do empirismo par. 1). O problema começa pela própria definição de analítico como sendo os enunciados cuja a negação gera contradição, uma vez que não está claro que tipo de definição seria essa levando em conta que o termo contradição precisaria de uma definição diferente daquela que seria; a negação de um enunciado analítico. Para Quine a definição kantiana também traria problemas pois se limitaria a enunciados da forma sujeito-predicado, essa limitação não me parece tão problemática pois seria já bastante abrangente, porém o sentido metafórico do “estar contido” traz grandes conseqüências. Porém Quine retraduz a sentença kantiana, o que neste caso é um ponto negativo para seu artigo, e coloca ao seu modo o enunciado analítico como verdade por seu significado e independente de fatos. Essa definição deverá ser cobrada então mais tarde para que não se diga que a crítica de Quine não se dirige ao Kant mas apenas à sua própria reformulação de Kant, Quine percebe esse problema quando então termina o parágrafo com a seguinte expressão: “As duas posições são as faces de uma mesma e duvidosa moeda” (Dois dogmas do empirismo Par. 2). Quine passa então para a elucidação do termo “significado”, primeiramente dizendo que significado não é o mesmo que nomeação, isso pode ser exemplificado pelos argumentos de Russell e Frege, Quine em seguida, também mostra como que em termos gerais é importante que se faça a distinção entre significado e extensão. Mais adiante, ele não foi feliz em tentar mostrar os problemas de uma visão essencialista, uma vez que, quando diz: “não faz sentido dizer, do indivíduo real, que seja ao mesmo tempo, homem e bípede.” (Dois dogmas do empirismo, 1, par. 6) não percebe que para tal doutrina, faz sentido que um indivíduo contenha predicados essenciais e acidentais a um só tempo. Assim temos que: “O significado é aquilo no que a essência se transforma quando, divorciada do objeto de referência, é vinculada à palavra” (idem, par. 7). A sentença acima toca o cerne da questão deste ensaio, percebe-se neste caso uma tradução do ontológico para o lingüístico, o analítico passa a ser aquele que possui a sua essência puramente conceptual, ou melhor, convencional, não dependendo mais do mundo para a constituição da sua verdade. Perde-se assim uma noção de significado que seja vinculado à referência sendo este portanto um argumento contra aquilo que eu estou pretendendo. Quine, considerando o que foi dito anteriormente, argumentará tendo por base os enunciados analíticos. Os exemplos analisados serão de dois tipos: a) Os logicamente verdadeiros: Nenhum homem que não casou, casou. b) Enunciados analíticos de segunda classe: Nenhum solteiro é casado. A noção de sinonímia permite que o enunciado do tipo b) seja transformado por substituição em um do tipo a). Quine então problematizará esse processo, mostrando que esse tipo de enunciado não pode nem ser analítico nem sintético apenas, mas sim que esteja entre esses dois tipos de enunciados. A existência de tais enunciados como foi mostrado é marcante para a posição quineana acerca da distinção analíticos/sintéticos. O ponto chave é a confusão dada pela consideração dos termos usados como sendo sinônimos cognitivos uma vez que estes não são assim. Isso pode ser ilustrado pelo argumento: a) Todos e apenas os solteiros são homens que não casaram é um enunciado analítico. b) Necessariamente todos e apenas os solteiros são solteiros. c) Necessariamente todos e apenas os solteiros são homens que não casaram. Temos que c) é dado por uma substituição em b) de uma ocorrência de solteiro por homem que não casou, se c) for verdadeiro então a) será analítico e portanto “solteiro”, será cognitivamente sinônimo de “homem que não casou”. A crítica quineana a Carnap sugere não só que Carnap tenha pretendido separa todos enunciados analíticos, mas também que não tenha se atentado para como sinônimos podem ser derivados de enunciados sintéticos, e que reduções desses sinônimos à lógica constitui uma tarefa bastante problemática. Disso podemos tirar que a ciência pretende uma ostensão, tanto dos nossos sentido quanto do mundo, desta forma algumas pessoas observam o que na maioria das vezes quase ninguém está disposto a observar e traduzem essas observações para símbolos científicos, dos quais podemos reinterpreta-los como sendo observações. Assim a ciência para que pareça confiável, tem que ser rigorosa, mas isso não significa que seja assim, por isso tantas discordâncias. A comunicação ( esta como objeto de análise) nos dá a impressão de que todo esse processo acima é válido porém a razão, tomada com radicalidade, em outras palavras, a reflexão nos diz o oposto. Hegel e Wittgenstein. Começamos pelo sistema kantiano, e a anterioridade do empirismo fica subentendida no início pois Kant está em diálogo com esta posição o tempo todo. Com Kant então passamos para uma fase importante do pensamento, onde conceitos e intuições se completam, todavia ainda temos um númeno que é em todo caso bastante problemático, posteriormente vimos uma discussão entre Carnap e Quine, discussão essa que também foi fruto quase que diretamente do sistema kantiano (pensando nos termos analíticos/sintéticos), mas tivemos neste caso um novo item que foi a atenção voltada para a questão do comportamento da linguagem, esse novo item porém não foi desenvolvido, o que será feito quando falarmos do papel de Wittgenstein. Hegel aparecerá aqui como uma parte do processo, parte esta necessária, porém que deverá ser suprassumida no movimento dialético deste ensaio, para que então o espírito absoluto wittgensteineano possa se fazer presente. (Wittgenstein certamente não concordaria com este rótulo, mas no caso presente a nossa linguagem está de férias o que talvez seja uma amenização do meu disparate). Vamos agora começar novamente este tópico; começando metafilosoficamente pela pergunta acerca da filosofia. A filosofia nasce de um incômodo (racional/intuitivo) e esse incomodo se transforma em combustível da filosofia, nem em filosofia nem em ciência temos uma idéia de todas as nossas intuições ao mesmo tempo. Somos caçadores, fóbicos, admiradores, colecionadores, etc. da objetividade, mas nunca os donos por direito. Esse trecho nos conduz para o discurso hegeliano que irei abordar neste ponto. Fiquemos então com a pergunta: Como que Hegel comparece pois na questão principal deste ensaio? Hegel, como este ensaio, também começa pela certeza sensível, esta certeza que aparece como conhecimento mais rico, de infinita riqueza e sem nenhum limite, é na realidade “a verdade mais abstrata e mais pobre”, (percebe-se que apesar disto Hegel não recusa o uso da palavra verdade para falar desta certeza) – Sellars tirará disso que a ciência não pode ser racional, uma vez que ela está fundada em bases empíricas – o Eu não está presente efetivamente, até aqui, só há o “é” vindo dessa certeza, ou seja, a coisa é, e nada mais é dito, o Eu é ainda apenas uma presença, contudo a diferença entre os dois entes que se mostram se dá pela mediação e nesta mediação uma das partes que media é o Eu, ainda que não ativo. O exame da verdade da certeza sensível surge de uma simples experiência, essa verdade que surge quando denominamos (tentamos denominar) o aqui e o agora (os dois momentos da certeza sensível), não é uma verdade que se mantém. Minha observação aqui se refere ao exemplo dado por Hegel, pois os referenciais usados não me parecem ser os ideais, ou seja quando digo agora é noite e anoto em um papel, o contexto que se deve observar é o contexto do momento e do lugar em que foi escrito esse enunciado ou seja continuará sendo verdade o que foi escrito no papel se por acaso eu escrever além de: agora é noite, o dia e a hora e o lugar. Pois ainda que não esteja escrito, quando eu digo agora é noite , em algum lugar esta frase é verdadeira, ou quando digo isto é uma árvore, algum objeto é uma árvore. Os objetos (conteúdos) do aqui, mudam e não o aqui, porém para que o conteúdo do aqui mude é necessário que o aqui também mude (no tempo e no espaço), não há como o aqui e o agora serem idênticos, e consequentemente universais, pois há mudança constante e ininterrupta, da mesma forma como o vermelho universal é uma abstração, pois dois vermelhos estão em objetos diferentes, os aquis e agoras tambémsào pois estão em lugares e momentos diferentes. Novamente o tema sugere um deslocamento do empírico para a referência, do epistêmico para o lingüístico. Hegel então faz a passagem da certeza sensível para a percepção, a certeza é um momento que foi suprassumido, agora na percepção chegamos no que parece, ao objeto propriamente dito, e este se mostra como fenômeno ele mesmo e não mais como algo além deste fenômeno. Durante todo o processo o mundo está dividido em não pensado e pensado e o movimento caracteriza a passagem do não pensado para o pensado, do não auto consciente para o auto consciente (em termos de espírito). Uma diferença que podemos ver entre Kant e Hegel se dá pela permeabilidade do mundo, para o primeiro nem tudo é permeável ao mundo, já para o segundo, tudo é permeável. Há também uma certa crítica hegeliana ao idealismo subjetivista uma vez que “o perceber, como movimento é algo de inconstante, que pode ser ou não ser e é o inenssencial.” (Fenomenologia do espírito, Cap. 2 final do parágrafo 1). Me parece que Hegel está querendo superar a relação tradicional sujeito/objeto. Primeiro criticando a ênfase no objeto (empirismo) e depois colocando o próprio perceber como inessencial, assim o que resta é a fenomenologia, ou seja, o movimento. Porém ainda há traço da bipolaridade sujeito/objeto, só que agora sem a ênfase anterior. As considerações finais do capítulo dois nos mostrará dois traços interessantes da filosofia hegeliana, primeiro sobre a sua metodologia, que se perfaz pelo caminho como que acompanhando o processo em uma “alternância perpétua entre o determinar do verdadeiro e o suprassumir desse determinar”, segundo que esse processo só é desta maneira por que o entendimento insiste em querer isolar um pensamento mantendo-o como verdadeiro (aqui podemos mais uma vez perceber uma semelhança entre Hegel e Quine). Por agora nos importa fazer uma consideração sobre o sistema Wittgensteiniano, mas esta palavra (sistema) não é condizente com o seu sistema dado que ele defende uma não afirmação de idéias que constituam uma estrutura determinada em filosofia, suas afirmações (quando ele as fazem) supõe que a filosofia não deve tentar encontrar respostas às perguntas principais, mas sim que essas perguntas surgem de questões mal resolvidas da linguagem, esta quando corretamente entendida, dissolve essas perguntas em perguntas sem sentido. Deste ponto de vista acerca da filosofia, podemos tirar como conseqüência uma certa crítica a todos os filósofos anteriores e até a si mesmo a partir do momento em que for encontrado fragmentos de uma tentativa de constituir sua filosofia em um sistema. Essa crítica também vai de encontro a Hegel, que na fenomenologia está analisando a relação sujeito/objeto tendo em mente o processo, e assim seguindo implicitamente uma metodologia questionadora dos princípios e da verdade constituindo então um sistema. Wittgenstein será uma figura interessante aqui, primeiramente porque nas Investigações filosóficas, o tema inicial é a referência, tomada como ostensão, segundo porque a linguagem assume um papel principal em seu livro. Em vista do que foi dito, ele começa fazendo uma “análise” da teoria do surgimento da linguagem, tendo como ponto de referência Agostinho, entretanto não aceita esse modo de considerar este problema e daí faz a comparação entre linguagem e jogos, na sua concepção o aprendizado da linguagem se dá por uma assimilação dos usos das palavras, o que sugere o aprendizado de regras, estas por sua vez, para que não sejam arbitrárias, e portanto “ineficáveis”, têm que estarem de acordo com as práticas de uma comunidade, o que obriga Wittgenstein negar a possibilidade de qualquer linguagem privada. Porem pode parecer que esta comparação entre linguagem e jogos, ainda não é muito boa, pois, da maneira como foi feita uma vez que tenho em mente em mente a dissolução do problema da origem da linguagem estou pressupondo que anterior à linguagem não há formas nenhumas de linguagem, o exemplo dado todavia, nos mostra que regras tem origem também em uma linguagem (e são guardadas por uma comunidade), desta forma o que nos resta é o seguinte problema: Se a linguagem surge a partir de regras, regras a partir de uma comunidade e uma comunidade só pode ser considerada como tal se possuem anteriormente a linguagem (pois senão teríamos apenas particulares) então tenho uma circularidade e a origem da linguagem se reduz ao infinito? Uma resposta bem interessante nos faria voltar a Hegel, basta que consideremos o surgir da linguagem como uma conseqüência do surgir do espírito, e o espírito por sua vez surge de um reconhecimento mútuo que advém de dois para-sis onde cada um deles possuem uma instância do espírito, isto pode ser muito bem ilustrado pela dialética do senhor e do escravo no final do capítulo quatro da fenomenologia do espírito. Possíveis conclusões. Nessas possíveis conclusões pretendo citar o caminho percorrido, mostrar onde estamos e tirar ingüísticos do lugar onde estamos. Com Carnap vimos uma primeira tentativa de considerar o mundo e a linguagem, essa proposta anterior ruiu por uma desatenção acerca do que estava sendo considerado mundo e linguagem, se não foi assim pelo menos sofreu críticas muito fortes, em certo ponto por esta parecer que poderia ser mais povoada que aquela com vista por exemplo em situações disposicionais, e portanto este projeto passou a nos incomodar. Outro problema, que foi considerado aqui foi o da distinção ingüístic/sintéticos, abarcada principalmente no “dois dogmas do empirismo”. Na segunda parte apareceram os atores principais, vistos de início separados, se uniram finalmente para resolverem os problemas interligados do surgimento do surgimento da linguagem e do espírito. Restou-nos portanto a questão sobre a relação mundo e conceito, apesar do caso da linguagem e seu surgimento já ser-nos justificada, ainda não podemos conceber uma relação entre essa e o mundo, sendo então que aqui teremos a entrada de mais um personagem importante. Mesmo estando no final este não será menos importante que os demais, visto que a ele cabe a tarefa de fechar este ensaio e explicar esta ultima questão, seu nome é McDowell. Pensemos então na relação mente e mundo já indicada acima, que é o empirismo, este nos diz que o mundo, algo esterno a nós, é capitado pela nossa mente, sendo que os sentidos são a única ponte entre esses dois. Nesta posição, a verdade é dada por correspondência, isto é, o pensamento pretende corresponder a algo que está fora, no mundo, e a veracidade dessa correspondência aparece do julgamento do tribunal da experiência, que nos informa quando estamos certos ou errados acerca do que pensamos do mundo, o que teremos neste caso não será um empirismo no sentido forte do termo mas sim um tipo especial, um empirismo mínimo, para usar a linguagem quineana. Estaria tudo bem com esta posição se não fosse Sellars e suas observações sobre o mito do dado. Tais observações nos levará a uma outra alternativa, que não tenha mais o mundo como objeto de referência, nossas crenças e opiniões serão, nesta posição, o bastante, temos aí o que se pode chamar de uma leitura kripkeana de considerar Wittgenstein, que nos conduz para o antirealismo, todavia esta maneira de responder ao problema anterior da relação entre mente e mundo também nos incomoda uma vez que temos uma ânsia por objetividade não nos saciará uma posição que não tenha nenhum elemento que indique uma possível objetividade. Este é o diagnóstico de McDowell, que o compara a um pêndulo que oscila entre a primeira e a segunda maneira de relações entre mente e mundo, esse diagnóstico como o próprio McDowell quis, no conduz à sua solução, que deverá fazer com que o pêndulo pare e que assim nos dê uma posição menos incomoda. O ponto de toque dessa “cura” virá da forma como consideramos a composição do mundo, essa é uma forma derivada do pensamento kantiano levado mais a sério do que o próprio Kant, que é a conseqüência da citação sobre conceitos e intuições, assim, para McDowell o mundo é ele mesmo conceptual, o que implica que mundo e mente são formados pelas mesmas coisas, essa posição é bem importante para o ensaio presente, pois ela não só transferira o empírico para o lingüístico quando afirmou que o mundo é conceptual como também resolve o problema da referência pois onde antes as palavras tinham que responder a algo fora dos conceitos, agora basta que respondam a algo que constitua também a mente que às proferem, ou seja , aos conceitos. Relativismo “...compreendemos o conhecimento quando compreendemos a justificação social da crença, e, assim, não precisamos encara-lo como exatidão de representações” (Rorty, representações privilegiadas p. 176) O relativismo me parece ser uma posicionamento filosófico bastante interessante, e se não tivermos problemas com uma não possibilidade de objetividade, este se torna então o posicionamento mais sensata. Tentarei então mostrar que não é possível tomarmos uma posição completamente não relativa e que, portanto esta não pode ser totalmente refutada de qualquer teoria. O conhecimento que pretende ser conhecimento do mundo tem que se basear em algo que informaria traços relativos ao mundo, as sensações tendem a ser o meio mais comum para afirmar a possibilidade de tal conhecimento. Suponhamos, então que não houvesse problema algum com o dado, mesmo assim teríamos um nivelamento do conhecimento, isto é, o conhecimento do mundo seria um conhecimento do mundo médio e não macro ou micro. Assim mesmo que os sentidos nos informasse algo do mundo sem termos algum problema com isso, essa informação apesar de correta não seria completa e dessa forma não seria o bastante para tornarmos a empreitada empirista possível (no sentido de tornar o conhecimento acerca do mundo um conhecimento integral). Com isso, quero dizer que o problema da parcialidade dos sentidos é um problema tão importante quanto o da sua correção, a diferença a que estou me referindo se encontra entre a correção e a completude, digo aqui que os sentidos não são nem completos nem corretos e mesmo que fossem corretos isso não implicaria em sua completude e virse-versa. Portanto um conhecimento que pretenda ser absoluto acerca do mundo não pode ser garantido apenas por uma confiança nos dados dos sentidos, apesar que esses são os únicos pontos de partidas que agora eu vejo. Alem disso, algo que servisse como ponto fixo do conhecimento (e não fossem apenas dados dos sentidos), acarretaria uma estatização do mundo conhecido, ou seja o ponto fixo, como por exemplo uma axiomatização lógica, nos jogaria em um poço de analises, sem podermos saltarmos em direções à sínteses. Seria o mesmo que prendermos o conhecimento em uma camisa de força sem diagnóstico prévio, o que significa que não teríamos como saber a priori se essa seria ou não a camisa de força ideal. Todavia, o que parece acontecer (tendo em vista Kuhn), é uma dinâmica que surge de um ponto fixo, e, conforme se trabalha esse ponto, sempre se acaba chegando a uma proposta de negação desse ponto de partida em favor de uma dinâmica (os pontos fixos diferentes – paradigmas – seriam segundo Kuhn coisas incomensuráveis). Por outro lado não seria muito interessante partirmos de lugares fixos universais para chegarmos a lugares fixos universais, uma vez que pelo que parece os dois pontos não seriam coisas diferentes, é como se para encontrarmos a verdade tivéssemos que partir da verdade. O conhecimento como foi visto acima (como foi colocado por Kuhn), é algo que não se refere aos seus próprios limites (aqui eu não consigo ver como é que poderia ser do contrário), pois para que fosse possível tal coisa, o conhecimento teria que ser superior a si mesmo, não sendo este portanto o caso, logo, estes (os limites do conhecimento) são indefiníveis. Para quem estiver pensando na objetividade, uma pergunta surgirá quase que naturalmente: Por que o relativismo não nos levaria ao paradoxo da objetividade? Uma vez que tomarmos o conhecimento como fruto de justificação social é possível que o relativismo seja relativo às pessoas. Isso significa que o próprio relativismo como diagnóstico do estatus do conhecimento humano pode ser visto como algo de relativo. Porém o que estou defendendo aqui não é uma espécie de relatividade geral, mas sim uma impossibilidade de se negar qualquer tipo de relativismo, ou seja, de se conseguir alcançar um conhecimento puramente não relativo. O problema então se constrói em um outro plano, que é o de justificar aspectos relativos e aspectos não relativos em uma mesma teoria (sem confundir teoria aqui com a acepção que se tem em teoria da ciência). Uma das maneiras de tratar este problema seria reconhecer um meta discurso que atribuísse alguma objetividade na relatividade. Como seria possível uma tal idéia? Tal discurso poderia ser considerado objetivo, uma vez que é comum a toda forma de conhecimento possível (dentro de uma linguagem). É crucial percebermos aqui o conhecimento como produto da linguagem, porém não completamente desta, mas que a linguagem é componente necessário para o surgimento do conhecimento. Assim fica mais fácil de observarmos a conclusão que todo e qualquer conhecimento possível possui pelo menos um aspecto relativista que é a linguagem. Tentei neste pequeno ensaio mostrar como é possível sustentar que há pelo menos um aspecto relativo em qualquer tipo de conhecimento, percebo porem que esta argumentação não pode ser sufiente uma vez que este assunto tenha carência de uma articulação bem mais elaborada. As idéias aqui expostas podem ser traduzidas em varias linhas do pensamento moderno, não exatamente da forma como expus, mas que sugerem tal posicionamento filosófico. Quine é um dos filósofos que poderiam sugerir uma relatividade desse tipo se fosse considerada a sua negação da possibilidade de separação de sintéticos e a prioris, ou melhor, de fatos e convenções, algumas escolas também poderiam acolher as idéias expostas acima, como por exemplo um sociologismo, ou um historicismo advindo de algum tipo de naturalismo. Tive como uma referência, e ponto de partida o texto de Rorty no qual ele tenta defender as posições de Sellars e Quine, sendo assim, este meu texto pode ser considerado um produto do próprio relativismo que se segue. A filosofia a partir da natureza. Dias atrás (este texto foi escrito em 25/04/2002) um amigo meu chamado Alan estava debatendo com meu primo sobre a possibilidade de uma pessoa “pensar por si”, dizia Alan que era possível isto, que as pessoas não eram manipuladas o tempo todo, ou melhor que algumas pessoas poderiam não ser manipuladas e possuírem uma espécie lugar livre das decisões, já meu primo não concordou com o que Alan estava defendendo, e afirmou ser impossível para qualquer homem tomar alguma decisão apenas por contra própria, mais ainda do que isto, ele (meu primo) disse ser o homem um ser completamente influenciado por coisas externas (quase negando assim uma possível subjetividade), então, eles me dirigiram a palavra, e pediram a minha opinião a respeito, ao que respondi ser a proposta do Arthur (meu primo) um tanto mais coerente, então Alan me questionou como que poderia ter sido a opinião do primeiro homem produto da manipulação, respondi que este teria sido manipulado completamente pela natureza. A descrição acima do debate ocorrido a alguns dias, será o ponto de partida para este ensaio acerca do naturalismo, primeiramente vou fazer uma análise deste discussão com o fim de ilustrar algumas questões sobre o naturalismo. Pelo que foi descrito a questão toda pode ser traduzida de várias maneiras, porém todas elas ligadas de alguma forma ao naturalismo, as perguntas que poderiam ter gerado o dialogo acima podem ter sido tanto: Que relação tem o homem com a natureza? O que é o homem? Possui este um espírito diverso da coisa que é a natureza? Etc. Quanto: É, o homem, um ser livre? Um homem pode ser livre enquanto um semelhante seu não o é? São todos os homens iguais? Etc. No naturalismo que quero abordar neste ensaio, as questões com prioridades são aquelas referentes ao conhecimento, este naturalismo é próximo do materialismo e apareceu no século XX como um refluxo ao pensamento do positivismo lógico. A primeira coisa a ser analisada então será a expressão “pensar por si” que já aparece na segunda linha desse ensaio. Esta expressão tem um sentido bem controverso. O que seria realmente “pensar por si”? A resposta depende de uma definição de natureza, uma vez que o homem está inserido nesta. Então esta questão pode ser reformulada da seguinte maneira: O pensar faz ou não parte da natureza? Dada alguma resposta a essa pergunta o que é que se define como “pensamento por si” ou “pensar por si”? “Pensar por si” seria uma afirmação da liberdade a partir do momento em que este pensamento parte apenas de quem o pensa, ou melhor, pensar por si seria uma espécie de independência do espírito. Assim dentro dessa definição, haveria no homem algo a mais do que a sua natureza material, uma ciência da natureza, que neste caso fosse completa, não seria suficiente para o pensamento humano, o pensamento humano seria maior do que a natureza. Essa posição abriria as portas para muita coisa, dentre elas a volta de uma discussão sobre a metafísica, a ciência perderia muito de sua representabilidade uma vez que seu objeto ficaria mais reduzido em relação ao universo existente. Porém o humano seria novamente exaltado e tido como um lugar especial do ser. A outra proposta é aquela que coloca o homem como um ser “manipulado” e não um ser que manipula, é este (o homem) então, um conteúdo da natureza. A palavra manipulação foi usada no debate, porém não é bem um termo próprio para este ensaio, poderia dizer que se refere a uma materialização dos conteúdos do pensamento e não uma manipulação propriamente dita. Esta foi a posição tomada por mim, quando fui questionado acerca da possibilidade de ser ou não o pensamento humano produto da natureza. A partir daqui tentarei então justificar esta minha posição. No decorrer da história podemos perceber claramente a filosofia como uma produção humana, ou seja é um debate humano acerca do que o cerca, as questões, respostas e debates surgem em termos primitivamente lingüísticos e daí lançam-se para uma tentativa de reconstrução do mundo. A filosofia aparece como um questionamento último sobre o mundo, mas no final das contas ela é uma análise da diversidade de argumentos que cada linguagem pode produzir dentro de determinadas leis, uma ciência que tem o homem (antropologia) ou a mente (psicologia) ou o mundo (física) como objetos de investigação, fará também com que a filosofia acabe sendo parte de um desses seus objetos. Isto quer dizer que uma abordagem metafilosófica pressupõem uma ciência e portanto que a filosofia não está além de qualquer discurso humano ou sobre a natureza, e que este também não resume seu objeto, aqui a análise do pensamento filosófico merece uma outra abordagem. Começarei por tomar o pensamento filosófico como ponto de partida em vista das seguintes questões: O pensamento filosófico pode ter algum aspecto epistemológico? Qual seria uma possível função desse pensamento considerando as possíveis respostas da pergunta anterior? O pensamento filosófico não é jamais tomado em termos epistêmicos, apesar de ser esta a sua pretensão, uma vez que tivermos uma proposta semelhante a uma filosofia que alcance o conhecimento teremos, por definição, o seu próprio fim, portanto a filosofia quando tomada como processo seguro de aquisição de conhecimento deixa automaticamente de ser filosofia. Uma outra forma de concebermos a filosofia dentro de um âmbito naturalista será a de considerarmos a filosofia como geradora de questões, neste caso a filosofia terá que estar atenta a linguagem (aos seus diversos “jogos”) para que assim possa então formular questões oportunas (questões que tenham algum tipo de utilidade), desceríamos, neste caso, a filosofia a um nível mais prático, sendo portanto uma ferramenta para as ciências. Uma proposta que parece ser um pouco mais nobre do que a anterior, é a de tomar a filosofia como terapia, e então anular o questionamento que não cabe a nenhuma ciência. Neste caso a filosofia seria uma espécie de caça aos céticos, ao contrário do que foi colocado no parágrafo anterior. Realismo Conforme a definição tradicional de conhecimento é necessário que algo para ser considerado como tal (como conhecimento) seja ao mesmo tempo: Crença, verdadeira e justificada. Neste ensaio, pretendo analisar o segundo item dessa definição, ou seja, a verdade. Mas antes de tudo resta-nos questionarmos que tipos de pontos de vista podemos tomar com relação a verdade. Uma possível definição de verdade seria uma que, de certa forma, me parece muito analítica, ou melhor que não condiz com a sua definição propriamente dita e sim uma substituição de termos, quero dizer com isso que esta definição não define ainda o termo verdade e por isso é problemático toma-la como tal. Uma definição teria, em ultima análise, que definir, quer dizer, teria que colocar fins ou delimitar o significado desse termo. Assim é aceitável dizermos que verdade é algo não falso em primeiro lugar, isso tem como conseqüência que nada que é falso pode ser verdadeiro ao mesmo tempo. Mas definir não é dizer que algo é o contrário de seu contrário, por exemplo, vivo é não morto, certo é não errado etc... Apesar de não ser uma definição estrito senso, dizer que verdade é não falso já nos encaminha para alguma direção uma vez que exclui outras possíveis definições (verdade é não mentira, etc.), nesse caso pode até ser considerada como uma definição a nossa tentativa acima. Também podemos considerar que estamos não definindo e sim classificando o termo, uma vez que, verdade é não falso, isso não tem como conseqüência que não falso é verdade, essa classificação nada mais é do que caracterizar esse termo como pertencendo a um grupo maior, todavia essa classificação quando pronunciada passa a ser um passo necessário no entendimento do termo verdade. Em outras palavras o termo verdade está contido em um conjunto maior que abarca os termos não falsos, desse ponto de vista podemos concluir que existem1 mais não falsidades do que verdades. Do modo como foi exposto acima o termo verdade tem no mínimo dois sentidos: 1) contrário à mentira. 2) contrário à verdade. Diremos pois que o primeiro é moral enquanto o segundo é lógico. O termo verdade tem, pois dois sentidos não equivalentes. Isso quer dizer que conforme o uso de um mesmo termo eu posso obter dois significados diferentes. Essa propriedade se dá em quase (se não em todos) todos os termos da linguagem natural. Todavia podemos perceber que tais sentidos possuem uma certa interseção no âmbito dos seu significados, isto é, em certos casos os sentidos diferentes sugerem o mesmo significado2. Como exemplo podemos observas o caso do termo nada no seguinte argumento: “Nada é melhor do que a felicidade eterna, Ora, um tomate já é melhor do que nada Logo um tomate é melhor do que a felicidade eterna” Esse exemplo serve para esclarecer como os significados podem estar na interseção entre dois sentidos não equivalentes. O que foi dito até agora servirá de base para a primeira crítica sobre a proposta tarskiana para a definição de verdade. A) Primeira crítica. Tarski propõe um tipo de definição de verdade que suprimiria os paradoxos concernentes às auto referências existente em certas linguagens. Nos é interessante pensar aqui no paradoxo do mentiroso. Neste suposto paradoxo há um mesmo tipo de caso que foi exposto acima com o termo nada, ou seja, dois sentidos que não podem ser equivalentes são tomados como tal, neste caso (no paradoxo do mentiroso) esse problema fica mais imperceptível. Vamos toma-lo então como caso a ser analisado. O paradoxo e descrito da seguinte maneira. Supomos uma proposição do tipo “estou mentindo”, nesse caso, se essa proposição for verdadeira, implicará que o pronunciador desta frase está mentindo e portando não poderá estar dizendo a verdade. Se essa frase for falsa, implicará que, conforme o significado desta, a frase é verdadeira, em outros palavras, reflete algo que está no mundo. Portanto uma linguagem teria que evitar a possibilidade desse caso afim de que pudesse ser mais coerente. No exemplo acima, podemos dizer, conforme a definição feita no início do ensaio, que tal frase não encerraria uma contradição, dado que, há neste caso um explícito de interseção entre significados de sentidos diferentes. Com efeito, a definição que foi dada a palavra verdade supõe que esta tenha por necessidade (em um sentido lógico) a característica de não ser falsa, o sentido que se mostra no exemplo pertence a categoria moral (verdade como o contrário de mentira), e o sentido que é tomado em um paradoxo, quer dizer, para constituir um paradoxo é lógico. Dessa forma entendo que ser mentira não significa (ou implica) ser falso. Pois uma mentira só é tomada como verdade para uma pessoa que não a produziu ou possui o conhecimento acerca do seu estatus. Portanto uma mentira pode ser confundida com uma verdade, ou seja, uma mentira pode deixar de ser mentira, por exemplo no caso de uma mentira de brincadeira, uma mentira que depois que revelada passa a ser apenas uma ficção lúdica sem pretensões de se referir a algo no mundo. Isso já não acontece quando algo é logicamente falso, pois não é possível que tal passe a ser não falso. B) Segunda crítica. Uma auto referência sugere uma meta linguagem. Notas 1. Talvez dizer que existem... não seja o ideal pois pode ser que algo que não seja falso nem verdadeiro não exista, neste caso ser verdadeiro e ser não falso seriam equivalentes porém, por enquanto isso não é substancial e não tem uma importância maior, não merecendo assim mais comentários. 2. Por motivos de espaço e ocasião não é o caso de se tratar dos termos sentido e significado aqui. Teorização do conhecimento pela abordagem do dialogo “Teeteto” O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análize da maneira como se desenvolve o discurso sobre a episteme, levando em consideração principalmente, a estrutura do dialogo. No Teeteto, ing definições são dadas à epistemes, essas definições por sua vez passam por uma analize feita por Platão nas palavras de Sócrates. Assim, Teeteto é levado, pela dialética ,a considerar a possibilidade de um discurso sobre a episteme que seja mais verdadeiro que os demais. Primieiramiente, é estabelecido no dialogo, o objeto a ser pesquisado, no caso, a episteme, que logo no início é reconhecida como sabedoria. A primeira tentativa de definição feita por Teeteto é logo refutada, por não satisfazer ao quisito necessário em uma definição, que é o de não conter o termo perguntado. A questão principal da problematização da episteme é a pluralidade de significados deste termo, pois tanto conhecimento particular, conjunto de conhecimentos, atividade mental, quanto sistema de conhecimento podem ser designados por ele, assim, o que se busca na realidade, quando se tenta definir episteme é uma forma comum a toda muntiplicidade, tema este que é latente em Platão e que se constitui com a resposta à sequinte pergunta: Que coisa é algo? Somente a partir desse ponto é que se desenvolve a dialética, ou seja, a possibilidade de se fazer um discurso sobre alguma coisa. Um outro quisito tão importante quanto este é a predeterminação da existência empírica ou no mundo das idéias desse tema a ser trabalhado e que remete ao fato que: Sobre algo que não possui uma existência em si não se pode construir um discurso válido. Este é necessário para aquele. Após refultar a primeira tentativa de definição da episteme feita por Teeteto, Sócrates passa a descrever a possibilidade de uma definição mais concreta, para isso, Sócrates se diz parteiro, usando dessa metáfora para mais uma vez levar Teeteto a explicitar um conceito sobre o assunto. Tal conceito é expresso primeiramente como uma opinião própia de Teeteto, fato que Sócrates reescreve como não sendo dessa forma, todavia para ele (Sócrates) essa é uma definição que “talvez tenha algum valor” , e que remete ao pensamento de Protágoras relativo à máxima: “O homem é a medida de todas as coisas; das que são e das que não são”. Em torno dessa definição, Sócrates fará uma análise sistemática evidenciando em sua forma a possibilidade dela ser verdadeira. A afirmação: Episteme é sensação, será então, verificada de forma minuciosa até chegar a um consenso de que essa definição é ou não é a melhor possível, daí então passará Sócrates a tirar ingüísticos que levarão a outras definições e assim por diante, até chegar a uma irredutibilidade considerável, porém pensando-se dessa forma, a questão da definição de algo passa a ser um problema da regreção ao infinito, questão essa que será tratada na terceira definição. Referente ao termo da definição ( primeira definição) Sócrates irá demostrar a sua equivalência com a aparência. Sendo assim, a sensação ( como conhecimento ) não pode ser ilusória, gerando ingü uma contradição lógica. Segundo essa definição o relativismo nos levaria à diferentes verdades, que segundo as suas características ( da verdade ) não poderia ser concebível, e portanto a verdade sobre as coisas estaria não mais que presa às opiniões. Considerando ainda esse relativismo, a idéia de verdade, como sendo algo fixo, perde o seu valor, e o próprio ser passa a não ser mais, pois todas as coisas serão devir. A aparência se traria como algo de intermediário entre a “coisa que atinge e a coisa que é atingida”, ou seja, a aparência não poderia ser em si. Percebe-se nesse ponto do diálogo uma tentativa de demontstração dos absurdos sofísticos, não mais que pela própia sofística, evidenciando assim a característica irônica nos diálogos socráticos. A partir do 160d é que Sócrates começa a contestação à Protágoras, através da questão: “Como se explica que eu não tenha episteme daquilo de que tenho sensação?” Essa questão não me parece bem posta, pois a definição de Teeteto tenta, não ingüístico e sim generalizar o coceito de episteme. Por essa definição ser do tipo que diz algo do singular para o plural é que não podemos seguir o caminho inverso. Em outras palavras, pela definição dada, episteme seria sensação porém , sensação poderia ser ou não episteme. A partir do momento em que Sócrates aceita essa definição válida para que se possa analiza-la, estará consequentemente aceitando apenas suas implicações como passíveis de verificação, porem quando coloca uma questão deste tipo, ele não só estará tentando refutar as ingüísticos da definição com o também a própia definição. Após essa questão Sócrates faz uma outra crítica às idéias inerentes ao pensamento de Protágoras, essa cítica se refere ao fato de que, se cada pessoa tem a medida do conhecimento das coisas, qual seria a razão para que ele (Protágoras) tivesse sido professor recebendo salários tão altos. Mais uma vez neste ponto, Sócrates se baseia diretamente na definição e não em suas ingüísticos , isso se dá porque definição é totalmente relativista e Sócrates tenta analiza-la de maneira absoluta, ou seja, a dissonância criada por Platão é dada pela diferenciação de concepção do que é Verdadeiro entre suas teorias e as de Protágoras. Contudo, por causa dessa definição ser tomada apenas em nível de episteme é que Platão pode refuta-la. Disso podemos tirar que Platão está tratando a episteme a posteriori em relação ao ser, do ponto de vista de suas idéias enquanto em relação a Protágoras a verdade se funde com o conhecer pois ambos serão conceitos relativos,. A tentativa de resolução do paradoxo de que, pela definição de Teeteto não pode haver um homem mais sábio que os demais pelo fato de cada um ser medida de suas opiniões é apenas aparente pois esse paradoxo não é relacionado de forma coerente com a definição uma vez que episteme é sensação (episteme em um sentido mais específico que a sensação), aos mais experientes, ou melhor, aos que tiveram um maior número de sensações capazes de produzir episteme é que podemos dizer que serão estes mais “sábios”, todavia sua sabedoria não será mais verdadeira que as dos demais, e sim mais fundamentadas. Entretanto, surgirá, aqui, o problema de distinção entre esta maior fundamentação e o que é mais verdadeiro. Problema este que não chega a ser tão complexo pois basta que os conceitos sejam tratados em si. No caso a distinção se faz concebível a partir do momento que o primeiro (conceito de maior fundamentação) se dá pela quantificação, enquanto o segundo (conceito de ,mais verdadeiro) pela qualificação. No 163b é introduzida a relação entre compreenção convencional e episteme, que pode-se dizer que é uma episteme dos significados das coisas. Continuando a refutação os interlocutores do diálogo afirmam que ver, sentir e episteme, é a mesma coisa, fato que não pode ser admitido como válido, por abrangerem diferentes áreas, a visão, a sensação e a episteme. A partir dessa afirmação Sócrates irá montar o seguinte argumento. Se ver, sentir e saber são uma única coisa, como poderei não saber aquilo que relembro sem ter com esta coisa nenhum contato sensitivo. Justamente nessa parte da argumentação é que se pode explicitar uma maneira diferente de se tratar da definição de Teeteto. Realmente quando lembramos algo, não temos a episteme desse algo, porem possuímos a nossa episteme em relação a ele(opinião), e ingüí pelo fato de não podermos memorizar todas as nossas sensações nem lembra-las um só tempo é que necessitamos do fato sensitivo para se ter episteme. A episteme é, então, um tipo de sensação que formulamos a partir das sensações físicas. Assim podemos dizer que nem toda sensação é conhecimento porem todo conhecimento é uma sensação. Conhecimento Gettier, no ensaio em questão, apresenta dois exemplos que, segundo ele, são contestações da definição tradicional do conhecimento (dada por Platão). Porém, parece que Gettier não estava atento à passagem 209d do Teeteto, no qual Sócrates assinala que “opinião verdadeira de qualquer coisa diz respeito às diferenças”, nesse caso, saber que o escolhido para o emprego teria dez moedas no bolso não seria conhecimento, porque mesmo sendo uma opinião verdadeira, essa não diria respeito à diferença entre os casos possíveis. Da mesma forma o segundo exemplo não remete a alguma diferença entre os objetos pois, para Juan, cada uma das três proposições: g), h) e i) tem um mesmo caráter, ou seja, Juan jamais conseguiria enxergar a diferença entre elas baseando-se apenas na possível verdade de sua opinião. Considerando isto, Juan teria que crer tanto em g) quanto em h) quanto em i), o que é impossível pois são proposições excludentes. Todavia, a definição de conhecimento dada por Platão não está livre de problemas uma vez que dizer que todo conhecimento é crença verdadeira justificada não é o mesmo que dizer que toda crença verdadeira justificada seja conhecimento. O problema então estaria em mostrar o que faria de uma crença verdadeira justificada conhecimento ou não. Uma das maneiras possíveis seria focalizar a justificação e então criar um vínculo forte desta com a verdade. Deste ponto de vista, a questão do conhecimento passa a ser uma questão de método. Platão também percebeu um problema em sua definição ( Teeteto 210) pois justificação (ou explicação racional) é uma espécie de conhecimento da diferença, ou seja, o termo questionado aparece na resposta (conhecimento) e por isso não seria próprio para essa definição. Neste caso o problema da definição recai sobre a linguagem, uma vez que esta (a linguagem) é referencial e portanto remete a vínculos entre sons e coisas, e conhecimento, por depender (enquanto for constituído por crença, verdade e justificação) da linguagem também dependerá de uma espécie de “conhecimento do conhecimento dos signos” e do uso deste recaindo então na primeira tentativa de definição dada por Teeteto. Kant Vida e obra Kant nasceu em Königsberg no dia 22 de abril de 1724 e viveu em tempos de profundas mudanças, principalmente as do pensamento, mesmo sem nunca ter saído desta cidade ele ensinou geografia, matéria que o influenciou bastante no seu método relacionado a análise do conhecimento, pois da mesma forma, tanto na sua teoria do conhecimento quanto na geografia são utilizados mapas, no caso da teoria do conhecimento o mapeamento se refere a mente, assim fazendo um pequeno trocadilho pode-se usar-se do neologismo para se referir a isto como sendo um mapeamente, foi uma pessoa contida e se diz que era tão pontual que os cidadões de Königsberg acertavam os seus relógios pelo hábito que este filósofo possuía de caminhar sempre no mesmo horário. Kant ainda lecionou matemática e seu conhecimento em referente a essa matéria se reflete em algumas passagens que estão no início de uma pequena obra sua (Da utilidades de uma nova metafísica). Ensinou inicialmente como livre docente e em sua tese para conseguir uma cadeira na Universidade de Königsberg já haviam várias direções em relação ao seu pensamento filosófico que mais tarde traria a tona uma nova perspectiva ao pensamento ocidental. Suas referências principais foram Rousseau e Hume, segundo ele mesmo deixou transparecer. Hume o “ajudou” a acordar do “sono” dogmático, e Rousseau principalmente na sua política e nas reflexões sobre a liberdade e a moral. Kant foi responsável por “um cérebro que passou a vida investigando o universo espiritual do homem, à procura de seus fundamentos últimos, necessários e universais.”(Marilena Chauí). A obra central do pensamento kantiano é a crítica, que aparece em três momentos diferentes, ou seja, esta analisa três assuntos em três obras (segundo Kant, os assuntos são fundados nos conceitos a priori) que dizem respeito às questões que tem como palco a alma Humana. A primeira dessas questões é sobre o conhecimento, e a crítica é a forma de “julgamento” deste, pois não poderíamos fugir de certas questões que a própria razão não da conta das respostas, assim a primeira questão é também sobre uma certa limitação das pretensões especulativas pela metafísica. Este será o assunto deste trabalho que terá como objetivo demonstrar os fundamentos do qual se pode conceber, em Kant, uma crítica da razão pura. A segunda crítica tem como tema central, a moral e a liberdade (e como já tinha sido dado pela primeira crítica, quando Kant coloca a seguinte orientação ou processo pelo qual pretendeu situar as suas críticas: “portanto tive que afastar (aufheben) o saber para obter lugar para crença, e o dogmatismo da metafísica, isto é, o preconceito de progredir nela sem crítica da razão pura, é a verdadeira fonte de toda a sempre muito dogmática incredulidade antagonizando a moralidade” (Crítica da razão pura, prefácio). A crítica da razão prática tem por objeto a conduta humana, então, Kant se utiliza de um “imperativo categórico” que é uma espécie conceito sintético a priori, é o imperativo categórico que nos fornece o sentimento de dever e é somente em obediência a ele que poderemos chegar à liberdade, ele também pode nos remeter à idéia de Deus, porém não na forma de um conhecimento especulativo mas apenas como originador desta espécie de “ordem”. A terceira crítica, por fim tratará de um juízo a priori que para Kant não está dentro da questão nem do conhecimento especulativo, nem da moral, trata-se portanto do prazer e do desprazer. Em resumo as obras de Immanuel Kant publicadas desde 1746 até 1798 e que possuem um relativo destaque podem ser listadas da seguinte maneira: História geral da natureza e teoria do céu (1755), O único argumento possível para uma demonstração da existência de Deus (1763), Sonhos de um visionário, interpretado mediante os sonhos da metafísica (1766), Dissertação sobre a forma e os princípios do mundo sensível e do mundo inteligível (1770), Prlegômenos a qualquer metafísica futura que possa ser considerada como ciência (1783), Fundamentação da metafísica dos costumes (1785). Porém suas três obras que mais chamam atenção são: Crítica da razão pura (1781), Crítica da razão prática (1788), Crítica da faculdade de julgar (1790). O ambiente filosófico e Kantiano. Na época de Kant havia uma disputa filosófica que encerravam basicamente duas vertentes do pensamento moderno, os empiristas e os racionalistas, o empirismo ocorreu predominantemente na Inglaterra e teve Bacon como fundador, enquanto que o racionalismo tinha como lugar comum a França, e Descartes como pioneiro (todavia, tanto um como outro se espalhara por toda a Europa). Os expoentes mais contemporâneos à Kant e que mais o influenciou foram Lokce e Hume por parte dos empiristas, Leibiniz e Wolff, estes racionalistas, os primeiros tinham como fundamento de sua filosofia a experiência e as sensações enquanto os últimos se ocupavam mais das idéias que poderiam ser claras e distintas. A crítica da razão pura O projeto principal desta obra é a fazer da metafísica uma ciência, colocando-a diante de um tribunal que é a crítica e de um juiz, que é a razão. A abordagem kantiana, tida como uma novidade (no sentido metodológico) será uma das pilastras a serem validadas em sua “filosofia transcendental”, e a pretensão é causar uma revolução análoga à que Copérnico engendrou na astronomia. O projeto kantiano em si fracassou, porém ele conseguiu causar a revolução análoga a de Copérnico, Kant então se tornou um marco na história da filosofia, e sua importância não remete apenas a sua teoria do conhecimento mas também a “filosofia prática” (moral) e política. A pergunta que guia está obra esta relacionada intimamente com os processos cogniscitivos do conhecimento assim ela está formulada da seguinte maneira: “O que posso conhecer?”. Talvez também seja lícito formular uma outra: “Como posso conhecer?”. Portanto, tanto o objeto a se conhecer, quanto a maneira de se conhecer será questionado, ou melhor, “julgado” no tribunal da crítica. O sentido da palavra pura reflete a ausência dos pressupostos a posteriores, pois a metafísica atua como limitadora do conhecimento e a preocupação primeira, como podemos ver na questão acima não é o conhecimento em si e sim as possibilidades deste. Percebe-se então que Kant está pensando o transcendental e busca para isso o conjunto das categorias e estruturas a priores que ele acredita ser o caminho para se chegar às respostas das perguntas anteriores. Mas porque não os dados empíricos? Primeiramente é cabal que a necessidade e a universalidade sejam suficientemente quitadas para que o conhecimento tenha algum valor ontológico, por outro lado há uma negação de que o dogmatismo deva prosseguir e também porque “na medida em que deve haver razão nas ciências, algo tem de ser conhecido nelas a priori, e o conhecimento da razão pode ser referido de dois modos a seu objeto: ou meramente para determinar este e seu conceito (que precisa ser dado alhures) ou também para torna-lo real . O primeiro é o conhecimento teórico, o outro o conhecimento prático da razão. Não importa quão grande ou pequeno seja o seu conteúdo, a parte pura de ambos, ou seja, aquelas em que a razão determina o seu objeto de modo completamente a priori, tem de ser exposta antes sozinha, e aquela que provém de outras fontes não tem que ser mesclada com ela...” (Crítica da razão pura, prefácio). Na introdução, logo na primeira frase está claro que o conhecimento começa com a experiência e nenhum conhecimento a precede, a faculdade do conhecimento, então, é despertada pelas impressões dos objetos, a dúvida que aqui fica latente é: se a primeira impressão nos dá a representação do objeto em si. A resposta é negativa pois logo em seguida vem a explicação, que diz ser o conhecimento não totalmente originado da experiência, ou seja, ele (o conhecimento) começa a partir, e não da, experiência. Dessa afirmação consta que há uma estrutura a priori que será descrita em grande parte nesta crítica. Após dividir os juízos em a priori e a posteriori, Kant se ocupará de descreve-los como, ou sintéticos, ou analíticos. Sendo que sintéticos serão aqueles no qual o predicado não se originará da definição do sujeito, já nos juízos analíticos o predicado já estará na definição do sujeito, no primeiro há uma necessidade de conexão entre o predicado e o sujeito pois de outro modo não se poderia liga-los conceitualmente. “ Com efeito, por meio do predicado aqueles (analíticos) nada acrescentam ao conceito do sujeito, mas somente o dividem por desmembramento em seus conceitos parciais que já eram (embora confusamente) pensados nele, enquanto os últimos (os sintéticos) ao contrário acrescentam ao conceito do sujeito um predicado que de modo algum era pensado nele nem poderia ter sido extraído dele por desmembramento algum”. (Crítica da razão pura, introdução) É essa a divisão que fundamentará, não só a primeira crítica mas toda a metafísica kantiana, nela os juízos não serão apenas tratados como ou analíticos, ou sintéticos porém a priori e a posteriori juntamente com eles, ou seja, juízos analíticos a priori etc. Os juízos de experiência são todos considerados sintéticos ao passo que nos (juízos) a prioris podem ser tanto sintéticos quanto analíticos. A partir dessa nomenclatura dos juízos Kant irá pensar a sua estética transcendental na primeira parte da crítica. A primeira parte da obra em questão chama-se “doutrina transcedentais dos elementos” (estética transcendental). O transcendental para Kant é “o conhecimento que se ocupa não tanto de objetos , quanto dos nossos conceitos a priori de objetos” ( idem, p.10, segundo Will Durant em “A história da filosofia” p.257), assim o que é chamado de transcendental são os “nossos modos de correlacionar nossa experiência com o conhecimento (Will Durant, idem)”. Primeiramente aplicamos as formas de percepção (tempo e espaço) às sensações, organizandoas a partir daquelas; depois ocorre a coordenação, através das categorias (formas de concepção), das percepções. A capacidade de receber representações graças à maneira pela qual somo afetados é sensibilidade, a representação que depende de maneira imediata da presença do objeto chama-se intuição (talvez aqui o que está como “intuição” era o que, tendo Will Durant como referência, eu tinha colocado anteriormente como “percepção”) e “o efeito de um objeto sobre a capacidade de representação, na medida em que somos afetados pelo mesmo, é sensação”(Crítica da razão pura, primeira parte). A pergunta aqui então, seria: Como podemos, pelas sensações, construir (obter) intuições? A resposta que é: pela possibilidade dos juízos sintéticos a priori nos remete inevitavelmente a uma outra pergunta, que é a questão chave da filosofia kantiana: Como são possíveis os conceitos sintéticos a priori? -“a saber, intuições puras a priori, espaço e tempo, nos quais, se no juízo a priori quisermos sair do conceito dado, encontramos aquilo que pode ser descoberto a priori não no conceito, mas na intuição que lhe corresponde, a ser ligado sinteticamente àquele. Por esta razão, esses juízos jamais alcançam além de objetos de uma experiência possível.” (Crítica da razão pura, Conclusão da estética transcendental). Dai surge também uma dúvida: de onde vem a certeza kantiana de que os juízos sintéticos a priori nas matemáticas (e outras afins) são realmente a priori? Essa pergunta pode se esclarecer se observarmos que há uma possibilidade especial de abstração desses conceitos ou seja, quando se pensa um triângulo, pensamos consequentemente suas relações, porém como percebemos sinteticamente? Talvez a questão fique resolvida se tivermos em mente que; sendo o espaço uma forma da sensação que há subjetivamente, e a geometria uma parte da matemática que se utiliza de conceitos prioritariamente espaciais (e as vezes unicamente) haverá uma enorme gama de possibilidades nesse sentido. Todavia Kant sofreu diversos ataques referentes a essa questão e um deles veio de um de seus contestadores cujo o nome é Eberhardt. Kant então tentou responder à “Revista filosófica” de Eberhardt com uma pequena obra chamada “Da utilidade de uma nova crítica da razão pura”. Aquele defende a possibilidade do conhecimento especulativo no sentido metafísico a que Kant não aceita de nenhuma maneira, o que pode ser reconhecido na passagem: “O senhor Eberhardt queria demonstrar que se pode perfeitamente ampliar o conhecimento e enriquece-lo com novas verdades sem inquirir que se estamos lidando eventualmente com conceitos vazios, aos quais não haja objetos correspondentes (Afirmativa repugnante ao entendimento humano em estado de sanidade).” (Da utilidade de uma nova crítica da razão pura, Primeira parte). Voltemos então à questão anterior para aborda-la de uma maneira mais completa aos olhos da crítica. Segundo Kant, Hume não admitiria a possibilidade desses juízos sintéticos a priori, porém (para Kant) eles seriam pensados na matemática pura. Daí as perguntas: “Como é possível a matemática pura? Como é possível a ciência pura da natureza?” A possibilidade delas não seria problema pois são realmente “dadas”, mas Kant ainda pensa na objeção a esta ultima e por isso, na nota de roda pé coloca: “Alguns ainda poderiam duvidar desta ultima (da realidade dessas ciências puras) coisa relativa à ciência pura da natureza. Todavia, basta ver as diversas proposições que ocorrem no começo da física propriamente dita (empírica) – como a da permanência da mesma quantidade de matéria, a da inércia, a da igualdade de ação reação etc. – para logo se convencer de que perfazem uma physicam puram (ou racional) que, como ciência especial, bem merece ser erigida separadamente em toda a sua extensão, seja esta restrita ou vasta.” (Crítica da razão pura, introdução) ao passo que a metafísica não poderia ser vista até aqui (até esta crítica) da mesma forma, entretanto, o homem evolui até perguntas que são impostas à razão, e esta não obstante não pode responde-las, a pergunta então que se colocaria neste caso é: “Como é possível a metafísica natural? ou seja, como surgem da natureza da razão humana universal as perguntas que a razão pura levanta para si mesma e que é impelida a responder, tão bem quanto pode, por sua própria necessidade?”(idem) São essas as perguntas que juntamente com Hume levaram Kant a escrever esta obra pois ela (a crítica) seria o fundamento de uma ciência que às responderiam. Conclusão O trabalho não pretendia ser um documento suficiente e nem mesmo introdutório mas sim, apenas uma pequena citação sobre Immanuel Kant. Visto que o objetivo proposto na introdução era o de localizar os fundamentos da Crítica da razão pura, não poderia assim estar completo neste sentido, entretanto foi possível analisar esses fundamentos no sentido mais geral e citar as perguntas que perfizeram essa obra como um monumento filosófico capaz de delinear todo um século de pensamento. Kant talvez não tenha fracassado então, sua expectativa de revolucionar a metafísica assim como aconteceu na física após Copernico foi concluída, as saídas porém com vista já na modernidade não foram tocadas e o modelo sujeito/objeto permaneceu, Kant não percebeu porém que sua obra era mais desconstrutora (dava mais alternativas à descontruir a tradição) do que positiva (no sentido de dar origem a uma ciência metafísica) por isso sua obra continuou como símbolo da modernidade e do iluminismo de sua época, o que pode ser retratado nesta passagem de Humberto Eco: “Naturalmente, condição indispensável para uma ética intelectual iluminista é de estarmos dispostos a nos submetermos à crítica, não somente a cada crença, mas, inclusive ao que as ciências nos oferecem como verdades absolutas.” Bibliografia Châtelet, F.: A História da Filosofia (volume 5), Paris, 1973. Durant, Will: A história da filosofia, Trad.: Luiz Carlos do Nascimento Silva; Coleção: Os Pensadores, São Paulo, Nova Cultural, 2000. Pe. Edmundo H. Dreher, S. J.: A impossibilidade da metafísica na crítica da razão pura, Coritiba, 1959. Kant, I.: Crítica da Razão Pura, Königsberg, 1787. Tradução da coleção: Os Pensadores, Ed. Nova cultural, São Paulo, 1999. Kant, I.: Da utilidade de uma nova crítica da razão pura (resposta à Eberhardt), Trad. Introdução e notas: Márcio Pugliesi & Edson Bini. São Paulo, Hemus, 1975. Zingano, M. A.: Razão e História em Kant, São Paulo, 1988. Teoria da Justiça segundo Rawls e Nozick O presente texto é uma exposição das teorias de Rawls e Nozick sobre a justiça. Estas teorias serão, no entanto, tratadas de forma separada e resumidas. Teoria da justiça de Rawls (justiça como eqüidade). Rawls demonstrará suas argumentações sobre a justiça atravéz da idéia de eqüidade, levando em conta, principalmente o sentido social dos termos. No início de sua tese, estão colocados como objetivos, a descrição do papel da justiça na cooperação social e de uma síntese do sujeito fundamental da justiça: “a estrurura básica da sociedade”. Os pressupostos para dissestarção sobre o papel da justiça, serão, antes de mais nada, a consideração da sociedade como uma associação auto suficiente e que tem, como uma de suas características, uma possibilidade de relações entre as partes que se baseiam em vantagens mútuas. Assim sendo, as inter-relações só serão tidas como conflituosas, quando as pessoas deixam de ser indiferentes. As vantagens mútuas existirão até o momento em que a “cooperação social torna possível uma vida melhor para todos, melhor do que a que cada um levaria se tivesse que viver exclusivamente de seus próprios esforços”(O contrato social ontem e hoje, in.156). Os princípios de justiças estarão, então, bastante ligados às nessecidades de exclusão dos conflitos, sendo eles (os princípios) que determinarão os direitos e deveres dos indivíduos, resultando assim na partilha das vantagens e também das desvantagens. Após definir os termos do papel da justiça, Rawls se oculpa do conceito de sujeito da justiça. Segundo sua teoria, a estrutura básica da sociedade será o principal tópico da justiça social, sendo definida por ele como: “a maneira pela qual as principais instituições sociais distribuem os direitos e deveres fundamentais e determinam a partilha dos benefícios da cooperação social. Por instituições principais, entendo a constituição política, e os principais entendimentos econômicos e sociais”. (idem in.157) Porém o fato desta estrutura conter diferentes segmentos e posições implicará na diferenciação das espectativas de vida, obrigando aos princípios de justiça a se orientarem conforme essas diferenças. A busca principal desta tese, é acima de tudo, formular um conceito de justiça que generalize a teoria do contrato social, para isso é colocado como essencial a não consideração do contrato original como um contrato para entrar numa sociedade particular, ou para iniciar uma forma particular de governo. Nesse caso o objeto do acordo original deveria partir dos princípios de justiça. Princípios estes que seriam adotados por pessoas livres e racionais, que por sua vez, tenriam comuns interesses e estariam em situação de igualdade. Este contrato é chamado por Rawls de “justiça como eqüidade”, e a situação em que as pessoas o escolheriam, de “véu de ignorância”. A posição original em que se encontraria tais pessoas é dado como estado de natureza e segundo o autor é definida como sendo da forma mais filosófica possível, com vistas à sua utilidade na teoria de justiça. O contrato social ingüístic também que as pessoas participantes do proceso de formação e estruturação dos princípios de justiça, estariam sob um “véu de ignorância”, no qual não poderiam ter o conhecimento de que camada social viriam a ocupar, nem algum tipo de particularidade que levassem ao desacordo após a adoção dos princípios. Contudo,esse contrato tem apenas um valor hipotético, sendo utilizado pela capacidade dele sucitar uma reflexiçào filosófica. A partir dessa teoria sobre a estruturação da sociedade é que surgem, enfim, os conceitos dos dois princípios de justiça, que serão: “Primeiro – cada pessoa deve ter a mais ampla liberdade, sendo que essa última deve ser igual à dos outros e a mais extensa possível, na medida em que seja compatível com uma liberdade similar de outros indivíduos. Segundo – as desigualdades econômicas e sociais devem ser combinadas de forma a que ambas (a) correspondam à expectativa de que trarão vantagens para todos, e (b) que sejam ligadas a posições e a ingüí abertos a todos.”(idem in.163). Percebe-se claramente que este dois princípios direcionam a sociedade à igualdade de direitos e de deveres entre os indivíduos, tal igualdade será tratada por Nozick em sua crítica à teoria de Rawls. A justiça distributiva segundo Nozick. Nozick começa sua teoria da justiça destributiva com a afirmação: “O Estado mínimo é o mais extenso que se pode justificar”(Anarquia, estado e utopia). Ou seja, segundo o que se pode concluir dessa afirmação, Nozick, está afirmando, antes de mais nada, a estabilização da sociedade através de sua própia natureza. Essa afirmação também irá de encotro diretamente à teoria de Rawls, porém o capítulo que será analizado neste trabalho tratará da tentativa de jusitificação de um Estado mais amplo. O sentido do termo “disribuição” é neutro, e não se pode relacionar este com um sistema de distribuição central, ou com uma proposta de redistribuição, pois temos como resultado total, um conjunto de muitas decisões particulares que os indivíduos tem direito a tomar. Portanto não se está tendo em mente, agora, o contrato social e sim um sistema mais “ ingü” de acordos do entendimento de propiedade justa. Por isso Nozick irá, após a ingüísticos de suas propostas, se ocupar da teoria da propiedade, em outros termos, do problema da aquisição inicial das propiedades (a aprpopiação do que antes in se ingüís). Dentro dessa idéia de propiedade, haverá também a questào da transferência de posses de uma pessoa para outra. Assim estes dois conceitos remeterá a teoria à uma ingüísti dos princípios de propiedade e de sua respectivas possibilidades de transferências. Sendo eles (os princípios) então definidos da seguinte maneira: “1. A pessoa que adquire uma propiedade de acordo com o princípio de justiça na aquisição tem direito a essa propiedade. 2. A pessoa que adquire uma propiedade de acordo com o princípio de tranferência, de alguém mais com direito à propiedade, tem direitos à propiedade. 3. Ninguém tem direito a uma propiedade exceto or aplicações (repitidas) de 1 e 2.” Outras questões tão importantes quanto estes princípios serão, o da reparação da injustiça junto a propiedade e os princípios históricos e de resultados finais. É inerente a essas questões que se encontram o conceito de merecimento sendo este surgido de alguma particularidade de um certo indivíduo, no caso do texto estudado. Primeiramente a historicidade é fundamental à teoria de justiça do direito, e, segundo Nozick: “Em contraste com os princípios de justiça de resultado final, os princípios históricos de justiça sustentam que circunstâncias ou ações passadas podem criar direitos diferenciais ou merecimentos diferenciais às coisas.” Sobre o tópico do estabelecimento de padrões, temos, que os pricípios de direito à alguma coisa não é padronizado, ou seja, não há uma linha comum entre a questào dos direitos e das propiedades, sendo assim, o segundo não pode ser considerado através de uma idéia de distribuição-padrão. Outros detalhes desse assunto estão muito próximos à teoria da produtividade marginal, e rementem, em todo caso ao fator: ingüísticos inicial. Esse problema será considerado por Nozick em função da seguinte máxima: “De cada um segundo o que ele resolver fazer, a cada um segundo o que ele faz por si mesmo (talvez com ajuda contratada de outros) e o que os outros resolvem fazer por ele e dar-lhe parte daquilo que recebem antes (de acordo com esta máxima) e ainda não gastaram ou transferiram.” Ou desta (mais resumida): “De cada um, como eles escolherem, a cada um, como foram escolhidos.” Depois desta colocação Nozick irá se direcionará ao tema da liberdade como pertubadora dos padrões, desta forma ele irá destacar um exemplo explicativo, que é o caso do jogador de basquete que, por livre decisão dos torcedores irá receber uma gratificação diferenciada. A questão aqui sugerida, será a que, se realmente é justo que exista uma liberdade total das propiedades para uso dos indivíduos. Esse exemplo também sucitará a questão de que nenhum princípio de estado final ou distributivo pode ser continuamente implementado sem interferência continua na vida das pessoas, o que se terá então em vista é que poderá haver uma nessecidade de redistribuição constante, falando-se de outra maneira, haverá uma relativa diminuição da liberdade sobre os bens da divisão primeira fazendo com que as pessoas percam o direito fazer aquilo que se quer com aquilo que se tem. As idéias colocadas por Nozick estão claramente ligadas às teorias de contrato social, sendo por um lado uma analize e por outro uma crítica aos seus termos. Um dos autores a que Nozick irá se referir de maneira direta é o Rawls, onde criticará principalmente a posição adotada por este sobre a cooperação social e a propiedade dos dotes, contudo as argumentações da teoria da justiça distributiva em Nozick estão quase sempre ligados às ingüísticos da justiça como eqüidade. Assim Nozick adotará, em seu tópico dedicado diretamente a Rawls, várias argumentaçõe que a seu ver não podem justificar a teoria deste, como por exemplo no trecho: “1. Aspessoas tem direito a seus dotes naturais. 2. Se as pessoas tem direito a alguma coisa, elas têm direito a tudo que decorre dela (através de tipos especificados de processos). 3. As propiedades das pessoas decorrem de seu dotes naturais. Logo, 4. As pessoas têm direito às suas propiedades 5. Se as pessoas têm direito a alguma coisa então devem tê-la (e isso elimina qualquer presunção de igualdade que possa haver sobre propiedades).” Outro ponto tocado por Nozick é o da posição inicial relativa ao véu de ignorância que segundo suas teorias é ineficaz a partir do momento em que seu valor é fictício. Nozick finalizará suas exposições redefinindo o que foi dito ao início, ou seja, que o Estado mínimo é o estado mais extenso que pode ser justificado e que não há argumentos que justifiquem, através dos princípios de justiça distributiva, um Estado maior. Leviatã (Hobbes) e o Segundo tratado sobre o governo (Locke) Data:10/05/00 A presente avaliação tem como tema principal os aspéctos mais relevantes das teorias do estado de natureza e estado civil segundo Hobbes e Locke. Será, desta forma, tratadas, primeiramente, de maneira separada e depois, em relação uma com a outra. As premissas usadas pelos autores em questão são, em muitas vezes um tipo de ferramenta para que haja um melhor entendimento do que seja estado civil ou de natureza. De fato, a historicidade das teorias remeteriam os seus formuladores a uma espécie de verificação predominantemente histórica, fazendo assim com que o conteúdo político se rendesse à um méro tópico desse trabalho, o que não viria ao caso. Sendo assim, começaremos pelo que foi elaborado por Hobbes. Hobbes escreverá suas obras sob a influência dos reflexos dos problemas políticos vivido com os reis Suarts, entre elas (as obras) figuram: Da natureza humana, Elements of law(1964) e Leviatã (1650). Essas obras tratará de características dos sistemas físicospsicológicos e antropológicos, e de uma política moral de cunho absoluto. Para Hobbes, o estado de natureza é constituído por um estado de guerra, isso se da por vários motivos . Primeiramente é colocado ao homem, uma situação de igualdade perante seu semelhante, essa igualdade é tambem atribuida ao fato de que os homens tem iguais esperanças de atingir os fins, dado que, qualquer ser humano pode reclamar, em mesma intencidade, aos direitos reclamados pelo homem que se julgar mais forte, ou mais sábio, tendo em vista que, não havendo um árbitro equidistante entre as partes que reclamam, não haverá, tambem um acordo no qual se tenha uma estabilidade entre os concorrentes. Outro ponto colocado em evidência é o fato de que os indivíduos naturalmente não podem tirar prazer da companhia de outros indivíduos, porque a existência do subjetivismo como um valor em si, produz um tipo de autovisão que certamente não corresponde a visão que esse outro terá, não podendo assim haver uma comunicação sustentável que seja bilateral em relação aos participantes, ou seja, para Hobbes, o fato de não se poder concordar com a autoavaliação ou mesmo pela impossibilidade de conhece-la (no caso aqui, de um outro ser humano conhecer, e não, de si) , faz com que a companhia dos outros apareça como algo incoveniente. Essas são apenas duas (a competição e a desconfiança) das tres causas de discórdia. A terceira, que irei decrever logo mais, é a glória. A ben-aventurança é tida como causa da discórdia por fazer com que os homens, pelos mais insignificantes motivos, tenham a necessidade de competir em nome da honra como um tipo de respeito. Porem o estado de guerra não é necessariamente definido apenas por lutas ou similares, como é possivel observar no fragmento: “...uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens. Pois a guerra não consiste apenas na batalha, ou no ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar batalha é suficientemente conhecida.” Laviatã (pag.75) Pelo que foi acima exposto, fica evidente o por quê de ser, o estado de natureza analizado por Hobbes, um estado de guerra. Em Locke, o estado de natureza é um estado de perfeita liberdade e igualdade, no qual existe e atua a lei de natureza. A liberdade advem de uma associação com a lei de natureza, a igualdade é resultado de uma ausência do direito de impor uma superioridade em relação ao próximo. Da lei natural pode-se afirmar que há uma certa obrigação “moral”, cuja a base esta fixada na lei da razão que determina o “não prejudicar”. Neste estado, a execução da lei de natureza está nas mãos de todos e portanto, o poder de jurisdição cabe a qualquer um que venha se sentir com precisão de tal. O problema, então, parte do controle ou equidade das penas que podendo, pelo que foi exposto, ser de proporções não convenientes, permite que se diferencie as opiniões entre os que apoiam o acusado com a dos acusadores (no caso de serem vários). O direito de castigar e o de reivindicar a reparação está diretamente ligado ao fato de que os homens no estado de natureza são livres e iguais, e portanto poderem transgredir e prejudicar a outrem, pois se não fosse possivel ser assim, não haveria necessidade do direito de castigo, nem tão pouco, do de reparação. Daí vem que, em Locke, o estado de natureza já está desde o início, potencializado a se tornar um estado civil, porem não da mesma forma como em Hobbes, pois neste, o estado de natureza é em si um estado de guerra, e naquele o referido estado é mais estável, tendo em princípio uma noção de igualdade e liberdade vinculada a lei de natureza. A passagem das formas de relações dos individuos de natural para o social, se dá por causa de certas imperfeições que existem intrínsecos ao primeiro, e que por justificativa tendem a uma forma artificial e elaborada ao sabor da coveniência. Primeiramente em Hobbes, a passagem (nesse caso pode-se entender passagem como uma das condições de separação, ou como diferença entre os dois estados), se dá quando um homem, ou melhor, um grupo de homens (que estão em poder dos direitos de todas as coisas) renunciam a esse direito “com a mesma liberdade que aos outros homens permite em relação a si mesmo.”Leviatã (pag 79). Isso quer dizer que cabe a esses homens, fazer valer um contrato em que todos estejam de acordo e em posição de uma posse (o estado os possui, em parte, por que este será senhor ou juiz de toda a arbitrariedade que existia no estado natural), de fato, o sujeito em questão pertencerá à comunidade que o representar. Essa tranferência se dá em nível de todos (menos um)direitos naturais. Em locke, a questão da instabilidade do estado primeiro, é resultado da igualdade e liberdade como limite da lei de natureza ou seja como um ponto que possibilita a transgreção dessa lei desequilibrando assim o uso dos direitos, que por conseguinte causa a ameaça da liberdade natural e leva o homem a buscar sempre a retalhiação que lhe convir. Da mesma forma que em Hobbes, raciocinando do ponto de vista em que é necessário haver um ponto do relativismo que seja comum e que concorde com as partes que brigarem entre si por uma arbitragem ao seu favor, será tambem em Locke, porem, esse pacto remete a um laço civiljurídico, que terá como objetivo principal o limite e a segurança da propiedade. Mesmo assim, não é qualquer pacto que modifica o estado de natureza para um estado civil, dessa forma os homens podem, entre si, formularem pactos que permitam a continuidade do estado de natureza. Apenas o pacto em conjunto com intenção de comunidade é que forçará uma saída desse estado. A diferença entre os dois contratualistas em questão, resulta principalmente da consideração deles sobre os direitos renunciados em favor da sociedade civil, pois, enquanto um (Hobbes), coloca que os homens renunciam a todos (menos um) direitos naturais, enquanto Locke, evidencia o direito executivo como o único a ser realmente alienado pelo individuo. A sociedade civil, segundo o Leviatã, existe apenas, se existir um soberano que seja absoluto, esse soberano agirá conforme, não à vontade própia exclusivamente, mas sua vontade será a vontade de cada um e portanto do própio corpo social, sendo esse o “remédio” da instabilidade do estado natural. Conforme se justifica na passagem: “A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-los das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança...é conferir toda sua força e poder a um homem, ou a uma assembleia de homens...” Leviatã (pag.105) Locke começa explicando a sociedade a partir da união homem-mulher, passando pela sucessão com filhos e filhas e chegando a um arranjo mais complexo onde coexiste o interesse mutuo de continuidade da espécie, já em um nível mais abrangente, o estado civil será regido principalmente pela soberania do poder legislativo. “Os que estão em um corpo, tendo lei comum estabelecida e judicatura-para a qual apelar-com autoridade para decidir controvércias e punir os ofensores, estão em estado civil uns com os outros...”. Segundo tratado sobre o governo (pag.67) Mas o estado civil não sendo perfeito tem as suas dificuldades que, dependendo da teoria será mais, ou menos crucial na estabilidade deste estado ultimo (civil). Para Hobbes um desses problemas será o de sucessão do soberano, dado que na ausência deste, a sociedade pode figurar um estado de natureza e portanto dificultar um possível acerto em relação à continuidade do contrato. Normalmente essa sucessão se resouve por um acordo firmado antes do fim do mandato do soberano, mas quando isso não acontesse, torna-se possível uma volta ao estado de natureza, que por sua vez durará até o estabelecimento de um novo soberano. Podemos dizer que em Locke o problema, do civil se dá tambem como em Hobbes, pelo fato de que entre os soberanos não é possivel um acordo pré-estabelecido, que assegure o direito de propiedade entre as nações, assim, mesmo por se tratar de um poder legislativo, ou seja, mais abstrato que em Hobbes, a segurança como totalidade não se dá, por isso, podemos dizer que tanto em Hobbes como em Locke, a preferência de um estado civil é uma preferêcia do tipo mais cômoda, mais que do tipo valorativa. Entrevista 1: Questões referentes ao livro “O ser e o nada” de Jean-Paul Sartre. (A) Como você entende o conceito, proposto por Sartre, de uma “ontologia fenomenológica”? Como vê as diferenças entre esta e a ontologia tradicional, de acordo com seus conhecimentos? A noção de “ser”, não é tão completamente abstrata como para ser indiferente a métodos particulares de acesso, tais como a fenomenologia? Quais seriam as vantagens de um acesso fenomenológico à questão do ser? Res.: A proposta de Sartre é uma espécie de ontologização das estruturas e modos (das estruturas dos modos ou dos modos da estrutura) do ser com base na fenomenologia. Essa fenomenologia, segundo o autor de “o ser e o nada”, é uma boa alternativa contra o dualismo sujeito/objeto, interior/exterior, etc... “As aparições que manifestam o existente não são interiores nem exteriores: mesclam-se, remetem todas as outras aparições e nenhuma é privilegiada.” ( O ser e o nada, introdução, I ). Tal método, escolhido por Sartre, indica a influência do filosofo Husserl que tentou, pela fenomenologia, uma cientificação da filosofia. A fenomenologia tal como Husserl a idealiza, procura encontrar além das sedimentações culturais utilitárias, lingüísticas, etc, a camada perceptível originária. A fenomenologia pretende ser, por essência, a filosofia fundamentada no dinamismo intencional de uma consciência sempre aberta, tal fundamentação sendo antecedente a todo e qualquer sistematização. Isso se dá porque a fenomenologia fundamenta a filosofia no devir, ou seja, considerando o âmbito temporal, o que não ocorre em outros ramos do conhecimento. Veremos mais adiante que a ontologia fenomenológica proposta por Sartre, faz uma referência ao título primeiro da obra sendo o “ser” o ontológico e o “nada” o fenomênico. A superação do dualismo, porém, não se dá de forma completa como bem observou Sartre, pois ainda resta o dualismo infinito/finito. “O existente, com efeito, não pode se reduzir a uma série finita de manifestações, porque cada uma delas é uma relação com o sujeito em perpetua mudança.” (O ser e o nada, introdução, I). A fenomenologia entretanto, captaria o fenômeno dentro dessa perpetua mudança substituindo assim a realidade da coisa pela objetividade do fenômeno. Assim Sartre não só tenta sustentar que a ontologia é fenomênica com também que os fenômenos são ontológico. “A aparição não é sustentada por nenhum existente diferente dela: tem o seu ser próprio ( O ser e o nada, introdução, II ) e “...a essência, como razão da série, é definitivamente, apenas o liame das aparições, ou seja, é ela mesma uma aparição.” ( O ser e o nada, introdução, I). (B) O Ser é apresentado por Sartre com as características do ser-em-si. Acha legítima esta apresentação? Justifica Sartre, em algum momento, a maneira de obtenção dessas características do ser? (como se sabe que o ser é em-si, que é o que é, etc?). Se tivéssemos uma outra concepção do ser o resto da análise sartreana deveria ser modificada? Resp: A apresentação do Ser com as características do ser em-si é legítima diante de uma solução do tipo sartreana onde as soluções idealistas e realistas não são próprias. O Ser não é ativo nem passivo, características que remetem à condutas humanas e que por outro lado não é o caso de serem levados ao absoluto. É estranho, porem não incoerente, que Sartre caracterize o Ser como, além da afirmação e da negação e, da atividade e passividade. Pois parece que está colocado como ser-para-sertranscendido. Entretanto fica mais claro diante da negação da relação a si deste ser, ou seja, o ato afirmativo, negativo, etc, é concebido por Sartre como distinto da coisa afirmada, negada, etc. o ser-em-si portanto não é aquele que é tomado diante de uma consciência (o noema na noese) logo “o ser não é relação a si, ele é si”, pleno de si, afirmação e não o que se pode afirmar, o ser não se afirma. Assim Sartre justifica que o ser é em-si. Essa justificação, quando tomada radicalmente, parece não ser suficiente, pois é tomada de um ponto de vista dual, ou seja, Sartre enquanto ser para-si, ou como Sartre afirmou pelos problemas lingüístico, que em todo caso é referencial, e não capta um si puro como pretende Sartre. “Mas se o ser é em si, significa que não remete a si, tal como a consciência (de) si: é este si mesmo. A tal ponto que a reflexão perpétua que constitui o si funde-se em uma identidade. Por isso o ser está, no fundo, além do si, a nossa primeira fórmula não pode ser senão uma aproximação, devido às necessidades da linguagem.” ( O ser e o nada, pg. 38)O ser para-si é o nada e o ser para-outro um outro tipo de nada. O ser da consciência é outro em relação ao fenômeno e é por isso que Sartre trata, primeiramente, de maneira não relacionada cada um deste. “ Em particular, as reflexões precedentes permitiram distinguir duas regiões absolutamente distintas e separadas de ser: o ser do cogito pré-reflexivo e o ser do fenômeno. Mas ainda que o conceito de ser tenha a particularidade de cindir-se em duas regiões incomunicáveis, é preciso explicar como ambas podem colocadas sobre a mesma rubrica” (introdução, VI) Com relação à segunda questão, Sartre não justifica completamente. “Os aspectos que nos são revelados presumem outras significações que precisamos compreender e determinar posteriormente” (introdução, VI). Portanto as justificações não são todas anteriores à abordagem do ser em si. Outra tentativa de justificação é a negação ao criacionismo, que nega o ser como concebido em uma subjetividade divina (o que lhe impede até mesmo a representação da objetividade). Mesmo considerando a existência de Deus o ser não poderia ser sustentado dentro de uma concepção criacionista, mas na continuação dessa idéia Há um problema, pois Sartre afirma: “mesmo se houvesse sido criado, o ser-em-si seria inexplicável pela criação.” (O ser e o nada,. Introdução VI, in. 37). Sartre não impossibilita portanto a criação e sim uma explicação a partir desta. Poderia então haver a impossibilidade de se conhecer algo (algum fenômeno – a criação) mesmo se esse algo ou fenômeno existisse. Logo Sartre ao tentar dar justificativas para uma não crença no criacionismo, está, ao mesmo tempo, negando a sua refutação ao idealismo. Assim como acontece em qualquer teoria metafísica, um para-si, para que entenda o modo de ser do ser (em geral), precisa de uma espécie de teoria do conhecimento que permita ao para-si fazer tais inferências. Posteriormente Sartre tratará desse assunto segundo as relações que o para-si mantém com o em-si. É portanto a fenomenologia, enquanto superação do dualismo ato/potência que permite dizer o ser como sendo ser em-si. O ser como sendo ser em-si, entretanto, e tendo as características respectivas do ser em-si (é o que é, opaco, pleno de si, etc) remonta a uma idéia clássica do ser. (C) De que maneira justifica Sartre o surgimento do nada no mundo a partir de “condutas negativas”? Por que a negação judicativa deve ser posterior a essas condutas? Lhe parecem convincentes esses argumentos? Não parece uma abordagem puramente psicológica da questão do ser (e do nada) ? Res.. “Interrogar a experiência, como Kant, acerca de suas condições de possibilidades, ou efetuar uma redução fenomenológica, como Husserl, que reduzirá o mundo ao estado de correlato noemático da consciência, será começar deliberadamente pelo abstrato” (O ser e o nada, pg. 43, 44). A interrogação é um exemplo de conduta negativa. Mas será que podemos encara-la de um modo objetivo? Essa conduta presume dois seres: o interrogado e o interrogador, e não é um tipo de relação primitiva, primeiramente Sartre a coloca como uma relação limite que remete a uma espera (a resposta). Dentro desse ponto de vista é o nada que sustenta essa construção, a partir de uma interrogação como sendo a possibilidade de duas respostas opostas uma a outra (sim e não), há sempre uma possibilidade do tipo: não, nunca, nada, ninguém, etc, em uma resposta. “Colocamos primeiramente a questão do ser. Depois, voltando a esta questão, concebida como tipo de conduta humana, passamos a interroga-la. Concluímos então que , se a negação não existisse, nenhuma pergunta poderia ser formulada, sequer, em particular a do ser. Mas essa negação, vista mais de perto, remeteu-nos ao nada como sua origem e fundamento: para que haja negação no mundo e, por conseguinte, possamos interrogar sobre o ser , é necessário que o nada se dê de alguma maneira. Compreendemos que não se podia conceber o nada fora do ser, nem como noção complementar e abstrata, nem como meio infinito onde o ser estivesse em suspenso. É preciso que o nada seja dado no miolo do Ser para que possamos captar esse tipo particular de realidades que denominamos Negatividades. Mas esse nada intramundano não pode ser produzido pelo ser-em-si: a noção de Ser com plena positividade não contém o nada como uma de suas estruturas. Sequer pode-se dizer que o Nada seja excludente do Ser: carece de qualquer relação com ele.”( O Ser e o nada, pg. 44) Se por um lado a possibilidade de uma resposta que seja uma negação aparece com a interrogação, a revelação dessa negação não poderia ser dado pelo ser (em-si). “Assim a interrogação é uma ponte lançada entre dois não-seres: o não-ser do saber, no homem, e a possibilidade de não-ser, no transcedente”(o Ser e o nada, pg. 45) (O não-ser, no transcedente é uma negação não própria do transcedente, como pode-se observar no trecho da pg.44) O não-ser do transcedente, entretant, em última análise, um nãoser meu, vindo de uma negação judicativa com respeito ao em-si. Por fim, há um terceiro não-ser que é o não-ser limitador pressuposto da verdade da resposta. Pela observação da espera mais uma vez Sartre se aproxima de um idealismo, pois minha espera é uma espécie de não conhecimento do mundo e é a partir desse não conhecimento que surgem as possibilidades das negações judicativas. Da mesma forma, a espera a espera é anterior dado que se eu não tivesse colocado a possibilidade de ser de uma maneira, o mundo não me daria motivos para as negações. A negação, consequentemente, não provem da pura subjetividade (escapando Sartre mais uma vez do idealismo), tem de haver para tanto uma relação frente ao Ser. Portanto as abordagens sobre condutas negativas também são abordagens sobre a descrição homem-no-mundo. Através da descrição homem-no-mundo, então se poderá chegar às respostas das seguintes perguntas: 1º ) Qual a relação sintética que chamamos ser no mundo? 2º ) Que deve ser o homem e o mundo para que seja possível a relação entre eles? Voltando à questão da negação, Sartre parece incoerente quando diz ser a negação judicativa apenas posterior à interrogação, ou às condutas negativas, pelo que ele próprio havia posto (uma espera de resposta anterior a uma resposta). (D) De acordo com as leituras feitas até agora, como você vê as relações entre para-si e em-si? Lhe parecem bem caracterizadas estas relações no texto de Sartre? Res. Na tentativa de Sartre de superar a dualidade sujeito/objeto, aparece uma dualidade do tipo para-si/em-si, que por sinal, não é a mesma que a anterior pois essas duas “regiões” do ser são ontologizadas e não podem ser tomadas nem em um sentido realista nem idealista propriamente dito, mas fenomenológico. O ser para-si (é o que não é e não é o que é) não contem nada do em-si (pois este é o que é), assim o título de sua obra pode ser entendido como uma referência ao em-si (ser) e ao para-si (nada). “Em particular, as reflexões precedentes permitiram-nos distinguir duas regiões absolutamente distintas e separadas do ser”(Pg.36) “O primeiro passo de uma filosofia deve ser, portanto, expulsar as coisas da consciência e restabelecer a verdadeira relação entre esta e o mundo, a saber, a consciência como consciência posicional do mundo. Toda consciência é posicional na medida em que se transcende para alcançar um objeto, e ela esgota-se nesta posição mesma: tudo quanto há de intenção na minha consciência atual está dirigido para o exterior, para a mesa; todas as minhas atividades judicativas ou práticas, toda a minha afetividade do momento, transcendem-se, visam a mesa e nela se absorvem. Nem toda consciência é conhecimento (há consciências afetivas, por exemplo), mas toda consciência cognoscente só pode ser conhecimento de seu objeto.” (pg.22) Esse trecho nos permite ver que Sartre considera a consciência como sendo vazia ou seja não há objetos na consciência e sim objetos para consciência. Por outro lado revela um certo método cartesiano dado a necessidade de se “deve expulsar as coisas da consciência” primeiramente. O para-si nadifica o que aparece, pois o em-si sendo pleno e pura positividade não poderia apresentar uma nadificação pura. “Pode-se objetar que o ser-em-si não fornece respostas negativas. Não dizíamos estava alem da afirmação e da negação? Além disso, a experiência trivial, reduzida a si, parece não revelar qualquer não ser. Penso que há na minha carteira mil e quinhentos francos, mas só encontro mil e trezentos: pode-se afirmar que a experiência não revelou em absoluto o não-ser de mil e quinhentos francos, mas apenas que contei treze notas de cem francos. A negação própriamente dita é atribuível a mim: só apareceria em nível de um ato juticativo pelo qual estabeleço comparação entre o resultado esperado e o resultado obtido.”( pg.46). O objeto aparece “para” uma consciência, ser então é aparecer. A consciência é da dimenção pré-reflexiva, o mundo então, é para uma consciência não pela consciência. Está é uma de suas críticas ao idealismo. O homem é para o ser um hóspede inesperado, o ser em-si está aí ele é o seu si. Mas não há possibilidades nesse em-si. O homem surge e traz consigo uma porção de condutas nadificantes . E é através do homem que o em-si se fundamenta. “...a consciência obtém de si própria seu ser consciente e só pode remeter a si mesma, na medida em que é a sua própria nadificação: mas o que se nadifica em consciência, sem que possamos considerá-lo fundamento da consciência, é o em-si contigente. O em-si não pode fundamentar nada; ele se fundamenta a si conferindo a si a modificação do para-si. É fundamento de si na medida em que já não é em-si; deparamos aqui com a origem de todo fundamento. Se o ser-em-si não pode ser seu próprio fundamento nem o dos outros seres, o fundamento em geral vem ao mundo pelo para-si. Não apenas o Para-si, como Em-si nadificado, fundamenta a si mesmo, como também surge com ele, pela primeira vez, o fundamento.” (pg. 131). Porém Sartre só diz como o Em-si aparece ao Para-si, não diz como o Em-si é em si mesmo. No caso, dizer que o Em-si é pleno, é o que é, etc, não pode ser considerado como o Em-si em si mesmo dado que não há um ponto de vista que permita fazer tal abordagem. Mas Sartre está justificado a tratar do Em-si nesses termos pois, como ele pretende não é possível um Em-si por si mesmo dado que ele não é o seu próprio fundamento. Apesar de nenhuma maneira de ser ser pela outra, há um certo tipo de dependência, pois se o Em-si desaparecesse o Para-si também desapareceria. (E) As “estruturas imediatas do para-si” (presença a si, facticidade, falta, valor, possibilidade, etc) não lhe parecem internamente vinculadas umas com as outras, ou dependentes de outros conceitos mais básicos da filosofia sartreana? Não poderia dizer-se, por exemplo, que todas elas não são outra coisa do que maneiras alternativas de expor a noção de “nada” ( um nada sintético, um nada “sido” por um particular tipo de ser)? Res. As estruturas imediatas do Para-si “parecem realmente que estão vinculadas umas com as outras” e de uma certa maneira são modos de exposição do “nada” e por isso já haveria um vínculo comum entre elas. A presença a si, ou melhor, a “consciência não-tética de (de) si” é descrita de modo a se obter a necessidade da consciência não ser o que é e ser o que não é. No ser (Em-si) não há dualidade, ou seja, distância de si a si. O ser-em-si é pleno, não há nele o menor vazio. Na consciência ocorre o contrário, é impossível se ter coincidência consigo mesma, pois a consciência é descompressão de ser. Para um ser-em-si, (como por exemplo uma mesa) o aparecimento se dá por si mesmo, isso não se dá por exemplo com uma crença, porque esta não é simplesmente uma crença, e sim consciência (de) crença. Tomando como referência Husserl, que colocou o fato de “ser vista” como modificação do “Erlebnis” conclui Sartre que “...o fato de minha crença ser captada como crença, já não é apenas crença, ou seja, já não é mais crença.” (pg. 123). Todavia, consciência (de) crença é consciência (de) crença e “...somente a consciência reflexiva pode dissociar-se daquilo que é a consciência refletida.” (pg.123), e daí que: “A consciência de crença, não se distingue da crença, mesmo a alterando. Isto não quer dizer que “consciência é consciência” e “crença é crença”. “Cada um dos termos remete ao outro e passa pelo outro” (pg. 124) A crença por conseguinte, só pode existir perturbada, e escapa de si mesma desde a origem. “ O si representa, ... , uma distância ideal na imanência entre o sujeito e si mesmo, uma maneira de não ser sua própria coincidência, de escapar à identidade colocando-a como unidade, em suma, um modo de ser em equilíbrio perpetuamente estável, entre a identidade como coesão absoluta, sem traço de diversidade, e a unidade enquanto síntese de uma multiplicidade. É o que chamamos de presença a si. A lei de ser do Para-si, como fundamento ontológico da consciência, consiste em ser si mesmo sob a forma de presença a si.” (pg. 125) A presença contém uma dualidade, o que implica “desgarramento entre si e si. O ser-emsi não representa a si, não é dual, a consciência o é, esse desgarramento pressupõe que uma fissura impalpável deslizou pelo ser (pg.126). Daí, consequentemente, se respondermos à pergunta: “que é que separa o sujeito de si mesmo?” Teremos a afirmação do questionário, ou seja, “uma maneira alternativa de expor o nada”. A facticidade é uma espécie de lançamento contigente no mundo, “abandono em uma situação” que acaba trazendo a tona a seguinte questão original: “Por que este ser é assim e não de outro modo?” (pg.128). E assim, há algo no ser que não é o seu fundamento. “O sentido muito claro de que o ser que possui em si a idéia de perfeição não pode ser seu próprio fundamento, pois, se o fosse, teria se produzido em conformidade com essa idéia. Em outras palavras: um ser que fosse seu próprio fundamento não poderia sofrer o menor desnível entre o que ele é e o que ele concebe, pois se produziria a si conforme a sua compreensão de ser e só poderia conceber-se como é. Mas essa apreensão do ser como falta de ser frente ao ser é, antes de tudo, uma captação pelo cogito de sua própria contingência. Penso, logo sou. Sou o quê? Um ser que não é seu próprio fundamento, um ser que, enquanto ser, poderia ser outro que não é o que é, na medida em que não explica o seu ser.” (pg.129). Disto já podemos perceber uma certa vinculação entre a facticidade do Para-si e a sua maneira de presença a si. No caso do valor, este só se dá por ocasião de um não ser, ou falta, ou mesmo uma diferença interna ( o que também mostra o vínculo entre valor e presença a si). “O valor está para além do ser” e , “o valor tem por sentido ser aquilo rumo ao qual umser transcende seu ser.” O valor, então é um em-si ausente que invade o para-si, o “impregna”. “...o valor é o ser que há de ser enquanto seu nada de ser”(pg.145). “...o Para-si e sua relação mútua mantêm-se nos limites de uma liberdade incondicionada – no sentido de que nada faz existir o valor, salvo esta liberdade que simultaneamente faz com que eu mesmo exista – e ao mesmo tempo nos limites da facticidade concreta, na medida em que, fundamento de seu nada, o Para-si não pode ser o fundamento de seu ser. Portanto há uma total contingência do ser-para-o-valor, que recairá imediatamente sobre toda moral para trespassa-la e torna-la relativa – e, ao mesmo tempo, uma livre e absoluta necessidade.” (pg.145) (F) “o principal interesse da abordagem sartreana consiste em ter atacado a concepção naturalista tradicional do ser Humano como um tipo particular de ser-em-si”. Concorda com esta afirmação? Justifique a sua resposta. Res. Não concordo com essa afirmação. Não posso agora precisar se por problemas ingüísticos ou não, mas há ainda, na abordagem sartreana umas questões cuja solução ainda parece remeter-nos ao realismo e suas conseqüências. Por exemplo: O ser-para-si possui uma espécie de imagem do ser-em-si como seu possível. “Segue-se que este em-si, tragado e nadificado no acontecimento absoluto que é a aparição do fundamento ou o surgimento do Para-si, permanece no âmago do Para-si como sua contingência original.”(pg.131) Além do mais o Para-si enquanto não coincidente consigo mesmo é também coincidente com essa não coincidência e dentro de uma abordagem sartreana não poderia ser de outra forma, ou seja, a consciência enquanto não idêntica a si mesma é idêntica a si mesma como não idêntica a si. “Logo, o ser da consciência, na medida em que este ser é Em-si para nadificar-se em Para-si, permanece contigente; ou seja, não pertence á consciência o direito de conferir o ser a si mesma nem o de recebe-lo de outros.”(pg.130/131). “O Em-si concreto e real acha-se inteiramente presente no âmago da consciência como aquilo que ela se determina a não ser. O cogito deve nos levar necessariamente a descobrir esta presença total e inatingível do Em-si.” (pg. 135) (G) Até que ponto, lhe parece a análise sartreana do para outro ainda ficar dependente do dualismo tradicional sujeito/objeto? Afeta, tal dependência, se ela existir, a correção desta análise? Por outro lado, você observa alguma diferença relevante entre a nadificação instauradora do para-outro e as nadificações examinadas antes no livro (por exemplo, a interrogação, os valores, os possíveis, etc)? Por último, você está de acordo com a idéia sartreana do conflito entre para-si como sendo “insuperável” (ou, em suas palavras: “o conflito é o sentido originário do ser-para-outro, pg. 454)? Res. De fato, como é próprio nos termos sartreanos, uma relação entre dois para-sis, é de certa forma estabelecida no âmbito sujeito/objeto tanto de um ponto de vista interno como externo, ou seja: “...pela aparição mesmo do outro, estou em condições de formular sobre mim um juízo igual ao juízo sobre um objeto, pois é como objeto que apareço ao outro” (pg.290). Sartre passa então a análise da solução idealista, parece então sentar-se em uma cadeira Kantiana para poder observar o outro (coisa que o próprio Kant não se preocupou em fazer), é pela minha experiência que capto a presença do outro. Mesmo diante de uma perspectiva Kantiana, com relação à realidade do outro, não é o caso de toma-lo como uma realidade noumênica, há uma semelhança entre o outro e mim. A partir daí então, essa perspectiva idealista deixa de ser útil para ser tomado o problema do outro de um ponto de vista fenomenológico. O dualismo sujeito/objeto passa a não ter a característica tradicional, pois agora há dois sujeitos que organiza os objetos em sistema, daí nascendo um conflito. “O outro, portanto, só pode aparecer organizando nossa experiência de modo contraditório: haveria nesse caso superdeterminaçào do fenômeno.” (pg. 295) Logo, é razoável para a filosofia de Sartre considerar a relação com um outro assim como foi mostrado. O dualismo não é superado mas apenas modificado para que seja possível a abordagem do para-outro (de um outro para-si), não há mais sujeito/objeto e sim sujeitos/objeto. Daí também que a nadificação decorrente desta relação é diferente da que se dá com o Em-si dado que eu não percebo o Em-si como um outro sujeito semelhante a mim, não há diante do Em-si uma reorganização de minhas experiências. O Para-outro remete ao conflito justamente por que é um outro Para-si, portanto o outro já como Para-si não pode não ser conflito. Se portanto o passo inicial dessa relação remete a origens conflituosas, como pode o resultado dele não ser também conflituoso. (H) A tematização explícita da liberdade aparece somente na última parte do livro “O ser e o nada”, não obstante isso: Não se poderia dizer que todos os elementos relevantes para entender a noção sartreana de liberdade já apareceram ao longo da obra? (tente vincular a liberdade com conceitos tais como: fenômeno de ser, ser-em-si, nadificação, para-si, paraoutro). Haveria pelo menos duas maneiras de se contestar a noção sartreana de liberdade: (a) Dizer que ela se segue desses outros conceitos, e que são estes conceitos que estão errados. (b) Dizer que os conceitos básicos estão corretos, mas que a noção sartreana de liberdade não se segue realmente deles. Qual seria a sua opção? Você tem alguma opção crítica para propor? Res. Sartre, durante todo o livro, apresenta os elementos constitutivo da liberdade. Principalmente nas descrições referentes ao em-si, ao para-si, e as relações nas relações do para-si com o para-outro. O em-si sendo pleno, não remete a suas possibilidade nem à atos judicativos, portanto, dentro de sua filosofia, Sartre está justificado à considerar liberdade como característico do para-si e ainda o fato de estarmos condenados e sermos livres uma vez que o em-si não possui possibilidades, ou seja, as possibilidades são minhas, logo são minhas também as escolhas que faço. A liberdade é, portanto uma conseqüência de meu fundamento, ou até mais, ela é o meu fundamento uma vez que remete a não-seres. É por ser livre ontológicamente que o Para- si não é o que é, diante da liberdade o Para-si só poderá ser o que não é. O projeto que remeteria a uma posição de não escolha total não poderia ser outro que a morte, portanto, enquanto aparece, o Para-si é livre. Minha opção a uma crítica de Sartre seria a do tipo (a), pois, primeiro me parece insustentável a ontologização do nada, pelos motivos que coloquei na questão (F), ou seja, as estruturas desse nada não correspondem necessariamente ao nada quando se considera o Parasi idêntico a sua própria diferença. Outro motivo é o fato de que a saída Sartreana (de negar a facticidade como um fundamento para a não escolha) para a liberdade mascara o verdadeiro problema da facticidade. Bibliografia GILES, Thomas R.: História do existencialismo e da fenomenologia V. I, São Paulo 1975 SARTRE, Jean-Paul: O ser e o nada, 1943. SCIACCA, Michele F. : História da filosofia III, São Paulo 1962 Entrevista 2: Sobre Russell – Problemas da Filosofia (A) Na exposição russelliana acerca de aparência e realidade ( capts I, II, III, de “Os problemas da filosofia”), o autor distingue nitidamente as questões da “existência” do real e da “natureza” do real. Quais lhe parecem ser as razões de Russell para fazer tal distinção? Você pensa que a mesma é legítima? Afinal das contas, a “prova” da existência do real não incluiria já, de fato, hipóteses importantes acerca da sua natureza? Resp. Há uma necessidade dessa distinção uma vez que, através dela, se poderá ter uma melhor abordagem acerca de uma resposta à pergunta inicial do texto que se refere a uma possível existência de um conhecimento certo do qual não se pode duvidar. Uma vez que podemos perceber na história da filosofia (em certos casos) uma confusão entre essas duas questões. Esta separação nos remete a uma separação também entre ontologia e epistemologia no discurso Russelliano dividindo a questão em duas: “As coisas existem?” (ontológica) “Como as coisas são?, ou seja, Qual a sua natureza?” (epistêmica) A segunda questão (sobre a natureza) tem como resposta as qualidade que são inerente aos objetos, e portanto dizem respeito a conhecimentos que se pode ter sobre o objeto físico. Dado o que Russell coloca em seu livro ou seja, a questão do relativismo acerca do ponto de vista, pois por exemplo uma mesa poderia ser tomada de diferentes perspectivas e portanto gerar vários tipos diferentes de crenças, podemos então colocar essa segunda questão da seguinte forma: Qual é o melhor ponto de vista acerca de um objeto? Logo as experiências podem não ser suficientes para basear o conhecimento sendo necessário também os julgamentos acerca dessas experiências e consequentemente a avaliação destes julgamentos. A existência de um determinado objeto para ser conhecida tem que ser conhecimento também de sua natureza uma vez que Russell refuta (tenta refutar) o idealismo o objeto existiria por si e portanto seria a existência uma característica intrínseca ao objeto. (B) Russell adota Berkeley como paradigma de filosofia “idealista”, para formular suas críticas contra essa tendência filosófica. De acordo com a exposição que ele faz da filosofia de Berkeley (cap. I, Págs. 36/38, e cap. IV), lhe parece que essas críticas se aplicariam também a Sartre? Seria claramente Sartre um filósofo idealista, no sentido de Russell? Se poderia aplicar a Sartre o dito de Russell sobre Berkeley: “(...) não contesta ele que os dados-dossentidos (...) sejam sinais, na verdade, de existir um ser independentemente de nós; mas nega que este ser seja não-mental (...)” apenas substituindo “não-mental” por “não-intencional”? Resp. Segundo me parece tais críticas não se estenderiam a Sartre pois como Russell coloca, para Berkeley “O mundo consta exclusivamente das mentes e das suas idéias”(pg. 37. Os problemas da filosofia). Em Sartre podemos perceber claramente o em-si como sendo uma premissa sobre a minha posição. No caso Sartre também tem a pretensão de superar o idealismo não sendo uma proposta interessante para este considerar o mundo como foi exposto acima. Mas poderíamos dizer que a crítica que Russell faz acerca das posições sartreanas vem de encontro mais diretamente com a ontologização do nada e das negações sartreanas do princípio de não contradição quando este descreve o para-si. No caso da citação de Berkeley, Sartre afirma que o ser em-si é não-intencional pois é completo, pleno de si, etc. (C) Você concorda com a idéia de que as duas formas básicas de conhecimento de coisas apresentadas por Russell esgotam todas as possibilidades? Poderia pensar-se nima terceira forma? No caso particular de filosofias fenomenológico-existenciais tipo Sartre, lhe parece que longas descrições acerca do para-si e do para-outro poderiam estar indicando para uma terceira forma de conhecimento de coisas? Sub-questòes mais específicas da questão 2: Acerca do Para-si e do Para-outro, teríamos conhecimento de trato (by acquaintance), por descrição (by description), ou um terceiro tipo? Temos dados-dos-sentidos (sense-data) dessas entidades (para-si, para-outro)? Se cumpre, nas exposições sartreanas, o princípio de Russell (Os problemas da filosofia, p. 102) de que todo conhecimento deve acabar, em última instância, em algum conhecimento de trato? Ou tratarse-ia, nas exposições sartreanas, de um tipo de conhecimento de verdades, e não de coisas? Resp. O conhecimento de trato é aquele que adquirimos sem o processo de inferência mas será que é possível tal tipo de conhecimento? Russell descreve os dados dos sentido como sendo dessa espécie de conhecimento mas para ser conhecimento os dados sensíveis devem fazer sentido uma vez que a pura sensação não nos diz nada nem mesmo que é sensação. Isso pode ser comprovado quando um sego de nascença passa a ver, ele sabe apenas que está tendo certos tipos de sensação porém não aumenta o seu conhecimento só porque passou a ver visto que seu conceitos permanecem da mesma forma. Isso quer dizer que além das sensações temos que ter também experiências e conceitos para daí adquirir conhecimento cada uma dessas categorias são necessárias a meu ver. Está não é a posição de Russell que divide os tipos de conhecimento por formas de aquisição, por exemplo, aqueles que são adquiridos imediatamente são classificados como conhecimento de trato , os que são mediatos são conhemimentos por descrição. De certa forma esta classificação abarca todo conhecimento possível, uma vez que este ou é, ou não é mediato, e quando não é mediato é imediato. Porém fazer uma classificação deste tipo seria não deixar lugar para a falsidade ou seja não deixar lugar para um conhecimento que não seja nem de trato nem por descrição e portanto seria diferente do que Russell defende mais adiante. O fundamento de todo conhecimento seria o conhecimento de trato, decerto é que começamos com conhecimento de trato uma vez que não nascemos com linguagem o que impossibilita o conhecimento por descrição. Também teríamos conhecimento de universais por trato e esse é um dos pontos mais controversos na teoria Russelliana sendo completamente não intuitivo. O conhecimento do para-si seria um tipo de conhecimento por descrição uma vez que seria inferida de experiências e condutas nadificantes, para Russell tal proposta não faria sentido pois este não admites a possibilidade de regras de inferências capazes de dar conta de tais processos. Já o conhecimento do outro seria dado por outros tipos de experiências porém estes seriam imediatos, teríamos portanto uma experiência que nos remetesse diretamente a existência do outro (a desconfiguração das nossas organizações de mundo) e portanto tal seria um conhecimento de trato. (D) Nos capítulos VI, VII e VIII de Os problemas da filosofia, Russell faz seu acerto de contas com o apriorismo. Seria o “princípio de indução” (p. 113/4) um princípio a priori? Quais são os argumentos de Russell para provar que a lógica (p.122), as matemáticas (p.128) e até a moral (p.126/7) são a priori? O enunciado Russelliano da “lei de contradição” é o seguinte: “coisa alguma pode ser e não ser ao mesmo tempo” (nothing can both be and not be) (p.122). As estruturas sartreanas do Para-si, não constituem uma refutação empírica dessa lei (contra o afirmado por Russell e Wittgenstein, de que as leis lógicas não podem ser refutadas (nem provadas) pela esperiência? Resp. Uma das questões capitais para Russell é saber se há motivos para crer na uniformidade da natureza, questão esta diretamente ligada a indução e por outro lado, de intuitos pragmáticos pois poderíamos entende-la como sendo do tipo: Que vantagens teríamos ao acreditarmos na uniformidade da natureza? Percebe-se que os motivos que Russell procura são aqueles que nos leveriam a crença não citando ele uma possível inferência, o que nos leva a imaginar que Russell não acredita no sentido lógico de uma possível uniformidade da natureza. “Já se alegou que temos motivos para crer que o futuro se assemelhará ao passado, porque o que era futuro se desenvolveu em passado, e sempre se achou que se assemelhava ao passado: de maneira que temos, ao cabo de contas, uma real experiência do futuro, isto é, de tempos que outrora foram futuros passados.”(Os problemas da filosofia. Pág. 111) Já na citação acima Russell parece argumentar que uma indução poderia ser sustentada por conceitos mais próximos da lógica pois uma vez que no passado se deu que o futuro tenha-se tornado passado podemos dizer que temos experiências de futuros que se tornam presentes e depois passados e assim podemos dizer que temos certos conhecimentos (por memória) do transcorrer dos fenômenos (esse conhecimento como se pode ver é a posteriori), mas como isso poderia se aplicar para justificar a indução? Tomemos o seguinte exemplo: Uma pessoa possui centenas de sementes de manga, porem em um momento inicial T0 esta pessoa não tem nenhuma experiência acerca do resultado de se plantar essas sementes. Posteriormente, então ela decide plantar algumas sementes neste momento ela não pode induzir que nascerão pés de manga (supondo que nunca tenha plantado nem experimentado a germinação de nenhuma semente). Todavia uma vez que experimenta varias vezes o resultado de expectativas acerca de ato de plantar e percebe que estas sementes tem como resultados de germinação pés de manga pode esta pessoa agora ter uma maior crença (mais motivos) na indução de novos resultados. Por isso talvez Russell tenha usado este termo (motivo) pois é nossa crença numa maior possibilidade de acontecer o futuro do mesmo modo como no passado, que aumenta e não a possibilidade em si. Pode-se supor, por outro lado, que julgamos os fatos indutivamente como se houvesse uma atração entre fatos A e B na natureza, ou seja que existiria uma tal “força” que fizesse dois fatos ocorrerem próximos um do outro nos dando uma sensação de causa e efeito, sendo assim quando se desse A este atrairia mais B do que C no levando a crer, por indução, que A implica B, entretanto não tento esta implicação um estatuto de necessidade. É por aí que Russell argumenta e justifica a nossa incerteza acerca das proposições tomadas por processos de indução. Russell mostra por intuito de ilustração o caso do “frango”, poderíamos contra argumentar a esse exemplo dizendo que Russell não faz a devida distinção de contextos ou seja, se levarmos em conta um contexto anterior poderia se tirar da decepção do frango uma proposição indutiva do tipo: os frango que crêem indutivamente que serão alimentados se decepcionam. Assim haveria um caso de indução que daria conta do fracasso da indução não podendo este ser refutado completamente. Um outro motivo para sustentarmos o princípio da indução seria que a indução guarda lugar para a falsidade e por isso segundo Russell, esta poderia ser considerada uma boa teoria. Referente à questão do apriorismo da matemática, dos princípios lógicos e da moral Russell primeiramente argumenta colocando que estes são os tipos de fatos mais evidentes possíveis não podendo assim haver explicação destes por qualquer outra evidência sendo assim a priori. O segundo seria que a experiência não poderia prova-los (pág.125). Para Russell (referente à ultima pergunta desta questão), a distinção entre regiões do ser não se dá da mesma maneira como em Sartre, sendo o mundo entendido apenas dentro dos parâmetros da lógica. (E) Inicialmente Russell parece assumir u‟a atitude anti-metafísica, ao promover uma filosofia ligada com a ciência, combatendo o idealismo e qualquer conhecimento que não tenha alguma vinculação com a experiência ou com o conhecimento de trato. Entretanto, sobretudo nos capítulos IX e X de Os problemas da filosofia, Russell aceita a existência de um reino de universais (sobretudo de relações lógicas), que não existem em lugar nenhummas dos quais temos conhecimento imediato e que constituem uma esfera do ser, diferente da esfera da existência (p. 159). Por que esta “metafísica relacional” não cairia sob as usuais críticas anti metafísicas contra os mundos fantasmais criado pelos metafísicos tradicionais? Em específica relação a Sartre, parece haver aqui algo como um conflito entre ontologias lógicas e ontologias fenomenológicas. Nào se poderia deizer que estas últimas são muito menos problemáticas do que as primeiras, ao manter-se em contato com as experiências humanas que se podem descrever fenomenologicamente? Resp. Os universais podem ser conhecidos por intimidade, assim também com as relações, esta região do ser apesar de estar em uma espécie de lugar nenhum não recebem as mesmas críticas que receberiam os outros tipos de metafísicas pois podem ser conhecidos por intimidade e este seria um modo comum de se conhecer estes universais, nota-se aqui a diferença assinalada por Russell entre essas relações e um outro tipo de ser metafísico (como o noumeno Kantiano) pois estes apesar de serem universais teria dependência de outros universais sendo assim uma espécie de ser metafísica fenomenal. “O conhecimento dos universais, tal como o dos particulares, pode fazer-se, antes de mais, por intimidade: as qualidades sensíveis, como as cores, por exemplo; as relações, como as espaciais ( estar à direita de. Por exemplo), as temporais (como “antes”, ou “depois”); e as de semelhança, quer entre universais quer entre particulares. Trata-se de um conhecimento imediatamente apreendido, semelhante ao que temos a respeito dos dados sensíveis e, tal como este último indubitável.” (Os problemas da metafísica. De Bertrand Russell: uma análise introdutória. Pág. 52). Segundo esta citação as relações seriam conhecidas por intimidade e por isto seriam indubitáveis e a partir desse ponto seria aceitável uma construção de uma metafísica que não cairia nos mesmos defeitos de outras que afirmam coisas que não são verificáveis uma vez que estaria fundada em bases sólidas. Russell explica tal relação com referência a linguagem dando exemplos extraídos da literatura. É interessante notar aqui que no exemplo dado por Russell (a crença Otelo de que Desdémona está apaixonada por Cássio) por ser uma ficção não pode ser real nem em sua afirmação nem em sua negação, assim Russell da um exemplo de uma relação que não é real, e que sua negação também tão pouco o é. Em outras palavras, não é real nem a paixão de Desdemona por Cácio nem a não paixão. (F) Na questão (C) deste questionário foi sugerido que tlavez o conhecimento sartreano das estruturas ontológicas não fossem um conhecimento de coisas, mas de verdades. Na passagem do cap. X para o XI, Russell retoma esta distinção, já colocada no final do cap. IV. Em virtude da exposição Russelliana do que ele chama “conhecimento intuitivo” (cap. XI) e “conhecimento derivado” (cap. XIII), existe alguma chance das estruturas ontológicas sartreanas serem obtidas por algum desses dois procedimentos? (Ou seja: seria “intuitivo” ou “derivado” o conhecimento que temos acerca do Em-si, de Para-si, etc. ?) Resp. Para Sartre tal conhecimento seria intuitivo pois provem do método fenomenológico ou seja dada uma determinada experiência (a náusea por exemplo) teríamos então uma experiência direta de nossa condição ontológico (entendo aqui “experiência de nossa condição ontológica” por um tipo direto de acesso a estrutura do Para-si) tal experiência não poderia ser transmitida por um outro, dessa forma não seria também derivado. Essa posição segundo Russell é totalmente problemática, primeiro porque tais estruturas não podem ser inferidas logicamente de dessas experiências, segundo porque se tais inferências fossem consideradas logicamente válidas a regras de inferências teriam que sofrer uma reformulação não sendo assim mais considerados os princípios últimos do conhecimento. Para Russell as estruturas sartreanas são realmente distintas (para-si, em-si, paraoutro). Acerca do primeiro (para-si) Russell não quer dar a sua opinião, do segundo (em-si) não podemos ter conhecimento, e do terceiro (para-outro) temos uma espécie de derivação. (G) Segundo Russell, uma teoria da verdade deve assegurar “um lugar para falsidade” (Caps. XII e XIII). Isto, a princípio, pareceria constituir um argumento contra a maneira fenomenológico-existencial de filosofar, onde não fica claro em que casos, por exemplo, as afirmações sartreanas acerca do em-si e do para-si poderiam ser consideradas falsas. Entretanto, também na filosofia de Russell existe uma dimensão que escapa totalmente à questão da verdade: nem o conhecido por trato (acquaintance) (dados sensíveis, princípios lógicos), nem o corretamente derivado pelos princípios lógicos parecem deixar qualquer “lugar para a falsidade”. (Por exemplo, em que casos os princípios de não-contradição e de identidade poderiam ser considerados falsos ?). Isso levaria a pensar que tanto Sartre quanto Russell são dogmáticos a respeito das coisas (da ontologia do mundo): o primeiro aceitaria dogmaticamente o que é fornecido pelo método fenomenológico, e o segundo, o que é fornecido por acquaitance (dados sensíveis e princípios lógicos). Concorda com esta linha de raciocínio, ou pensa que há algo de errado nela? Resp. A teoria Russelliana concernente ao lugar da falsidade, poderia não ser vista para Sartre como uma crítica pois, dadas as descrições das regiões do ser, seria falso afirmar que o Para-si é igual a si mesmo assim como também afirmar que o Em-si é diferente de si (ou incompleto em si). Assim haveria lugar tanto para o falso como para o verdadeiro na teoria Sartreana, também se poderia dizer, daí, que qualquer teoria quardaria um lugar para o falso visto que se algo fosse coerente com essa teoria seria o caso de ser verdadeiro caso contrário seria falso. Todavia não é assim que Russell esta tomando o sentido da falsidade, para ele o que está em pauta é a indiferença com que as teorias se referem aos casos de falsidade, tendo elas apenas a verdade como meta. Essa posição é muito próxima da posição de Popper que também diz ter a falsidade uma importância de releva nas teorias. Esses problemas (de verdade ou falsidade) é visto por Russell na perspectiva do conhecimento derivado de verdades e não se refere ao conhecimento intuitivo. Assim então são necessárias regras de investigação, pois por não ser intuitivo esse conhecimento e passível de ser analisado. Primeiramente uma teoria que se ocupasse da verdade teria que admitir o seu contrário, ou seja a falsidade. Essa primeira condição é essencial uma vez que não é intenção extrínseca de Russell a validação de teorias dogmáticas, por certo essa falsidade pode ser tomada em dois sentidos: Com relação a própria teoria como um todo ser falsa ou apenas que haja lugar dentro dessa teoria tanto para asserções falsas quanto para verdadeiras. O primeiro sentido trata mais propriamente da visão compartilhada com Popper ou seja que a teoria possa ser falseada e então se seguira as suas consequências (substituição de teorias, dinâmica do conhecimento etc) No segundo sentido há um problema que é uma possível abertura para teorias que embora sejam dogmáticas são válidas segundo a concepção Russelliana uma vez que em sua estrutura podem haver proposições falsas (ou seja incoerentes com a teoria). A meu ver não é o caso dessa segunda opção pois qualquer proposição que fosse consoante com a teoria seria verdadeiro e portanto infringiria a primeira condição Russelliana. Sobre a própria teoria de Russell seria impossível a resposta da primeira pergunta do livro de Russell sem cometer uma transgressão do preceito acima, pois esta pergunta requer como resposta um conhecimento que não possa ser falso. Uma possível defesa de Russell aqui poderia ser a não correspondência da resposta dessa pergunta com uma teoria, ou seja, não obrigatóriamente que uma proposição não possa ser sempre verdadeira porém que uma teoria não poderia ser desse mesmo modo. Assim os princípios lógicos seriam proposições sempre verdadeiras e, mesmo assim as teorias que se referissem a verdade poderiam guardar o lugar da falsidade da mesma forma. Aforismos O presente trabalho está organizado em aforismos feitos durante os encontros nas sextas feira ou resultado de reflexões sobre os temas ou textos que foram abordados no curso. 1. A imaginação faz parte da realidade como a realidade faz parte da imaginação? Qual é a melhor posição a ser tomada diante desta questão? Será que existe tal posição? E acerca de outras questões, tão difíceis como esta e as vezes até mais complexas, quais deveriam ser os posicionamentos?. As questões acima são insípidas pois não se tem um referencial acerca do que, ou a quem se está perguntando, elas pretendem ser gerais e sendo assim não possuem tal referencial. A pergunta primeira deveria ser: Por que questionar? Mas há o risco de pensar que por ser a primeira esta deve ser a única questão, não é a única nem pode ser pensada assim. Então a pergunta passa a ser a seguinte: “O que penso eu do mundo?” ou mesmo essa outra: “Que idéia tenho eu do mundo?”. Nenhuma pergunta precisa ser respondida. 2. Para Aristóteles a situação é dada pela natureza e a partir do entendimento de sua essência é então possível melhor organizar, classificar, etc. esse modelo “porem só se pode pensar o que é dado”. Para as crianças o dado surge em suas brincadeiras, daí elas tiram o modelo e transferem para o mundo, elas brincam então segundo regras mas suas brincadeiras nem sempre são propostas por elas mesmas suas regras nem sempre são suas existe sempre um certo e um errado. Que relações o mundo criado a partir do ser humano tem com o mundo não criado a partir do ser humano? Existe o mundo não criado a partir do ser Humano? “O mundo não é ciência, é poesia”. 3. A primeira estrutura é a seguinte: Primeiro, procuramos a causa das coisas. Segundo, chegamos a um início sem sentido. Terceiro: Esta é de natureza científica. A segunda estrutura é a seguinte: Primeiro, uma auto imagem do pensamento, sintaxe do pensamento. Segundo, um critério de valoração, pare isso temos dois pressupostos: a) há duas coisas, b) Há um sentido e uma razão vinculado a essa coisa.. 4. No ser humano existe uma explicação anterior à suas perguntas, ou melhor, internamente formulamos explicações sobre as coisas. As coisas são da seguinte maneira, ou são um eu ou um não eu. Dependo das coisas e elas me ameaçam, por isso sou obrigado a reconhece-las. A explicação recria o mundo não o descreve. Para as crianças há um domínio sobre algo que gera jubilo que são as suas organizações paralelas do mundo. Mas não é qualquer pessoas que pode ter um domínio tal? A partir disso o objetivo que se segue é o de fazer com que essa realidade paralela se equipare com a realidade. Que o não eu que sou obrigado a reconhecer se equipare com o eu. O momento intermediário se dá quando a realidade já está interpretada e não mais uma “pura” realidade. 5. Aqui não temos o pensamento com mais restrito que a realidade? Isso surge pela linguagem do pensamento e da sua sintaxe ou semântica? 6. Pensemos como seria uma tribo em que no seu idioma não existissem palavras valorativas (juízo de valores) como por exemplo: melhor/pior, certo/errado. Eles segundo seus próprios olhos não seriam nem melhores nem piores do que qualquer outra comunidade. Mas uma outra comunidade, na qual houvesse tais juízos poderia querer tacha-la como sendo melhor/pior, certa/errada. Pensemos então essas máximas: “O melhor é não haver o melhor”, “A verdade é que não há verdade”, “Só e unicamente a razão nos leva à contradição”. A bipolaridade (por enquanto para mim) é necessária para qualquer diferente. Mas também é necessária para o pensamento? Não todas a bipolaridades são prejudiciais. 7. Quase sempre caímos numa meta explicação do porquê do porquê, e assim por diante até o infinito. Por isso há níveis de distinções filosóficas entre: a) O particular (um) b) O comum (mais que um e menos que todos) c) O universal (todos). Essa própria explicação por níveis não é uma meta-meta-explicação? 8. É possível a não linguagem? Todas as teorias que eu conheço, me fazem (me ajudam) a responder as antigas perguntas com teorias novas, mas minha vontade seria começar do início, do zero, mas seria possível um início, um zero? Talvez não e esse „talvez‟ é bem „quase‟. 9. O mundo busca o equilíbrio, este é o sentido do mundo e isto responderia à pergunta: “ Para que o mundo?” mas não responderia à pergunta “para que?” Ou “para que o equilíbrio?”, ou “para que algo?”. Todavia, dar respostas (ao meu ver) não é mesmo o objetivo da filosofia, mas sim questionar, fazer perguntas, as respostas não podem ser dadas mas apenas discutidas ou propostas, as vezes cultivadas, mas nunca dadas, quando eu disse acima “o mundo busca equilíbrio” eu propus a minha resposta. 10. Fazer uma pergunta é esperar uma resposta este então (seria) é o sentido primitivo da pergunta, portanto a filosofia constrói apenas esperas de respostas, e não respostas. Aí quase todo mundo ficará vermelho e nervoso e perguntará: E as teorias dadas pelos grandes filósofos, não são respostas às perguntas básicas? Os filósofos não estão sempre colocando respostas? Por outro lado as perguntas são respostas a certas perguntas implícitas, perguntas estas que geram aquelas. 11. Nas propagandas de cerveja aparecem mulheres belas, e sugerem que essa cerveja seja colocada como característica da masculinidade. Quais são os padrões reais? A mídia coloca as respostas e as perguntas básicas da filosofia mas qual mídia? Com certeza o consumismo não nasceu no Brasil. 12. A diferença em geral é justificada pela troca, eles dão mais conforto, lazer, e os outros eles se vendem através do seu trabalho, a questão girará então entorno da mentalidade que faz com que valha a pena essa troca, o homem livre de Aristóteles, que não trabalha, surge do lazer que é trocado pelo trabalho. Mas este lazer (TV, TV e TV) engendra essa mentalidade, é um circulo. Essa análise inicialmente é fraca e superficial. Esse lazer á necessário? Talvez sim, talvez não. Em que sociedade é feita essa pergunta?. Todavia é “mágico”, é “milagroso” (ver pessoas e coisas dentro dessa caixa tão interessante), as idéias para se fixarem tem que conter o sobre humano nesse sentido (mágico, milagroso), gera vontade, transforma a vontade. 13. As descobertas científicas, os grandes “milagres”. Isso tudo tenta superar o que acham que não é suficiente: o dado. O conhecimento dado nunca é suficiente, é preciso procurar mais e mais, é preciso procurar algo mais do que é dado para que o que não é dado se torne tal. O conhecimento à disposição é o mínimo, e o que é para ser mostrado nunca é mostrado. 14. Por que os lazeres pagos são melhores que os gratuitos? Se todos os lazeres fossem pagos (ou todos fossem gratuitos), quais seriam os melhores. Mas o mesmo parece não se dar com o conhecimento. O fato é que ainda parece haver escolha. Não se pode mercantilizar e tomar uma única posição, isso gera desastres pois é tentar se alienar de sua própria liberdade de escolher as melhores posições de cada posição. 15. Por que não vemos sempre o mundo com sendo um todo sem partes (próximo a visão Hegeliana) e sim como um monte de coisas, cada uma diferente e independente das outras e igual somente a si mesmas? Algumas pesquisas gestálticas afirmas que começamos as nossas percepções Hegelianamente e só depois passamos a ver o mundo Russellianamente, e assim não só entre a infância e a maturidade (se é que existe uma diferença clara entre um e outro, há mais igualdade que o inverso), mas também entre o primeiro instante e o segundo instante. 16. A diferenciação surge como uma imposição, quando o ser humano toma consciência de sua vontade e a relaciona com um mundo que apesar de ser ele mesmo não é sujeito a sua vontade. Mas porque o Ser humano teve vontade? Por que ou como ele tomou consciência disto? O que é necessário para se ter vontade? Primeiro existir, depois possuir um sistema de sentimentos que permita identificar este, por ultimo ativar esse sentimento. Assim a rexposta proposta à ultima pergunta do 16 é a seguinte: Por que o ser humano existe, possui um sistema de sentimentos que permite a vontade, e tal foi ativado. Mas essa é a única explicação possível para a vontade? Não. Essa foi a primeira explicação que me pareceu coerente e satisfatória. Essa explicação tinha que ser coerente e satisfatória? Não. Por exemplo, eu poderia ter respondido; tenho vontade porque o céu é verde e o coelho voa e por que eu não existo. Nem essa nem aquela resposta são melhores ou piores uma em relação à outra, pois as duas estão igualmente infinitamente distantes do real, ou seja, a explicação mais próxima possível do real é o real ele mesmo. Portanto a realidade é a única explicação verdadeira e todas as demais que não seja o próprio fato real são igualmente falsas. Notas sobre as “confissões” de Agostinho As Cofissiones de Agostinho foi redigida em treze livros no ano de 399. “A primeira parte nos descreve a vida dele até pouco antes de sua conversão; a segunda parte (livro x) analisa o seu estado de alma ao tempo da redação; a terceira parte (livros 11-13) contém um hino de louvor a Deus, entremeado de reflexões profundas sobre a criação, inspiradas no primeiro capitulo do Genesis. Em consonância com o duplo sentido da palavra „confessio‟ , a obra resume-se num reconhecimento sincero das própias fraquezas humanas (aspecto autobiográfico) e numa exaltação entusiástica da bondade e da providência divina (aspecto teológico, frequentemente descurado)”. (história da filosofia cristã, Bolhner e Gilson, pag.140). O duplo sentido da palavra „confessio‟ a que esta referido acima, basea-se no fato deste vocábulo significar tambem (alem de confissão) reconhecimento, ou seja, a capacidade de se sentir responsável pelos própios atos, fazendo com que Agostinho se oculpe por algumas linhas no esclarecimento deste sentido, no caso ele o tratará também com o sentido de memória, ou seja conhecer novamente. Segundo Agostinho, o objetivo das Confissões não foi senão o de excitar o seu afeto para com Deus e também o de expandir essa excitação para todos os que o lessem. No primeiro capítulo do livro XI ele dá essa explicação acrescentando que o amor para com Deus é patenteado por nós quando confessamos, ou reconhecemos a nossa miséria e a misericórdia divina, portanto, para Agostinho, fica subentendido que não é suficiente considerarmos apenas uma das duas coisas que devem ser reconhecidas (a nossa miséria e a misericórdia divina) é necessário que as duas a sejam, e é justamente isto que ele tentará fazer em seu texto. Notas sobre De Magistro de Agostinho Introdução Essa obra foi feita em 389. “É um diálogo com Adeodato (que contava então com 16 anos de idade) sobre a função da linguagem”.(História da filosofia Cristã; Boehner e Gilson. Pag141). Desta maneira a discussão transcorre em um estilo meio platônico, com referência aos termos e situações consideradas, o que em grande parte, caracteriza a filosofia Agostiniana. A obra tambem trata de temas relacionados ao ensino, à aprendizagem, e ao conhecimento. A presente resenha tem por objetivo mostrar, e resumir os assuntos da referente obra sem, entretanto, ter a intenção de trata-los de forma completa mas apenas representando uma pequena “faísca” do que nos foi dado através da obra de Agostinho. Funções e objetos da linguagem Primeiramente Agostinho pergunta á Adeodato sobre o objetivo da fala, este responde que a pretensão de quando falamos é ensinar ou aprender. Nesse primeiro capítulo do livro Agostinho apresenta o assunto que será discutido no restante dessa obra. Logo após o autor começa a tentativa de refutar a resposta de Adeodato, dizendo primeiramente que o objetivo da fala é somente o de ensinar. Daí Agostinho chega a um acordo de que as palavras são sinais, e Adeodato logo concorda que os sinais necessariamente devem sempre significar algo, porem fica contraditório que uma palavra, por exemplo: “nihil”, possa significar nada, ou seja, nenhuma coisa, pelo que tinha sido citado anteriormente (que toda palavra necessariamente signifique algo). Com isto, neste ponto, a questão cai num circulo vicioso, pois se entender a palavra “nihil” ou melhor, para que, dentro de um determinado contexto se entenda tal palavra de maneira a fazer sentido o que se quer dizer, é necessário ter em mente o que ela significa, por isso Agostinho deixa essa discussão para depois com o argumento de que se terá um maior número de „ferramentas‟ para discuti-la. Esse problema que os cercam dos dois lados não deixando, aparentemente, espaço para mais deliberações provem do fato de que o filho de Agostinho aceita naturalmente que todas as palavras devem necessariamente significar algo, decerto que uma profunda meditação sobre o assunto, talvez não os levassem a um ponto claro, porem se fosse levado em conta o exemplo de duas pessoas que conversão em diferentes línguas sem que nenhum dos dois conheçam a língua do outro, tais palavras, tanto de um quanto do outro não teriam significado, ou utilidade. Continuando o diálogo Agostinho diz, através de um trocadilho, que “nada” deve dete-los, para que a conversação não fique estagnada, e então passa para as demais palavras do verso que ele tinha pedido á Adeodato a análise. Chegando ao final desse segundo capítulo Agostinho pressupõe que a explicação sobre as palavras só se de com palavras, no capítulo seguinte essa afirmação passa para uma outra, que é a seguinte: “Todas as coisas só podem ser indicadas com sinais”. Essa afirmação se relaciona intimamente com o tema do ensino e da aprendizagem, como fica claro ao final do capítulo tres. Adeodato, ainda no capítulo terceiro evidencia a dificuldade se demostrar o conceito de fala à alguém que o interrogue sobre esse tema. Isso só se da pelo fato de que Adeodato esta levando em conta um sentido de aprendizagem que não leva em consideração a síntese como um estágio desse processo. A próxima questão que é considerada, é a que se aplica a sinais significados por sinais. O exemplo dado no livro, é o da “pedra”. Pois bem, a pedra em si não é um sinal, ou melhor, o objeto pelo qual se denomina pedra não tem esse valor (de sinal), todavia, as palavras que significam coisas que não são sinais, não pertence à parte que Agostinho se propôs a discutir. Dos casos de sinais que se mostram por sinais evidenciam-se dois aspectos. Primeiro, no sentido de ensino e recordação dos mesmos sinais, segundo, no de ensino e recordação de sinais diferentes. Dentro dos sinais que são palavras podemos dizer se apresentam a nós por dois sentidos, o da audição e o da visão. Para Agostinho a definição de palavra é a seguinte: “é o que se profere, com certo significado, mediante a articulação da voz”(De magistro, capítulo quatro). daí então se segue que a palavra escrita suscita na mente o que se percebe com o ouvido. Após debaterem sobre esse assunto, Agostinho prossegue com a deliberação sobre os nomes. Partem então da premissa de que; a palavra “nome” significa algo. Porem existem, segundo está de acordo Adeodato, muitas diferenças entre o nome e a coisa que ele significa ou em suas própias palavras (de Agostinho), “...chamemos de „significáveis‟ as coisas que podem ser significadas pelos sinais, e não são sinais, assim como chamamos de „visíveis‟ as que podem ser vistas...”(idem). Desse modo Agostinho constroe a sua argumentação de maneira a chegar a conclusão de que, “sendo as letras escritas sinais de sinais, o nome será o sinal audível dos sinais audíveis enquanto as coisas audíveis, são tambem sinais audíveis mas não são sinais de sinais audíveis, e sim de coisas em parte visíveis, em parte inteligíveis”(idem). Colocando as idéias deste jeito o diálogo chega a uma espécie de esquema da fala no qual os objetos desta obedecem uma ordem que organiza o seu sentido. O esquema é o sequinte, anteriormente estão os sinais, eles abrangem os demais objetos da fala contendo assim as palavras, estas estão na segunda posição, nesta “ordem” seguindo na mesma linha temos os nomes e finalmente as coisas, assim podemos sistematizar da seguinte forma o que está escrito acima; sinal-palavra-nome-coisa.. Da esquerda para direita encontra-se uma certa diminuição do poder de abrangência destes termos,. ou em melhor português, o “sinal” apesar de ser uma palavra, abrange o termo palavra, porem não se pode dizer que “palavra” abrange todos os sinais. O nome mais a coisa é sinal, ou signo, isto é, o nome quando significa alguma coisa é um sinal, mas seguindo o mesmo caminho acima, nem todo sinal é nome. Ao que parece, Agostinho tenta encontrar algo que seja equivalente ao “átomo” da comunicação, ou da fala, esse “átomo” talvez tenha a função de ser substancial no ensino, ou entendimento entre as partes. Por outro lado ele (Agostinho), tem tambem que expor o que há de comum, ou geral na fala, entretanto ele não está se referindo às letras propriamente ditas quando esquematiza a fala, e sim o “átomo” do sentido, em outras palavras, o que se parece estar buscando neste momento é o sentido primeiro de cada significação. Deste modo então Agostinho chega ao limiar da comunicação, ou seja, durante a discussão com Adeodato, chega ao produto que nos propicia esta, os sinais. Mais adiante o dialogo é direcionado para a procura de sinais que possuem uma inteira reciprocidade, ao que os dois acabam concordando que isso se dá nos termos, nomem (nome) e (nome). Daí então segue-se um resumo do que até então foi exposto. No início do capítulo que é posterior ao resumo, Agostinho confessa não saber qual o objetivo do diálogo, ao que logo após diz, que o que se tivera até então foi algo como um interlúdio. No título desse capítulo está escrito que: “...para responder àquele que nos interroga, devemos dirigir a mente, depois de percebemos os sinais, às coisas que estes significam”(idem; capítulo oito). Este trecho será uma das bases do restante do diálogo. Por exemplo, neste capítulo, a primeira interrogação que Agostinho propõe à Adeodato é a seguinte: “se homem é homem”(idem). Desta forma, com esta questão haverá uma certa dualidade de entendimento ao que se refere o termo homem., é por isso que mais adiante Adeodato formula sua resposta da seguinte maneira: “Naturalmente que homem é homem, e essas duas sílabas nada mais são do que duas sílabas, e o que elas significam nada mais é do que é”.(idem) Segundo Adeodato o fato dele ter tomado tal palavra de maneira dual, resultado de um relativo engano de sua mente, pois segundo o que os dois tinham concordado, “depois de ter o sinal a mente vai examinar o que este significa, e após o exame é que concede ou nega o que se diz” (idem). Ou seja, “que não se deve responder às perguntas senão segundo as coisas significadas pelas palavras”(idem), no entanto, visto que as palavras nada mais são do que sinais e que elas não correspondem inteiramente às coisas significadas elas acabaram sendo duais tambem, quanto se tiver tratando delas própias. A isso Agostinho toma como tema mais adiante, no caso, com o termo “homem”, pois esse termo tanto pode ser um nome quanto um animal, dependendo do contexto. Agostinho começa o capítulo nove dizendo que devemos preferir as coisas significadas aos seus sinais, e por aí generaliza: “Tudo o que existe devido a uma outra coisa, necessariamente tem valor que a coisa pela qual existe”(De magistro; capítulo nove) porem Adeodato não aceita essa afirmação instantaneamente, primeiro ele tenta refulta-la através da palavra “coelum” (lama), essa refutação não parece ser muito coerente por Adeodato usar o exemplo de que é preferível ouvir essa palavra do que tocar ou ver a coisa que significa, na verdade o exemplo dado se refere não à coisa e à palavra com seus respectivos valores e sim aos sentidos pelo qual às reconhecemos, deixando-se de lado as suas respectivos sentidos e utilidades, ou melhor, Adeodato julga a coisa significada e o sinal que significa, apenas pelas sensações que estes proporcionam aos nossos sentidos, e daí tira os seus juízos sobre o valor dos dois. Todavia Agostinho aceita a refutação de Adeodato e em seguida passa o dialogo para o nível do conhecimento dessas coisas, assim até Adeodato afirma ser o conhecimento que se consegue por meio do sinal, preferível ao sinal. O capítulo dez se ocupa de dois assuntos principais, primeiro, se é possível ensinar algo sem sinais, o segundo, diz que as não se aprendem pelas palavras. Assim seguindo-se a ordem acima Agostinho perguntas o seguinte à Adeodato: “Parece-te que podemos mostrar sem sinal tudo o que podemos fazer, logo após sermos interrogados, ou excetuas algo?”(De magistro; capítulo dez) Adeodato responde à essa pergunta dizendo que tudo podemos mostrar após sermos interrogados, excluindo, entretanto, o próprio falar e o ensinar, essas coisas, ou atos são necessários quando se ensina, ou responde alguma questão sem o uso de sinais (neste caso, de palavras faladas ou escritas), desta maneira tambem o caminhar apresenta alguns problemas quando respondido nessas circunstâncias, pois, segundo foi argumentado por Adeodato, o ato de caminhar pode induzir o interlocutor à acreditar que caminhar seria apenas o tanto que foi caminhado pela pessoa que o quis responder caminhando. Prosseguindo no texto, se tem que uma coisa é ensinar e outra é usar sinais. Usamos sinais para ensinar e não o contrário (ensinamos para usar sinais) disto então, segue-se que, quem ensina o que é ensinar, o faz usando sinais, isto necessariamente contradiz o que foi dito anteriormente. Salvo as palavras, nada pode ser mostrado apenas por si, sendo as palavras tambem sinal, conclui-se que “nada temos que pareça poder ensinar-se sem sinais..., e que o próprio conhecimento há de ser a nós mais claro do que os sinais, através do qual o alcançamos, embora nem todas as coisas que se expressam por eles possam ser preferidas aos seus próprios sinais”(De magistro; capítulo dez), o que nos remete à afirmação de que ensinar é significar. Por ultimo, Agostinho pergunta a Adeodato sobre a certeza que ele (Adeodato) tem acerca das coisas que afirma ou concorda, este responde que não tem certeza pois possui uma inquietação (essa pequena constatação nos da uma caracteristica do Platonismo em Agostinho, pois por não haver resposta depois do que se deliberou a questão parece ficar em aberto), prevendo que Agostinho tenha alguma objeção á sua resposta. Ele (Agostinho) completa dizendo o seguinte: “É muito difícil não se perturbar quando o que nós quardávamos com consenso fácil e pacífico por discussões contrárias é derrubado e como que arrebatado das mãos.”(De magistro; capítulo dez). E mais adiante completa: “Porque as vezes, quando desaba aquilo que presumíamos seguramente estável e permanente, há o receio de chegarmos a tão grande ódio ou medo da razão que nos pareça não dever mais emprestar fé nem à verdade mais evidente.”(De magistro capítulo dez). Prosseguindo Agostinho relata mais um exemplo de aprendizagem sem sinais, aliás, pela própia coisa uma dada pessoa explica uma coisa, ou um ato para uma outra que à entende, porem não completamente. Essa determinada pessoa é suposta inteligente, e compreende bem o que se demonstra pela própia coisa, Adeodato conlui então facilmente que: “Quem pergunta o que é caminhar, se for bem inteligente compreenderá por completo (em geral) o que é caminhar, depois de se lhe mostrar com poucos passos”(De magistro capítulo dez). Assim o problema exposto anteriormente fica em parte, solucionado, dado que para apenas alguns não conseguiria entender o ato pelo ato. A questão seguinte se refere à que coisas são aprendidas pelos sinais. Visto que para entendermos os sinais temos que saber o que significam, não descobrimos assim nada de novo quando eles estão presentes a nós, por outro lado se não o sabemos consequentemente tambem não o entendemos, daí é coerentemente lógico que não haverá aprendizagem de nada. Nesta parte do diálogo está um tema que tambem é discutido nas Confissões, que é o tema de como Agostinho aprendeu a falar, como se observa no trecho: “...eu já não era um bebê que não falava, mas um menino que principiava a balbuciar algumas palavras.... Não eram as pessoas mais velhas que me ensinavam as palavras, com métodos, como pouco depois o fizeram com as letras. Graças à inteligência que Vós, Senhor, me destes, eu mesmo aprendi, quando procurava exprimir os sentimentos do meu coração por gemidos, gritos e movimentos diversos dos membros, para que obedecessem à minha vontade. Não podia, porém, exteriorizar tudo o que desejava, nem ser compreendido naqueles a quem me dirigia. Retinha tudo na memória quando pronunciavam o nome de alguma coisa, e quando, segundo essa palavra, moviam o corpo para ela. Via e notava que davam ao objeto, quando o queriam designar, um nome que eles pronunciavam.”(Confissões; livro um, capítulo oito). Por esse trecho pode-se perceber muito do que Agostinho considera sobre a origem da fala em um bebê, e consequentemente, no ser humano. Da mesma forma o conhecimento das coisas tambem passa, segundo Agostinho, pela percepção e depois pela significação. “...mais através do conhecimento da coisa se aprende o sinal do que se aprende a coisa depois de ter o sinal.”(De magistro; capítulo dez). A partir desse ponto Agostinho constroi um “sistema” da fala. Primeiramente afirmando que num sinal há duas coisas: o som e o significado, o primeiro é o que repercute na nossa audição, enquanto que o segundo nos é dado pela visão. É portanto a percepção da coisa que nos leva ao seu significado. As palavras, por sua vez, nos incitam a procurar as coisas, e àqueles das quais não podemos conhecer por não existir mais a coisa que ela significa, devemos crer segundo a nossa fé, isso tambem vale para qualquer palavra que signifique algo que não se verifica sensivelmente. A respeito das coisas que podemos compreender, não pela voz e sim pela verdade interior é que compreendemo-las, a verdade interior Agostinho coloca como sendo Cristo. Daí, só podemos perceber as coisas, ou pelos sentidos exteriores, ou pelo interior. sendo as primeiras, sensíveis, e a segunda inteligível. Aplicando-se isso às palavras, temos que, o som delas nos é percebido pela verdade exterior, enquanto o seu sentido, pela interior. Por fim, é colocado por Agostinho o problema do entendimento do que o interlocutor está pensando quando emite as palavras, sabendo-se que entender tal coisa não possa ser possível totalmente, Agostinho argumenta perguntando: “Quem é tão totalmente curioso que mande seu filho à escola para que aprenda o que pensa o mestre?”(De magistro; capítulo quatorze). O aprendizado então se dá quando a verdade interior entra em consonância com os ensinamentos dados pelos professores, donde as palavras fazem apenas admoestar-lhes para que sigam o caminho da verdade. Assim então conclui Adeodato o diálogo: “Eu (Adeodato), na verdade , pela admoestação das tuas (de Agostinho) palavras aprendi que estas não servem senão para estimular o homem a aprender, e que já é grande coisa se, através da palavra, transparece um pouquinho do pensamento de quem fala.”(De magistro; capítulo quatorze)” Bibliografia: Agostinho; De magistro. Ed. abril Idem; Confissões. Idem Boehner, Philotheus e Gilson, Etiene; História da filosofia Cristã. Ed. Vozes Bueno, Silveira; Minidicionário. Ed. Lisa. “Quem não tiver a certeza de fato nenhum, também não pode ter a certeza do que significa suas próprias palavras.” (Aforismo 114, Da certeza, L. Wittgenstein) Wittgenstein se compromete como sendo uma faticidade os significados das palavras. Essa primeira observação visa uma discussão sobre a consistência do aforismo citado acima dado que, se o significado das palavras são necessariamente fatos esse ensaio, então, estará fadado a abordar o conteúdo desse aforismo, caso contrário (que é a maneira que parece mais próxima do senso comum), a forma do argumento é que estará no centro das articulações. Se ao invés de “fato” (Tatsache em alemão, palavra que também pode significar realidade) Wittgenstein tivesse usado “coisa” (ou seja: Sache) eu não precisaria entrar nesse assunto. Enfim é necessário colocar se há uma outra possibilidade de se pensar os significados das palavras para daí, então, ver se é possível uma dúvida a tal nível. Descartes não percebeu essa questão e por isso não chegou (analisando de dentro de um âmbito moderno) à dúvida realmente global, pois não importa se os significados das palavras são de fato fatos ou se são convencionados, a dúvida só poderá ser global se abarcar a dúvida acerca dos seus significados (das palavras que a verbalizam). Não é que agora o aforismo não precise de ser analisado com relação a sua forma, e sim, que a dúvida global transcende os fatos tendo assim que ter uma base igualmente transcendental. O resultado disto é que: se for considerado que os significados das palavras são fatos, então não será possível ter uma não-certeza (uma dúvida) verbalizada sobre qualquer fato. Por outro lado, se os significados das palavras são convenções, então para que o argumento de Wittgenstein seja válido será necessário considerar como sendo fatos algumas convenções ou como sendo convenções alguns fatos. Por ultimo, se os significados das palavras forem convenções e não for o caso dos dois exemplos anteriores então, forçosamente, o aforismo terá que ser considerado contraditório. Linguagem 1. „Scott = Scott‟ é uma sentença claramente analítica enquanto que „Scott = O autor de Waverlley‟ não é analítica, portanto não posso fazer a intersubstituição entre os elementos dessas duas proposições, a não ser que a segunda seja conhecida como verdadeira, assim sendo dó posso tirar uma sentença analítica de identidade a partir da mesmidade. Mas tememos os seguintes casos: a) „O quadrado redondo = O quadrado redondo‟ b) „O quadrado redondo = não existe‟ c) „Pegasos = Pegasos‟ d) „Pegasos = não existe‟ e) „O quadrado redondo = Pegasos‟ Tais sentenças são V ou F? A meu ver o problema esta no sinal de identidade. Pois há duas maneiras de usa-los que estão confundidas acima, uma é analítica enquanto que a outra não é, ou seja, esclarecendo melhor o significado desse sinal tais tipos de sentença serão melhor entendidas. Há também uma outra idéia bem particular nessas igualdades, pois temos como elementos delas a seguintes coisas: Ca) O quadrado redondo. Cb) Pegasos. Cc) Não existe. Ca não pode nem mesmo ser pensado, Cb pode ser pensado mas não possui referência e Cc é um predicado que tem um significado muito esquisito uma vez que o objeto que ele predica verdadeiramente não existe. 2. Poder-se-ia também relacionar o sinal de igualdade apenas aos símbolos ou nomes, dado aí então que seus objetos fossem apenas relações entre nomes e suas características. Por exemplo: „manga = 5 letras‟. Todavia não podemos dizer que tal proposição é F ainda que posam não ter a mesma referência. Como poderíamos aqui relacionar essa observação à distinção entre referência e significado? 3. Que mágica é essa onde diferentes representações não impedem o compartilhamento de um mesmo sentido? (ver pg. 66) de Frege. Talvez por Frege separar sentido e referência. 4. As questões acerca da referência passam por questões acerca da igualdade. Tanto para palavras quanto para frases. Por exemplo se digo: é verdade que a neve é branca ou o valor de verdade da frase: a neve é branca é V então posso ver que há uma equivalência entre V e a neve é branca, para Frege uma sentença tem como referência um valor de verdade, portanto se „a neve é branca‟ é V então a frase „a neve é branca = V‟ representa que o sinal de igualdade relaciona o sinal à sua referência. 5. Que tipo de mesmidade há na seguinte frase: “O pensamento permanece o mesmo se o nome Ulisses tem referência ou não”? (Frege Pg. 68) 6. Outras perguntas interessantes de Frege para problematizar a referência: “Mas porque queremos que cada nome próprio tenha, não apenas um sentido, mas também uma referência?” e “Porque o pensamento não nos é suficiente?” (Frege Pg. 68) Resposta de Frege: Porque estamos preocupados com seu valor de verdade. (idem) Mas se fosse só isso ficaríamos satisfeitos quando alguém nos informasse o devido valor de verdade de uma sentença sem com isso nos informar a sua referência. Como frege portanto explicaria a inquietação de um não falante do alemão que se deparasse com uma frase em alemão, quisesse saber a que tal frase se refere e respondesse-mos a ele apenas que ela é V? 7. Sobre a identidade e o argumento da estrela de Frege: „Vespertina = Vespertina‟ é algo que qualquer participante da linguagem que está sendo usada, necessariamente deverá saber (será obrigado a saber), pois este é um dos principais postulados de qualquer linguagem cotidiana. Em lógica é possível construir sistemas que não levem em conta o princípio do 3o. Excluído ou da contradição mas é impossível a construção de um sistema que negue a identidade de algo consigo mesmo ou então teríamos uma lógica de base hermenêutica e não analítica. „Estrela Vespertina = Estrela Matutina‟ coloca em questão muitos pressupostos. Primeiro pelo fato de tais termos serem denominações de períodos diferentes do dia o que coloca o tempo em evidência. Assim poderia dizer levada a modificação temporal em consideração que estrela Vespertina é diferente de estrela Matutina, de fato, a identidade no sentido mais forte da palavra não pode se dar entre objetos e si mesmos em instantes diferentes dado que neste caso não é uma identidade original, ou seja, independente de qualquer convenção mas totalmente convencional. Assim Frege se engana ao dizer que a descoberta de que o sol é o mesmo a cada dia foi de ricas consequências uma vez que tal fato não foi uma descoberta e sim uma convenção. Tal identidade (entre o objeto e ele mesmo em diferentes instantes) não é um postulado necessário da linguagem. Filosofia da linguagem Samir Bezerra Gorsky 2o. semestre de 2003 Introdução. A igualdade é um assunto bastante amplo e importante para várias áreas do conhecimento e do pensamento humano, posições acerca do que é a igualdade podem influenciar várias decisões políticas ou científicas etc. Assim, sendo a linguagem o lugar de constituição da idéia de igualdade, é na filosofia da linguagem que se tem uma possibilidade de articulação da idéia de igualdade enquanto conceito, mas o próprio conceito de igualdade não se caracteriza como objeto da linguagem sendo por isso objeto da filosofia da linguagem. Este trabalho terá como objetivo fazer uma exposição do conceito de igualdade enquanto elemento da filosofia da linguagem em dois contextos a saber: a) no contexto analítico b) no contexto hermenêutico. Essa exposição será baseada na busca por um entendimento mais elaborado do conceito em questão passando-se por posições diversas dentro dos dois contextos citados acima, assim a primeira parte do trabalho versará sobre alguns autores analíticos enquanto que a segunda parte terá como referência alguns autores hermenêuticos. A idéia que será transversal a essas duas tradições (Analítica e Hermenêutica) neste trabalho é a de um entendimento da igualdade em dois sentido, um sentido forte e um sentido fraco. O sentido forte será visto como pressuposto à linguagem enquanto que o sentido fraco será o objeto da linguagem, isso será portanto o fator orientador dos argumentos desse trabalho que terá como pano de fundo a tarefa de expor “explicativamente” o modo como esta divisão interna do conceito de igualdade é tomada nas duas tradições. 1a Parte Igualdade na tradição analítica. O presente item tem por objetivo fazer uma abordagem sobre o conceito de igualdade na tradição analítica da filosofia da linguagem, mostrando que a existência de alguns problemas relacionados a esse conceito nesta tradição provem de um não entendimento dos dois sentidos que constitui essa noção (sentido fraco e sentido forte). Isso será feito mediante uma exposição dos problemas relacionados à identidade, onde uma reinterpretação do símbolo „=‟ seja vista como um dos possíveis mecanismos para solucionar tais problemas. Essa reinterpretação estará baseada em uma divisão no âmbito do que se é tomado comumente por igualdade, será tratado pois três tipos básicos de igualdade. a) Mesmidade. b) Igualdade de referentes. c) Igualdade de sentido. Mesmidade é a igualdade no sentido forte e caracteriza qualquer objeto que seja idêntico a si mesmo em um certo momento. Igualdade de referentes se dá entre dois sinais diferentes ou não, que se referem a um mesmo objeto e Igualdade de sentido se dá entre dois ou mais símbolos ou agrupamento de símbolos (palavras, frases ou quaisquer outros) distintos que, quando intersubistituídos em alguma proposição, não alteram o valor semântico ou sintático dessa proposição. Uma outra idéia a ser explorada será a hipótese de que não é possível fazer uma boa representação da igualdade em sentido forte - na linguagem - (tentarei mostrar neste trabalho o porquê dessa não possibilidade) quando essa igualdade é entendida como mesmidade. Portanto também será tema desse trabalho o fato de uma impossibilidade da representação da igualdade em sentido forte ser o motivo pelo qual deveria-se fazer uma reinterpretação da igualdade. O sentido forte de igualdade que aqui faço menção é o de considerar igualdade como sendo identidade (ou mesmidade), neste caso como se pode inferir, temos na definição de igualdade não apenas a intersubstitucionalidade de termos iguais em alguns casos, mas em todos os casos, não em alguns contextos mas em todos os contextos, o que sugere um entendimento de igualdade como sendo “mesmidade”, tal coisa portanto só se dá quando temos em mente uma única coisa se relacionando com ela mesma, portanto no sentido forte, a igualdade só tem sentido quando é igualdade em uma única coisa, assim sua representação gráfica fica debilitada uma vez que não pode haver igualdade no sentido forte entre coisas separadas (dois todos separados). Essa definição se assemelha à definição Leibniziana mas não se confunde com ela, uma vez que para Leibniz, a substituição é em um mesmo contexto e não em todos, também difere da definição Aristotélica que supõe a igualdade a partir da quantidade[1]. O tema deste texto aparece como relevante para questões analíticas da linguagem visto que filósofos importantes como Frege, Russell e Kripke, basearam-se em certas concepções de igualdade para apresentarem suas teses, por isso irei toma-los como referência para minha argumentação. Primeiramente mostrarei até que ponto eles se utilizaram da ambiguidade do sinal „=‟ para fazerem críticas e defesas que lhes fossem convenientes. Em seguida colocarei de que modo eles já indicavam que a igualdade poderia ser especificada conforme o que se quisesse informar (como será visto mais adiante). Como pano de fundo ficará uma crítica acerca do entendimento que esses filósofos tiveram da igualdade em sentido forte. Tentarei explicitar neste trabalho que eles, ao criticarem teorias, utilizavam-se da mesmidade como o significado de igualdade, mas quando estavam construindo seus sistemas a igualdade que usaram foi algum tipo de igualdade em sentido fraco. Ainda em relação a isso mostrarei que há nestas discussões dois níveis de igualdade a se considerar: Um, da linguagem objeto e outro da metalinguagem. Todavia este ponto não será devidamente desenvolvido neste momento do trabalho sendo tomado apenas a título de descrição e tendo esclarecimentos mais pontuais apenas quando forem indispensáveis. O presente trabalho será estruturado em diferentes partes assinaladas por números romanos. Em I será reafirmada a importância e a complexidade da igualdade enquanto tema da filosofia da linguagem. Em II colocarei minha posição, esclarecendo o máximo possível o que é que se deve levar em conta para a consideração do tema e dos objetivos colocados. Em III, IV e V serão vistas as concepções dos autores (Frege, Russell e Kripke respectivamente) tomada de modo a fazer-se ver como essas concepções podem ser analisadas por uma ótica de uma nova concepção da igualdade. Essa estruturação está concebida de modo a fazer com que haja uma releitura das concepções acerca da igualdade levando em conta os objetivos propostos acima. I – Igualdade enquanto problema. “A igualdade desafia a reflexão dando origem a questões que não são muito fáceis de responder. É ela uma relação? Uma relação entre objetos ou entre nomes ou sinais de objetos?”[2] Apresentarei aqui neste trabalho algumas considerações e tentativas de lidar com estas questões passando, assim por conceitos como referência e sentido[3]. Mas isto não será feito neste item, aqui iremos apenas mostrar quais tipos de respostas (não todos os tipos mas apenas alguns) poderiam ser dadas às perguntas fregeanas. Os problemas serão formulados intuitivamente, uma vez que eles provem das definições feitas, o que quer dizer que quaisquer respostas a esses problemas trará certas inquietações demonstrando a existência de uma problemática no tratamento da igualdade, problemática esta que direciona seu tratamento para uma redefinição da noção de igualdade, tendo em mente neste caso, que o desenvolvimento dessa redefinição poderá levar-nos a considerar mais do que uma espécie de igualdade. Suponhamos então algumas possíveis respostas a essas perguntas iniciais (perguntas que são feitas a partir da problemática da noção tradicional de igualdade, ou seja, da noção que não especifica quais tipos de igualdade estão em questão, essas também são as questões que estão citadas acima e que é formulada por Frege). A primeira resposta que tratarei aqui é a afirmativa, ou seja, considerar a igualdade como sendo uma relação. Esta resposta parece ser interessante apenas quando temos em mente coisas do tipo „a = b‟ uma vez que neste tipo de igualdade temos dois lugares preenchidos por dois objetos distintos „a‟ e „b‟. Note-se porém que esta relação será convergente, melhor dizendo, relacionará os dois objetos a um único que está implícito aqui como sendo o objeto que foi designado por estas letras. Logo as letras que fazem parte da sentença „a = b‟ são apenas sinais e estão postas como iguais pois se referem a uma mesma coisa (Tratarei da relação entre igualdade e referência no próximo item). Diante disso, poderíamos dizer que esta relação possui três e não dois lugares? Essa pergunta tem sentido quando pensamos que „a‟ e „b‟, uma vez sendo sinais de objetos, possuem um referente em comum, portanto esta relação, se assim o fosse („a‟ e „b‟ sendo referentes de um terceiro), teria como lugares tanto os preenchidos por „a‟ e „b‟ quanto pelo referente dessas letras. Não vou tentar apresentar aqui a resposta dessa questão sobre a quantidade de lugares desta relação, quero apenas mostrar que há algumas dificuldades que se forem levadas a sério mostrará o quanto que a igualdade é um tema complexo. A segunda opção sobre a pergunta Fregeana dirá que a igualdade não é uma relação, sendo assim uma resposta negativa. Esta resposta me agrada mais, ao contrário do que Frege defende em sua Begriffchrift. Mas, então, o que teríamos se a igualdade não fosse considerada uma relação? Minha resposta é: Uma não representação da igualdade. Isso quer dizer que a igualdade quando não é uma relação passa a ser um pressuposto, algo que necessariamente é postulado em uma linguagem, esta é a igualdade em sentido forte de que trato neste trabalho e que portanto estará explicitada ao longo do texto. Podemos também concluir que, não sendo a igualdade uma relação então ela pode estar entendida como sendo um predicado (neste caso então, possuirá representação) ou mesmo algo essencial (como um postulado). Em última hipótese poderíamos ainda responder que a igualdade é uma relação apenas em parte, em outras palavras, que a igualdade possui algumas, e não todas, as características das relações. Esta resposta é a mais antiintuitiva, e é a mais difícil de ser pensada por ser também a mais abstrata. Para considerá-la teríamos que tomar o conceito de ralação em partes e algumas delas seriam constituintes da igualdade e outras não. Mostrei neste item algumas diferentes concepções possíveis sobre as diferentes interpretações do sinal „=‟ em relação à pergunta fregeana sobre se a igualdade seria ou não uma relação, dando um enfoque maior aos problemas que elas (as diferentes concepções) podem sugerir, isto foi importante para que fosse delimitado a problemática do trabalho, ao vermos as diferentes concepções possíveis pude colocar que apenas uma delas foi tomada como tema do trabalho (considerar a igualdade como sendo uma não relação) e que por isso muitas outras questões ficarão em aberto ainda que este trabalho se conclua algum dia. A pergunta central do trabalho é colocada acerca da relação entre o conceito forte de igualdade (identidade) e outros elementos da filosofia analítica da linguagem, na resposta à essa pergunta central tentarei mostrar que a igualdade é mais fundamental em uma tal filosofia do que sugere a intuição de alguns filósofos, visto que esses filósofos, quando analisam a igualdade em seus sistemas, não levam a sério algumas conseqüências importantes da identificação dos diferentes tipos de igualdade. II – Igualdade em sentido fraco (referência e sentido) Igualdade e Referência. Neste ponto será tratado a maneira como pretendo relacionar a igualdade e a referência. Este item será importante na medida em que mostrará como uma certa noção de igualdade está presente em qualquer noção de referência, e portanto essa relação igualdade/referência importa na concepção de quaisquer linguagens que possuam em algum sentido a idéia de referência dada entre seus símbolos e objetos que não são esses símbolos. Portanto a questão na qual me basearei para desenvolve-lo (esse ponto) será a seguinte: Como a noção de igualdade pode interferir na noção de referência? Há três possíveis respostas a esta pergunta. A primeira, sustenta que referência e igualdade são totalmente relacionadas chegando mesmo a se identificar. A segunda diz que são em parte relacionadas e em parte não são, e a ultima sustenta que não há relação alguma entre esses conceitos. Primeiramente seria interessante considerar a possibilidade da existência dessa “interferência”, mas antes devo delimitar a questão, e para isso analisarei um certo caso onde referência e igualdade são pressupostos. Suponha-mos a seguinte situação: (s) Uma pessoa x aponta para um gato e diz: - Veja, um gato!! O interlocutor entende o que se pretendia que ele (o interlocutor) entendesse[4]. Dado (s) e supondo que há um gato e que tal gato foi citado por x na situação acima, veremos como poderia a referência, neste caso, se relacionar com a igualdade. Primeiramente, apesar de ser plausível considerar que houve uma referenciação bem sucedida, em outras palavras, que x se referiu pela palavra “gato” ao animal gato, não parece que há plausibilidade em identificar a palavra “gato” ao felino (animal “gato”). Daqui ainda não posso dizer que não há uma diferença fundamental entre igualdade e referência mas apenas que referência não é, neste caso, o mesmo que igualdade em sentido forte. A equivalência entre referido e referente é o ideal da linguagem proposta por Wittgenstein em seu tratactus, de antemão, sabemos que esta é uma forma rigorosa de se definir uma referência, sua utilidade parece ser exclusivamente científica. Uma outra proposta seria dizer que em certo casos a referências envolvem a igualdade sem abarca-la, o que quer dizer que há uma certa idéia da igualdade no conceito de referência mas que referência não é o mesmo que igualdade, em outras palavras, a referência é uma espécie de igualdade instrumental, ou seja, é uma suposição de igualdade entre o referente e o referido, logo, para esse tipo de referência a igualdade perde o seu sentido forte e passa a ter um aspecto de semelhança, uma vez que, dessa forma, podemos ter a possibilidade de uma manipulação das referências e consequentemente de uma linguagem[5]. Essa possibilidade é dada pela referência, uma linguagem sem a referência não é conceptível ou pelo menos parece não ser útil se por acaso for concebida, a referência seria então uma espécie de coisa semelhante á igualdade mas não idêntica a ela, não é idêntica uma vez que aceitar a referência de uma palavra (gato) não é aceitar que essa referência identifique a palavra ao objeto (animal), pois se assim o fosse, dizer[6]: Gato se refere à 4 letras. Gato = animal. Seria o mesmo que dizer: Animal = 4 letras. Ou Animal se refere à 4 letras. Sabemos sem mais análises que tais coisas não se dão. Há entretanto uma última alternativa possível a se considerar a relação entre igualdade e referência que é sustentar a inexistência dessa relação. Entender referência a partir de um sentido negativo, ou seja, a partir da não igualdade (absoluta), seria tão somente entender que quando sou bem sucedido ao denominar algo não significa que esse nome seja essa coisa, quando x diz “gato” (palavra) não é necessário sair um “gato” (animal) de sua boca, e se quiséssemos uma tal referência como igualdade entre símbolo e objeto, ainda que saísse um “gato”(animal) qualquer de sua boca não teríamos uma referência dado que esse animal teria que ser igual (idêntico) ao referido. Isso forçaria fazer com que o animal que saísse da boca do falante fosse o animal a que aquele que disse a palavra gato quisesse se referir, e portanto nenhum outro animal seria referido por aquele. Note-se que quando a referência é tomada de maneira totalmente diversa da igualdade essa igualdade está tomada como mesmidade. Igualdade e sentido. Nesta parte do trabalho pretendo fazer algo semelhante ao que foi feito no item anterior porém em relação ao sentido e não à referência, ou seja, responder à questão sobre a relação entre sentido e igualdade. Todavia o processo pelo qual o farei não corresponderá ao do item anterior, isso se deverá ao fato de que sentido e referência serão tomados como sendo diferentes, essa é uma concepção semelhante àquela tomada por Frege e diferente da de Russell. Assim tentarei demonstrar primeiramente como que o sentido aparece neste trabalho dado o que foi visto até agora. Suponhamos o seguinte caso: X poderia ter dito em uma outra situação onde o mesmo interlocutor e o mesmo animal estivessem presentes, supondo que x apontasse para esse animal: (s1) – Veja, 4 letras!! Neste caso, considerando que novamente o interlocutor tenha entendido o que se queria dizer, poderíamos pressupor que automaticamente esse interlocutor mais uma vez considerou o termo composto “4 letras” como sendo o nome do animal, porém essa pressuposição carece de uma nova situação, caímos aqui então em disputas que não envolvem somente filosofia da linguagem e que portanto (estas disputas – neste momento) não devem fazer parte deste trabalho. Assim esse interlocutor teria a sua disposição uma gama numerosíssima de maneiras de relacionar os dois nomes para o animal, mas pelo que nossa intuição nos diz, a referência neste caso se torna refém de uma temível complexidade, não só pelo fato de que tanto “gato” quanto “veja” possuem 4 letras, como também por todas as outras considerações cabíveis, lógica ou pragmaticamente em tal situação como se esta fosse parte de uma única situação, o que sabemos que pragmaticamente não se dá, o que pretendo afirmar quando digo que “em tal situação como se fosse parte de uma única” é que estaríamos tomando a parte como sendo o todo e que portanto para se sustentar isto a complexidade seria inevitável, esta complexidade vem a tona visto que estamos diante de uma linguagem que não é a ideal, os objetos possuem neste caso mais de um signo como nomes, assim como os signos também podem possuir mais de um referente, estamos portanto diante de um dos problemas com que Russell se deparou e quis solucionar pela sua concepção de nomes logicamente próprio, este, a meu ver é um problema acerca do sentido e é por haver casos como este que pretendo analisar esse tema. Nas situações dadas acima o que nos interessa não é o entendimento do interlocutor mas o conteúdo de tal entendimento, ou seja, não é o caráter pragmático que deve-se ter em mente aqui mas sim o sentido, a referência e a igualdade que envolve o caráter desse entendimento, na situação (s) certas funções da linguagem são citadas e muitas delas estão nas teorias dos filósofos analíticos da linguagem[7]. Portanto já é possível prever que também, e principalmente, a linguagem formal é o que estará na intenção desta monografia e não, portanto, a linguagem natural apenas. Ao se tomar exemplo citado (s), a ultima parte “O interlocutor entende o que se pretendia que ele entendesse” não deverá ser problematizada uma vez que sua função neste exemplo é apenas propor uma situação onde, para duas pessoas falantes de uma certa língua, temos uma referenciação bem sucedida (pelo menos postulada como tal), o que quer dizer que o objeto “gato” foi denotado pela palavra “gato” e que isso não ocorreu privativamente e sim publicamente. No entanto apesar de não parecer, esse texto já tocou várias vezes no tema proposto. O importante em (s) é esse fato a saber: Que uma parte de uma situação como essa é uma noção de igualdade entre referência e referido. Pronto, temos aqui a primeira explicitação dos elementos que estão em jogo neste momento do trabalho. Agora pelo que parece a questão se volta para a relação entre esses elementos da linguagem, principalmente as relações envolvendo o sentido, e mais uma vez enfocando com prioridade as relações envolvendo sentido e igualdade. Em (s) questões epistemológicas poderão sobrevir, fazendo-se com que se pense nesta situação como sendo descrita de maneira incompleta, que não há esclarecimentos suficientes para uma análise dessa situação, uma vez mais digo que o que se está querendo com este exemplo não é um esclarecimento epistemológico, porém tal coisa poderá ser inevitável. Em um tratamento lingüístico, não se quer saber (enquanto tratamento lingüistico) se há meios de termos ou não contato com o objeto e se tais meios são justificados mas que a linguagem funciona de tal e tal maneira e que os elementos da linguagem, postos como estão atuam assim quando a consideramos a partir de um ponto de vista analítico. Após esses pequenos esclarecimentos sobre o que se pretendia nas situações exemplo, podemos fazer uma descrição do entendimento acerca do que seria propriamente a relação entre igualdade e sentido. O sentido é um dos elementos que restam ao delimitarmos a situação (s) como foi feito acima. A primeira questão que colocarei para podermos iniciar a análise da igualdade frente ao sentido será a seguinte: Até que ponto uma idéia de mesmidade pode influenciar no sentido de um proposição? Mais uma pergunta alem desta pode ser interessante para o tema: Quando há uma igualdade de sentido, esta poderá ser tomada tanto no âmbito semântico quanto sintático? Ou. Há algum tipo de igualdade entre sentido semântico e sintático? Para responder tais questões retomemos as duas situações anteriores. Na primeira situação (situação (s)) há a seguinte frase (f1): “veja, um gato!!”. Na outra situação tomarei como exemplar a frase (f2) “veja, 4 letras!!”. Se “4 letras” for o nome do gato que está sendo referido na frase (f1) então tanto “gato” em (f1) quanto “4 letras” em (f2) terão a mesma referência, porém “4 letras” possui um outro sentido na linguagem (um certo número de símbolos) que quando levada em conta diferirá seu referente em relação ao que foi tomado acima (de ser o nome de um animal), porem em certos casos como este mesmo “4 letras” também se refere a nomes e assim “gato” pode ser referido por “4 letras” enquanto sendo o número correspondente de letras que formam este nome, portanto esta mudança de sentido implica em uma mudança de referente (agora não é ao animal gato que se está referindo o termo “4 letras” e sim à palavra gato), tal fato nos informa que sentido e referência parecem possuir alguma relação (pelo menos no caso descrito acima). Mas isto não se daria por se estar tomando sentido anteriormente como algo que envolve referência? Sim, como foi dito acima temos que os dois sentidos de “4 letras” seriam: 1 Ser um animal[8]. E 2 Ser um certo número de símbolos. Ora, nota-se claramente que tais coisas são aceitas também como sendo o referente de “4 letras”, portanto a própria definição da palavra “sentido” será a responsável por como este conceito estará relacionado com outros. Porém não se entende (na filosofia analítica da linguagem) sentido como foi posto acima, este, parece, é um tipo de “sentido” para o senso comum ou para a linguagem natural. Em filosofia analítica o termo “sentido” pode representar dois âmbitos a princípio diversos, um sintático e outro semântico. Esta definição também será a que considerarei para o desenvolvimento deste trabalho. Sentido sintático corresponde à ordem dos símbolos que formam uma determinada fórmula[9] ou frase, uma proposição neste caso possui sentido se os símbolos que a formam estão bem organizados segundo regras já estabelecidas pelo sistema que essa proposição corresponde. Neste caso sentido é o mesmo que organização, ou seja, ter sentido é o mesmo que estar organizado segundo algumas regras. Minha tese sobre a proposição „a = a‟ é a de que essa proposição não pode possuir sentido sintático, o que quer dizer que ela não está bem formada. Minha argumentação contra o sentido sintático de „a = a‟ se baseará na igualdade como mesmidade sendo que nos outros casos (igualdade de referentes e igualdade de sentido) terei outra posição acerca do sentido da proposição „a = a‟. Antes de mais nada cabe mostrar o porque que tomo esta posição. A mesmidade é uma propriedade que os objetos possuem de serem iguais a si mesmo, o que quer dizer que não é possível que dois objetos a possuam, por isso uma proposição „a = a‟ quando tomada é problemática, sua representação parece deixar espaço para que se pense nela como sendo uma relação o que seria falso uma vez que mesmidade é uma propriedade postulada no princípio de identidade, uma relação possui dois lugares a serem preenchidos enquanto que a identidade (enquanto propriedade postulada) só necessita de um único lugar, ou seja, por ser a propriedade de qualquer objeto, enquanto tal, ser si mesmo, poderíamos então colocar que esta definição é analítica, dado que identidade (mesmidade) já está imbuida no conceito de objeto uma vez que, algo qualquer, tenha que possuir tal propriedade em qualquer caso para ser tomado como objeto. Uma parte da definição de um objeto da linguagem estaria então assim formulada: “Todo objeto da linguagem possui a propriedade de ser igual a si”. O problema central, ao me ver, da representação dada „a = a‟ é que em uma tal representação não possuiríamos uma diferenciação sintática entre esse tipo de igualdade e outra que não é analítica, ou seja „a = b‟. Se „a = a‟ possuir um sentido sintático então não poderemos (teremos também uma certa dificuldade de resolver a questão acerca do problema Fregeano – que será mais discutido posteriormente) evitar uma substituição entre os termos que formam „a = a‟ e termos que formam „a = b‟ uma vez que, sintaticamente ambos possuem uma mesma estrutura e que portanto possuem o mesmo sentido sintático. Logo, dado o que foi posto acima é necessário, de alguma forma, se diferenciar mesmidade e não mesmidade, e uma das maneiras de o fazer seria a negação do sentido sintático da proposição „a = a‟. III - A posição Fregeana. Agora então farei uma pequena descrição da maneira como os filósofos analíticos trataram os elementos da linguagem e como que diante de tais posições a igualdade (identidade) foi utilizadas por eles em tais tratamentos começando por Frege (por motivos Históricos). A hipótese que motivará esta descrição será a de que nenhum dos filósofos em questão tomaram uma noção de igualdade em sentido forte para as definições dos (nos) elementos da linguagem quando estavam estruturando sua própria posição, e que portanto, o fato de não terem utilizado a igualdade neste sentido são fontes de problemas para a interpretação de suas teses. Frege pertence à tradição analítica, um matemático interessado na fundamentação da lógica da matemática. Ele busca aproximar funções matemáticas e lingüísticas, de modo que a linguagem possua uma forma determinada e que de conta de seus significados da mesma forma como se dá na matemática, ou seja, sem ambigüidades. O problema da ambigüidade passa por questões de identidade a partir do momento que ambigüidade passa a ser um entendimento duo sobre determinada coisa. A opção de Frege para o conceito de igualdade será (em sua Begriffsschrift) a de considera-lo como uma relação de sinais de objetos. E como justificativa Frege se apoia no fato de serem „a = a‟ diferente cognitivamente à „a = b‟, tomando para si uma posição semelhante à de Kant, que considerava a primeira como sendo sustentada a priori e denominada de analítica enquanto a segunda (sintética) seria extensiva em relação ao conhecimento, ou seja teria mais informação que a contida na própria idéia de „a‟ e assim seria diferente da segunda. Sendo „a = a‟ o mesmo que „a = b‟ teríamos uma relação com aquilo que „a‟ e „b‟ se referem, isso dado que „a = b‟ fosse verdadeira, em outras palavras, „a = a‟ também é uma maneira de se simbolizar que um sinal „a‟ possui o mesmo referente que ele mesmo, portanto a mesmidade como igualdade em todos os âmbitos envolverá a igualdade de referência e de sentido também. Frege chama a essa relação (a = a) de “relação que todas as coisas tem consigo mesma”, essa é a mesma definição de igualdade no sentido forte que foi dado acima, para Frege assim como para o que será defendido neste trabalho, tal relação não se dá entre coisas distintas. O problema a partir de tais considerações será o de não se fazer uma importante distinção entre mesmidade (a = a) e um outro tipo de igualdade (a = b), Frege entende que „Scott = Scott‟ é uma sentença claramente analítica enquanto que „Scott = O autor de Waverlley‟ não é analítica, portanto não se poderá fazer a intersubstituição entre os elementos dessas duas proposições, a não ser que a segunda seja conhecida como verdadeira, assim sendo, só posso tirar uma sentença analítica de identidade a partir da mesmidade, aqui, observa-se que há de certa forma um apontamento de Frege para uma concepção de igualdade que seja esclarecida quanto ao seu escopo (isso a partir do entendimento de que a igualdade possui três âmbitos. Um relacionado ao seu sentido lato que envolve todos o outros e por isso, considero aqui como sendo o sentido forte. Os outros dois em relação às partes desse sentido mais amplo e está posto como igualdade de sentido e igualdade de referência). Observe-se porém que apesar de Frege ter identificado a diferenciação do sinal de igualdade, no caso acima, entre mesmidade (que ele considerará analítica) e igualdade de referência (este sintético), ele não levará esta distinção adiante no sentido de se reformular a representação das igualdades de modo a conter nesta representação uma indicação explícita dessa distinção. O que proponho aqui seria fazer uma modificação no sinal “=” para que então possamos entende-lo a partir de suas propriedades lingüísticas apropriadas, onde alguma regras, após algumas pequenas alterações não causariam mais os problemas que tanto Frege quanto outros filósofos apresentaram, deste modo teríamos os seguintes símbolos: „=ref‟ Para as igualdades entre referentes. „=sen‟ Para as igualdades de sentido. As alterações sobre as regras de substituição devem (a partir de tal modificação) ser adaptadas de modo que fique claro o entendimento de que tipo de igualdade se está tratando em diferentes casos. Assim, minha primeira proposta é que a regra de substituição só tenha aplicação entre igualdades da mesma espécie, o que quer dizer que esta regra só deverá ser aplicada entre igualdades envolvendo apenas um dos dois tipos citados acima. A segunda é determinar que a substituição, quando envolver dois tipos diferentes de igualdade só poderá ser efetivada se o sistema não distinguir sentido e referência (como no caso da posição russelliana como veremos mais adiante. Note-se que não se tem uma representação de mesmidade nos casos acima, isso se deve principalmente ao fato de, neste trabalho, estar defendendo que tal representação não seja possível. Esta idéia aparece também em outras partes do trabalho, por isso não vejo tanta necessidade de desenvolve-la aqui. Os seguintes casos em relação a isso podem ser discutidos aqui: a) „O quadrado redondo = O quadrado redondo‟ b) „O quadrado redondo = Coisa que não existe‟ c) „Pegaso = Pegaso‟ d) „Pegaso = Coisa que não existe‟ e) „O quadrado redondo = Pegaso‟ Que tipos de igualdade teremos nestes casos? De ante mão já sabemos que nenhuma dessas frases devem representar uma igualdade em sentido forte uma vez que em todas as 5 frases, existem dois lugares a ser preenchidos, portanto se são “dois” lugares não pode ser uma boa representação de uma igualdade em sentido forte. Uma igualdade em sentido forte deve possuir apenas um lugar pois trata-se de um princípio que confere identidade de um objeto consigo mesmo. Nos casos citados temos que: quando os nomes que estiverem ao lado do sinal “=” forem iguais, como „círculo quadrado‟ e „circulo quadrado‟ teremos claramente uma igualdade de sentido. Todavia há uma dificuldade em certos caso pois alguns nomes não possuem referência, assim sendo, como poderíamos dizer que „círculo quadrado‟ e „círculo quadrado‟ possuem uma mesma referência? No caso do termo „Pegaso‟ temos uma complicação a mais. Com efeito, no caso anterior o círculo quadrado é tomado como sendo uma impossibilidade lógica enquanto que o termo „Pegaso‟ não o é. Temos portanto que o problema parece se deslocar da questão da igualdade para a questão da existência. IV - Igualdade, nomes logicamente próprios e descrições Russell será importante para este texto uma vez que sua posição acerca de alguns elementos da linguagem possuem interesse capital na análise, tanto da igualdade quanto da ontologia que resulta desta. A ontologia entra aqui como conseqüência de resoluções de problemas no âmbito da linguagem, é interessante prestar atenção portanto na sobreposição da linguagem sobre a ontologia neste ponto da investigação. Os interesses que levam Russell a fazer tais formulações são sobre a negação existencial e seu sentido, é a partir disso que esse filósofo analítico cairá no tema dos nomes próprios passando por questões de identidade e referência entres outros. Assim faremos uma pequena exposição de alguns pontos da posição Russelliana frisando o modo como ele chega à questão da igualdade e como a tenta resolve. Para Russell a existência de um objeto nomeado não é uma questão a ser colocada quando seu nome é um nome é logicamente próprio, é esta uma das idéias que Russell toma e tenta desenvolver em sua Principia Mathemática, a partir disso Russell conceberá um quasepredicado (E!) relativo à existência apenas quanto às descrições definidas, a negação de (E!) não tem sentido sintático, por outro lado uma frase que afirma a existência (através do quantificador existencial) de algo que é idêntico a um objeto „a‟ estaria violando a gramática correta uma vez que sustentaria a afirmação de algo que não está permitido, que é afirmar-se a existência de um objeto apenas por um tal existencial como o dado acima (existe algo que é idêntico ao objeto „a‟). Assim, tanto frase existenciais do tipo „a existe‟ quanto suas negações não teriam sentido quando se referisse à nomes logicamente próprios, sendo esta posição conseqüência de sua teoria do significado. Essa teoria do significado sustenta que o significado de um nome logicamente próprio é sua denotação, e esta será a idéia base para toada a discussão sobre sentido e referência desde Frege até Kripke, onde algumas variações de posições se dará no “como” estas coisas (sentido e referência) se relacionam. Russell compartilha da idéia de Frege de que um termo sem referência em uma frase esvazia toda a frase, ou seja, quando a frase fala de um termo que não possui referência (para Russell este termo também não possui sentido) então toda a frase não terá uma referência (novamente, para Russell a frase, como acontece com o termo, não terá sentido). Em Frege porém, esta frase será considerada falsa, se o termo em questão não possuir referente e sem sentido se o termo não possuir sentido. Para sustentar essa idéia Russell constrói, em sua Principia, uma semântica que não deixa espaços (tenta não deixar) para os nomes próprios não denotativos, percebe-se então que o interesse Russelliano é antes de mais nada acerca do quantificador existencial, sendo portanto que a questão da igualdade aparecerá apenas na medida que for útil para sua posição. Russell usará a igualdade metalingüistica em sua definição de nomes próprios não lógicos, sua tese sustentará a seguinte igualdade: “Nomes próprios não lógicos = descrições disfarçadas”. Digo que esta é uma igualdade metalingüística na medida em que informa algo sobre a linguagem que se está estruturando, não é pois uma igualdade na linguagem como pode-se observar em „a = a‟. Aqui temos um dos pontos que apresentamos como tema no início do trabalho, que é o fato dos autores analisados aqui serem adeptos da mesmidade em um dos níveis da linguagem e em outro nível usar uma linguagem no sentido fraco. Russell, que está sendo visto neste item sustenta uma igualdade forte na linguagem objeto quando afirma que uma frase existencial do tipo: “Existe um objeto „x‟ tal que este x é igual a „a‟”, não possui sentido quando „a‟ é um nome logicamente próprio. Podemos perceber uma relação feita entre existência e igualdade em sentido forte na tese russelliana pois quando temos uma frase verdadeira „a = a‟ significa que „a‟ é um nome logicamente próprio e que portanto possui referência. Todavia me parece que há um certo engano no entendimento da mesmidade neste caso em relação à representabilidade desta mesmidade em uma teoria como a de Russell uma vez que, se „a‟ é um nome próprio então dizer que não se dá „a = a‟ seria algo contraditório e não sem sentido, mas se a mesmidade é um postulado e „a‟ é um nome logicamente próprio então não tem sentido negar „a = a‟ uma vez que há uma certa relação entre um objeto existir e este ser igual a si (isso a partir da própria idéia de Russell de que a = a só pode ser verdadeira se „a‟ é um nome logicamente próprio). O outro caso é a igualdade metalingüística (Nomes próprios comuns – não logicamente próprios = Descrições disfarçadas). Aqui estamos diante de uma igualdade de referentes, ou seja, nomes próprios comuns e Descrições disfarçadas são diferentes símbolos (representações) para um único referente (descrições). Sabe-se disto que esta igualdade é um sentido fraco de igualdade, é uma igualdade do tipo „a = b‟. Portanto está esclarecido como que Russell se utiliza de uma noção mesmidade para negar a forma tradicional de se tomar o quantificador existencial enquanto que para construir sua idéia de nome logicamente próprio contraposto a um nome próprio comum a igualdade usada é uma igualdade de referência. V - Igualdade e designadores rígidos Esta parte do trabalho será dedicada a Kipke, sua importância se fundamentará no fato de que ele tratou de problemas e posições muito interessantes para a filosofia analítica em geral, suas abordagens ajudaram a desenvolver a lógica modal colocando assim novos elementos para as abordagens sobre identidade e essência entre outros. Para esta monografia será importante ver como tais abordagens podem se submeter às posições que estão sendo aqui defendidas sobre a identidade, e como que Kripke se afasta ou se aproxima dessas abordagens. No texto de Kripke El nombrar y la necessidad a questão da identidade aparecerá já no início a partir de questões surgidas da relação mente-corpo e do materialismo, assim também como as demais questões que circundam todo o texto como a necessidade e a contingência, e é a partir disso que este filósofo tomará o caráter de importância da analise destes conceitos. Kripke também abordará temas envolvendo predicados de extensão nula. Este tema também é muito importante dado o que está sendo tratado neste trabalho, Russell também o explorou bastante, e percebe-se com isso que esses temas são decisivos quando se trata da identidade como objeto de pesquisa. Agora então faremos algo semelhante ao que foi feito anteriormente, ou seja, iremos expor em parte a tese de Kripke para depois interprete-la de acordo com os objetivos deste trabalho. O primeiro tema então a ser abordado nos escritos referido será o do nomear, se entenderá por nome então um “nome próprio comum” ou apenas “nome próprio” que são os nomes de cidades, pessoas etc. Esses nomes não serão tomados na mesma concepção de Russell que os considerava como descrições disfarçadas como está posto por Kripke: “Usaremos el término “nombre” de manera que no incluya las descripciones definidas de esa classe, sino solamente aquellas cosas que en el linguaje ordinário serían llamadas nombres prórpios. Si queremos un término común que abarque tanto los nombres como las descripciones, podemos usar el término “designador”.”[10] Temos acima, na citação feita, o aparecimento do termo “designador”, este termo será de capital importância para os interesses desta parte do trabalho, uma vez que, a teoria que é formulada por Kripke se utiliza diretamente dele. Note-se que a característica que Kripke atribui ao termo “designador” a saber: De abarcar tanto aos nomes quanto às descrições, terá como conseqüências interessantes sobre o conceito de igualdade, principalmente quando, mais adiante, ficar claro uma outra noção utilizada por Kripke, noção esta de “designador rígido” que se utiliza da noção acima para constituir a noção de rigidez, esta sendo fundamental para a teoria semântica que será analisada (teoria dos mundos possíveis). Antes disso porém, já aparece um exemplo interessante no artigo de Kripke que trata tanto de nomes quanto da identidade. Analisemos portanto este exemplo. Kripke irá tomar o exemplo dado por Donnellan no qual um falante consegue se referir a algo com sucesso usando para isso uma descrição definida, mas essa referência se dará não com relação ao referente dessa descrição propriamente dita mas a algo que se deseja destacar. Vejamos portanto o caso com algumas modificações não comprometedoras. Um dos interlocutor aponta para uma pessoa e profere a descrição: - Aquele que está com uma taça de champangne. Porem a pessoa a que esse interlocutor quer se referir não está com uma taça de champangne mas sim com uma taça com água. Entretanto esse interlocutor tem sucesso e seu ouvinte consegue identificar a quem ele estava se referindo. A questão que Kripke quer e sobre a possibilidade de se referir a um objeto sem contudo usar nomes logicamente próprios. Com isso Kripke percebe um tipo de igualdade em sentido fraco, que é a igualdade de referência porem não leva essa idéia a diante: “a veces podemos descobrir que nombres tienen el mismo referente y expresar esto mediante un enunciado de identidad.”[11] Digo que Kripke não leva a diante a igualdade em sentido fraco que ele identifica pois não propõe uma modificação que leve a sério esse tipo de igualdade, mas a utiliza de modo a fundamentar sua teoria dos designadores rígidos como poderemos ver mais adiante. Como exemplo de um desses casos Kripke cita os dois nomes dados ao planeta Vênus, concluindo a partir daí que a igualdade que há entre esses nomes reflete uma identidade da coisa nomeada. “En este caso, ciertamente no solo estamos diciendo de un objeto que es idéntico a sí mismo. Esto es algo que descubrimos. Resulta muy natural decir que el contenido real [es que] la estrella que vimos por la terde es la estrella que vimos por la mañana (o, de manera más precisa, que la cosa que vimos por la tarde es la cosa que vimos por la mañana). Esto, entonces, nos proporciona el significado real del enunciado de identidad en cuestión; y esto lo hace el análisis en términos de descripciones.”[12] Assim temo que a teoria dos designadores rígido apontam para uma subdivisão do conceito de igualdade porem que a própria teoria não leva a sério o diagnóstico sobre a igualdade que se dá na linguagem (sentido fraco e nesse caso, igualdade de referentes) e a igualdade ontológica (em sentido forte, igualdade consigo mesmo) 2a Parte VI - O problema da identidade na tradição hermenêutica. A pesquisa a ser feita neste ponto tem como objetivo estender a análise sobre o conceito de igualdade para alem do âmbito analítico. A hermenêutica pode contribuir muito para esclarecer algumas idéias que podem não ter ficado bem resolvidas na tradição analítica como por exemplo uma justificação mais abrangente acerca da divisão feita internamente ao conceito de igualdade ou a crítica ao tratamento lingüístico da igualdade. Alem disso poderemos entender o conceito de igualdade aplicado a outras categorias da linguagem como à interpretação ou à tradução, pois tais categorias não são consideradas pela tradição analítica da linguagem, pelo menos em relação as três posições analíticas tratadas neste trabalho (me refiro às posições de Frege, Kripke e Russell). A intenção inicial deste item será manter a distinção entre igualdade em sentido forte e igualdade em sentido fraco feita anteriormente para, a partir daí então, desenvolver uma análise da forma como a igualdade é considerada pela tradição hermenêutica frente a tal distinção. A tese a ser defendida será a de que na tradição hermenêutica a distinção da igualdade em dois tipos é levada mais a sério, e que portanto tem mais conseqüências do que a distinção frente à tradição analítica (isso em relação às posições que os autores que estão sendo tratados neste trabalho defendem, ou seja, poderemos considerar a afirmação acima como referente apenas a esses autores e não a toda tradição analítica ou hermenêutica). No desenvolvimento da análise que está sendo proposta por este item creio que será útil a consideração de um novo conceito a saber; o conceito de semelhança que estará atrelado ao de igualdade em sentido fraco este conceito será retomado mais adiante e que por enquanto não requer explicações. Note-se que não será preciso modificações simbólicas como as que foram feitas na parte referente à tradição analítica pois neste caso tínhamos como motivação para tal, uma coerência entre o que se estava defendendo e a sua aplicação formal, em outras palavras, as considerações referentes à tradição analítica nos remeteram à linguagem formal por ser este um dos meios para os objetivos dessa tradição (como um dos objetivos podemos citar a formulação de uma linguagem ideal), portanto percebe-se aqui que o interesse prático da tradição hermenêutica tende a ser minimizado recaindo tal interesse sobre as questões mais teóricas, o que pretendo dizer com isso é que interesses como uma constituição de uma linguagem ideal não são tomados como prioritários, e que a tematização da filosofia hermenêutica, por partir de idéias como “processos lingüísticos” ao invés de outras como construir linguagens modelos tem como conseqüência uma maior preocupação com temas mais “abstratos” (tomo este termo em sentido próximo ao subjetivo) ou seja, nesta tradição a subjetividade é vista como relevante o que não quer dizer que a objetividade não tenha importância mas que esta é dada em um outro aspecto em relação ao da tradição analítica. Logo, percebe-se uma centralização do tema hermenêutico à categorias mais subjetivas do que as encontradas na tradição analítica. No decorrer deste item serão expostas três posições hermenêuticas. Os autores referentes à essas posições serão: Gadamer, Beuchot e Flusser. O primeiro desses autores a ser analisado será Gadamer. Este autor pertence a tradição filosófica continental do século XX, tradição esta que se contrapõe em certo sentido à tradição anglo-saxã que é mais influenciada pelas idéias da tradição analítica. O texto que será explorado é uma parte da obra Verdade e método que trata da relação entre hermenêutica e linguagem mais especificamente a terceira parte que tem por título A virada ontológica da hermenêutica no fio condutor da linguagem. O segundo autor a ser considerado será Beuchot, este será importante dado que sua teoria da posição “analógica” relacionada a interpretações traz a tona questões sobre os conceitos de semelhança (que será definido mais adiante) e de identidade que serão bem oportunas para esse trabalho. Por ultimo veremos uma posição muito interessante e original exposta pelo filósofo brasileiro Villem Flusser, esta posição identifica linguagem e realidade usando para isso algumas categorias que dificultam a sua caracterização filosófica. Uma primeira pergunta antes de qualquer desenvolvimento é a seguinte: É possível que a identidade seja tomada como tema pela posição hermenêutica? A princípio creio que a resposta a essa pergunta seja afirmativa tendo como justificativa para isso que o princípio de identidade é um pressuposto anterior à qualquer discurso. Esta justificativa é parte do resultado da análise da noção de identidade na tradição analítica feita acima, e que será tomada nessa parte do trabalho por me parecer apropriado uma coerência de pressupostos em uma discussão que tenha como tema ambas as tradições (analítica e hermenêutica). Simplificando o que foi dito, a identidade é um princípio do discurso e por isso é anterior ao “tipo” de discurso que será tomado, portanto minha intenção é mostrar, a partir da identidade como sendo um tema necessariamente transversal, que é impossível colocar este princípio inteiramente no discurso. Ser “um pressuposto anterior a qualquer discurso” é o mesmo que ser a condição para o discurso, com isso quero expor que mesmo quando a identidade for um objeto do discurso o princípio de identidade continuara se comportando como princípio, portanto se nego uma identidade no discurso o faço apenas enquanto identidade instrumental, o que quer dizer que não posso negar a identidade enquanto princípio através do discurso, pois fazer isso (negar a identidade enquanto princípio) é o mesmo que romper a própria noção de discurso em seu pressuposto. VII - Identidade e simultaneidade enquanto instrumentos Hermenêuticos em Gadamer O objetivo desse item é mostrar algumas utilizações da idéia de identidade em Gadamer para depois procurar uma aproximação entre a posição Gadameriana e a tese de que a tradição hermenêutica em geral trata mais devidamente da identidade (igualdade em sentido forte) que a tradição analítica como foi proposto acima, alem disso há uma introdução de um outro conceito constituinte da idéia de identidade que é a “simultaneidade”. Para isso será feita uma exposição de alguns temas do texto de Gadamer tendo em alguns pontos comentários que apontem para a apropriação feita da noção de identidade pela posição hermenêutica, por último esses apontamentos serão analisados de modo que a tese proposta se fundamente ou não conforme for o caso. No início do texto de Gadamer percebe-se que há um interesse pelo “processo” da/na conversação, essa característica influenciará todas as categorias usadas na análise da “linguagem como medium da experiência hermenêutica”. Por exemplo, a consideração da “natureza da fala” como algo não controlável, dado que sendo um processo a fala nunca está constituída em definitivo, não há portanto espaços para conclusões finais, ou seja, há uma historicidade da fala a ser considerado que atrela a própria noção de tempo ao discurso (notese que este é um fator de extrema importância na distinção das duas tradições consideradas aqui, pois não há interesse algum pelo histórico-temporal na posição analítica). A compreensão se dá não em um pôr-se no lugar do outro, mas na experiência da linguagem, sendo que esta é uma experiência processual, ou seja, se dá em um momento histórico que, para Gadamer, terá uma extrema relevância para a constituição de uma compreensão, esta experiência processual “implica sempre um momento de aplicação”[13], e este “momento” de aplicação exigirá um novo conceito para o trabalho presente, conceito este que relacionará a identidade com a temporalidade, portanto tem-se aqui a idéia de simultaneidade como sendo este conceito que relaciona as duas noções anteriores. A experiência da linguagem depende também da existência dos interlocutores, quero dizer com isso que há uma importância referente ao papel da comunidade na qual seus membros compartilham vivências e experiências: “A linguagem é o meio em que se realizam o acordo dos interlocutores e o entendimento sobre a coisa em questão”.[14] A consciência das condições pela qual se dão os entendimentos, segundo Gadamer, são mais facilmente identificadas nas situações em que esse acordo é mais difícil é a partir disso então que será introduzida a temática da tradução. Em princípio a tradução é tomada como uma transposição do sentido (de um discurso por exemplo) a ser compreendido entre duas línguas diferentes, tal transposição deve manter o sentido, todavia essa manutenção se dará em termos novos pois o universo para o qual o sentido estará sendo transposto será um universo “diferente” do universo do qual esse sentido provém, daí vem a aproximação entre tradução e interpretação que, para Gadamer, será uma aproximação definitiva (pois definem-se entre si os termos interpretação e tradução) na língua e no tempo, em outras palavras, tomada a posição Gadameriana sobre esse tipo de tradução poder-se-ia estende-la também para uma noção temporalizada da igualdade que classificaria ambos os conceitos (tradução e interpretação) como sendo simultâneos entre si além de interdefiníveis. Cabe agora uma pequena explicação do modo como a simultaneidade está entendida neste trabalho, trata-se pois de uma igualdade em sentido fraco, esta noção não é tratada pelos autores analíticos considerados acima pois contém em si a noção de tempo, sendo que esta noção de tempo causa certos problemas a esses filósofos uma vez que traz consigo a possibilidade constante de mudança, tal possibilidade é fortemente prejudicial aos interesses analíticos pois destrói as expectativas de se fazer uma linguagem que permaneça sempre a mesma, ou seja, que não haja nenhuma tipo de mudança em sua estrutura. Simultaneidade pode significar “ao mesmo tempo” ou “ao mesmo instante”, em ambos os casos aparecerá o termo “mesmo” portanto há uma diferença concernente apenas ao termo que indica temporalidade, em um caso (tempo) o termo terá um sentido mais amplo do que em outro (instante) por isso será considerado aqui que a primeira expressão (ao mesmo tempo) é a definição mais apropriada para a simultaneidade enquanto um tipo de igualdade em sentido fraco. Poder-se-ia fazer alguma objeção defendendo que tanto uma quanto a outra expressão pode ser igualmente tomada como definição de simultaneidade sem diferença porém escolhi o primeiro por ser mais forte e é justamente essa diferença que pretendo visar, uma vez que, por mais forte que seja a igualdade entre “dois” conceitos não poderemos jamais toma-los como idênticos e isso ocorre tanto entre as duas definições acima quanto entre a simultaneidade e a identidade. Continuando com a temática da tradução, Gadamer defende uma ausência de tradução quando há um acordo. Uma tradução já é uma interpretação indicando um distanciamento entre os dois idiomas que estão em jogo na tradução, pela tradução temos que a linguagem deve ser o médium do acordo, “pois esse médium deve ser produzido artificialmente através de uma mediação expressa.”[15] Porem essa elaboração artificial não remete a uma situação normal de conversação nem tampouco a tradução o remete. A tradução portanto representa um fracasso no acordo, nesse caso nem mesmo quando a tradução é apenas implícita podemos chagar a um estado de acordo, o que vai implicar em uma negação radical da tradução no acordo. Aqui temos uma estruturação que remete a questão da identidade e da igualdade em sentido fraco (não identidade) pois da mesma maneira que entre duas coisas não é possível uma identidade, entre duas línguas não poderá haver acordo, o que temos é o seguinte: o fato de serem duas línguas impede que haja uma compreensão imediata, pois tem-se que fazer uma tradução e conseqüentemente uma interpretação, a compreensão de uma língua está diretamente ligada a uma não necessidade de tradução, portanto o que resta é um acordo referente ao tema, ou seja, o que parece permanecer quando se faz a tradução é o sentido do tema é nessa direção que o tradutor deve se orientar, assim o tradutor não deve traduzir o texto de uma língua para outra mas compreender o tema nestas duas línguas expondo-o da maneira mais próxima a se ter a permanência do sentido. Gadamer percebe bem a intransponibilidade da distância que há entre o sentido de um tema em duas línguas, pois a permanência real do sentido só seria dada no momento mesmo da compreensão enquanto tal, ou melhor, o momento da compreensão representa a identidade da compreensão consigo mesma, daí que quando se faz duas compreensões em duas línguas não pode haver, em nenhum sentido, uma identidade que é atribuída a essas duas compreensões, mas apenas a cada uma delas em separadas e consigo mesma. O problema da tradução também será analisado em relação à compreensão de textos, neste caso o que se faz é uma reconstrução do texto em uma outra língua (no caso do texto estar em outra língua) produzindo como conseqüência um texto renovado. Apesar de haver muitas vezes a consciência da distância do texto traduzido para o original, o tradutor tem que procurar um acordo, porem esse acordo é penoso visto que de ante mão já se sabe da sua impossibilidade. Essa distância pode ser considerada aqui como uma boa noção da identidade como igualdade no sentido forte e do entendimento desse elemento como sendo o pressuposto de uma linguagem e não um dos seus objetos, com efeito, se a igualdade em sentido forte é pressuposto da linguagem, então esta igualdade não pode ser um objetivo a ser alcançado pela linguagem, pois isso seria inverter as coisas, em outras palavras, seria colocar no fim o que esta no pré-início (algo que está antes do início), e isso que está sendo posto como pré-início é a identidade. A questão que perpassa a compreensão e a conversação é a de se delimitar o processo que abarca o que é estranho, esse processo pressupõem a diferença (principal categoria da não identidade). Chegamos a esta questão uma vez que concluímos a não possibilidade de se superar o abismo existente entre duas interpretações. Logo, o que resta é uma tentativa de se compreender o sentido do que se quer comunicar. “E assim como na conversação nos colocamos no lugar do outro com objetivo de compreender seu ponto de vista, também o tradutor procura pôr-se por completo no lugar do autor. Mas com isto não se produz nem o acordo na conversação nem se consegue reconstituir o original. De certo que as estruturas são muito parecidas. O acordo na conversação implica que os autores estejam dispostos a isso, abrindo espaço para acolher o estranho e o adverso. Quando isso ocorre de ambas as partes e cada interlocutor sopesa os contra-argumentos, ao mesmo tempo que mantém suas próprias razões, pode-se, por uma recíproca, imperceptível e involuntária transferência dos pontos de vista (o que chamamos de intercâmbio de opiniões) Chegar finalmente a uma linguagem e uma decisão comum.”[16] Na citação acima há dois momentos a se considerar, o primeiro é existência do elemento estranho que está fora da comunidade, ou seja, algo que não é compartilhado, e o segundo se refere à introdução desse elemento estranho na comunidade, no primeiro momento a diferença é pressuposta como foi visto acima, há neste caso uma distância que não se transpõe, no segundo o elemento estranho é visto como objeto a ser compreendido, tenta-se dessa forma uma introdução desse estranho na comunidade de forma a se constituir um terceiro momento que é a comunidade somada ao elemento estranho. Um fator importante colocado nesta citação é a não renúncia das próprias razões do sujeito que quer compreender, essa não renúncia remete a uma necessidade de preconceitos na compreensão do diverso, pois é desses preconceitos que partira os processos da compreensão. “Do mesmo modo o tradutor precisa resguardar o direito de sua língua materna, para o qual traduz, ao mesmo tempo em que acolhe também o estranho e inclusive o adverso do texto e de sua forma de expressão.”[17] Pelo que foi visto neste item percebe-se que há um maior cuidado da tradição hermenêutica em relação à identidade do que pelo que foi visto na tradição analítica, não que isto seja uma crítica a tradição analítica, mas sim que o próprio interesse hermenêutico pede uma maior cautela em questões que são conseqüências da idéia de identidade, enquanto que na tradição analítica o interesse recai sobre o bom funcionamento de suas categorias e não tanto na compreensão externa, ou seja, o interesse não é construir uma linguagem formal que se refira a tudo o que é dito em linguagem natural, mas que possua as bases para representar o que é “relevante”, já na tradição hermenêutica a relevância é a compreensão do que se diz através da linguagem sendo portanto uma abordagem mais ampla, talvez é por isso que seja tomada uma noção mais ampla do sentido de identidade enquanto que a tradição analítica ao tentar atomizar a linguagem acabe por perder essa característica correndo o risco como foi visto, de não determinar certas categorias dentro referentes a certos conceitos. VII - A Hermenêutica Analógica A hermenêutica analógica será tema desta parte do trabalho. Para exposição deste tema será usado o texto de Maurício Beuchot Tratado de Hermenêutica Analógica. Beuchot expõe em seu texto três teses (a tese relativista, a tese univocista e a tese analógica) relacionadas ao sentido da interpretação. A primeira defende que tudo é relativo e que portanto qualquer interpretação possui sentido, a segunda defende que apenas uma das interpretações pode ter sentido enquanto que a terceira diz que há um conjunto de interpretações possíveis que possuem sentido. Beuchot então apresenta refutações às duas primeiras teses por terem como conseqüência de seus princípios conclusões contraditórias. A tese univocista é refutada pois uma vez que for aceita terá que ser aceita enquanto interpretação, mas se a interpretação for tomada de modo absoluto deixará de ser uma interpretação. Beuchot irá exemplificar a refutação do univocismo com a refutação de um tipo de univocismo que é o empirismo lógico, este defende que apenas uma interpretação pode ter sentido e ser verdadeira, que é a interpretação de um enunciado empírico por um aparato lógico, porem como não é possível a verificação empírica deste tipo de procedimento, ou seja, da afirmação desse sistema de verificação, perde-se portanto o sentido de se utilizar um sistema de verificação de enunciados que não pode ser verificado, assim o enunciado referente à verificação da validade do sistema não tem sentido no sistema, isso segundo Beuchot ocorre em qualquer tese univocista sendo portanto uma tese autorefutável. A tese equivocista é refutada pois pretende um relativismo absoluto, sendo assim haverá um elemento necessariamente não relativo na tese relativista, esse elemento se baseia na intenção da tese de ser universal, pois afirma algo do tipo: todas as interpretações são relativas. Assim o próprio enunciado dessa posição estará sujeito a interpretações equivocistas podendo ser considerado em alguns casos como não válido e portanto implica uma não universalidade, daí essa característica de ser simultaneamente universal e não universal implicará em uma contradição com relação ao valor de verdade do princípio equivocista. As refutações das teses univocista e equivocista deixa a opção da tese analógica mais evidente, essa terceira opção segundo Beuchot é inspirada no modelo de Aristóteles e dos Medievais[18] e tem como princípio um relativismo relativo onde um conjunto de interpretações possuem sentido e outro conjunto não, em outras palavras, o modelo analógico é um relativismo não universal ou mais fraco que o equivocismo refutado por Beuchot. Portanto poderíamos dizer que Beuchot tenta “salvar” as partes das teorias anteriores que não geram problemas, as partes problemáticas seriam o univocismo do princípio equivocista e o relativismo do princípio univocista. Da síntese das partes não problemáticas de cada uma das posições teríamos o relativismo relativo proposto por Beuchot. “En cambio em la analógica se dice que hay um sentido relativamente igual (secundum quid idem) pero que es predominante y propiamente diverso (simpliciter diversum) para los signos o textos que lo comparten”[19]. Apesar da tese analógica ser um meio termo entre as duas outras teses, não se deve considerar que ela esta situada simetricamente entre as duas pois segundo Beuchot há um predomínio do equivocismo no analógico que remete para uma diversidade e não para uma unicidade de significados das interpretações, todavia sem haver uma renúncia radical de univocidade que impossibilite o conhecimento racional. O conceito de hermenêutica analógica aparece como sendo uma exemplificação da semelhança, esta semelhança pode ser considerada aqui como uma certa distância entre interpretações, neste caso diríamos que uma interpretação possui uma semelhança com uma outra se há uma proximidade entre elas que supera a proximidade de uma terceira, ou seja, o conceito de semelhança estará posto aqui como um conceito comparativo e não um predicado de apenas um ou dois lugares, a semelhança é então uma relação com três lugares descrita do seguinte modo: „x é mais semelhante a y do que a z‟. O conceito de semelhança portanto estará relacionado espacialmente a três objetos (no caso entre três interpretações), essas interpretações serão consideradas mais semelhantes do que uma terceira porem dado que apesar de haver uma diferença entre elas ambas são interpretações possuindo assim uma participação dos objetos no conceito de interpretação, ou seja, suponhamos três interpretações a, b e c, a é mais semelhante a b do que a c, sabemos de antemão que essas duas interpretações a e b não são idênticas dado que são “duas” interpretações e não “uma” porem ambas são “interpretações”, em outras palavras, ambas possuem a mesma propriedade de ser “interpretação”. A terceira interpretação (c), como será visto mais adiante pode até não ser considerada uma interpretação conforme for o caso. A divisão em três tipos diferentes de teses sobre interpretações está relacionada com as três categorias diferentes do conceito de igualdade, as três categorias que constituem o conceito de igualdade são a identidade (igualdade em sentido forte ou mesmidade), a semelhança (igualdade em sentido fraco ou igualdade em parte) e a diversidade (não igualdade ou diferença). Essa relação pode ser feita da seguinte maneira: A tese univocista está relacionada à idéia de identidade, a tese equivocista está relacionada à idéia de diversidade e a tese analógica com a semelhança. “En la interpretación univocista se defiende la igualdad de sentido, en la equivocista, la divesidade.”[20] Disse acima que o conceito de semelhança estará relacionado espacialmente a dois objetos, uso esse termo (espacialmente) por se estar tratando da “distância” como categoria da hermenêutica utilizada nas considerações da hermenêutica analógica de Beuchot como veremos mais adiante. Portanto teremos dois tipos de igualdade em sentido fraco também na tradição hermenêutica, estes tipos se referem ao tempo (simultaneidade) e ao espaço (semelhança). VIII - A relação entre Linguagem e realidade em Villem Flusser. Villem Flusser será o último autor a ser comentado neste trabalho, o livro de Flusser que será referência aqui é Língua e Realidade. Flusser começa o capítulo 1 com um diagnóstico sobre a sociedade moderna, esse diagnóstico mostra a importância que é dada aos dados estatísticos, como uma das fontes dos considerados dados Flusser identifica os sentido, e pressupondo que historicamente a linguagem foi a maior responsável pela transmissão, assimilação e permanência desses dados Flusser irá propor como hipótese que “devemos a grande maioria dos dados dos quais dispomos ao ouvido e à vista, já que grande maioria desses dados consistem em palavras ouvidas e faladas.”[21] Essas palavras serão portanto a maioria de matéria prima que compõe o nosso pensamento. Há todavia um outro conjunto de dados que diferentemente das palavras não são articulados, esses dados são imediatos, dados brutos que não são computados pelo intelecto a menos que este os transforme em palavras, assim há no intelecto uma instância que transforma esses dados em palavras. A definição de realidade como sendo um conjunto de dados nos leva a afirmação de uma dupla realidade: A realidade das palavras e a realidade dos dados brutos. Essa divisão lembra a posição kantiana que faz essa divisão em termos de fenômeno e nôumeno, e seguindo esta mesma estrutura, somente o mundo das palavras (em Kant, dos fenômenos) poderão ser articulados pelo intelecto enquanto que o outro mundo pertence “obscuro” e impassível de articulação. A posição assumida por Flusser pretende reduzir a realidade à palavras (linguagem) e o texto analisado aqui pretende analisar o comportamento dessa posição. “Como os dados “brutos” alcançam o intelecto propriamente dito em forma de palavra, podemos ainda dizer que a realidade consiste de palavras e de palavras “in statu nascendi”. Com esta afirmativa teremos assumido uma posição ontológica.”[22] Há aqui uma primeira apropriação do conceito de identidade na posição de Flusser, em geral o conceito de identidade é utilizados em definições, portanto uma definição de realidade perpassa o conceito de identidade na forma como esse conceito é entendido na própria linguagem, a definição é um processo lingüístico que normalmente se faz com a utilização do verbo “ser” no presente do indicativo da terceira pessoa do singular cuja conjugação tem a seguinte grafia: “é”. Frege como foi visto na primeira parte do trabalho também faz essa aproximação, pois para este filósofo analítico o sinal “=” é representado na linguagem natural pelo “é”. Prosseguindo, Flusser faz uma descrição, segundo a posição que foi tomada, da maneira como se dá essa identidade entre palavras e realidade. A realidade que é constituída por palavras é a realidade ordenada, todavia há um aspecto no conjunto das palavras que Flusser irá caracterizar como estando na margem da língua, a expressão metafórica usada por Flusser para designar esse aspecto é “salada de palavras”, sendo as palavras organizadas formando um cosmos, uma salada de palavras remete a um conjunto desorganizado de palavras. O filósofo brasileiro está de acordo com Gadamer no que diz respeito a categoria do “acordo”, assim no entendimento do significado de alguma palavra deve-se ter anteriormente um acordo em uma comunidade que determine o significado de um determinado símbolo, o aprendizado de uma palavra se dará então pela consideração dessa palavra como sendo um símbolo que possui um determinado significado, enquanto símbolo com um significado tal palavra não pode ser dividida, diferentemente da consideração da palavra enquanto palavra, que apesar de ser considerada como átomo da linguagem pode ser dividida (como acontece com os átomos). Um problema pode ser atrelado ao que foi dito no parágrafo anterior, esse problema é o da origem do sistema de símbolos, todavia, segundo Flusser, esta é uma questão ingênua visto que não há uma possível solução capaz de ser fundamentada por elementos a disposição, qualquer solução neste sentido se perde nas “brumas do tempo”. Pessoalmente desconfio que esta esquiva Flusseriana não desinquieta os espíritos mais inquietos, falta uma argumentação mais encorpada que dê razões suficientes para o descarte da pergunta sobre a origem da articulação lingüística. Flusser usa como argumento a identificação entre articulação de símbolos e articulação dos pensamentos, passando dessa identidade à conclusão de não significação do problema. A distinção que foi exposta anteriormente entre os dois tipos de realidade refletem uma estruturação particular da noção do sentido da linguagem, não temos a partir dessa distinção uma pressuposição de uma realidade absoluta que seja espelhada pela linguagem, mas duas realidades que não se relacionam. A impressão da linguagem como espelho de uma realidade absoluta provem, segundo Flusser, da estrutura de algumas línguas que indicam uma realidade desse tipo, assim um idioma como o chinês seria um contra exemplo à posição da metafísica tradicional pois nesse caso não é possível uma distinção na linguagem que sustenta essa posição a saber: Entre verbo e substantivo, etc. Também o próprio português não poderia sustentar a posição tradicional uma vez que nesse idioma há alguns mecanismos que não representam os mecanismos dessa posição, para exemplificar isso Flusser cita o caso da frase: “isto é uma caixa grande”, onde uma frase análoga “isto é um caixão” representa uma situação em que a qualidade é “engolida” pela substância. “Isto para não falar de substantivação de adjetivos e verbos, da adjetivação de substantivos e verbos etc., coisas corriqueiras dentro da língua portuguesa, mas malabarismos inconcebíveis dentro da “realidade absoluta” pressuposta pela divisão clássica.”[23] Esse caso poderia ser usado como um contra exemplo da teoria Flusseriana, pois o caso acima mostra uma não relação entre a visão de realidade tradicional e a visão de realidade que está relacionada a língua portuguesa, tendo como conseqüência que essas duas concepções são incoerentes, portanto pode-se seguir daí que não seria possível o entendimento das idéias tradicionais por um falante da língua portuguesa, o que não é o caso, assim Flusser tem que responder a seguinte questão: Como que é possível, uma vez que a língua é realidade, a existência, em uma mesma língua, de duas concepções de realidade incoerentes uma com a outra? Esse problema é contornado em parte com a seguinte passagem: “a língua, como sistema de símbolos apontando para algo, significando algo, procurando algo, não consiste de símbolos equivalentes, mas de símbolos hierarquicamente diferenciados.”[24] Portanto a língua portuguesa não deve ser entendida como um sistema separado, mas como parte articulada dentro de um sistema mais amplo. O segundo nível da linguagem é formado pelas frases, essas são conjuntos organizados de palavras. Na relação entre as frases e as concepções tradicionais feita por Flusser temos que as frase significam os processos onde a idéia básica é a seguinte: “a realidade absoluta consiste de substâncias que se modificam, transferindo qualidades de si para outras.”[25] A frase pode ser verdadeira ou falsa conforme a possibilidade de sua representação da realidade, neste caso temos que a frase é verdadeira quando representa algum processo que ocorre na realidade realidade. Segundo Flusser essa posição acerca da condição de verdade de uma frase também é problemática pelas mesmas razões que a discussão sobre a subdivisão de palavras o é. Há portanto no trabalho deste filósofo uma proposta de um novo conceito de verdade que pretende dar conta desses problemas. O território da lógica terá consequentemente os mesmos problemas identificados nas linguagens naturais, isso torna-se mais claro se focalizamos a origem da linguagem da lógica, uma linguagem artificial necessita de uma metalinguagem para que a articulação dessa linguagem artificial seja esclarecida para um falante comum. A validade universal da lógica é negada por Flusser, pois, segundo ele, a análise clássica e a análise lógica da frase são a mesma coisa, assim quando se nega a validade universal de uma nega-se também de outra. A proposta que será dada a partir dessas conclusões é a de uma análise da frase radicalmente nova, de acordo com essa nova análise, a frase seria “certa” quando as palavras obedecessem as regras da língua à qual essas palavras pertencem, portanto há uma espécie de condição semelhante ao do sentido sintático na tradição analítica, aqui vejo um ponto que poderia complicar essa definição do que é “certo” segundo Flusser, que é o caso de palavras estrangeiras que são acolhidas por uma língua, essas palavras nem sempre obedecem as mesmas regras na nova língua que obedecia na língua de origem, assim como poderíamos determinar qual das regras (da língua de origem ou da língua nova) deveriam reger a condição para que tal palavra fosse usada em uma frase de modo a que tal frase fosse certa? Flusser não aponta para nenhuma resposta a essa questão na parte do texto em que trata da condições para uma “frase certa”. Em seguida há uma distinção entre frase e pensamento, onde a diferença se dá por que um é subjetivo (o pensamento) e outro é objetivo (a frase) portanto poderíamos dizer que ambos são o mesmo e o que difere são os modos de apresentação. Logo, da mesma forma que uma frase pode ser certa ou errada conforme as regras da língua um pensamento também seria certo ou errado conforme as regras da língua ao qual pertence. Para o caso do valor de verdade, Flusser defende que a relação entre as frases será condicionadas pelas regras de uma língua, é portanto, assim como no caso da frase certa, a obediência dessas regras o critério pelo qual se poderá classificar uma frase como sendo verdadeira ou não. A verdade por correspondência da tradição é apenas uma verdade que relaciona duas frases iguais como o chove lingüístico e o chove fatual, sendo assim uma pseudocorrespondência. Flusser, como vimos constrói sua posição utilizando-se várias vezes da noção de igualdade, e a noção de não igualdade, por exemplo: “Análise lógica e análise clássica de frases são, fundamentalmente, a mesma coisa”[26]. Em um outro caso a igualdade é utilizada em conexão com a não igualdade para que se tenha uma igualdade em sentido fraco: “ „Frase‟ é o nome do aspecto objetivo, e „pensamento‟ é o nome do aspecto subjetivo dessa organização de palavras.”[27] Desta forma, apesar de se tratar do mesmo objeto (organização de palavras) há uma diferença que é conectada a esse objeto segundo o deu modo de apresentação (interno ou externo) tendo assim um atrelamento da noção de igualdade e da diferença para a concepção de duas coisas iguais no sentido fraco (frases e pensamentos). Esse uso que é feito da noção de igualdade e de não igualdade em Flusser mostra que este autor possui um bom entendimento desses conceito e que portanto toma cuidado em suas definições para que fique claro os aspectos que cada uma dessas noções contém em particular. Considerações finais. O presente trabalho pode ser considerado como sendo apenas um projeto um pouco mais desenvolvido, porem suas pretensões bem definidas acerca de seu objeto nos dá uma impressão (justificada) de que há uma importância na questão posta sobre o conceito de “igualdade”. Há uma consciência da escassez de argumentos ou exemplos que fundamentem ainda mais a posição tomada. A igualdade, como se sabe é um dos tema mais controversos e descultiveis no âmbito da filosofia, sua problematização nos remetem a épocas distantes e a contextos por demais abstratos como por exemplo a contestação heraclitiana de mesmidade a partir da afirmação radical da mudança. Portanto, é lícito fazer delimitações que direcionem a idéias quando se trata de um tema como o que foi tratado nesta monografia. Tomamos duas tradições contemporâneas que dificilmente ocorrem em um mesmo texto, a dificuldade porem não foi o fato de haver em geral uma distância entre as duas posições vistas, mas sim o de determinar essa possível distância que em certos momentos pareceram inexistentes. Poder-se-ia supor que a igualdade é uma tema mais analítico do que hermenêutico, todavia, como podemos ver neste trabalho, essa suposição aponta para uma indicação de que, na tradição analítica, existe uma maior dificuldade de entendimento da igualdade, isso pode ser esclarecido pela própria utilização que é feita do conceito de igualdade dentro das duas tradições. Este trabalho portanto deve ser entendido como uma parte momentânea de um projeto mais elaborado sobre o tema da igualdade, pois sabe-se que, em tão poucas linhas, não é possível formular uma posição adequada sobre idéias tão complexas. Bibliografia. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 4a edição. ALSTON, Willian. Filosofia da Linguagem. Zahar, RJ, 1997. APEL, Karl-Otto. A Transformação da Filosofia. Vol. I. Filosofia Analítica, Semiótica, Hermenêutica. Loyola, São Paulo, 2000. BEUCHOT, Mauricio. Tratado de Hermenêutica Analógica. Hacia un nuevo modelo de interpretación. Itaca, México, 1997. FLUSSER, Villem. Língua e Realidade. Herder, São Paulo, 1963. FREGE, Gottlob. Lógica e Filosofia da Linguagem. Cultrix, São Paulo, 1978. GADAMER, Georg. Verdade e Método. Vozes, 1998. KRIPKE, Saul. Naming and Necessity. Harvard, 1998 (10a reimp.) ____________. El Nombrar y la Necesidad. UNAN, México. 1995 LINSKI, Leonard. Nombres y Descripciones. Interlínea, México, 1998. Arquivo Filosófico. -------------------------------------------------------------------------------- Notas [1] Ver Dicionário de filosofia. Abbagnano, (igualdade). [2] Frege, “Sobre o sentido e a referência”. Pg 61. [4] No exemplo (s) não temos nenhuma proposição no sentido lógico, não há inferências nem valores de verdade, temos apenas uma situação pragmática que só está posta uma vez que ela me parece considerar a referência bem pontualmente. Há uma ostensão onde um objeto (animal) foi apontado por uma pessoa x que falando algo se referiu ao objeto apontado através de tais palavras. Não é importante o fato de o interlocutor já ter ou não escutado tal palavra, ou que falasse ou não o idioma da pessoa x, mas por ter entendido que a palavra gato se referia àquele animal, ou seja que essa palavra denominou tal animal. [5] A linguagem se define como esta tentativa de dizer algo, ou seja, de significar algo mais do que símbolos articulados neste caso estamos falando de uma significação semântica além da significação sintática [6] Aqui já se percebe uma meta igualdade que seria uma relação entre igualdades ou entre igualdade e outras propriedades. Essa relação (como veremos mais adiante) também foi percebida por Frege, todavia não poderei desenvolve-la dado o contexto em que faço este trabalho. [7] Entre esses filósofos, três terão um especial enfoque neste trabalho; Frege, Russell e Kripke. [8] Note-se que “nome de um animal” e “um animal” estão sendo representados por uma mesma coisa. [9] Aqui a aplicação deste tipo de sentido está bastante voltada para a formalidade da linguagem [10] Kripke, S. El nombrar y la necessidad (pag. 29) [11] Ibid. Pg. 33. [12] Ibid. [13] Verdade e Método. Pg. 497 [14] Ibid [15] Ibid. Pg. 498. [16] Ibid. Pg. 501. [17] Ibid. [18] Ver Maurício Beuchot. Tratado de Hermenêutica Analítica, Pg. 51,52. [19] Maurício Beuchot. Tratado de Hermenêutica Analítica, Pg. 52. [20] Idem. Para a tese analógica ver a citação anterior. [21] Flusser, Villem. Linguagem e Realidade Pg. 22. [22] Ibid. Pg. 23. [23] Ibid. Pg. 26. [24] Ibid. [25] Ibid. [26] Ibid. Pg. 28. [27] Ibid. Pg. 28-29 O que é psicologia social? O objetivo deste texto é o de introduzir o leitor “à algumas das muitas questões que os psicólogos sociais fazem sobre o comportamento social as maneiras que utilizam para responder a estas questões, e as respostas que tem encontrado.” Uma definição da psicologia social “Psicologia social é o estudo dos efeitos dos processos cognitivos e sociais sobre a maneira como os indivíduos percebem, influenciam e se relacionam com os outros indivíduos”, ou seja “psicologia social é a ciência referente aos processos sociais e cognitivos subjacentes com interesse nos comportamentos observáveis. O principal interesse da psicologia social é como as pessoas compreendem e interagem com as outras” O estudo científico... A diferenciação do método científico com o senso comum é dado aqui como fundamental para a organização e conclusões dos estudos do comportamento social. “...como cientistas, os psicólogos sociais estudam o comportamento social sistematicamente, procurando evitar as más concepções e distorções que tão frequentemente afligem o conhecimento senso comum”. ...dos efeitos dos processos cognitivos e sociais “ Processos sociais são as maneiras pelas quais nossos pensamentos, sentimentos e ações são afetadas pelo input de outras pessoas e grupos que nos cercam”. É também nesse tópico que está exposta a idéia de que somos sociais mesmo quando estamos sozinhos, em outras palavras, é como se a influência de outras pessoas fizessem parte de nossa própria constituição levando-nos assim a agir de certas maneiras, como no exemplo dado (o do elevador) no qual as pessoas mesmo sozinhas permanecem viradas para a porta. “Processos cognitivos são as maneiras como nossas memórias percepções, pensamentos, emoções e motivos influenciam nossa compreensão do mundo e guiam nossas ações”. Existem duas maneiras básicas de interligação entre os processos cognitivos, são elas: Os indivíduos no grupo e o grupo no indivíduo ... Sobre a maneira como os indivíduos percebem influenciam e se relacionam com outros indivíduos. O que diferencia a psicologia social da sociologia, ciência política e outras ciências sociais está no foco central, onde, para a psicologia social é mais importante compreender o comportamento social do indivíduo. A perspectiva especial da psicologia social. As questões básica dessa perspectiva são as seguintes: “como esta perspectiva especial realmente ajuda os psicólogos sociais a compreender o comportamento social?” e “como podemos usar esta abordagem na medida em que tentamos compreender e explicar os comportamentos sociais complexos que encontramos diariamente?” Assim “a compreensão da maneira como as pessoas agem nas situações sociais, nos ajuda a explicar os eventos de nossas próprias vidas”. Tendências históricas e temas atuais na psicologia social Fruto de uma maior preocupação e de mudanças nas áreas sociais implicaram num desenvolvimento de um ponto de vista particular desta área com relação a outras ciências. A psicologia torna-se uma ciência empírica. Devido o desenvolvimento da ciência da psicologia é que foi possível um favorecimento maior para a psicologia social. Apesar das tendências behavioristas, a psicologia social manteve suas aplicações científicas. A primeira pesquisa realizada (oficialmente) nesta área remonta ao final do século XIX e se refere ao desempenho de nadadores e ciclistas com relação a ausência ou não de rivais. Os estudos realizados nesta área chegaram ao tema que “logo depois tornou-se a principal preocupação da psicologia social”: “Que as pessoas são fortemente influenciadas pelos outros, quer estes outros estejam ou não fisicamente presentes”. A psicologia social separa-se da psicologia geral na questão das causas do comportamento. Esse tópico explica a relação: Psicologia social e behaviorismo, mostrando o quanto estavam ou não separados. “A psicologia social foi distinta na sua convicção de que a compreensão e mensuração das percepções, crenças e sentimentos das pessoas é essencial para a compreensão do comportamento observável”. O surgimento do nazismo influencia o desenvolvimento da psicologia social O texto explica que essa influência se deu pelo fato do nazismo ter provocado a fuga dos cientistas europeus para os EUA, dando dessa forma maior ênfase da psicologia social sobre “como as pessoas interpretam o mundo e como são influenciadas pelas outras”. “Condições criadas pela Segunda guerra mundial também levaram os psicólogos sociais a procurarem soluções para resolverem problemas práticos imediatos” Crescimento e integração “Durante as décadas de 1950 e 1960 a psicologia social cresceu e floresceu...” Dentro dos temas chaves que a psicologia social desenvolveu os que versam sobre autoestima, preconceito e estereótipos, conformismo, persuasão e mudanças de atitude, formação de impressões, atração interpessoal e relacionamentos íntimos e relações intergrupais tiveram um considerável desenvolvimento nas décadas em questão. Esses processos sócio psicológicos são estudados em vários ambientes aplicados por psicólogos sociais, com ênfase às questões de saúde, educação, direito, ambiente e organizações. Como a abordagem deste livro reflete uma perspectiva integrada A abordagem desse tópico se refere ao tema na psicologia social não só como ciência integradora dos processos cognitivos e sociais mas também à teoria básica com a pesquisa aplicada. Partindo de que toda a diversidade e riqueza do comportamento social humano pode ser compreendido em termos de uns poucos processos sócios psicológicos fundamentais. Esses processos surgem de oito princípios: Dois axiomas (Construção da realidade - acreditamos que percebemos o mundo como ele realmente é - e a generalidade da influência social – mesmo a presença imaginária dos outros nos influencia), três princípios motivacionais ( As pessoas lutam por domínio, as pessoas procuram associações entre si e as pessoas valorizam o “eu e o que meu”) e três princípios de processamento (Conservadorismo, Acessibilidade e superficialidade versus profundidade). Explicando cada princípio de processamento, temos: Conservadorismo: Posições estabelecidas mudam vagarosamente. Acessibilidade: A informação mais acessível produz maiores efeitos Superficialidade versus profundidade: As pessoas podem processar informações superficialmente ou profundamente. Resultados bons ou ruins “O comportamento humano não é sempre tão simples quanto parece, mas também não é impenetrável à investigação científica ou impossível de ser compreendido sistematicamente.” Amor Amor e conhecimento Amor é um dos temas mais abordados de todos os tempos, seu entendimento, suas características, um tanto “indescritíveis” , até hoje são considerado impassíveis ao gênero humano, ou pelo menos de difício controle. O trabalho a seguir leva em consideração a parte do amor relacionada ao conhecimento, de forma que haja uma demonstração simples e clara das principais teorias defenndidas por Sartre e por Platão, e junto com essas diferentes (em partes) posições, seja então, compreendidas como que elas se relacionam, e se completam. Principais questões analisadas por Sartre e alguns tópicos de Platão em suas concepções do que é o conhecimento e do que é o amor Sartre expõe três dimensões do ser, o em-si, o para si e o para-outro, de maneira que o em-si sendo facticidade, existe como se fosse a parte da natureza material, ou seja parte objeto em que a encarnação torna-se possível . Dentro dessa primeira definição o conhecimento da natureza do corpo é dado por Sartre como “indispensável para o estudo das relações particulares entre meu ser e o ser do outro” (O ser e o nada pag. 451) , é então nesta primeira parte que se tem uma captação da transcendência-transcedida do outro, e assim é dado o primeiro passo para as relações concretas com o outro. A proposta de Sartre nesse primeiro ponto é explicitar as estruturas das relações mais primitivas com o outro-no-mundo. Essa parte nos da a impressão de que só passamos a perceber a facticidade do outro, quando, em contra partida, somos também uma facticidade, inviabilizando, segundo o próprio Sartre a existência de uma consciência fundamentadora do em-si, isso é colocado em termos de fuga do para-si para o em-si. Tal consciência é chamada por Sartre como uma definição um tanto psicológica e por isso não conveniente. E como que, para Sartre, essa fuga resultaria numa relação com o outro? Segundo as atitudes que são tomadas com relação ao objeto que sou para o outro, Sartre tenta demonstrar que o outro pode deter-me com o olhar, “coagulando-me intgralmente em minha própia fuga” , ou seja, o sentido do meu ser acha-se fora de mim , e sendo assim, posso então, ou tratar o outro como objeto, ou procurar recuperar a liberdade, sem todavia, priva-la de ser liberdade. Assim estão colocadas algumas estruturas ontológicas do para-si , relacionadas, de certa forma com classificações do em-si como tentativa de fundamento e ao mesmo tempo fuga do para-si , sendo essas uma das príncipais causas das atitudes primitivas que adoto com relação ao outro. No diálogo O banquete , de Platão(216b e c), estão descritas algumas passagens que retratam tal teoria de Sartre, pois quando Alcibíades diz que foge de seu fundamento dado por Sócrates, é que na verdade, temos uma negação dessa fundamentação, mas de qualquer maneira não há como, ainda colocar uma relação concreta entre Sartre e Platão pois mesmo parecendo um pouco coerente, tais passagens e descrições destes conteúdos, não são tão precisas e por isso a necessidade de outras análises. O fato é que, Platão, sendo essencialista e Sartre, Anti-essencialista, faz com que exista uma barreira entre os pontos de vista desses dois filósofos e daí então surge a dificuldade de aproximá-los. Colocando o outro como fundamento do meu ser, Sartre constroi um tipo de definição do projeto-amor, como algo-ponte para (necessário para) a realização da liberdade, que de um certo modo passam a ser confundidos um com o outro (projeto-amor e busca da liberdade). Mas essa amalgamação ocorre pelo fato de Sartre estar restringindo o amor a um termo de projeto da consciência, e o que estaria então vinculado à esta restrição? Ou melhor, onde que esta colocada tal restrição em suas observações? Esta limitação pode ser esclarecida se tomarmos ela como uma estrutura da epistemologia sartreana usada para encontrar a parte comum do projeto, existente quando se analiza o geral, e assim poder demonstrar as disposições funcionais do sentimento humano através da unidade de situação (situação-projeto de recuperação de meu ser). Seria como encontrar o ponto que nos faz compreeder a reta. Para isso é que Sartre se utiliza da lógica de uma consciência-liberdade, ou consciência-tentativa de liberdade, que permita entender a busca-projeto do ser (que sempre é um projeto que fracassa e por isso não deixa o ser encontrar sua plenitude). Sartre evidencia o uso de uma filosofia da subjetividade, pois é dentro dessa filosofia que se poderia buscar toda a densidade do teor mítico da existência humana. Poderiamos dar dois exemplos desse teor O primeiro diz respeito a essa coisa já desgastada chamada amor. Piscologias as mais diversas “dizem” o que é o amor. Mas não o dizem, pois sempre se lhes esquiva o que seja o amor. É que as piscologias - sem desmerecer seu precioso estatuto - são palavra segunda. São uma tematização de segundo grau, em cima de uma palavra primeira que é a experiência natural. Sei o que é o amor, porque experiencio intensamente esse grande valor humano. Mas acontece que esse saber meu não é de ordem racional ( e as ciências o são ) mas da ordem do vivido. Mas sei . E esse saber é tanto mais profundo quanto mais intenso o amor. Mas acontece que a razão não consegue medir tal intencidade. Está aí um exemplo da grandeza e da miséria humana (encontramos também em Platão essa caracterização do amor, como o agente que é determinado por fatos opostos como por exemplo: riqueza e pobreza); como diria Pascal, “encontro em mim níveis de conhecimento eslarecê-los tenho que alça-los ao nível da - experiência natural - e ao tentar racionalidade para explica-los, esmiuça-los, quantificá-los. E esbarro na impotência da razão. É por isso que ela enfeza . . .” ( Do mito à razão pag. 28). Entretanto, neste momento é mais conveniente recuar um pouco mais, em proveito de uma questão ou de uma aprendizagem mais radical. Refiro-me ao conhecimento que se pode ter cada vez mais do ser humano. aprender isso é ir se inteirando a aprendizagem mais profunda e que realmente interessa na vida: conhecer o humano, o mundo humano. Essa experiência, que se dá (ou deveria se dar ) ao nível do vivido e não propriamente do tematizado, configura aquilo que fundamenta um processo de ensino-aprendizagem realmente humano. Ora, em filosofia “aprender o que é humano” é fundamental nesse sentido: dele derivam todas as aprendizagens. Creio que é por aí que vai Rubem Alves, ao dizer que “o saber precisa ter sabor” (Do mito à Razão pag. 29) Ainda falando em fundamento, em filosofia, ele é um ponto de partida somente, é tarefa, trabalho de reconstruir-se a cada momento, a cada instante em que percebemos que o processo ensino-aprendizagem está deixando de ser humano, quem sabe na imenência de tornar-se um instrumento com o qual aproprio-me de outro, reduzo o outro a mão-de-obra barata por ser eu o dono do capital intelectual. Quero com isso dizer que, ao longo dos conteúdos que devem ser cuidadosamente planejados e transmitidos, pode e deve ir sendo vivida essa aprendizagem: o humano. Difícil e árdua às vezes essa aprendizagem, pois se da quase dentro dos conflitos que são componentes muito encontradiços no relacionamento humano. Mas deve ser buscada, ou, pelo menos, não impedida. Creio mesmo que se poderia dizer que os títulos acadêmicos que o professor adquiriu só tem sentido na medida em que, entre outras finalidades, lhe propiciem encontros com gente, encontros que, através dos conteúdos arduamente adquiridos na pesquisa, resultem num bem-querer que é o sabor do saber. Desse modo parece que o amor transcende a categoria do conhecimento: é tambem uma categoria do conhecimento. Não me refiro aqui ao afeto recíproco entre educando-educador. Refiro-me ao amor não como condição de possibilidade do conhecimento, mas ele própio sendo uma categoria epistemológica. Pelo sentimento não só gosto mas conheço mais. Isso pode ser demonstrado de uma maneira dialética, ou seja, admitindo-se que não podemos amar o que ignoramos, pelo fato de não termos ciência de sua existência, nos faz crer que o amor serve como um caminho para conhecermos algo que “sabemos” que exista. Mais ou menos, é dessa maneira que Sartre usa o termo do conhecimento para as relações com o outro, e que por vezes se aproxima das relações amante-amado em Platão. É todavia encontrada a natureza do amor em Platão(203d) e estando entre dois opostos o faz torna-se mais abstrato em nível de conhecimento objetivo ou científico-racional. Por isso podemos dizer que em Platão, temos uma definição de amor que o generaliza um pouco mais que a definição de Sartre, pois aquela admite outros tipos de amar, enquanto esta só é concebida quando levamos em consideração o olhar do outro. Mas o que seria na verdade esse “outros tipos de amar”? Um deles seria a própia genialidade dos sábios (o Banquete 203a ) , e um outro é pelo fato do amor ser filósofo (O Baquete 204b) , assim muitas definições tornam-se possíveis e cabíveis dentro do contexto de que os homens nem sempre, ou melhor quase nunca pensam da mesma forma, uns em relação aos outros. Levado, então, a questão por esse lado, como que Sartre explicaria uma pessoa que passe a amar uma outra após ter visto apenas uma única foto dela? Podemos dizer então que o amor segundo Satre-Platão, é único quando tomado apenas em sua parte e muitos quando em sua totalidade. Sartre toma o amor em sua parte, e desclassifica as outras, ele tambem separa desejo de amor, e assim tomando apenas o amor homem-mulher condicionado a princípio pelo olhar um do outro, descreve as relações do emsi e do para-si quando em circunstâncias do amor. É em relação à essa restrição que me referi no início do trabalho, mas na verdade a questão principal não é essa delimitação, e sim o instrumento usado por Sartre para descrição das atitudes com relação ao outro. Isso porque o instrumento usado por Sartre parte da consciência e não da da natureza, como em Platão, e aonde tal instrumentalização ira implicar? Basicamente no tipo de explicação que terá que ser elaborada para legitimação de sua teoria, então, sendo assim Sartre elegeu a consciência como instrumento, portanto, tendo de explicar o amor através deste ponto. Sartre, levou em conta então, a maneira com que o amor age sobre a consciência, mas dessa forma, o reconhecimento do amor na consciência passa a ser uma consequência e não a causa do amor, ou seja o amor já existe, e nós através da consciência podemos aceitá-lo ou negá-lo, mas a consciência não pode ser juiza do amor , e assim o amor acaba se tornando mais uma questão de busca da própia identidade da consciência como sendo completa em si mesma. Na verdade, Sartre propõe que o amor só passará a existir se nós aceitarmos a nossa fundamentação do em-si que não está em nós e sim no outro. Assim Sartre está colocando o amor como uma condição que aparece após a decisão da consciência. Mas o amor tambem é um instrumento que deseja capturar a consciência (O ser e o nada página 457) e daí surge a pergunta que está nesta mesma página: Por que o amor deseja capturar a consciência? Se o amor não é desejo e o amor deseja, como poderiamos conceber o amor sem a participação do desejo? Essa não é a resposta e sim uma questão de sintaxe. “É da liberdade do outro enquanto tal é que queremos nos apoderar” ? Diz Sartre. Tambem em outras palavras “o amante não deseja possuir o amado como se possui uma coisa:. . .Quer possuir uma liberdade enquanto liberdade”? Assim se o amor é um capturar da liberdade passa a não ser mais, então, o amor em si e sim um projeto-liberdade. Mas como explicar o amor em si, separando-o do desejo e da liberdade? Essa é uma questão muito mais complexa, e mais próxima do objetivo de Platão. De qualquer modo vou tentar fazê-lo me influenciando em uma definição sartroplatônica, ou seja, buscando uma relação que se aproxime na mesma proporções, tanto de um quanto de outro, mesclando a natureza e a consciência como seu principal motivo. levando então em consideração isso: o que é o amor? O amor é uma tendência ( natural) da minha consciência encontrar um equilíbrio perante as coisas e conceitos que estão em minha volta, no mundo material e imaterial a partir do contrapeso de outra(s) consciêcia(s) ou “símbolos de consciências” ( o mais proximo possível da que ditamos a nos mesmos como ideal) de modo que a existência dessa(s) consciência(s) , eleitas por nós, haja como um juiz na determinação das coisas que me definem, junto às minhas próprias definições, e assim faça com que eu tenha uma ideologia mais forte ( em termos de concreticidade ) da existência. Entede-se aqui , por símbolo de consciência o objeto que nos transmite algum tipo de relação com nossos conceitos humanos-abstratos. Esse conceito coloca o amor tão mais próximo do conhecimento, quanto da liberdade, pois um se mescla ao outro, em diferentes movimentos e posições. O termo ideologia, serve, principalmente para construírmos definições de nós mesmo e do mundo com base nas perguntas essenciais do ser humano, ou seja, a consciência é subordinada à ideologia, e por conseguinte a primeira é consequência da segunda. Resumindo: Somos a nossa própria ideologia e nada mais. Assim tentei contruir um conceito de amor baseado nos pensamentos de Sartre e Platão, analisando um pouco de cada lado e comentando seus pontos de vista, por vezes, de maneira superficial para em seu fim, casar da melhor maneira os dois modos de se observar o tema. Este tema que ao mesmo tempo que é falado e divulgado, com uma certa simplicidade possa, talvez, ser explicado de maneira tão complexa e completa sem jamais ser definitiva. BLIBLIOGRAFIA LUFT, Celso pedro. Mini dicionário. São Paulo, Ática/Scipione MORAIS, Regis de. As razões do mito. São Paulo, Papirus 1988 PLATO. O banquete. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo 1966 SARTRE, Jean Paul . O ser e o nada. Ensaio de ontologia fenomenológica . Petrópolis, RJ: Vozes,1997 Análise relacionada a dois mitos platônicos sobre o tema do amor A proposta dessa análise é colocar os pontos no qual Platão está baseado para a concepção de tais mitos. Assim esse breve trabalho demanda um pouco de especulação crítica e analítica, pois, em certos aspectos não será possivel a demonstração retilínia da forma como o mito está proposto, mas isso não quer dizer que há uma impossibilidade de se chegar a um viés claro e conciso. O ponto de partida para a análise será a descrição simples dos mitos escolhidos considerando as disposições dos fatos, junto com uma crítica e interpretação das prováveis metáforas em questão, pois assim teremos uma visão generalizada do tema. Este tema, como se observa, é o ponto comum do livro Banquete de Platão ( alguns tópicos já mensionado no lísis) e no decorrer dos discursos ele é abordado de várias formas. O mito é uma delas . Um dos mitos utilizados é o mito dos andrógenos, contido no discurso de Aristófanes. Tal mito consiste na explicação do porque do amor através da origem humana colocada como uma teoria dos Andróginos. “Outrora a nossa natureza era diferente da que é hoje. Havia três sexos humanos e não apenas, como hoje, dois”(189) . A escolha de tres sexos para os andróginos propõem a relação também sobre as tres formas de relações “normais” determinadas em seu tempo, não havia contudo o amor pois os andróginos sendo completos ( por serem formados de duas metades ) não possuíam a nessecidade de procurar uma parte que os completassem ou seja, não careciam de relações uns com os outros. As alusões ao cosmos determinam a forma desses andróginos que por serem ditos descendentes de astros ou deuses celestes de forma redonda tambem eles também eram assim. Essa afirmação, é bastante condescedente com a filosofia de Platão, ou melhor dizendo, com uma de suas “crenças” . Qual “crença”? A teoria de que, quanto mais perfeito alguma coisa for, também mais próxima será da forma mais perfeita, alguns filósofos atribuíram essa forma ao circulo, e pelo fato dos astros serem deuses, eles eram assim desse formato. Esse raciocínio serve do mesmo modo para colocar bases no que Aristófanes havia pronunciado pouco antes, e que afirmava sobre o poder de Eros. Por consequência dos Andróginos serem de formas parecidas com a dos deuses e pela coragem que tinham, o orador (Aristófanes), relata que o homens se acharam em condição de atacar os deuses do céu, essa ação levou Zeus a tomar uma decisão, protecionista e utilitária, que foi a de cortar cada um deles em duas partes proporcionando assim duas vantagens: primeiro, ficarão mais fracos. Segundo, serão mais úteis, pois serão mais numerosos. E assim foi feito. Apolo, então, foi requerido para curar a ferida provocada pela cisão feita, essa explicação serve para várias questões outras que se observam nos seres humanos, e tenta, de certo modo, interpretar algumas características de seu corpo. A colocação do sexo, após algum tempo foi resultado da condição em que ficou os seres, após a divisão, primeiramente na parte superior, o que permitião apenas a procriação na terra “como as cigarras” (191) . Depois, como Zeus percebeu que os homens estavão se estinquindo, resoveu colocar os orgãos genitais para frente de modo que o homem pudesse gerar na mulher seus descendentes. “É daí que se origina o amor que as criaturas sentem uma pelas outras; e esse amor tende a recompor a antiga natureza, procurando de dois fazer um só, e assim restaurar a antiga perfeição”(191). A estrutura desse mito serve como pano de fundo para considerar as posições de Platão. Primeiro demonstra-se uma origem, ou melhor como as coisas estavam normalmente, no caso deste mito, as condições eram mais harmoniosas mas por um fato não justo ou correto teve-se um determinado castigo dos deuses aos homens. Esse castigo levou a uma reorganização das condições e passaram a atuar novas dinâmicas. Então valores surgiram juntamente com os modos de relações que antes não existiam. No caso em questão pode-se supor o porque de colocar o amor como resultado de um castigo, pois nem sempre esse sentimento traz felicidade, e essa felicidade só aconteça no amor quando ele chega ao seu objetivo, ou seja, podemos conotar que essa realização não é em si uma conquista e sim o fim desse castigo. Há, tambem, intrinseca a essas idéias, a noção de que o amor só pode atingir seu objetivo quando ela junta duas partes que antes eram uma só, assim se tem o ponto onde há uma explicação do objeto do amor, por fim, observa-se que Platão universaliza o amor pois as pessoas não estão, e não se tem notícia de estarem, mais juntas ( grudadas) as outras. ao mesmo tempo que impossibilita aos humanos de amarem-se a todos ao mesmo tempo. O uso do mito em Platão serve como um apoio onde são colocadas idéias e posições própias. A análize, então, desses mitos auxiliam-nos para que possamos entender e até certo ponto especular algumas teorias platônicas. O tema amor faz parte do conjunto desses mitos e nesse trabalho tentou-se colocar algumas interpretações que podem ajudar no entendimento dos temas que estão sendo abordados. BLIBLIOGRAFIA Banquete;Platão Filosofia e tecnologia (2006) O conceito de tecnologia traz consigo, quase que necessariamente, a idéia de “instrumentos”, “ferramentas” ou a noção de “capacidades”. Os instrumentos, ou ferramentas só realizam suas funções se a eles somamos “habilidades”. Também surge, quando pensamos em tecnologia, quase que instintivamente, a “técnica”, ou seja, “o procedimento ou o conjunto de procedimentos que têm como objetivo obter um determinado resultado, seja no campo da Ciência, da Tecnologia, das Artes ou em outra atividade.” 1 Tanto a palavra tecnologia quanto a palavra técnica possuem a raiz grega techne (τεχνη) “ofício” daí podemos supor que estas se refiram a qualquer ofício de interesse humano. As questões filosóficas sobre tecnologia são tão naturais e volumosas quanto a nossa mente pode imaginar. Questões éticas, epistemológicas, políticas, lingüísticas com relação à(s) tecnologia(s) se reproduzem com velocidades incríveis, assim também como a complexidades destas. As tecnologias servem tanto para salvar vidas quanto para destruir vidas. Para gerar progressos e desigualdades sociais. Para fazer algumas pessoas mais ricas e outras mais pobres. Enfim o conceito de tecnologia pode se confundir com o de “fazer” humano. Mas será que é “só” humano? A tecnologia é, de uma forma geral, o encontro entre ciência e engenharia. Sendo um termo que inclui desde as ferramentas e processos simples, tais como uma colher de madeira e a fermentação da chuva respectivamente, até as ferramentas e processos mais complexos já 1 Wikipedia criados pelo homem, tal como a estação espacial internacional e a dessalinização da água do mar respectivamente2. “Será que a tecnologia é essencialmente racional?” “Será que apenas os seres humanos a possuem?” Um primata usa um graveto para conseguir formigas de um formigueiro. Um hamster enterra suas sementes para conserva-las e protege-las. Que diferenças formais há entre essas atitudes e as nossas tecnologias além da complexidade? Questionar é próprio da filosofia. A tecnologia produz problemas com uma velocidade assustadora. Talvez a relação entre tecnologia e filosofia esteja nesse alimento que a tecnologia produz para a filosofia. O que seria da filosofia sem a produção industrial de perguntas a partir das tecnologias? E ainda, o que seria do progresso tecnológico sem a “visão para o além” da filosofia? Podemos então dizer que a filosofia é a arte de fazer perguntas enquanto a tecnologia se comporta como provocadora dessas perguntas. Chamamos de técnica, num primeiro momento, as práticas dos seres humanos que tem por fim a satisfação de suas necessidades básicas, sendo informadas por conhecimentos transmitidos culturalmente. O que diferencia a técnica da tecnologia são os tipos de conhecimento que as informam: no caso da técnica, qualquer conhecimento; no caso da tecnologia, conhecimento científico. De acordo com esta definição, o conceito de técnica é o mais amplo, englobando a tecnologia como um tipo particular. Enquanto atividade, podemos dizer que a técnica é uma atividade-meio, cujo fim é a satisfação das necessidades básicas.3 Em um segundo momento podemos supor que o que está sendo entendido como técnica acima pode ser considerado como “cultura”. Assim cultura não seria nada mais do que técnica 2 3 idem. http://paje.fe.usp.br/~mbarbosa/cursograd/notas4.doc em um segundo momento. Uma técnica consagrada ou sacralisada. A filosofia no sentido de Dewey, portanto, seria uma crítica a essa “técnica sacralisada”. Lukasiewicz, bivalência e verofuncionalidade (2006) Resumo: É bem conhecida a questão da valoração de proposições sobre futuros contingentes tais como descreve Aristóteles no De Interpretatione IX, assim como também são bem conhecidas as lógicas n-valoradas de Lukasiewicz criadas para solucionar tal questão. Lukasiewicz trata dos futuros contingentes aristotélicos aplicando a noção de valores intermediários de verdade, tratamento este criticado por alguns autores. Contudo, um ponto falho em tais críticas é que o tratamento com valores intermediários devido a Lukasiewicz permite salvar a verofuncionalidade, perdida quando reduzimos tais lógicas a sistemas bivalorados. 1) A batalha naval Uma lógica com três valores de verdade é sugerida por Aristóteles em sua obra De Interpretatione. Tal lógica pode ser entendida como uma tentativa de solucionar um certo problema com relação aos futuros contingentes. Tendo em mente que proposições devam corresponder a fatos, fica evidente que quando se trata de eventos situados no futuro tem-se uma alternativa real e uma potencial em direções contrárias. Daí, a afirmação e a negação correspondentes a essa proposição terão o mesmo caráter. Portanto, ambas poderão ser verdadeiras ou ambas poderão ser falsas, porém atualmente não podem ser nenhuma delas. Aristóteles argumenta que não podem valer ao mesmo tempo os seguintes casos: a) “haverá ou não haverá uma batalha naval amanhã” é, agora, indeterminado, e b) já é definitivamente verdadeiro ou definitivamente falso que haverá uma batalha naval amanhã. O sentido para tal argumentação aristotélica é claro: O que não está ainda determinado não pode ser conteúdo de averiguação. Aristóteles defende, da mesma forma, que embora nenhuma das partes da disjunção seja, agora, verdadeira ou falsa, o conjunto inteiro desta disjunção (haverá ou não haverá uma batalha naval amanhã) é desde já definitivamente verdadeiro. Se realmente existem proposições que não são nem verdadeiras nem falsas mas apenas potencialmente verdadeiras ou falsas, então isto significa que as lógicas verofuncionais, como as que são desenvolvidas por Lukasiewicz, não podem ser aplicadas, sem modificações, a campos nos quais tais proposições aparecem. Entre os pensadores medievais isto foi percebido, ao menos por Okham, que em seu comentário ao De Interpretatione tenta trabalhar sobre as conseqüências de se considerar proposições com valor "neutro" coexistindo com proposições que possuem valor de verdade determinado. Ele analisa tais conseqüências tendo como critério o que o próprio Aristóteles aceitaria ou rejeitaria em sua doutrina. O exemplo que Okham vai tomar vem da teologia, ou mais precisamente, da teoria dos três valores aplicada à doutrina da omnisciência divina. Dado que, o que é conhecido pode ser expresso por proposições verdadeiras, se existem coisas sobre as quais não é possível, no presente, construir uma proposição que seja verdadeira ou falsa, então pode parecer que existem certos tipos de questões para as quais Deus não pode, desde já, conhecer a sua resposta. Considere, por exemplo, as seguintes proposições: 1) "X acontecerá" e 2) "Deus sabe que X acontecerá". (Deus sabe que 1)) Onde X é contingente, ou seja, um evento futuro indeterminado. Poderíamos em tal caso dizer que, do ponto de vista aristotélico, "se 2), então 1)"? Okham pensava que sim, pois o antecedente neste caso é falso, e o conseqüente é "neutro", se considerarmos, portanto, proposições falsas implicando em proposições "neutras", assim como acontece quando proposições falsas implicam proposições verdadeiras, teremos o seguinte: (com notação encontrada em Prior, 1962) C0½ = 1, assim como acontece em C01=1. Isto significa que a implicação "se 2), então 1)" é verdadeira não importando que tipo de evento X possa ser. No caso em que 1) é uma proposição falsa o antecedente também o será, pois não se pode dizer que alguém sabe que algo vai acontecer se esse algo não irá acontecer. Neste caso, então, teremos C00=1. o único caso que nos resta considerar é quando a proposição 2) é verdadeira. Assim, Deus (sendo Deus) sabe que 1) e daí o antecedente é verdadeiro e desta forma C11=1 e a implicação é verdadeira novamente. Okham também considera a implicação conversa "se 1), então 2)". Aqui novamente, se o antecedente for falso, o conseqüente também o será, e se verdadeiro, o conseqüente será verdadeiro, e em ambos os casos a implicação será verdadeira. Mas, se o antecedente for "neutro", o conseqüente será falso. Segundo Okham, a implicação, neste caso, não será verdadeira, consequentemente, “não vale ambos p e não-q” não implicará em todos os casos “ se p, então q”. O problema de se construir uma lógica verofuncional que permita trabalhar com proposições “neutras” como as que encontramos nos trabalhos aristotélicos foi atacado em 1920 por Lukasiewicz de forma sistemática. Ele sugeriu que para N (negação), C (implicação), A (disjunção), K (conjunção) e E (equivalência) deveríamos considerar as seguintes matrizes. A 1 1 1 1 1 ½ 0 N 1 ½ 0 K 1 ½ 0 ½ 1 ½ ½ 0 1 ½ 0 C 0 ½ 1 1 1 ½ 0 1 ½ 0 ½ ½ ½ 0 0 0 0 0 1 1 1 1 ½ ½ 1 1 0 0 ½ 1 E 1 ½ 0 1 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 0 1 ½ 0 A partir dessas matrizes podemos perceber que Kpq, ou seja, (p & q) é definido como NANpNq, ou seja, (~(~p v ~q)) (daqui para frente usaremos a notação polonesa sem que a correspondente notação usual seja mencionada). Epq é definido como KCpqCqp; Apq não é, entretanto, definido como CNpq, mas é definido no cálculo “implicacional” como CCpqp. (No sistema de três valores, CNpq e CCpqp não são equivalentes). Podemos ainda definir de acordo com as matrizes acima Np como Cp0. Muitas leis do cálculo proposicional bivalorado deixam de valer de acordo com os significados dos conectivos dados pelas matrizes acima. Por exemplo, o segundo C-N-axioma de Lukasiewicz, CCNppp. Uma outra lei que também deixa de ser uma tese no sistema de três valores é a lei do terceiro excluído, ApNp. Com efeito, quando p = ½, ApNp = A½N½ = A ½ ½ = ½ . Neste ponto, existe uma divergência entre o sistema de Lukasiewicz e o que é sugerido no De interpretatione; para Aristóteles, a disjunção “haverá ou não haverá uma batalha naval amanhã” vale mesmo quando as suas partes, “haverá uma batalha naval amanhã” e sua negação, têm ambas valores indeterminados (“neutro”). Aristóteles afirma a validade da disjunção não por causa dos valores de verdade atribuídos a seus componentes (1, ½ ou 0), mas porque esses componentes são contraditórios. Existe, portanto, um elemento não verofuncional no tratamento destas proposições. Prior [3] considera que o aparecimento da não-verofuncionalidade em tais proposições é devido a uma confusão com relação à diferenciação das duas seguintes sentenças: i) “Haverá ou não haverá uma batalha naval amanhã” que é verdadeira de acordo com regras verofuncionais, somente quando pelo menos uma das duas componentes for verdadeira e ii) “Amanhã será o caso da seguinte sentença: „há ou não há uma batalha naval‟”. A sentença ii) não é verofuncional dado que o conectivo de disjunção é governado pelo operador não-verofuncional „amanhã será o caso...‟ (operador este que não aparece no sistema trivalorado de Lukasiewicz) enquanto que a sentença i) apesar de ser verofuncional não possui validade para todos os casos. (cf. [3] pp 230-250) Há portanto um problema a se resolver: Como tratar as proposições contingentes (sobre o futuro) a partir de seus valores de verdade (inclusive o “neutro”) e ainda manter as características lógicas básicas como por exemplo a verofuncionalidade? Para responder a essa questão analisaremos duas propostas diferentes. A primeira, que chamaremos de proposta B, crítica os sistemas trivalorados de Lukasiewicz e tenta uma solução a partir da temporalização da lógica. A segunda, que chamaremos de proposta C, defende que os sistemas trivalorados de Lukasiewicz não são supérfluos e que portanto não devem ser descartados ao se tratar de lógicas contendo proposições futuras e, em matéria contingente. 2) A proposta B O princípio de bivalência desempenha um papel fundamental na tentativa de se refutar o determinismo lógico. Tal princípio diz simplesmente que só o discurso no qual reside o verdadeiro e o falso é um discurso veritativo (De Interpretatione, IV, 16b33-17a7). O determinismo (também chamado de necessitarismo lógico) é atribuído a Diodoro Crono e parte da idéia de que toda possibilidade deve se atualizar para que seja realmente uma possibilidade. Aristóteles não aceita tal caracterização do conceito de possibilidade e, portanto, admite que podem haver possibilidades que jamais serão atualizadas. Um outro modo de se entender o necessitarismo é através do problema que surge ao se tentar atribuir valores de verdade a proposições futuras em matéria contingente. De fato, se atribuirmos à frase “haverá uma batalha naval amanhã” o valor 1, então certamente a batalha virá a acontecer, porém se o valor de tal frase é 0, então certamente não acontecerá tal batalha de modo que, qualquer que seja seu valor de verdade (1 ou 0), o futuro estará fadado a acontecer em conformidade com este valor e portanto estará desde já necessariamente determinado. Porém, é extremamente antiituitivo uma tal posição que considere o futuro como algo já previamente determinado. Muitos interpretes consideram que Aristóteles não pode refutar o determinismo lógico sem limitar a validade irrestrita do princípio da bivalência. A proposta B de resposta aos problemas causados pela consideração de proposições futuras e contigentes, é uma tentativa de resolver o impasse causado pela ameaça do determinismo porém sem abrir mão do princípio de bivalência irrestrito. A estratégia para tal feito é então a temporalização do princípio juntamente com a sua adequada compreensão. Percebe-se que para os defensores de tal proposta, não é preciso adicionar um terceiro valor de verdade. Primeiramente consideremos a relação entre o princípio de bivalência e o determinismo lógico. “Crisipo e Epicuro admitiam a implicação do princípio de bivalência irrestrito ao necessitarismo universal. Crisipo aceitaria o princípio sem restrição e consequentemente, o determinismo, enquanto Epicuro, ao contrário, recusando o determinismo, teria negado a universalidade irrestrita do princípio de bivalência". ([1], p 173) A citação acima pode ser considerada em duas etapas ordenadas. Primeiro com relação à seguinte pergunta: Vale a implicação do princípio de bivalência irrestrito ao necessitarismo lógico? Segundo: Vale o princípio de bivalência irrestrito? A maioria dos autores considerados no presente artigo estão de acordo com a resposta afirmativa à primeira questão, ou seja: Princípio de bivalência irrestrito Necessitarismo lógico Mas diferem no que concerne à segunda questão discordando ou não sobre a validade do necessitarismo lógico. Os interpretes de Aristóteles sustentam que o estagirita, em sua refutação do necessitarismo lógico exclui, com relação à bivalência, os enunciados singulares futuros em matéria contingente. Estes enunciados não seriam nem verdadeiros nem falsos e portanto o princípio de bivalência teria valor restrito. O preço, porém, de tal restrição seria elevado. Não havendo valores de verdade atribuído a tais proposições as suas negações também não poderiam ser valoradas e portanto ter-se-ia a restrição da verofuncionalidade como resultado. Um outro problema que parece surgir com relação à restrição do princípio de bivalência é o da restrição do princípio do terceiro excluído. Ambos os problemas citados acima são considerados apenas aparentes para os defensores da proposta B. “Penso que essa compreensão de Aristóteles está fundada num duplo erro. Por um lado, sobre uma incompreensão da formulação precisa, segundo Aristóteles, dos primeiros princípios lógico-ontológicos, em particular do princípio de bivalência. Por outro, (...) essa interpretação não logra apreender adequadamente a concepção aristotélica de valor-de-verdade (...)e, pois, da verdade simplesmente”. ([1], p. 175) Seguindo a idéias aristotélicas de que todo e qualquer enunciado deve ser verdadeiro segundo o modo como as coisas são (veritas sequitur esse rerum) e de que a mudança é logicamente possível (contrapondo os argumentos eleáticos) conclui-se que é preciso introduzir o tempo na fórmula dos primeiros princípios (uma vez que sem tempo não há mudança). Esses primeiros princípios devem ser entendidos como princípios do ser enquanto ser, aplicando-se a tudo o que é e, por conseqüência, também a seres mutáveis e, pois, temporais. Consideremos então novamente o princípio da bivalência (um enunciado é veritativo se, e somente se, ele é verdadeiro ou falso). Os enunciados em sua forma elementar possuem um elemento temporal através de seu verbo que “co-significa” o tempo. Assim sendo, o verbo ser, flexionado como por exemplo na expressão “X é verdadeiro ou falso”, pode significar o tempo presente ou o presente omnitemporal. No caso em que essa flexão significa o presente omnitemporal, o „é‟ pode então ser substituído por “é, foi e será” (casos esses em que os enunciados são tomados como necessariamente verdadeiros, por exemplo: “O homem é mortal”, “5 mais 7 é 12”, “4 é par”). Quando a flexão do verbo, tal como descrita acima, significa o tempo presente, a substituição não pode ser feita uma vez que não temos elementos suficientes para constatar a necessidade ou não do que está sendo dito. Para os defensores da proposta B, o princípio da bivalência deve ser tomado como irrestrito e portanto necessário. Dessa forma, a formulação exata do princípio de bivalência torna-se, por conseguinte, algo como “um enunciado é veritativo se, e somente se, ele é, foi ou/e será verdadeiro ou bem ele é, foi ou/e será falso”. (A conjunção “e” se aplica aos enunciados necessários e a disjunção “ou” aos contingentes e ambos, aconjunção e a disjunção, não serão aqui vero-funcionais). (cf. [1] p 177) 3) A proposta C 4) Surpresa!!! A proposta S. Bibliografia [1] Balthazar Barbosa Filho (UFRGS/CNPq). Aristóteles e o princípio da Bivalência. Analytica, Vol. 9 n 1, 2005. [2] J.-Y. Beziau (ed.). Carlos Caleiro, Walter Carnielli, Marcelo Coniglio e João Marcos. Two's Company: “The Humbug of Many Logical Values” In Logica Universalis pp 169-189. Birkhäuser Verlag Basel/Switzerland 2005. [3] Arthur Prior. Three-valued and Intuitionist Logic in Formal Logic. Claredon Press, Oxford 2a ed. 1962.
Baixar