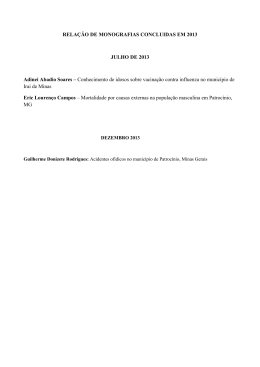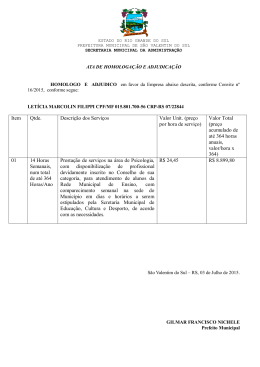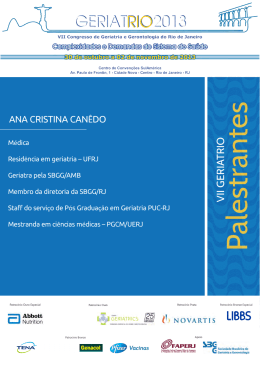Revista Brasileira Fase VII O UTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO 2003 Ano IX Esta a glória que fica, eleva, honra e consola. Machado de Assis o N 37 ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS 2003 REVISTA BRASILEIRA Dir e to r i a Alberto da Costa e Silva – presidente Ivan Junqueira – secretário-geral Lygia Fagundes Telles – primeira-secretária Carlos Heitor Cony – segundo-secretário Evanildo Bechara – tesoureiro Diretor João de Scantimburgo Me m b r o s e f e ti vos Affonso Arinos de Mello Franco, Alberto da Costa e Silva, Alberto Venancio Filho, Alfredo Bosi, Ana Maria Machado, Antonio Olinto, Ariano Suassuna, Arnaldo Niskier, Candido Mendes de Almeida, Carlos Heitor Cony, Carlos Nejar, Celso Furtado, Eduardo Portella, Evandro Lins e Silva, Evanildo Cavalcante Bechara, Evaristo de Moraes Filho, Pe. Fernando Bastos de Ávila, Ivan Junqueira, Ivo Pitanguy, João de Scantimburgo, João Ubaldo Ribeiro, José Sarney, Josué Montello, Lêdo Ivo, Lygia Fagundes Telles, Marcos Vinicios Vilaça, Miguel Reale, Moacyr Scliar, Murilo Melo Filho, Nélida Piñon, Oscar Dias Corrêa, Paulo Coelho, Sábato Magaldi, Sergio Corrêa da Costa, Sergio Paulo Rouanet, Tarcísio Padilha, Zélia Gattai. Produção edi tori al e Rev i são Nair Dametto C onselho edi tori al Miguel Reale, Carlos Nejar, Arnaldo Niskier, Oscar Dias Corrêa A ssisten te edi tori al Frederico de Carvalho Gomes Proj eto g ráfi co Victor Burton Editoração eletrôni ca Estúdio Castellani A CADEMIA B RASILEIRA DE L ETRAS o Av. Presidente Wilson, 203 – 4 andar Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-021 Telefones: Geral: (0xx21) 3974-2500 Setor de Publicações: (0xx21) 3974-2525 Fax: (0xx21) 2220.6695 E-mail: [email protected] site: http://www.academia.org.br As colaborações são solicitadas. Sumário Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 PROSA JOSUÉ MONTELLO Uma explicação da conferência de Graça Aranha. . . . . . . . . 9 MIGUEL REALE Variações sobre a humildade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 CELSO FURTADO A responsabilidade dos cientistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 BASÍLIO LOSADA A literatura brasileira vista da Espanha. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 IVAN TEIXEIRA Literatura como imaginário: introdução ao conceito de poética cultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 RUBENS RICUPERO Prefácio ao Livro do Museu de Arte de Brasília . . . . . . . . 69 DORA FERREIRA DA SILVA Hoelderlin, a proximidade e a distância do Sagrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 J.O. DE MEIRA PENNA Nietzsche e a loucura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Prêmio Senador José Ermírio de Moraes – 2003 MIGUEL REALE Sentido universal da Poesia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 BRUNO TOLENTINO Discurso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 CICLO DOS FUNDADORES DA ABL JOÃO DE SCANTIMBURGO O fundador José do Patrocínio . . . . . . . . . . . . . . 115 MURILO MELO FILHO Patrocínio: um jornalista na Abolição . . . . . . . . . . . . 125 OSCAR DIAS CORRÊA O ficcionista Inglês de Sousa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 ALBERTO VENANCIO FILHO O fundador Valentim Magalhães . . . . . . . . . . 167 EVANILDO BECHARA Silva Ramos: mestre da língua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 POESIA IVAN JUNQUEIRA O que me coube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 MARCELO DINIZ Ócio / Agulhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 LENA JESUS PONTE Soneto volátil / Neve sobre brasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 ILDÁSIO TAVARES Restos / Sem título . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 HILDEBERTO BARBOSA FILHO Distonia poética / Insônia . . . . . . . . . . . . . . 229 FOED CASTRO CHAMMA Inverno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 GERALDO HOLANDA CAVALCANTI Fim de verão em Itaipava . . . . . . . . . . . 235 HELENA ORTIZ Ante-sala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 PAULO BOMFIM Poemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 GUARDADOS DA MEMÓRIA SYLVIO B. PEREIRA À margem das Décadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Edit o r ia l C om este número encerramos mais um ano na tarefa que nos propusemos de cultuar as letras no Brasil, fazendo-o de várias opções, uma delas com a edição da Revista Brasileira, considerada por todos os seus leitores como a melhor revista do país, tanto pelo conteúdo de suas matérias, como pela elegância da forma com que é apresentado o seu sumário. Neste número Josué Montello traz a lume a participação de Graça Aranha na Semana de Arte Moderna, para sermos mais precisos, no Modernismo, pois, ademais da conferência no Teatro Municipal de São Pauto, na abertura da própria Semana, ainda foi o autor do episódio de que foi palco a própria Academia Brasileira de Letras. O elegante Graça Aranha saiu carregado nos ombros de vários intelectuais, dentre eles Alceu Amoroso Lima, já crítico literário de nomeada em todo o Brasil, em início de uma gloriosa carreira de maître à penser de uma fase da evolução literária do país. Miguel Reale, uma das glórias da inteligência brasileira, nos escreve sobre a humildade, essa virtude que falta a tanta gente e que, não raro, tanto mal a sua lacuna acarreta às relações sociais, principalmente no campo da literatura. Temos um conto de Dora Ferreira da Silva, erudita cultora de vários gêneros literários, em todos com superioridade. Evanildo Cavalcanti Bechara apresenta um estudo sobre o filólogo Silva Ramos, mestre da língua, que mereceu Editorial Editorial 5 Edito ri al de Alcântara Machado um dos mais belos elogios que já se ouviu nas sessões de posse da Academia. Em seguida, Rubens Ricupero, grande diplomata brasileiro, servindo em Genebra, escreve sobre Wladimir Murtinho, o saudoso Wladimir, que nos deixou, partido para o outro lado, para uma das moradas de Deus Nosso Senhor, à espera dos companheiros que aqui deixou. Na segunda parte, dedicamos a Revista às comemorações de acadêmicos fundadores, que devem ser lembrados, para não ficarem perdidos seus nomes ilustres no limbo do esquecimento. Terão os leitores a série de conferências proferidas na Academia sobre membros da Ilustre Companhia: Valentim Magalhães, Inglês de Sousa, José do Patrocínio. Temos ainda a seção da Revista dedicada à poesia. São os novos que vêm, cada qual com sua contribuição à Musa eterna, sem a qual, queira-se ou não, o ser humano não pode viver. Provam-no os grandes nomes do mundo, desde o Graça Aranha no Salão Nobre da ABL, no dia 19 de junho de 1924, lendo sua conferência. Foto publicada na mesma tarde pelo jornal A Noite. No medalhão, uma das atitudes do conferencista. 6 Edi to r i a l passado remoto de Homero aos dias de hoje, com tantas manifestações poéticas que é difícil destacar, sem cometer injustiças, um ou outro nome, salvo quando se trata de poetas que ultrapassaram os limite da plena inspiração para se colocarem na área do gênio. E esse o motivo por que deixamos ao leitor a leitura dos poetas e o julgamento, íntimo ou não, da qualidade da poesia que assimilaram. Finalmente, temos um Guardado da Memória dos mais curiosos, que acolhemos para reviver, nas páginas da Revista as Décadas, que Sylvio Pereira, um colaborador do Jornal do Brasil, escreveu no remotíssimo ano de 1925. Não envelheceu esse texto, pois as Décadas são sempre as mesmas para encantar os leitores com as suas referências de importância histórica. Esse o comentário que fazemos, a título de editorial da Revista Brasileira que encerra um ano civil, mas que continuará para gáudio dos nossos leitores. 7 Carta de Graça Aranha a Afonso Celso Acervo do Arquivo da ABL – Cadeira 38 Uma explicação da conferência de Graça Aranha J o su é M o nt e l l o Q uando Graça Aranha, a 19 de junho de 1924, proferiu a sua conferência polêmica sobre o Espírito Moderno, propondo na Academia Brasileira de Letras a morte da própria Academia, se esta não se colocasse ao lado dos moços que se batiam pela renovação total de nossa literatura, várias foram, ao tempo, as interpretações suscitadas por seu gesto rebelde. Como entender-lhe a rebelião? Como explicar-lhe a atitude intempestiva, querendo pôr a pique o barco de que era também tripulante? Diplomata, homem de sociedade, discípulo de Joaquim Nabuco, o mestre de Canaã era o homem polido por excelência, sem deixar sentir na sua elegância de maneiras o homem de lutas que se revelaria de repente na tribuna da Academia. Dois anos antes, em fevereiro de 1922, na conferência com que inaugurou a Semana de Arte Moderna, no Teatro Municipal de São Membro da ABL (Cadeira 29) desde 1954. Além de romancista e ensaísta, é autor de várias obras de história literária e sobre a Academia, entre as quais O presidente Machado de Assis, e organizador do volume O modernismo na Academia, reunião de textos básicos e artigos sobre o movimento modernista. 9 Josué Mo ntello Paulo, havia ele ensaiado a sua oposição à Academia. Mas, entre essa conferência e a outra, o acadêmico parecia reconciliado com a instituição, tanto assim que, assíduo às suas sessões, delas participou sem dar mostras de que iria brevemente romper com ela. O gesto de rebeldia, contrastando com a mansidão da figura polida, tinha de se constituir numa indagação. Por que o diplomata de ontem, tão fino, tão educado, se colocara à frente da insurreição dos moços, atirando pedradas na própria Casa? Houve quem dissesse, para responder a essa pergunta, que Graça Aranha, de regresso ao Brasil como diplomata aposentado, tentava, com aquela atitude, refazer à sua volta o ambiente de prestígio que os muitos anos de ausência tinham desvanecido. Afirmou-se ainda que, escritor de poucos livros, tendendo a levar mais a sério a vida literária que a literatura, nada mais havia feito do que transformar o Modernismo em excelente pretexto para ocupar a cena como figura de primeiro plano, arvorando-se em chefe do movimento com a autoridade do seu grande nome. Na verdade, teimava no escritor, por ocasião de seu regresso ao Brasil, não obstante o decreto de aposentadoria que o mandava descansar, um saldo de juventude, confirmado por seu pendor a entusiasmar-se com as idéias novas. Esse saldo de juventude identificava-o com os moços. E era ainda um traço de união com o seu passado, visto que Graça Aranha, ao tempo de sua juventude, vivera sob o fascínio de Tobias Barreto, que elegera como seu patrono na Academia e em cujo exemplo recolhera a lição do escritor em perene rebeldia contra todas as formas de apego excessivo aos valores consagrados. A lição de Tobias Barreto, recolhida assim na mocidade, ia servir de modelo a Graça Aranha no declínio da maturidade, quando ele se encontrou com os moços da Semana de Arte Moderna. No famoso terror cósmico, a que reiteradamente aludiu na sua nebulosa filosofia literária da estética da vida, militava, em última análise, como princípio e substância, o terror da velhice. Graça Aranha tinha medo de envelhecer. E 10 Um a expli c aç ão da c o nferênc ia de G r a ç a A r a n h a como um dos meios de conjurar ilusoriamente a velhice é tomar o partido dos jovens, o mestre de Canaã dele se socorreu, fazendo causa comum com a mocidade que reclamava, no ano do centenário da Independência, uma afirmação brasileira de nossa arte e de nossa literatura. Entre as muitas interpretações que a sua atitude suscitou, para justificar-lhe as palavras de combate à Academia, a mais absurda, e que foi logo posta de lado, não deixava de ter, entretanto, a sua lógica. Refiro-me à que acusava Graça Aranha de estar a serviço da Santa Casa de Misericórdia... Quem se saiu com essa hipótese extravagante foi o poeta Luís Murat, já então afamado pela freqüência com que, através de processos espiritualistas, dialogava em sua própria casa com estes amigos: Dante, Homero, Goethe, Victor Hugo, Shakespeare. No entanto, a sua argumentação, ao acusar Graça Aranha, não deixava de ser clara, objetiva – e apoiada em documento. Se Graça Aranha conseguisse acabar com a Academia, quem lucraria com isso? E o poeta respondia, muito sério, com um papel na mão: – A Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro! E para provar que não delirava, exibia, logo a seguir, o testamento do livreiro Francisco Alves, no trecho onde se lê: “Deixo tudo o que possuo à Academia Brasileira de Letras, enquanto ela existir, e, se deixar de existir, à Santa Casa de Misericórdia, desta Capital.” A propósito de cartas de amor Restritas a uma edição de 125 exemplares, fora do mercado, as Cartas de amor de Graça Aranha, que D. Nazaré Prado publicou em 1935, ainda no clima de consternação da morte do escritor, nunca foram aludidas, ao que suponho, nas apreciações da personalidade do romancista de Canaã. A razão do silêncio estará na raridade da obra, e raridade que se teria agravado com a destruição de boa parte da edição. 11 Josué Mo ntello A verdade é que, não obstante o seu conteúdo extremamente íntimo e pessoal, essas cartas constituem subsídio de alta importância na ordem biográfica e literária. Direi mesmo que, sem a correspondência amorosa de Graça Aranha, não teríamos a chave de seu temperamento, e com a qual talvez possamos entender algumas de suas atitudes, na fragilidade da condição humana. Num dos capítulos de O presidente Machado de Assis, tive oportunidade de assinalar, estudando o diálogo epistolar do mestre de Dom Casmurro com o seu amigo Graça Aranha, que este viveu sob a fascinação de dois modelos: um, da juventude, Tobias Barreto; outro, da maturidade, Joaquim Nabuco. A conferência sobre o Espírito Moderno, com a qual Graça Aranha assumiu a liderança do movimento modernista no salão da Academia Brasileira, marcaria o instante em que o modelo da juventude voltou a dar a linha normativa ao temperamento do memorialista do O meu próprio romance. Sua palestra polêmica, aplaudida pelos moços, corresponderia à reprodução do impacto de Tobias Barreto no Recife, por ocasião do mais turbulento concurso da Faculdade de Direito, e a que assistiu o futuro romancista, ainda menino-e-moço, recém-chegado do Maranhão. O reencontro do diplomata aposentado com o paradigma da juventude não ocorreu de improviso. Aos poucos a vida o preparou para ele. E aqui se evidencia a importância das Cartas de Amor que D. Nazaré Prado reuniu em volume. Dizia Machado de Assis que o pior pecado, depois do pecado, é a publicação do pecado. Graça Aranha fez de sua paixão o argumento de A viagem maravilhosa. Ele é, ali, Felipe, Nazaré Prado, Teresa. Por uma dedicatória na primeira edição de Canaã, reproduzida ao fim das Cartas de amor, o romancista confessava, em 1902, a “grande amizade” que já dedicava a Nazaré Prado. Mas a paixão veemente, de que a correspondência amorosa seria o espelho, somente se iniciou por volta de 1911, e iria até fevereiro de 1927, quando os correspondentes se uniram, sem dissimulações ou mistérios. 12 Um a expli c aç ão da c o nferênc ia de G r a ç a A r a n h a Autor de obra exígua, Graça Aranha soube ser epistológrafo copioso. Perto de três mil cartas escreveu ele a Nazaré Prado. Lamentavelmente, diz-nos a nota introdutória das Cartas de amor, “as cartas escritas nos últimos anos, devido aos acontecimentos revolucionários do Brasil, dos quais Graça Aranha foi um doutrinador e colaborador, e por outras razões mais íntimas, foram destruídas na sua quase totalidade, pela natureza reservada dos assuntos nelas tratados e pela dificuldade de serem conservadas”. Se bem me lembro, foi em Madame Sablière que li que o amor nada mais é do que um egoísmo de duas pessoas. Daí certamente o tom monótono que nos entedia nas correspondências do amor alheio. O assunto é o mesmo, os mesmos os correspondentes. Até Graça Aranha, com o fascínio de sua inteligência, não escapa à regra geral – repetindo-se. Salvam-se de suas cartas, entretanto, os lances característicos de seu temperamento exaltado, sempre aberto às novas idéias. A paixão da maturidade levou-o certamente à nostalgia da juventude, e daí ter ele volvido, na conferência da Academia, ao modelo de Tobias Barreto. Os jovens a quem Graça Aranha distinguiu com o privilégio de seu convívio, na fase em que os cabelos grisalhos lhe realçavam a beleza viril, dele guardaram a imagem nítida, não de um mestre, mas sim de um companheiro. Dir-se-ia que o dom da juventude perene, que o gênio de Goethe converteu numa transação com o demônio no símbolo do Fausto, o romancista de Canaã o alcançou por intermédio de sua inteligência comunicativa, ágil e cordial. O certo é que, já transpostos os sessenta anos, ninguém soube ser mais jovem que ele, na renovação das idéias, na irradiação de seus entusiasmos e no poder de deslumbrar-se diante da vida, numa atmosfera de alegria criadora. E dele se poderia dizer, num resumo de suas virtualidades, que viveu para ilustrar com o seu exemplo este pensamento de Picasso: “Leva-se muito tempo para ser jovem.” 13 Josué Mo ntello Daí ter sido Graça Aranha um elo entre duas gerações, conforme observou Alceu Amoroso Lima. A lição que ele deu aos jovens – diz-nos o mesmo crítico – foi mostrar a sua alegria de espírito, a sua confiança na vida e o seu desassombro de atitudes, ensinando os moços a serem moços. Mas a verdade é que, se Graça Aranha fosse apenas o autor de Canaã ou de A viagem maravilhosa, os livros que lhe deram a glória em duas épocas da vida, seria hoje um autor esquecido, como a maior parte dos escritores de sua geração. Porque não é por esses dois romances que ele sobrevive e sim pelo fascínio de sua personalidade irradiante, que lhe permitiu chefiar de cabelos grisalhos a mais importante rebelião de nossa história literária. Na origem de toda vocação, afirmou Reger Martin du Gard, explicando o seu próprio destino, há sempre um exemplo. A vida de Graça Aranha, aparentemente contraditória em muitas de suas atitudes, tem a unidade dos belos destinos coerentes, se a analisamos em face dos dois exemplos que sensivelmente a moldaram: o exemplo de Tobias Barreto, no plano da vida mental, e o exemplo de Joaquim Nabuco, no plano da vida social e política. Era ele um adolescente, recém-chegado do Maranhão, quando se encontrou com Tobias, no salão da velha Faculdade, à hora em que este, nos embates de seu concurso polêmico, alvoroçava a Província com as muitas idéias de sua cabeça despenteada. Quando o concurso terminou, recebeu Tobias uma estrondosa ovação dos estudantes, a que se associou Graça Aranha, saltando a grade que o separava do mestre e atirando-se aos seus braços. – Vá a minha casa esta noite – convidou o mestre, ao saber que o moço maranhense já era acadêmico. Meio século depois desse episódio, é assim que Graça Aranha termina a sua evocação: “Que deslumbramento! Não voltei aos meus colegas. Fiquei por ali mesmo, metido em algum canto da Congregação, e saí acompanhando, como uma sombra pequenina, o mestre. À noite, eu estava na sua casa em Afogados. Nunca mais me separei intelectualmente de Tobias Barreto.” 14 Variações sobre a humildade M ig u e l R e a l e A humildade, dentre as virtudes que ornam a conduta humana, é uma das mais ricas de significado. Nossos dicionaristas que melhor a interpretam são Caldas Aulete e Antônio Houaiss. O primeiro apresenta-a como “a virtude com que manifestamos o sentimento de nossa fraqueza ou do nosso pouco ou nenhum mérito”, enquanto que o segundo a considera a “virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações”, ou “um sentimento de fraqueza, de inferioridade, com relação a alguém ou algo”. Trata-se, pois, de modéstia no trato social, caracterizando-se por ser infensa ao orgulho e à ostentação. Por outro lado, lembram os mestres da língua que ela assinala também o respeito a alguém ou algo tido como superior, sendo, assim, uma forma de submissão. Nessa ordem de idéias, costuma-se afirmar que o sábio, de maneira geral, é humilde, reconhecendo a finitude ou até mesmo a precariedade de seus conhecimentos. Nem sempre, porém, a sabedoria implica modéstia, havendo casos em que a posse da verdade, nas múlti- Artigo publicado n’O Estado de S. Paulo, 7 de junho de 2003. Miguel Reale é jurista, professor, ensaísta. Sua bibliografia fundamental abrange obras de Filosofia, Teoria Geral do Direito, Teoria Geral do Estado e estudos de Direito Público e Privado. É o fundador da Revista Brasileira de Filosofia (1951) e presidente do Instituto Brasileiro de Filosofia. 15 M ig uel Reale plas áreas de sua aplicação, culmina em atitudes de orgulho e de vaidade. Tudo depende, no fundo, da espécie de homem ou de mulher que se é, podendo a humildade ser tanto uma tendência natural como um estado de espírito adquirido ao fim de uma longa experiência, como bom senso do valor relativo de nossas conquistas. Cabe, outrossim, observar que se pode ser humilde com plena consciência de seu próprio valor, de sua significação em confronto com as pessoas apontadas como representativas da coletividade, preferindo fruir de seu saber como um patrimônio tanto mais precioso quanto mais recatado. Há, por conseguinte, uma infinita multiplicidade de experiências existenciais, a cada uma delas correspondendo uma ou nenhuma forma de humildade. Esta é, como se vê, uma das mais intrigantes variáveis do comportamento humano. Nem deixam de existir formas postiças de humildade, sendo a modéstia taticamente assumida apenas para se granjear fama de criaturas excepcionais, verdadeiros modelos merecedores do respeito social... Não devem ser esquecidos os que parece terem nascido sob o signo de bem servir, sentindo-se felizes quando se submetem aos mandos e caprichos dos que se projetam na liderança política, econômica, científica ou no variegado mundo das artes e das letras. Nem devem ser considerados seres inferiores, por obedecerem à própria natureza, sentindo-se realizados com os êxitos dos entes que admiram. Pela apontada variabilidade de seus conteúdos, a humildade pode ser considerada um dos pontos referenciais do universo da cultura, embora nem sempre seja analisada com a devida atenção pelos cultores da ética. A bem ver, deveria ser objeto de constante estudo por parte de psicólogos e sociólogos, sobretudo quando se tem em vista delinear as formas existenciais típicas, para conhecimento cada vez mais apropriado do ser humano e da sociedade. A “figura dos humildes”, eis aí um tema dos mais empolgantes para a imaginação criadora dos literatos, em seus contos, crônicas e romances, e para quantos cuidam de penetrar nos refolhos da consciência ou da alma humana. Há, todavia, um limite na abdicação da própria personalidade para a glorificação dos méritos alheios, não podendo sair ferida a dignidade da pessoa humana, 16 Vari aç õ es s o br e a h u m i l da de valor que atualmente figura, no Artigo l.o da Constituição de 1988, como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Não posso encerrar estas variações sobre a humildade sem lembrar o que sobre ela escreveram filósofos de todas as correntes de pensamento. Bela síntese dessa história é-nos dada por Nicola Abbagnano em seu Dizicionario della Filosofia, após lembrar que a antiguidade clássica não tratou da matéria. A seu ver, foi na Idade Média que surgiram as primeiras manifestações filosóficas sobre o tema objeto do presente artigo, a partir do mistério da encarnação de Deus na figura humilde de Cristo, o deus-homem. Foi então que Tomás de Aquino viu a humildade como parte da virtude “que tempera e freia o ânimo a fim de não se elevar sem medida no culto das coisas mais altas”. Singular é a posição de Spinoza, que não aprecia a humildade como virtude, visto nascer ela do sentimento da própria impotência em confronto com seres mais perfeitos, reduzindo-se, assim, a uma “emoção passiva”. Já Kant apresenta a humildade como “o sentimento da pequenez de nosso valor perante a lei” e, ao mesmo tempo, como a pretensão de alcançar um valor moral oculto mediante a renúncia do valor moral de si, considerando ele hipocrisia pretender os favores de Deus ou dos homens graças ao rebaixamento do próprio valor. É analisando as relações agônicas entre o senhor e o escravo, tema tão debatido pela filosofia romântica no século XIX, que Hegel diz que a humildade “é a consciência de Deus e da sua essência como amor”, o que, penso eu, quer dizer que o acesso a Deus depende de nosso humilde amor por ele. Por fim, não há como esquecer a posição de Nietzsche, a qual não podia ser senão a de protesto contra a humildade, vista como um aspecto da “moral dos escravos”. Filosoficamente, para mim, a humildade significa a renúncia aos poderes da razão perante os problemas que a transcendem, aos quais ascendemos pelas vias do amor. É nessa posição que talvez se situe a humilde confissão de Einstein quando reconhece que “por de trás da matéria há algo de inexplicável”, contrastando com os que, orgulhosos das conquistas da razão no mundo das ciências positivas, negam Deus e a imortalidade da alma. 17 A responsabilidade dos cientistas Cels o F u r t a d o A s palavras que pronunciarei comprometem apenas a mim mesmo. Não tenho a pretensão de falar em nome de todos os novos acadêmicos. Valho-me, contudo, desta oportunidade para dizer o quanto admiro os trabalhos acadêmicos do historiador José Murilo de Carvalho e do cientista político, meu ex-aluno, Paulo Sérgio Pinheiro, também eleitos para esta Casa na condição de cientistas sociais. Em sua extensa obra, um e outro souberam nos revelar os desvãos do inconsciente de nossa cultura, na qual o mito do «homem cordial» encobre formas perversas de repressão social. Foi para mim motivo de profunda satisfação ser convidado para participar das atividades desta nobre instituição fundada há quase um século com a finalidade de promover, estimular e coordenar o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica, em qual- Economista, dirigiu o BNDE (1958-59), elaborou o Plano de Desenvolvimento do Nordeste e dirigiu a Sudene (1959-64); primeiro titular do Ministério do Planejamento (1962-1963) e autor de extensa bibliografia sobre a economia brasileira. Discurso de posse na Academia Brasileira de Ciências, proferido em nome de todos os novos membros. Rio de Janeiro, 4 de junho de 2003. 19 Cel so Fu rtado quer domínio do conhecimento. Muito jovem tive a intuição de que estava destinado ao mundo do saber e tratei de defender-me de todas as tentações que me afastavam desse rumo. Foi então que percebi que as ciências brotam do mesmo tronco e que os valores universais, comuns a todas as culturas, se alimentam da mesma seiva. No Brasil, o que nos interessa em particular não é tanto a ciência em si, mas a relevância da investigação científica que nos permita decifrar esse teorema apaixonante que é a construção deste país continental. As peripécias da vida, decorrentes da certeza de que nosso povo merecia um destino melhor, levaram-me a ser cassado de direitos políticos e partir para o exílio, privando-me da fortuna de exercer atividades universitárias entre nós. Mas, vinte anos como professor em universidades da Europa e dos Estados Unidos permitiram-me reconhecer a importância do trabalho intelectual realizado no Brasil, mesmo nos anos em que foi mais duro o exercício da liberdade. Hoje vem-me certa nostalgia ao rememorar as longas conversas que tive com José Israel Vargas, ex-presidente desta Casa, à sombra dos vetustos colégios da Universidade de Cambridge, quando imaginávamos que dali a dez anos, se muito, o Brasil estaria no chamado Primeiro Mundo. Passado mais de um decênio, tive troca de idéias não menos interessantes com outro ilustre membro desta Academia, José Leite Lopes. Sua lucidez não era menor, mas a visão do futuro do Brasil assumira tons bem mais sombrios. Estávamos na Universidade de Estrasburgo, onde se integram admiravelmente o espírito francês e o espírito alemão. Essas longas caminhadas, que se estenderam a vários continentes, me permitiram observar a variedade da produção universitária nos centros de maior prestígio, e consolidaram em mim a convicção de que nosso país é um permanente desafio à criatividade, pela diversidade dos valores que integra. Portanto, havia que olhar para a frente, investir nas novas gerações. As ciências evoluem graças a agentes que são capazes de atingir e ultrapassar certos limites. Não basta armar-se de instrumentos eficazes. O valor de um cientista resulta da combinação de dois ingredientes: imaginação e coragem. Em muitos casos, cabe-lhe também atuar de forma consistente no plano político, 20 A respo nsabi li da de do s c i e n ti s ta s portanto assumir a responsabilidade de interferir no processo histórico. Não devemos esquecer que a ciência está condicionada pelos valores da sociedade onde é gerada. Basta lembrar que supostas teorias científicas sobre as diferenças raciais, que prevaleceram no século XIX, nada mais foram do que um simples subproduto das doutrinas imperialistas em voga na época. As ciências sociais, talvez mais que outras, são sujeitas a influências ideológicas que refletem o espírito de uma época. Se ajudam os homens a enfrentar uma profusão de problemas, também contribuem para conformar a visão do mundo que prevalece em certa sociedade. Assim, podem servir de cimento ao sistema de dominação social em vigor, mas também, eventualmente, justificar abusos de poder. Ao longo da história, não foram raros os casos em que as estruturas de poder procuraram cooptar os homens de ciência. Os fornos crematórios foram fruto dessa colaboração espúria. Daí a importância de que prevaleçam na sociedade compromissos éticos. No campo das ciências sociais, cujo objeto de estudo, diferentemente de um fenômeno natural, nem sempre é algo perfeitamente definido, e sim algo em formação, criado pela vida dos homens em sociedade, o princípio da responsabilidade moral faz-se ainda mais premente. Na área que me é familiar – a economia – verifica-se um empenho em buscar o formalismo, em adotar métodos que fizeram a glória das ciências chamadas exatas. Esse louvável esforço tem, todavia, um custo, pois com freqüência nos leva a esquecer que o objeto das ciências sociais nem sempre é compatível com a elegância formal. Disso me dei conta cedo, ao me debruçar sobre os problemas do desenvolvimento econômico. Com efeito, o próprio conceito de desenvolvimento já nos obriga a perceber que o homem é um fator de transformação agindo tanto sobre o contexto social e ecológico como sobre si mesmo. Nesse sentido, a reflexão sobre o desenvolvimento traz em si uma teoria do ser humano, uma antropologia filosófica. É natural que se esperem dos cientistas sociais, e dos economistas em particular, respostas às questões que mais afligem o nosso povo. Mas, como tudo o que é humano tem uma dimensão social, esses problemas não podem ser apre- 21 Cel so Fu rtado ciados fora de um contexto amplo que envolve variáveis políticas, portanto, poder e valores. Partindo dessas reflexões, permitam-me abordar alguns temas mais afins com a ciência econômica, os quais, creio, são de atualidade no momento histórico brasileiro. O primeiro ponto diz respeito à tendência persistente de nossa economia ao desequilíbrio interno e externo. Nas atuais condições de entrosamento internacional dos sistemas produtivos e dos circuitos financeiros, pergunto-me se não estamos em face de um agravamento dos desequilíbrios estruturais com sérias implicações externas? É evidente que nos países desenvolvidos as sociedades são cada vez mais homogêneas no que respeita as condições básicas de vida, enquanto no mundo subdesenvolvido elas são cada vez mais heterogêneas. A integração política planetária, em processo de realização, está reduzindo o alcance da ação regulatória dos Estados nacionais. Nesse quadro é que devemos situar o tema da inflação crônica que marca a economia brasileira, e leva governos a praticarem uma política recessiva, de elevado custo social. Os economistas tendem a reduzir o problema a uma simples dicotomia entre contração de demanda monetária ou expansão fomentada da oferta de bens e serviços. Mas qualquer solução para esse problema exige modificações amplas na distribuição da renda, que por seu lado tem demonstrado ser um objetivo difícil de alcançar. Ademais, deve-se ter em conta que muitas das variáveis com que lidamos no campo da política econômica dependem de decisões tomadas fora do país. Levando o raciocínio ao extremo: o espaço de manobra de um governo pode ser tão restrito que ele se veja privado da faculdade de ter política econômica, em razão de compromissos assumidos com credores externos, e seja forçado a praticar uma moratória com sérias projeções políticas. Temos de reconhecer, assim, que nos escapa a lógica do processo de globalização em curso, o que nos dificulta captar o sentido do processo histórico que estamos vivendo. Não conseguimos compreender os fundamentos do acontecer atual, nem dirimir dúvidas essenciais, não obstante os fantásticos avanços das técnicas da informação. Essa pouca transparência do processo em 22 A respo nsabi li da de do s c i e n ti s ta s que estamos envolvidos, e a que chamamos de aceleração do tempo histórico, revela a intervenção de fatores que fogem ao nosso entendimento, em particular os de natureza estrutural. Já praticamente não existem sistemas econômicos nacionais dotados de autonomia. Os mercados de maior relevância, em especial os de tecnologia de vanguarda e de serviços financeiros, operam hoje unificados e marcham rapidamente para a completa globalização. Mas este é um processo aberto. O que vai acontecer em cada país dependerá em parte substancial do comportamento de seu povo e de seu governo. Vejamos o que está ocorrendo nas principais áreas econômicas mundiais. Os países da Europa Ocidental estão empenhados na mais rica experiência de cooperação política e de integração dos mercados de fatores, inclusive de mão-de-obra, o que implica um esforço financeiro comum para reduzir as desigualdades de nível de vida existentes na região. Pretensamente com o mesmo propósito de mobilizar recursos políticos para colher vantagens econômicas, os norte-americanos tomaram uma série de iniciativas cujo objetivo é integrar sob seu comando as economias do hemisfério ocidental. Essa integração, no caso do Canadá, significa dar continuidade a um processo histórico, conquanto enfrente problemas culturais. Mas, com respeito à América Latina, e em particular o Brasil, os problemas decorrentes desse plano de integração continental revestem-se da maior gravidade. Com efeito, caso aceite firmar o acordo que acena com uma suposta integração entre iguais, o Brasil estará na realidade firmando um compromisso entre desiguais, pois quem lidera esse projeto é nada menos do que a maior potência mundial em termos econômicos, políticos e militares. É evidente a assimetria entre os futuros co-signatários desse projeto conhecido pelo nome de ALCA (Área de livre-comércio das Américas), que estabelece regras comuns para um amplo espectro de atividades, desde investimentos norte-americanos no hemisfério até o controle da propriedade intelectual. Em outras palavras, o projeto acarreta uma clara perda de soberania para o Brasil, que teria de renunciar a um projeto próprio de desenvolvimento, abdicar de uma política tecnológica independente, e esfacelar o seu já fragilizado sistema industrial. Se o modelo de integração 23 Cel so Fu rtado européia objetiva homogeneizar os padrões de desenvolvimento de seus membros, permitindo a mobilidade de mão-de-obra, a ALCA, ao contrário, exclui toda possibilidade de fluxos migratórios. E mesmo que não excluísse, seria tão prejudicial para o nosso país que, parodiando às avessas o famoso escritor que fugiu do nazismo e veio a morrer entre nós, poderíamos proclamar: o Brasil é um país sem futuro. Faço essas reflexões para enfatizar a responsabilidade que nos advém coletivamente na construção de um Brasil melhor. Somos uma força transformadora deste mundo. Cabe a nós, intelectuais e cientistas aqui presentes, balizar os caminhos que percorrerão as gerações futuras. Quando tomei posse na Academia Brasileira de Letras, afirmei que o domínio avassalador da razão técnica limita cada vez mais o espaço em que atuam os seres humanos. Quero concluir estas palavras lembrando que a história é um processo aberto e o homem é alimentado por um gênio criativo que sempre nos surpreenderá. De instituições culturais como esta Academia espera-se que velem para que essa chama criativa se mantenha acesa e ilumine as áreas mais nobres do espírito humano. Paris, maio de 2003 24 A literatura brasileira vista da Espanha B asil io L o s a d a E m primeiro lugar, um prefácio: eu não nasci para uma ocasião como esta, não sei nunca em que língua devo falar. Eu nasci no mundo galego da montanha, essa foi a minha primeira pátria. O galego foi a minha primeira língua. Foi a primeira língua que eu falei e a primeira em que eu vim falar. O espanhol é, para mim, uma língua aprendida, mas logo depois, na minha vida, tive que aprender muitas línguas e tive que passar por muitas outras culturas. A minha mulher, a minha querida Ilse, que hoje não está aqui, é alemã, nasceu em Hanover, mas está aprendendo galego, porque eu quero que as últimas – em galego dizemos derradeiras – palavras que eu sinta na minha vida sejam também na primeira língua em que falei e em que me falaram. Vou falar em espanhol, com a segurança de que ninguém vai ter problemas nesta língua.1 Catedrático de Filologia Galega e Portuguesa na Universidade de Barcelona. Tradutor de autores brasileiros e portugueses para o espanhol, agraciado com o Premi Nacional de Traducción. 1 Até aqui em português no original. (N. do T.) 25 B a sil io Lo sada Machado de Assis em Madri. Réplica da estátua instalada à entrada do Petit Trianon, no Rio de Janeiro, doada ao povo espanhol, em 1998, pela Academia Brasileira de Letras e a Fundação Roberto Marinho. 26 A li teratu ra brasi lei r a v i s ta da Es p a n h a Feito este prefácio, passo, como é lógico nestas liturgias acadêmicas, à gratidão. Eu tenho muitos motivos de gratidão: à Academia Brasileira, ao Instituto Cervantes, que tornaram possível minha viagem ao Brasil. Não é a primeira vez que estou neste país. Em espírito, com pensamentos, com a ilusão e em sonhos, estive muitas vezes. Mas creio que esta é a quinta vez que venho ao Brasil, e espero que não seja a última. O Brasil é, para mim, uma pátria, a pátria maior. Eu coleciono pátrias, sou uma personagem estranha que coleciona pátrias e coleciona rios. Tenho dezenove pátrias e, à noite, conto minhas pátrias, uma a uma, e, se me falta alguma pátria de que não me lembro, tenho de abrir minha caderneta de pátrias até encontrar a que me falta. Baviera, Alsácia, Flandres... Colecionar pátrias e colecionar rios: muitas vezes viajei por toda a Europa simplesmente com a ilusão de ver o Danúbio, ou ver o Volga, ou ver o Elba, ou ver o Sena, e esses rios também são parte de minhas lembranças, como o são muitos rios desta minha pátria que é o Brasil. Esta honra insigne, esta honra de falar-vos, é um dos atos em que minha vida – já muito, muito avançada – em que minha vida culmina. Na verdade, eu deveria intitular esta minha palestra “História de uma paixão”. Como descobri Portugal? Como descobri o Brasil, o mundo da lusofonia que agora se prolonga com meus amigos de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, como descobri este continente de pátrias imensas, profundas e conflitivas? Foi a partir de minha condição de menino galego que não sabia falar castelhano. Meu primeiro dia de escola, tinha eu cinco anos, foi numa cidade de língua castelhana, León, e eu não sabia falar castelhano. A primeira frase que eu disse na escola foi uma frase em galego. Disse eu: “Ve, ve alí hai un gato e ten un rabo estalicado.” E aí todo o mundo riu-se de mim, a começar pela freira, pela professora; e aí durante um ano eu não quis falar. E não falei. Um ano inteiro fui à escola sem falar. E se me perguntavam quantas pessoas tinha a Santíssima Trindade, uma pergunta então razoável, eu sabia que eram três, mas me calava, e sempre havia algum obtuso que dissesse “Tem oito pessoas”. Eu sabia que eram três, mas não me atrevia a falar, até que me impus a obrigação de falar o espanhol melhor que os outros – coisa que, realmente, consegui – mas sempre carreguei comigo, e ainda hoje a carrego, 27 B a sil io Lo sada a lembrança daquele menino que falava uma língua desprezada, que era um estigma, uma marca de inferioridade, mas que nunca abandonei. E por isso espero que, quando a morte chegar – como diz Woody Allen, eu não tenho medo da morte, mas tentarei estar ausente quando ela chegar –, tentarei estar ausente, mas, caso não possa estar ausente, quero ouvir as últimas palavras nesta variante do português, que é o galego, porque hoje o português não é uma língua, é uma constelação de línguas, é um sistema lingüístico que está em permanente evolução, em recriação constante. E eu falo com meus amigos angolanos, com escritores de Angola ou de Moçambique, e me surpreende a capacidade criativa deste idioma que se renova constantemente. Descobri por mim mesmo a literatura brasileira: durante meus estudos médios e na universidade, ninguém jamais me falara do Brasil nem da existência de uma literatura brasileira. Terminei meus estudos de Filologia Românica, na universidade, e ninguém me falara de Machado de Assis, por exemplo. A verdade é que, naquele tempo, falava-se de muito poucas coisas, e minha ignorância de então era uma ignorância enciclopédica que tudo abrangia. Mas um belo dia vi, numa livraria de segunda mão, Os velhos marinheiros, de Jorge Amado, que viria a ser um grande amigo meu, muito admirado e muito querido, e li Os velhos marinheiros com paixão. Lia-o no ônibus. Nas aulas do curso de doutorado, na universidade, eu escondia Os velhos marinheiros embaixo da carteira e o lia ali também. Foi a partir daí que começou esta história de uma paixão. Mais tarde tornei-me editor. Dirigi a seção de literatura de duas editoras muito importantes, hoje desaparecidas, a Editorial Caralt e a Editorial Noguer. Minha primeira preocupação, por conseguinte, foi que essas editoras publicassem livros de literatura brasileira. E elas publicaram alguns. Publicaram, evidentemente, Os velhos marinheiros e mais algumas obras de Jorge Amado. Publicaram obras de Autran Dourado, numa época em que parecia impossível que uma editora espanhola publicasse livros do Brasil. Daqui a pouco explicarei qual é o problema da literatura brasileira, uma literatura fora dos circuitos, uma literatura que não entra nos intercâmbios editoriais. Quando eu dirigia a Noguer, que era uma grande editora de Barcelona, com milhares de títulos publicados, eu soli- 28 A li teratu ra brasi lei r a v i s ta da Es p a n h a citava autorização para publicar um livro da Inglaterra ou da Alemanha e, freqüentemente, respondiam: “Está bem, cedemos-lhe os direitos deste livro, se também publicarem este outro”. Há uma palavra em catalão, que é outra das minhas línguas e outra das minhas pátrias, uma palavra para a qual não encontrei tradução em nenhuma das línguas que conheço. Esta palavra é torna. A torna é o que acontece quando alguém vai comprar um quilo de pão e, ao pesarem-no, verificam que ali só há 900 gramas. Cortam, então, um pedaço de 100 gramas que equilibre a balança e o peso. E eu não sei se isto existe em alguma outra língua.2 Além do mais, este é um elemento que caracteriza perfeitamente a mentalidade catalã, o pesar as coisas e medi-las. Pois bem: quando eu negociava os direitos de publicação de um livro, outros livros entravam como torna, para equilibrarem o peso; e eu nunca podia impor, como torna, um livro em espanhol. Pouco a pouco fui construindo minha própria imagem do Brasil, uma imagem em nada diferente da imagem do Brasil que se tem, hoje em dia, na Alemanha ou na Bélgica. Mensalmente dou um curso na Alemanha e outro na Bélgica, em Lovaina e Antuérpia, e às vezes falo de um tema que, para mim, é um tema permanente e de que logo voltarei a tratar: a oralidade na literatura. E dou como exemplo de oralidade sublime, magnífica, uma das três ou quatro grandes obras narrativas do século XX, Grande sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. E vejo em meus alunos alemães ou flamengos o estupor, o assombro que lhes causa a existência da literatura brasileira. Por que esse desconhecimento? Porque a literatura brasileira está fora dos circuitos, dos grandes circuitos editoriais em que entram as literaturas que hoje em dia, no aspecto narrativo, são de segundo plano. Por exemplo, a literatura narrativa francesa, obcecada por problemas técnicos, por novas maneiras de narrar, esqueceu-se de que um romance é, essencialmente, uma histsória bem contada. E, se esquecemos que um romance é uma história bem contada, estamos alie2 Existe. Leia-se o que diz o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, na acepção 5 do verbete contrapeso: “Porção menor de uma mercadoria vendida a peso, que o vendedor acrescenta para compensar o peso pedido.” Idêntico vocábulo existe em castelhano, com a mesma acepção. (N. do T.) 29 B a sil io Lo sada nando o público, estamos assumindo uma atitude elitista e altaneira que bem pode ser a ruína da literatura. Do Brasil existe a imagem tópica, a imagem dos tópicos: o carnaval, o futebol e as praias. Os tópicos são realidades, dizia Ortega y Gasset, um filósofo espanhol que, atualmente, ninguém lê, mas que se deveria voltar a ler; os tópicos, dizia Ortega, são verdades cansadas, verdades que, de tão evidentes, esquecemos. Cumpre, então, reinventar os tópicos, cumpre reinventar os lugares-comuns, para que voltem a ter seu poder agressivo, seu poder de obrigar a pensar. Carnaval, futebol e praias eram o que se me pedia quando, antes de ser diretor editorial, eu ia de editora em editora com um livro brasileiro debaixo do braço e o dava a examinar. O mesmo me sucedeu com a literatura portuguesa. Li o primeiro livro de Saramago – o primeiro não, perdão; o primeiro livro fulminante, que foi o Memorial do convento – e fui àquela grande editora espanhola, a Seisbarral, dizendo: “Vejam, aqui está um escritor português que me parece extraordinário.” E olharam o Memorial do convento e me disseram: “É português, não desperta interesse.” E eu: “Mas é uma obra extraordinária!” E eles: “Sim, mas esse homem publicou algum outro livro, além desse?” E eu: “Bem, ele publicou O ano da morte de Ricardo Reis.” E eles: “Ah, Ricardo Reis é Pessoa, e Pessoa interessa.” Logo falarei deste fenômeno, de que hoje em dia, na Europa, falar de literatura brasileira é difícil; mas, se, por exemplo, proponho-me falar de Machado de Assis, dizem-me: “O que os estudantes da universidade esperam é que lhes fale de Paulo Coelho.” Bom, então eu falo de Paulo Coelho, por que não? O mesmo se passa em relação a Saramago. Para a política cultural de um país, é muito difícil superar esses lugares-comuns, essas barreiras. Qualquer novelista inglês de segunda classe tem possibilidades – e, se for de terceira, ainda mais – de vir a ser publicado em espanhol. Há países que encontram as barreiras fechadas, que estão fora de circulação. Tenho para mim que toda grande literatura é uma grande literatura regional. Quero também dizer que sei, e disto estou convencido, que todo grande escritor tem um mundo próprio e uma linguagem própria para exprimir esse mundo. E foi isto que descobri na literatura do Brasil: um mundo próprio, di- 30 A li teratu ra brasi lei r a v i s ta da Es p a n h a ferente, e uma linguagem ou umas linguagens capazes de exprimir essa diferença. Ler na Europa a literatura do Brasil é um descobrimento permanente. Não vou citar nomes, mas poderia ser qualquer um dos que traduzi – Autran Dourado, Rubem Fonseca, Clarice, de modo especial. Tenho a imensa satisfação de ter transmitido meu amor a este país e à sua variante lingüística a minha filha, que me sucedeu na direção do Departamento de Língua e Literatura Galego-Portuguesa, na Universidade de Barcelona e que vai começar a dirigir numa editora prestigiosa, Ciruela, a publicação de toda a obra de Clarice Lispector, com prólogos dela e também meus, ainda que a coisa se arrisque a parecer uma empresa familiar. Pois bem: esta é uma literatura fora do circuito. Como se poderia mudar essa situação? Eu vejo a coisa com muita clareza: os futuros leitores da literatura do Brasil deverão sair das universidades. Desgraçadamente, em toda a Europa, exceto em Roma, enfim, em todas as universidades européias que eu conheço, não há docentes universitários de origem brasileira. Todos são portugueses e, naturalmente, defendem sua literatura, sua língua canônica, e até, em certos casos, me dão a impressão de que pretendem penetrar demasiado a fundo na literatura do Brasil. Creio que apenas Roma e a Universidade de Barcelona têm, dentro do programa de licenciatura e doutorado, uma presença constante da língua do Brasil, em sua variante brasileira, e da literatura do Brasil, certamente muito bem acolhida. Quando me jubilei, me aposentei, no ano 2000, tínhamos 1300 alunos, não desta licenciatura, os licenciados eram poucos, eram dez, mas vinham alunos de muitas outras faculdades ou de muitas outras especialidades, para assistirem, por exemplo, a um curso sobre Guimarães Rosa, um curso de 60 aulas, ou um curso para doutorandos, em 20 aulas, sobre a narrativa do Nordeste do Brasil. Tendes uma língua em ebulição, uma língua magmática, uma língua criativa, uma língua que ultrapassa todas as definições canônicas. O espanhol de hoje me parece rígido, impreciso, incapaz de manifestar emoções profundas a partir de uma perspectiva nova. Por isso a grande literatura em espanhol não se faz, hoje, na Espanha, mas sim nos países americanos de língua espanhola, nos quais se entra na língua com um espírito libertário, com uma criatividade que, 31 B a sil io Lo sada possivelmente, o espanhol, o francês, o português, o alemão nem tanto, perderam já. A literatura alemã continua a ser muito importante, e cada vez mais, porque é a literatura que nasce da amargura, da frustração, da decepção, da tragédia, da rebeldia dos filhos contra os pais, quando lhes perguntam – coisa que vivi em minha própria família – quando as crianças perguntam, agora ao avô, anteriormente ao pai, por que aconteceu aquilo, como foi aquilo, como se pode justificar aquilo. Uma literatura que nasce da tragédia é uma grande literatura, como o foram as literaturas medievais. Pouco tempo depois tive a sorte de conhecer João Cabral de Melo Neto, que foi cônsul em Barcelona. (Meu relógio estava marcando a hora espanhola, e não a brasileira, de sorte que vi, alarmado, dez da noite e pensei: “Que diabo é isso? Que aconteceu?” Mas, agora, já o acertei para a hora brasileira.) Mas eu dizia que o enorme valor da literatura do Brasil é a oralidade. Foi o que descobri, por exemplo, em Guimarães Rosa. Era algo que se movia ao redor de mim e dentro de minha cabeça: Onde está e quais são as razões da crise das literaturas narrativas nos dias que correm? Na realidade, as razões da deserção do público leitor é o fato de a literatura ter-se convertido em algo muito maçante. Não me refiro à poesia, refiro-me ao romance que, na Europa, é infinitamente maçante. Eu, que fui jurado dos prêmios nacionais de literatura narrativa na Espanha, por vinte e cinco anos, tive de abandonar a coisa porque não estava disposto a ler oitenta livros detestáveis, horrorosos, por ano. E decidi que já não queria ser jurado do Prêmio Nacional de Narrativa. Fizeram-me, então, e nomearam-me jurado permanente do Prêmio Nacional de Poesia. Estou disposto a ler oitenta ou cem poemas por ano, mas ler oitenta romances abomináveis era algo que só se poderia oferecer a título de penitência. A literatura tornou-se muito enfastiante porque o leitor foi esquecido e o narrador está ensimesmado, experimentando técnicas que, quando justificadas, funcionam, mas que, quando não têm justificativa, são uma agressão ao leitor. É evidente que, muitas vezes – e, no caso de James Joyce, é evidente –, o monólogo interior é necessário. Mas simplesmente introduzir um monólogo interior sem qualquer necessidade, como um exercício de exibição heráldica, de ostentação de 32 A li teratu ra brasi lei r a v i s ta da Es p a n h a saberes prescindíveis, isso não tem sentido algum e ameaça o futuro da literatura narrativa. Certa vez, em Marrakech, no Marrocos, uma cidade deslumbrante, descobri a oralidade que vislumbrara desde minhas origens na Galícia. Dei-me conta de que havia narradores orais, ou seja, um mouro se sentava, tocava uma campainha e, imediatamente, as pessoas se reuniam ao redor dele para ouvirem as histórias que ele contava. O narrador oral tem de estar muito atento às reações do público. O mesmo, aliás, nos acontece, a nós, professores. Eu sempre disse que um bom professor tem de ser um bom ator e, se não é um bom ator, não é um bom professor. Se aborrece os alunos, se os leva ao desespero, se os alunos vão para a aula como quem vai para a guerra, o professor fracassou. Eu via, então, os narradores de Marrakech contando histórias e muito atentos às reações do público, porque quem escutava a história, caso esta não lhe interessasse ou fosse enfadonha, ia ouvir outro narrador. E assim, na hora de passar o chapéu ou a bandeja, o dinheiro também iria para o outro. Oralidade, então, é, fundamentalmente, o ter presente o leitor, ter presente que a criação literária é um sistema de colaboração. E, em poesia, isto fica muito claro. Eu, que sou um poeta frustrado, antes, quando era jovem, diria que daria seis anos de minha vida para escrever um bom poema. Agora, que não me restam seis anos de vida, já não daria nada. Mas houve um tempo em que, para escrever um grande poema, eu daria seis anos de vida. A poesia é como uma partitura para um músico. É preciso ler a partitura. E a poesia é, em grande parte, enriquecida pelo leitor. É o que eu explico a meus alunos, que agora são alunos americanos, e não espanhóis, contando-lhes uma história que vivi e que se relaciona com este aspecto da literatura enquanto participação, e, de modo especial, com a poesia. De certa feita li um poema que me pareceu um bom poema, mas nada mais que isso. Intitulava-se “A carta do amigo suicida” e um poeta, amigo meu, explicava que, um dia, outro poeta, amigo dele, se suicidou e ele viu uma carta fechada sobre a mesa de seu escritório e não a abriu. O poema me pareceu um hábil exercício de poesia, até que a viúva de outro amigo me chamou: meu amigo se suicidara, e ela me disse que pusesse os papéis dele em ordem, por faltarem-lhe, 33 B a sil io Lo sada a ela, forças para tanto. Passei, então, uma tarde na casa de meu amigo, buscando papéis, e, ao abrir uma gaveta, encontrei uma carta fechada. De repente, aquele poema, “A carta do amigo suicida”, se converteu numa vivência minha. Já não num fato literário puro, mas numa enorme experiência emocional, porque eu sabia por que meu amigo se suicidara. Meu amigo tinha uma amante, e sua amante lhe dera um ultimato: ou te divorcias e vens viver comigo, ou terminamos. E ele não se atrevia a divorciar-se e se matou. De pronto aquele poema, que não me parecera um poema especial, se enriquecera com minha experiência. Em poesia o leitor é fundamental. Mas também o é no romance. A experiência dos narradores orais de Marrakech trouxe-me de volta o mundo da minha infância. Eu digo aos meus alunos de agora, que são americanos, que nasci no século XII; e eles me olham e dizem: “Também não exagere!” Eu nasci nas montanhas da Galícia, numa casa que não tinha luz elétrica. Vivíamos, minha grande família de sessenta pessoas, numa casa imensa, e vivíamos exatamente como se vivia no século XII, e falávamos uma língua também medieval, a minha língua. A oralidade, ali, era fundamental. Quando caía a noite, vinham os camponeses das redondezas para a grande cozinha de minha casa, para a lareira, onde sempre ardia o fogo. É possível que, em quinhentos anos, aquele fogo, aquele lume, jamais se tenha apagado. E então um tio meu contava histórias que nós, meninos, ouvíamos assombrados, porque eram histórias de mortos, de gente que vinha do outro mundo; mas eram histórias que também transmitiam os sinais de identidade da tribo e tinham enorme valor antropológico, eram histórias que também transmitiam um mundo de cultura. Vou tentar transmiti-lo em minha própria língua. Contava-se aos meninos, por exemplo, que un día ían dous pequenos á escola e pasaban polo bosque, xa sabedes onde estaba o bosque, aquel bosque tremendo, e alí, xunto á ponte vella, viron chegar un home, un vello que viña cargado con leña, era un vello moi feo, cunha barba longa, todo esfarrapado, e entón os pequenos ríanse del. E o home aquel fixo así: Pluf! E aqueles dous nenos quedaron convertidos en dúas cerdeiras bravas, dous cerezos salvaxes, no? E dicían: Son as cerdeiras bravas que hai alí, xunto á ponte vella. Entón os nenos da casa, os meninos da casa, demos nomes àquelas duas cerejeiras: 34 A li teratu ra brasi lei r a v i s ta da Es p a n h a uma se chamava Daniel e a outra, Genaro. E falávamos com as cerejeiras, e, quando voltávamos da escola, dizíamos: “A professora é muito má, bate em nós, é uma mulher terrível...” Aquelas cerejeiras eram dois meninos também. Mas, quando íamos pelo bosque e víamos algum velho carregado com o que quer que fosse, aproximávamo-nos dele e dizíamos: “Senhor, podemos ajudar-te. Queres que te ajudemos em algo?” Não eram apenas os sinais de identidade da tribo: era também um sistema de valores que transmitia aquela literatura oral. E, de certa feita, contei por escrito outra historia oral, e um amigo meu, escritor, compôs um conto baseado nessa história e pediu-me licença para antecipar-lhe a publicação: a lareira da casa3 não se apagava nunca e minha avó dizia (a porta de casa, a da cozinha, deixavam-na sempre aberta), e minha avó dizia, então: “Aquí, se algún día, se algún día vedes aquí alguén que ven de fóra, hai que deixalo entrar e pode comer todo o caldo que queira, todo o que queira, non preguntedes nada, non lle digades cal é o seu nome, porque pode ser Noso Señor.”4 E Nosso Senhor, não é verdade, não gosta que se lhe façam perguntas. E sucedeu que um dia voltamos para casa, meu primo, que já morreu, e eu, muito crianças ainda, e vimos um velho com uma barba branca servindo-se de conchas de caldo. Escondemo-nos num canto e eu perguntava a meu primo: “Achas que é Deus? Achas que é Nosso Senhor?” E ele dizia: “Eu acho que é.” Mas estávamos em dúvida, até que, depois de tomar sete xícaras de caldo – digo sete porque é um número mágico, talvez fossem seis ou nove – o velho se levantou, juntou as mãos e disse: “E agora unha Ave María polos mortos desta casa.”5 E se foi. Neste ponto fiquei convencido de que vira a Deus. Mais tarde vim a pensar que ele não era Deus. E, já agora, volto a pensar que talvez fosse. Mas tudo isso era o mundo da oralidade, e este mundo pode ser reconhecido na literatura do Brasil, em muitas histórias de Jorge Amado, de Guimarães Rosa, de tantos e tantos escritores que fazem com que hoje a literatura do Brasil seja a mais estimulante, a mais carregada de novidade e a mais rica entre as literaturas que eu conheço. E eu 3 Em galego no original. (N. do T.) Idem. 5 Idem. 4 35 B a sil io Lo sada prego de universidade em universidade, em Chicago, ou em Heidelberg, ou em Malinas, prego que a literatura brasileira é a melhor do mundo, a mais interessante, a que pode devolver aos entediados leitores europeus a paixão pela arte de narrar. Mas, com uma condição: não esquecer o leitor. O leitor é uma peça importante, inclusive porque compra o livro. Isto é, se um homem gasta três mil pesetas (eu ainda calculo em pesetas e não em euros), se um homem gasta três mil pesetas num livro e o livro o enfara ou o leva à loucura, não torna a comprar outro livro. Tem opções muito mais baratas, no futebol ou onde quer que seja. A literatura brasileira se move no âmbito do romance mais vivo. Por quê? Porque este é um país magmático, incrivelmente confuso, um país em permanente recriação, onde o absurdo é o quotidiano. Eu, por exemplo, nunca vivi em outro país do mundo uma aventura como a que vivi ontem, em meu hotel, quando lá entraram três pistoleiros e armaram uma tremenda confusão. Eu, escondido, assistia à coisa com interesse evidente e me dizia: “Estou compondo um capítulo de minhas memórias.” Isto nunca me aconteceu na Alemanha ou em Nova York. É claro que é triste, mas, literariamente, é algo efetivo, é algo que hoje tem valor. Também tem valor, tristemente, mas tem, outro incidente que me aconteceu, ao almoçar num restaurante. No Rio de Janeiro as porções de comida são brutais, são imensas, são intermináveis. E, por isso, deixei uma grande parte da comida que trouxeram e disse: “Não agüento mais.” Veio, então, o criado, o garçom, e me perguntou: “O senhor se importa se dermos os restos a alguém?” E eu disse: “Não, de modo algum.” Chamaram então uma menina que estava na rua, uma menina linda, de uns doze anos, branca, mas carregando um menino negro, e me emocionava o amor com que estreitava contra seu corpo ainda infantil aquele menino negro. Deram-lhe a comida, numa embalagem de papel de estanho, e, pouco depois, ao passar eu junto a um jardim, vi essa menina comendo a comida que me sobejara. Outra experiência, creio eu, que jamais viverei na Europa. Não há dúvida que é uma experiência dramática, mas é também uma experiência que daria matéria para um belo conto. Este país, o Brasil, no qual, em duzentos quilômetros, se pode pas- 36 A li teratu ra brasi lei r a v i s ta da Es p a n h a sar do neolítico à tecnologia mais avançada; um país que está não apenas na vanguarda da criatividade literária, mas também da criatividade artística em design e arquitetura; este país de tremendos contrastes, um país invertebrado, magmático; a miscigenação, que é uma realidade viva e é o futuro do nosso mundo.6 Neste sentido, mesmo quando pensamos, por exemplo, que 15% dos habitantes de Berlim são turcos, ou quando pensamos que 30% dos habitantes de Paris são gente do norte da África, vemos, então que, também nisto, doloroso, difícil, possivelmente amargo, o Brasil está na vanguarda de um mundo com o qual vamos ter de aprender a conviver, porque o futuro está na mestiçagem. Digo-o eu, que sou um mestiço cultural e, possivelmente, físico. Quero dizer: no sangue de qualquer espanhol há muçulmanos, marroquinos judeus, gente do norte: a mestiçagem é a liberdade. O mestiço é aquele que, tomando um pouco daqui e um pouco dacolá, pode construir seu próprio mundo. A mestiçagem, no meu caso, mestiçagem cultural, é algo que só reconheço na velhice e que foi uma imensa fortuna, uma imensa fortuna. Foi a minha grande experiência de liberdade pessoal. Por isso coleciono pátrias e coleciono rios. E por isso qualquer viagem, para mim, é a tentativa de descobrir mais uma nova pátria que me enriqueça. Um rio a mais, no qual eu possa adivinhar, como Pessoa, os barcos que por ele transitaram ou as pessoas que o atravessaram repletas de esperança ou desespero. Pois bem: este país, que vive em permanente trabalho de reconstrução – nos anos em que passo por aqui tenho visto mudanças de moeda, mudanças de governo – poderia, também, contar exercícios de oralidade e aventuras minhas neste Brasil inusitado e assombroso. Por exemplo, como, no ano de 1970 me prenderam sob a acusação de pretender seqüestrar um avião... Absurdo... Mas, ao fim e ao cabo, o absurdo é a realidade! Muitas editoras me pediram que escrevesse um romance sobre esta minha experiência dos anos 70, quando me 6 Assim no original. Não há uma oração principal, à cuja volta se estruture, organicamente, todo o período. Cumpre não esquecer que esta palestra constitui um bom exemplo daquele estilo oral, no qual o encadeamento espontâneo das idéias tende a deixar a estruturação sintática em segundo plano. (N. do T.) 37 B a sil io Lo sada confundiram com um terrível revolucionário que ia seqüestrar um avião e desviá-lo para Cuba. E me perguntavam: “Mas o senhor ia para Cuba, não?” E eu respondia: “Não, ia modestamente para Barcelona...” Coisas assim. E tudo isso pode ser incidentes, anedotas, elementos passíveis de considerar-se destituídos de importância, embora, para mim, tenham sido muito importantes, enormemente importantes, qualquer um desses fatos: a menina a quem, hoje, deram os restos do meu almoço e que, pouco depois, os comia com uma fome atrasada, junto aos gradis de um jardim; minha experiência de 1970, na minha primeira visita ao Brasil. Digamos que o Brasil é, hoje em dia, um país onde acontecem coisas interessantes. Há muitos outros países, desgraçadamente no Iraque também estão acontecendo coisas interessantes, mas este é um país com esperança, este é um país aberto, este é um país com tecnologia – e, cada vez que venho aqui, noto avanços consideráveis, que dão alento, não à minha esperança no futuro, mas à minha convicção de que hoje o Brasil está avançando e abrindo caminhos para o mundo. Pois esta é sua literatura. Lembro-me de uma dos primeiros romances que traduzi, A barca dos homens, de Autran Dourado. É um romance terrível, impressionante e belíssimo. Poderia falar das permanentes transgressões de linguagem de Clarice Lispector, sua constante tentativa de inventar uma linguagem nova, porque inventar uma linguagem nova é inventar um mundo novo. Dizia Pessoa que a pátria do homem é sua língua. Outro, Rilke, dizia que a pátria do homem é sua infância. Outros dizem que a pátria não é o lugar onde nascemos, mas aquele onde queremos morrer (esta definição não me serve, porque eu não quero morrer em parte alguma). Outros, enfim, dizem que a pátria é o lugar onde nasceram nossos filhos. Eu sou muito mais modesto e digo: a pátria é o lugar onde as coisas quotidianas não são um problema, onde alguém sabe onde comprar novos cordões para os sapatos, quando os cordões velhos se rompem, ou uma aspirina (isto, literalmente, já me causou dores de cabeça em certos países). Na pátria, em qualquer pátria, o quotidiano não é um problema. Pois bem, a literatura do Brasil sempre me fascinou, porque nela vejo es- 38 A li teratu ra brasi lei r a v i s ta da Es p a n h a Capas de Clóvis Graciano De Jorge Amado Basilio Losada traduziu: Los pastores de la noche (Os pastores da noite). Barcelona: Luis de Caralt, 1970; Barcelona: Ediciones B, 1995. Los subterráneos de la libertad (Os subterrâneos da liberdade). Barcelona: Bruguera, 1980. Mies roja (Seara vermelha). Barcelona: Luis de Caralt, 1985. Los viejos marineros: dos historias del muelle de Bahia (Os velhos marinheiros: duas histórias do cais da Bahia). Barcelona, Ediciones B, 1988. Jubiabá. Barcelona, Plaza & Janes, 1994. Navegación de cabotage: apuntes para un libro de memorias que jamás escriberé (Navegação de cabotagem). Madri: Alianza, 1995. De cómo los turcos descubrieron América. Barcelona: Ediciones B, 1996. 39 B a sil io Lo sada tes elementos de oralidade. Contar bem uma história, sem perder de vista o leitor. As últimas obras brasileiras que traduzi, Patrícia Melo, por exemplo, ou o último livro de Rubem Fonseca, são literatura absolutamente insólita na Europa. Agora, como convencer os europeus daquilo que eu prego, a saber, que o Brasil, não só em literatura, em muitas áreas (mas, para mim, por razões profissionais, fundamentalmente em literatura) está na vanguarda do mundo? Este seria um trabalho que, no melhor sentido da palavra, poderia ser chamado de político. Eu gostaria de ver em Heidelberg, em Hanover, em Göttingen, em Florença, em Malinas, em Gand, docentes de literatura brasileira7 como o que temos em Barcelona, que simplesmente transmite a seus alunos o amor a esta literatura e lhes revela o seguinte: que esta literatura é de vanguarda, que ela está rompendo os velhos esquemas das literaturas européias. Quando vejo que na França continuam escrevendo romances cujo tema central é saber se a Senhora Dupont vai para a cama com o pintor do lado – um assunto que não interessa nem sequer ao Senhor Dupont – parece-me que a literatura será viver as coisas, escrevê-las (e talvez eu escreva esta minha experiência de hoje, quando compartilhei meu almoço, o que foi um ato involuntário, mas, não obstante, fez com que me sentisse enobrecido; e, logo depois, eu teria gostado de falar com aquela menina, para que ela me explicasse algumas coisas, e, talvez, deixar-lhe algum dinheiro a fim de que, durante um mês, ela e aquele menino negro que ela carregava pudessem esquecer a angústia de sobreviver um dia depois do outro). Se a literatura, portanto, tem algo importante, se ela é algo importante, ela o será nisto: descobrir-nos mundos, descobrir-nos novos usos da linguagem que jamais prevíramos, pôr um adjetivo novo ao lado de um substantivo com o qual esse adjetivo nunca se casara antes, provocar em nós essa emoção que às vezes, tantas vezes, traduziu-se para mim na experiência de estar lendo, sobre7 No original está “lectores de literatura portuguesa”, um evidente lapsus linguae corrigível pelo contexto. (N. do T.) 40 A li teratu ra brasi lei r a v i s ta da Es p a n h a tudo um poema, e ter de fechar o livro, porque a tensão emocional era tão alta que eu vislumbrava que aquilo não era deste mundo nem correspondia a minha própria experiência. É esta a grandeza da literatura. Continuarei a pregar, talvez inutilmente, de universidade em universidade, dizendo que a literatura do Brasil é a mais nova, a mais rica, a mais sugestiva do mundo. Continuarei a peregrinar pelas editoras com um livro brasileiro debaixo do braço (antes isto era fácil, porque todos os editores eram meus colegas, gente de minha geração; em seguida, eram alunos meus; mas agora já é uma terceira geração, é gente que eu não conheço e que não me conhece e, aí, a coisa se torna um exercício apostólico). Sinto-me em permanente apostolado, com qual tento pagar tudo o que este país e esta língua me deram. Porque aquele menino humilhado na escola, por falar uma língua humilhada, descobriu, mais tarde, que essa mesma língua era uma língua carregada de dignidade. E a partir daí viveu e assumiu essa língua com um orgulho imenso. Esta é a história de uma paixão. 41 Literatura como imaginário: Introdução ao conceito de poética cultural I v a n T e ix e ir a 1. Pequena arqueologia do nome Em português, o sufixo ário produz, entre outras, a idéia de coleção, de conjunto ou de lugar em que se guardam coisas, tal como se verifica em vocabulário, apiário, relicário e armário. Pela via etimológica, portanto, imaginário nada mais é do que um conjunto ou coleção de imagens, visto que o termo decorre de imagem, e não de imaginação, embora ambos sejam correlatos, como se verá mais adiante. Essa é a primeira acepção de imaginário registrada por Gilbert Durand,1 que o associa de imediato à idéia de museu, no sentido de repositório de 1 O Imaginário: Ensaio acerca das Ciências e da Filosofia da Imagem. São Paulo: Difel, 2001, Leciona Cultura e Literatura Brasileira no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP. É doutor em Letras pela mesma Universidade. Seu livro Mecenato Pombalino e Poesia Neoclássica (EdUSP, 1999) recebeu o Prêmio Jabuti, de São Paulo, e o LASA Book Prize, da Latin American Studies Association, de Pittsburgh, Pensilvania, EUA. Escreveu e organizou diversos livros, entre os quais se contam Apresentação de Machado de Assis (Martins Fontes, 1987), Obras poéticas, de Basílio da Gama, e Poesias, de Olavo Bilac. 43 Literatura como imaginário Iv a n Tei xei ra imagens, não só as já produzidas pelo homem, mas também as ainda por se produzirem. Logo, conforme o antropólogo, o sentido básico de imaginário encerra não apenas a idéia de acumulação, mas também a de processo de produção, de reprodução e de recepção da imagem. No dicionário etimológico de José Pedro Machado,2 o termo imagem, derivado do latim imagine, desencadeia uma longa sucessão semântica, em que se destacam, por ordem de surgimento no verbete, as seguintes: representação, imitação, retrato; retrato de antepassado, imagem (em cera, colocada no átrio e levada nos funerais); imagem, sombra de morto; fantasma, visão, sonho, aparição, espectro, etc. Associa-se, ainda, à noção de comparação, parábola e apólogo. Além disso, traz uma curiosa nuança, que é a idéia de imitação, por oposição à realidade. Conclui-se daí que, em bom português, imagem é sinônimo de símbolo, pois se trata de uma coisa que se toma em lugar de outra. Convém lembrar que o verbo imaginar, pela mesma via latina, designa o ato de produzir imagens ou de representá-las. Por outro lado, imaginação, ainda no século XVI, limitava-se à idéia de imagem ou de visão. Hoje, como se sabe, o termo é definido, sobretudo, como a faculdade psíquica de produzir imagens novas por meio de combinações imprevistas a partir de imagens conhecidas. Sem esquecer as variantes semânticas atuais de ilusório ou fantástico (como adjetivo), o vocábulo imaginário, ao assumir a condição de substantivo, apresenta-se como resultado de fusão dialética entre imagem e imaginação, pois a criação de imagens pressupõe o uso da imaginação. Não é à toa que, em certas regiões do Brasil, imaginário designa, ainda, a pessoa que produz estátua, conhecida também como estatuário, santeiro ou imagineiro. Então, se a etimologia for aceitável como estágio preliminar de investigação de um conceito, a idéia de imaginário pertencerá à esfera semântica do mito, da utopia e da criação artística, em cujo âmbito se coloca a litera2 Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. Com a mais antiga documentação escrita e conhecida de muitos dos vocábulos estudados. 3 vols. Lisboa: Editorial Confluência, 1967. 44 Li teratu r a c o m o i m a g i n á r i o tura. Mas há outro termo que possui íntima relação com a noção de imaginário. Trata-se de tecnologia. Em sua origem grega, o vocábulo, que se compõe de techné (arte, habilidade) e lógos (palavra, discurso), designava o estudo de técnicas destinadas à obtenção de eficácia no desempenho de ofícios, que incluíam tanto a manufatura de uma cadeira quanto a pintura de uma parede. Preservando a antiga raiz semântica, o vocábulo, em sua acepção mais elementar, designa, hoje, a produção sistemática de métodos, ferramentas e utensílios destinados a mediar a atuação do homem sobre a realidade. Tanto na acepção antiga quanto na atual, tecnologia pode ser entendida como uma linguagem de cuja aplicação resultam objetos ou procedimentos utilitários. Apesar de o imaginário participar do conceito de tecnologia, é possível traçar distinções entre ambos: o segundo configura-se como linguagem predominantemente transitiva, no sentido de mediar a ação do homem sobre o real; ao passo que o primeiro se apresenta basicamente como linguagem intransitiva, no sentido de produzir objetos destinados à contemplação estética. Todavia, sem se destinar primordialmente à medição entre lógos e práxis, o imaginário também possui efeitos sobre a ação do homem. Veja-se um exemplo comparativo. Hoje, acredita-se que a produção das figuras rupestres, com todas as possíveis nuanças ritualísticas, associava-se ao propósito de controlar os animais que seriam convertidos em caça.3 Simulacro e realidade misturavam-se na arte das cavernas, embora as figuras das paredes e dos tetos jamais se confundissem com as armas do mesmo período. Originárias de projetos culturais afins, pintura e armas possuíam funções distintas: supõe-se que as figuras afastavam o medo do homem pelos animais, gerando familiaridade com eles e produzindo uma forma de conhecimento (imaginário); as armas tornavam possível o triunfo sobre a caça, alterando efetivamente a relação do homem com a paisagem (tecnologia). 3 Gombrich, E. H. The Story of Art. London: Phaidon Press Limited, 1995, pp. 39-43. 45 Iv a n Tei xei ra 2. Arte: cópia de imagens Se o imaginário pertence ao universo das construções simbólicas, seu conceito pode partilhar da teoria da mimesis, que concebe a arte como imitação, representação ou cópia do real (natureza, vida, caracteres, paixões). As origens desse conceito encontram-se nos livros II, III e X de A República, de Platão.4 O filósofo condena a imitação artística, porque julga que ela, mantendo identidade aparente entre cópia e objeto copiado, ostenta um falso conhecimento da realidade. A arte, enfim, é cópia de cópia.5 Por isso, a visão utilitária de Platão levou-o a condenar a pintura e a poesia na vida social da República. Reconhece algum valor em Homero, mas julga-o inoperante na organização do Estado, porque seu trabalho se funda em conhecimento parcial e aparente das coisas, sendo, portanto, inferior ao do legislador, cujas leis são imagens de verdades essenciais captadas por pessoas detentoras de saber especializado.6 Aristóteles, ao contrário, julga que a imitação artística propicia espécie legítima de conhecimento, tal como se depreende do início do capítulo IV da Poética, citado aqui na tradução inglesa de S.H. Butcher: 4 Ao discutir idéias do filólogo alemão H. Koller, Luís Costa Lima (1995, 63-65) apresenta noções importantes acerca do conceito de mimesis antes de Platão. Originariamente, o vocábulo ocorre no âmbito da poesia oracular e do teatro primitivo. Depois, surge na filosofia pitagórica da expressão, associando-se a encenações musicadas e dançadas com finalidade terapêutica. Guimarães Rosa (Corpo de Baile, Rio de Janeiro: José Olympio, 1956, vol. I, 60-65) incorpora essa acepção do vocábulo à novela “Campo Geral”. Aí, seu Aristeu cura o menino Miguilim por meio da dança e de frases sibilinas. Na Física, de Aristóteles, a medicina também se apresenta como mimesis, no sentido de restaurar o equilíbrio do corpo, interrompido pela doença. Se se admitir a idéia, defendida pelo filósofo, de que o fim da natureza é promover a saúde, a medicina pode ser entendida como imitação da natureza, sem ser necessariamente representação. Conforme Paul Woodruff, “Aristotle on Mimesis”. In Essays on Aristotle’s Poetics. Edited by Amélie Oksenberg Rorty. Princeton: Princeton University Press, 1992, p. 78. 5 Selden, Raman. “Imaginative Representation”. In The Theory of Criticism: From Plato to the Present, a Reader. London, New York: Longman, 1995, p. 9. 6 A noção de que as normas da polis se manifestam como projeções de verdades essenciais surge em As Leis. Conforme Paul Woodruff, “Aristotle on Mimesis”. Ob. cit., p. 77.6 A noção de que as normas 46 Li teratu r a c o m o i m a g i n á r i o Poetry in general seems to have sprung from two causes, each of them lying deep in our nature. First, the instinct of imitation is implanted in man from childhood, one difference between him and other animals being that he is the most imitative of living creatures, and through imitation learns his earliest lessons; and no less universal is the pleasure felt in things imitated. We have evidence of this in the facts of experience. Objects which in themselves we view with pain, we delight to contemplate when reproduced with minute fidelity: such as the forms of the most ignoble animals and of dead bodies. The cause of this again is that to learn gives the liveliest pleasure, not only to philosophers, but to men in general; whose capacity, however, of learning is more limited.7 [Parece que a poesia em geral originou-se de duas causas, ambas com profundas raízes na natureza humana. Primeiro, o instinto de imitação arraiga-se no homem desde a infância, sendo que a diferença entre ele e os outros animais consiste em que ele, entre as criaturas vivas, é a mais imitativa e por meio da imitação obtém os primeiros ensinamentos; e não menos universal é o prazer ocasionado pelas coisas imitadas. Há prova disso na própria experiência. Objetos que vemos com desgosto na natureza contemplam-se com deleite, quando representados com rigorosa fidelidade: tal ocorre com as formas dos mais repugnantes animais e de cadáveres. A causa disso é que o conhecimento produz intenso prazer, não apenas nos filósofos, mas também nos homens em geral, cuja capacidade de aprender, todavia, é menor.] Como se sabe, a indagação de Aristóteles sobre mimesis toma corpo a partir do conceito de tragédia, que imita uma ação de caráter elevado por meio da palavra e cuja finalidade é, em última análise, o conhecimento e o domínio do homem sobre as próprias paixões. Mas não se pense que a mimesis transpõe a vida para a arte. A arte não imita propriamente a vida, mas sim conceitos de realidade, os quais, convertidos em código do imaginário, produzem a impressão de verdade. Conforme esse argumento, os objetos da mimesis artística jamais serão reais. Serão sempre imagens de coisas reais. O ensaísta, tradutor e 7 Aristotle’s Poetics. With an introductory essay by Francis Fergusson. New York: Hill and Wang, 1995, p. 49. 47 Iv a n Tei xei ra professor da Universidade do Texas Paul Woodruff8 apresenta a estimulante idéia de que, conforme os pressupostos aristotélicos, o artista inventa as coisas que pretende imitar e, depois, imita a própria invenção, dando arremate ao processo mimético.9 Essa noção coincide mais ou menos com os estágios da redação de qualquer texto, previstos pela retórica antiga: invenção (descoberta do objeto), disposição (análise e organização mental do objeto) e elocução (transformação do objeto em texto). O artista pode produzir em seu trabalho imagens de coisas possíveis, como a personagem Hamlet, ou imagens de coisas impossíveis, como o fantasma de seu pai. Logo, na produção de arte, não é a realidade que se impõe ao artista, mas sim uma certa idéia de arte e de realidade, que integra a dinâmica cultural da época. Mais especificamente, essa dinâmica pode ser chamada de poética cultural. O artista demonstrará maior ou menor grau de consciência da poética de sua cultura, mas é ela que lhe apresenta os assuntos, os modos de organização e de exposição da matéria artística de sua obra. Qualquer que seja o caso, a teoria indica que o artista não trabalha com fatos, mas com uma poética dos fatos. Ao serem incorporados no discurso, os fatos já se convertem em tópica artística, deixam de ser realidade exterior para se transformar em signos da cultura ou em imagens artísticas da realidade. O simples uso de palavras ou de tintas já transpõe os fatos para o universo das convenções culturais, distanciando-os da esfera da natureza. O próprio conhecimento da realidade, responsável pelas imagens que se convertem em arte, pressupõe a inclusão de suas formas em categorias conceituais que não se confundem com as coisas exteriores à estrutura da obra de arte. Essas categorias também integram a poética cultural de um período, que envolve não só o conceito de arte e as regras de composição, de leitura e de veiculação, mas também a própria idéia de realidade vigente no mo8 “Aristotle on Mimesis”, ob. cit., p. 85. Fundado em H. Koller, Luís Costa Lima parece ser o primeiro teórico brasileiro a questionar a idéia de mimesis como imitatio, defendendo também o princípio de que o conceito aristotélico implica, antes, um processo de imitação do que representação propriamente dita. Conforme Vida e Mimesis. São Paulo: Editora 34, 1995, pp. 63-76. 9 48 Li teratu r a c o m o i m a g i n á r i o mento da imitação. A poética cultural de cada período, regendo as práticas sociais, unifica conceitualmente o diverso e dá inteligibilidade ao mistério da arte e da vida em geral. A expressão poética cultural entra em cena como um aspecto da revalorização da história nos estudos literários pós-estruturalistas. Stephen Greenblatt,10 responsável pela criação de uma linha de pesquisa norte-americana conhecida como New Historicism, é o criador da expressão, mas parece ter sido Louis Montrose11 quem, pelos menos em termos explícitos, lhe deu mais consistência como categoria de análise histórica. O ensaísta entende a história como uma instância discursiva, constituída por dois aspectos distintos e complementares que se apresentam por meio de um jogo quiasmático: a historicidade dos textos e a textualidade da história. A historicidade dos textos explica-se como busca da especificidade cultural e do enquadramento social de todas as formas de escrita, não só os textos que os críticos estudam, mas também aqueles que estudam os textos dos críticos. O objeto de estudo é sempre textual: o discurso historiográfico e a teoria da história. A isso Hayden White chama meta-história. A textualidade da história explica-se por duas noções: primeira, os eventos passados não se deixam reconstituir em sua materialidade vivida, mas somente através de textos cuja estrutura necessariamente revela certos processos ardilosos de preservação e de apagamento da imagem dos fatos; segunda, os próprios textos que compõem o discurso historiográfico pressupõem outras mediações textuais, sobretudo quando se consideram os documentos a partir dos quais os historiadores compõem o fio narrativo de história.12 Como se vê, a idéia de poética da cultura associa-se ao conceito de episteme, adotado por Michel Foucault13 para designar a base interdiscursiva responsável pela 10 “Towards a Poetics of Culture”. In New Historicism. Edited by H. Aram Veeser. London, New York: Routledge, 1989, pp. 1-14. 11 “Professing the Renaissance: The Poetic and Politics of Culture”. In New Historicism. Edited by H. Aram Veeser. London, New York: Routledge, 1989, pp. 15-36. 12 Idem, ibidem, p. 20. 13 A Arqueologia do Saber. Tradução de Luiz Felipe Baeta Neves. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995, pp. 214-222. 49 Iv a n Tei xei ra criação dos saberes, dos valores e das convicções de uma comunidade. Em ambos os casos, a história, sendo discurso, não possui uma face cultural que existe como espécie de apêndice da vida política e econômica de um povo, mas é, por excelência, concebida como criação de sua cultura. Ao falar, no capítulo I da Poética, em imitação da natureza, Aristóteles pressupunha um inequívoco conjunto de mediações discursivas, que inclui não só a idéia de gênero e decoro, mas também um vasto conjunto de normas e princípios que definem a natureza da imitação, basicamente estudada conforme o meio, o objeto e o modo pelo qual se processa. O meio é a matéria na qual se dá a imitação: a palavra para o poeta, o som para o músico, a cor para o pintor e o gesto para o dançarino. O objeto será sempre imagens de pessoas em ação, por meio das quais se imitam os caracteres e as paixões. As pessoas que praticam a ação imitada classificam-se conforme três categorias morais: superiores aos homens de seu tempo (tragédia e epopéia), iguais aos homens de seu tempo (pinturas de Dionísio) ou inferiores aos homens de seu tempo (comédia, paródia). O modo de imitação é analisado por Aristóteles apenas na poesia, e não nas outras artes. A idéia de modo decorre do exame da maneira com que a voz poética apresenta a matéria, podendo se omitir ou participar ativamente do processo imitativo. A noção de gênero poético associa-se ao conhecimento dos modos de representação, que são três: narrativa com diálogo (epopéia); narrativa sem diálogo;14 diálogo sem narrativa (tragédia ou comédia). Entre a vida e a arte coloca-se a linguagem da arte, que determina o modo de apreensão da imagem do real a ser imitada pelo discurso do artista. A assimilação e o respeito pela lógica dessa linguagem chamam-se decoro ou verossimilhança, de cuja obediência decorre a eficácia da imitação. Em rigor, a eficácia 14 Aristóteles não exemplifica esse modo mimético, mas é provável que pensasse em certos mitos arcaicos em que só fala o narrador, sem nenhuma espécie de intermediário. Os intérpretes modernos da Poética acreditam que a lírica atual seja contemplada por essa definição do filósofo, porque nela só fala o poeta ou emissor. 50 Li teratu r a c o m o i m a g i n á r i o de qualquer construção artística se mede pela força do efeito que produz na audiência, a qual se deixa impressionar não pela relação de verdade que possa haver entre uma obra de arte e o objeto cuja imagem representa, mas sim pela relação existente entre a estrutura da obra e as regras do gênero a que pertence, previamente admitidas pelo autor e pelo público a quem se dirige. Ao se considerar a linguagem da arte, entra-se no reino das poéticas artísticas propriamente ditas, que se organizam em consonância com a poética da cultura de seu tempo, mas não se confundem com ela, pois pertencem ao terreno particular das diversas hipóteses de construção da arte. As poéticas artísticas são o conjunto de convicções e preceitos de um determinado período aplicável a determinada esfera da criação. Podem ser predominantemente descritivas ou prescritivas, conforme se detenham mais na análise do perfil teórico das técnicas de composição de obras do passado, como é a Poética de Aristóteles, ou conforme se concentrem mais na exposição de preceitos a serem seguidos por artistas vindouros, como é a Arte Poética de Horácio. Em português, conhecem-se poucas poéticas sistemáticas, dentre as quais se destacam a Nova Arte de Conceitos, de Francisco Leitão Ferreira, voltada para a sistematização de princípios do estilo agudo e engenhoso, atualmente conhecido como Barroco; e a Arte Poética ou Regras da Verdadeira Poesia, de Francisco José Freire, voltada para a sistematização do estilo claro e funcional do Iluminismo, atualmente conhecido como Neoclassicismo. Do período romântico para cá, as poéticas vem sendo substituídas – com exceções, é claro – por manifestos artísticos, geralmente mais breves, menos abrangentes e mais combativos. Muitos críticos avaliam obras de um período histórico por critérios de outro período, geralmente o seu. O estudo das poéticas e dos manifestos específicos de cada época não só resgata a possibilidade de compreensão da singularidade histórica da obra de arte, mas também propicia a hipótese de reconstrução do repertório dos artistas e do horizonte de expectativa dos diversos tipos de leitores que se configuram ao longo dos tempos. Evidentemente, autor e leitor partilham de um código comum de referências, ainda quando não conscientemente admitido. No caso de serem de épocas 51 Iv a n Tei xei ra e culturas diferentes, o leitor deverá previamente se municiar dos devidos protocolos de leitura, que o aproximarão dos pressupostos de formulação do sentido da obra. Mesmo descrendo em fantasmas, não estranhará o surgimento do fantasma do pai de Hamlet na peça de Shakespeare: acatará o irreal para ser beneficiado com a impressão de realidade, que produz prazer e conhecimento. Diante da intromissão do fantástico em uma obra, a leitura crítica deverá conduzir a atenção para os procedimentos da poética do autor, em vez de investigar a relação do texto com a vida exterior a ele. O que se imita em Hamlet (1602) não é a realidade propriamente dita, mas sim um discurso cultural sobre a Dinamarca do século XI, criado na Europa a partir do texto quase mítico da História Dânica, de Saxo Grammaticus, escritor dinamarquês da segunda metade do século XII. Assim como, do ponto de vista da história da arte, o reinado de Elisabeth I ficou conhecido como a época do teatro por excelência, é possível que o século XX venha a se classificar como a era do cinema. Tal como na Atenas de Péricles os freqüentadores dos festivais de teatro dominavam sem esforço as normas para a apreciação eficiente de uma tragédia de Sófocles, os contemporâneos de Shakespeare assimilavam com facilidade as alusões, trocadilhos, imagens, reflexões, tramas e subtramas de qualquer de suas peças. Em ambos os períodos, artistas e platéia partilhavam dos mesmos princípios de teoria da arte e de compreensão das coisas em geral, porque eram como que regidos pela poética cultural dos respectivos momentos. Da mesma forma, hoje, tudo se entende no cinema americano. Isso não quer dizer que suas normas sejam simples, mas sim que os freqüentadores de cinema se educam pela mesma gramática da percepção. Numa sala de projeção, as cenas produzidas por máquinas transcorrem como se fossem naturais. Como no teatro e na literatura, as regras de produção de sentido do cinema – responsáveis pelo efeito de realidade – não coincidem com as normas da vida exterior ao filme. Mesmo galopando sobre a areia, a imagem de um cavalo em um filme será sempre acompanhada do ruído de seu trote. Se não for assim, a cena será recusada por adesão excessiva ao real e por traição à poética do cinema, deixando de provocar a ilusão de verdade. 52 Li teratu r a c o m o i m a g i n á r i o Como se sabe, é bastante comum o artista produzir enunciados ainda não explicitamente formulados pela poética cultural de seu tempo. Todavia, eles existem como hipóteses virtuais previstas pelo sistema da própria cultura, e não exclusivamente como manifestação de suposta genialidade psicológica do artista. Como quer que se considere a matéria, surgem daí os chamados momentos de ruptura, em que, de alguma forma, o artista altera o repertório coletivo de sua época. Diante da dificuldade de diálogo de Oswald de Andrade com a maioria dos leitores de seu tempo, o poeta dizia que a camada da população que o desprezava ainda haveria de comer do fino biscoito que produzia. Tendo incorporado temas e técnicas da vanguarda européia contemporânea, Oswald não encontrou, no Brasil, soluções que o tornassem largamente apreciável em vida. A aceitação de sua poética específica teve de contar com o apoio interpretativo de jovens que, conhecendo-o já na velhice e em solidão, transformaram-no num valor reconhecido e inquestionável, graças a notável trabalho exegético, que se fundou, sobretudo, em vinculações do poeta com outros valores consensuais no momento da institucionalização cultural de seu texto. Portanto, o prestígio após a morte de um artista inovador, cujo maior exemplo talvez seja Vincent van Gogh, não quer dizer necessariamente que os grandes criadores estejam além ou acima do próprio tempo, mas que, com dados sutis da poética de sua cultura, promovem articulações imprevistas pela média dos contemporâneos. 3. Literatura: constelação de imagens Literatura é imaginário: constelação hipotética de imagens. Suas imagens tanto podem se originar do mundo extratextual quanto podem resultar de apropriação de estruturas textuais pré-existentes à ficção que se constrói em dado momento. Grandes obras da literatura européia explicam-se como imitação de discursos literários, por entenderem a ficção como integrante do mundo real – o mundo real das construções culturais, concebidas como fatos sociais. Essa segunda hipótese contempla, por exemplo, o caso de Os Lusíadas e de 53 Iv a n Tei xei ra toda dramaturgia de Shakespeare. Em vez de cópia da natureza, essas obras apresentam-se como imitação de textos especificamente considerados ou como reduplicação da linguagem da própria literatura, cuja gramática se converte tanto em imagens da vida quanto em imagens do processo de semantização da vida. Se grandes obras da literatura imitam imagens de textos, o mesmo ocorre com as pessoas, cujas vidas possuem aspectos que só se explicam como cópia de signos. Hoje, muitas instâncias do eu ou da personalidade se entendem como invenção cultural. A própria noção de nascimento e de morte só se torna possível através de relatos alheios, fundados, por sua vez, em discursos de outrem que se perdem no tempo.15 Os homens incorporam a idéia de nascimento e de morte como experiências vividas, quando, em rigor, elas não passam de efeito de discursos que se fundam em discursos que se fundam em discursos e assim por diante. Nesses casos, como em outros, a experiência imita a ficção. O mundo, enquanto palco do drama humano e, ao mesmo tempo, como objeto e espaço de conhecimento de si próprio, é primordialmente representação ou encenação da experiência. Ao tratar do assunto, Jacques Le Goff afirma que a primeira noção para seu conceito de imaginário é a de representação. Explica: Ce vocable très general englobe toute traduction mentale d’une réalité extérieure perçue. La représentation est liée au processus d’abstraction. La représentation d’une cathédrale, c’est l’idée de cathédrale. L’imaginaire fait partie du champ de la représentation. Mais il y occupe la partie de la traduction non reproductrice, non simplement transposée en image de l’esprit, mais créatrice, poétique au sens étymologique.16 [Este vocábulo, de significação muito ampla, envolve todas as traduções mentais de uma realidade exterior percebida. A representação associa-se ao processo de apreensão da realidade. A representação de uma catedral é a idéia de catedral. O imaginário pertence ao campo semântico da representa15 16 Foster, E. M. Aspectos do Romance. Porto Alegre: Globo, 1969, pp. 36-37. L’Imaginaire Médiéval: essais. Paris: Gallimard, 1985, pp. I-II. 54 Li teratu r a c o m o i m a g i n á r i o ção. Todavia, não deve ser entendido como simples reprodução dos objetos ou mera imagem reflexa do espírito, mas como tradução criadora, poética no sentido etimológico da palavra.] Ao falar no sentido poético da representação, o historiador alude ao termo grego poiésis, que, traduzido por poema, quer dizer criação ou instauração da realidade por meio do discurso verbal. Embora entendido como constelação dinâmica de signos, o imaginário em geral e a literatura em particular não devem ser tomados como representantes de algo que exista fora de sua estrutura. Não será também sintoma de alguma coisa a que não se tem acesso, mas que seria desejável atingir. Isto é, a arte não será concebida como documento social, como manifestação da nacionalidade e muito menos como projeção da psicologia individual do artista. Desde que se reconheça a especificidade de sua dimensão ontológica, terá um fim em si mesma, com usos tão práticos como quaisquer outros bens culturais. Embora se relacione intrinsecamente com outras ordens discursivas, é ela própria um discurso singular; e, como tal, deve ser abordada por categorias adequadas a seu modo de ser. A realidade primordial da literatura consiste na dramatização do ato de construir imagens. Por isso, será tratada como arte, e não como outra coisa. Ao produzir o texto, o artista inventa a imagem de um poeta que escreve ou de uma pessoa que fala como se fosse um artista escrevendo, entre outras possibilidades de enunciação ficcional. A última estrofe do “Poema Negro”, de Augusto dos Anjos, serve de exemplo de poesia como dramatização do ato de criar: Ao terminar este sentido poema Onde vazei a minha dor suprema Tenho os olhos em lágrimas imersos... Rola-me na cabeça o cérebro oco. Porventura, meu Deus, estarei louco?! Daqui por diante não farei mais versos.17 17 Anjos, Augusto dos. Eu. Rio de Janeiro, 1912, p. 112. 55 Iv a n Tei xei ra Qual a condição do texto? Simultaneamente, trata-se de um artefato verbal e de um evento cultural.18 Dotado de condição múltipla, o poema será entendido como projeção de repertórios, entre os quais se contam o do autor, o de sua época e o do intérprete. Nenhum deles será entendido como somatória de vivências psicológicas; todos se entenderão como articuladores de enunciados culturais. Nesse sentido, interessa ver o poema como imagem que o define enquanto arte. O princípio básico para a leitura da estrofe seria, então, estabelecido a partir da seguinte circunstância: Augusto dos Anjos, no início do século XX, imagina um poeta que acredita no poema como instrumento de expressão da angústia de viver. A psicologia imaginada pelo autor dramatiza o paradoxo segundo o qual a arte, devendo trazer alívio, acaba por intensificar a dor da existência. Como se vê, a circunstância biográfica encenada partilha do temário romântico, que Augusto dos Anjos particulariza com idas e vindas a dispositivos técnicos da poética parnasiana e simbolista. Isso explica a escolha de vocábulos mais ou menos corriqueiros (recusa da sofisticação parnaso-simbolista) e a adoção do verso decassílabo bem construído, cuja matriz se reproduz seis vezes, todas arrematadas com jogos consonantais e vogais não muito comuns na tradição da poesia brasileira (adoção do construtivismo parnaso-simbolista). No capítulo 9 da Poética, Aristóteles apresenta a célebre distinção entre poesia e história. Conforme os argumentos do filósofo, a poesia imita o universal; a história, o particular. Entende-se daí que ao poeta devem interessar não os fatos em si, mas a estrutura deles; ao historiador, interessam os fatos em sua singularidade. O historiador copia o que aconteceu; o poeta, o que poderia ter acontecido. Por isso, o primeiro incorpora em sua imitação um simulacro da realidade empírica, que encena falta de ordem nos eventos, de modo a gerar impressão de particularidade, isto é, de ausência de padrão pré-estabelecido. Por obedecer ao mesmo 18 Rosenblatt, Louse M. The Rader, the Text, the Poem: the Transactional Theory of the Literary Work. Carbondale, Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1994, 6-21. Culler, Jonathan. Literary Theory: A very Short Introduction. Oxford, New York: Oxford University Press, 1997, p. 75. 56 Li teratu r a c o m o i m a g i n á r i o critério de coerência com o gênero adotado, o poeta opera com a lógica das probabilidades da efabulação, particularizando em sua estória as leis gerais da narrativa. Logo, o poeta mimetiza a poesia, a arte ou fatos hipotéticos inventados pela tradição imaginosa da cultura; o historiador mimetiza imagens da vida propriamente dita, em que não se observa a mesma unidade dos eventos de um poema. Ao reduplicar as regras de produção da narrativa, o poeta aristotélico prefigura, entre outros, o princípio da unidade de ação, porque depende dele o efeito de que o discurso que compõe é poesia (imagens da arte); ao passo que o historiador visa ao episódio sem unidade, porque dele resulta a sensação de que o discurso produzido é história (imagens da vida), e não da poesia. A partir da formulação de Aristóteles e da estrofe de Augusto dos Anjos, pode-se dizer que a lírica moderna, sem deixar de partilhar do conceito de poesia, incorpora elementos do discurso histórico, com o propósito de simular imitação da vida, e não da arte. Abandonando a unidade narrativa da tragédia ou da epopéia antigas, o poeta contemporâneo concebe o poema como um pedaço desorganizado da realidade singular de um eu imaginado. Mas não se abandonam inteiramente os arquétipos narrativos, pois será sempre possível entender o poema lírico moderno como desfecho de uma estória sem unidade. Nesse sentido, poder-se-ia supor que o poeta ficcional de Augusto dos Anjos, atormentado com a necessidade de expressar as imagens de um cérebro agitado, termina por se exaurir na pesquisa das visões que produz. Em seguida, a razão o leva ao conceito de arte como destruição da vida, por consumir o indivíduo e não facultar o equilíbrio desejado. Assim, pode-se afirmar que, entre outras hipóteses, a estrofe imita a tópica coletiva do eu dilacerado, que se divide entre a riqueza temática da angústia existencial e a incapacidade de particularizar essa imagem na perfeição do poema total. Isso explica o modo irônico do texto, no sentido de a voz poética se interromper e mostrar consciência de que não se trata de expressão propriamente, mas de um trabalho de expressão. A distinção aristotélica entre história e poesia decorre, antes de tudo, do princípio de unidade da fábula, que imita a idéia de ação, isto é, uma estória hipotética, virtual, provável ou verossímil. Esse argumento, que começa no capí- 57 Iv a n Tei xei ra tulo 7 e termina no 9, tem por finalidade caracterizar o enredo da tragédia, que, sendo unitário, será poético. Ao concluir a defesa da necessidade do princípio para que a narrativa resulte perfeita, Aristóteles apresenta o paralelo entre poesia e história, como exemplo distintivo do que seja discurso unitário. O filósofo adotará o mesmo procedimento no capítulo 23 para explicar a estrutura da ação épica, regida pela mesma lei de composição da tragédia: It should have for its subject a single action, whole and complete, with a beginning, a middle, and an end. It will thus resemble a living organism in all its unity, and produce the pleasure proper to it. It will differ in structure from historical compositions, which of necessity present, not a single action, but a single period, and all that happened within that period to one person or to many, little connected together as the events may be.19 [A epopéia] deve ter uma só ação, unitária e completa, com começo, meio e fim. Desse modo, por todas as implicações de sua unidade, ela lembrará um organismo vivo, produzindo o prazer que se espera de sua espécie. Do ponto de vista da estrutura, a epopéia será diferente das narrativas históricas, as quais, por definição, devem apresentar não uma só ação, mas todas as ações praticadas por uma ou por várias pessoas num mesmo período de tempo, por mais tênues que sejam a relação entre elas.] Como se vê, o discurso histórico caracteriza-se pela unidade de tempo e pluralidade de ação; o discurso poético, pela mobilidade de tempo e unidade de ação. O texto deixa ver também que somente as ações ideais são unitárias. A vida de Ulisses não possui unidade, mas a fábula da Odisséia, sim. Por trabalhar com arquétipos, conceitos ou imagens de vida extraídas do mundo conceitual da arte, a poesia é mais filosófica do que a história, cujo discurso não visa ao hipotético, mas ao supostamente acontecido, ou seja, a 19 Butcher, S. H. Aristotle’s Poetics. With an introductory essay by Francis Fergusson. New York: Hill and Wang, 1995, p. 105. 58 Li teratu r a c o m o i m a g i n á r i o um simulacro da vida real. O próprio conceito de vida pressupõe a diversidade, que caracteriza o particular. Qualquer vida é um conjunto de episódios que se unem exclusivamente pelo fato de sucederem à mesma pessoa. Os episódios de uma vida não decorrem um do outro, tal como se observa na concatenação racional dos eventos de uma tragédia ou de uma epopéia. É nesse sentido que Aristóteles considera a história menos filosófica do que a poesia, pois o discurso histórico pretende produzir o efeito de retrato da vida como um todo, que necessariamente requer a união de episódios desconexos entre si. Se se excluíssem alguns eventos da vida de Ulisses, ela não perderia o sentido como biografia de um homem. Mas a Odisséia perderia o sentido como narrativa artística, caso um incidente de sua fábula fosse excluído ou trocado de lugar. O episódio de Faustino e Davidão, de Grande Sertão: Veredas, glosa a noção aristotélica de que a vida possui menos acabamento do que a arte.20 Riobaldo conta a um moço da cidade o caso ocorrido entre dois jagunços do Bando de Antônio Dó. Insatisfeito com a falta de conclusão da história real das personagens, o moço compõe um desfecho ficcional para o caso, que atribui unidade à dispersão da matéria vivida. Espantado com o milagre unificador da arte, Riobaldo comenta: Apreciei demais essa continuação inventada. A quanta coisa limpa verdadeira uma pessoa de alta instrução não concebe! Aí podem encher este mundo de outros movimentos, sem os erros e volteios da vida em sua lerdeza de sarrafaçar [...] No real da vida, as coisas acabam com menos formato, nem acabam.21 Aristóteles delega o retrato da vida à história, porque aquilo que realmente acontece não cabe na arte. Esse é também o pensamento de Riobaldo, para quem 20 Trata-se do pacto de vida e morte, situado no começo do romance, em engenhosa alusão ao pacto central da obra. Rosa, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1956, pp. 84-86. 21 Ob. cit., p. 85. 59 Iv a n Tei xei ra os eventos da realidade são errantes, imprecisos, inconclusos e muito lentos em sua dinâmica. Por isso, a arte deve evitar a vastidão das coisas reais, dando-lhes forma apreensível aos sentidos do homem. Conforme Aristóteles, a unidade de ação e a justa grandeza da fábula é que possibilitam a inteligibilidade dos enunciados artísticos. Evidentemente, as imagens dos eventos particulares do discurso histórico também são apreensíveis, mas não como virtualidades conclusas, e sim como dispersão de eventos em progresso, cujo andamento prossegue depois de sua representação pelo discurso do historiador. A idéia de unidade, portanto, está a serviço de uma epistemologia bem definida.22 4. Imaginário crítico do século XX Na análise das manifestações do imaginário artístico, não importa tanto ao intérprete enfatizar suas conexões com o universo psicossocial de que supostamente se origina quanto examinar a sintaxe que rege as relações dele com os discursos sociais que representa. O intérprete deve investigar o grau de importância dos elementos combinatórios que participam da geração do sentido, entendendo-o basicamente como resultado de um processo de correspondência discursiva. Assim, o significado não se entenderá como abstração imanente e isolada; decorrerá, antes, de operações efetuadas pelo intérprete, cuja análise deverá levar em conta não só a configuração específica do objeto, mas também a história e a teoria da leitura dele. Por essa perspectiva, uma das suposições menos desejáveis quando se trabalha com as produções do imaginário de um povo (digamos, a literatura brasileira) é entendê-las como expressão da alma ou da essência desse povo. Pois a própria idéia de alma, de essência ou de povo já é, em si mesma, manifestação do imaginário coletivo, construções resultantes do trabalho de intérpretes ou instituições consagradas, e não revelação es22 Em sentido diverso do aqui apresentado, G.E.M. de Ste. Croix apresenta argumentos importantes sobre o assunto, no ensaio “Aristotles on History and Poetry”. In Essays on Aristotle’s Poetics. Edited by Amélie Oksenberg Rorty. Princeton: Princeton University Press, 1992, pp. 23-32. 60 Li teratu r a c o m o i m a g i n á r i o pontânea de uma presumida essência que jaz para além das configurações concretas da cultura do mesmo povo. A maior imagem de uma comunidade é a noção de povo. Um conceito operante de povo tem de evitar a falácia romântica segundo a qual as criações populares se entendem como reflexo do real absoluto. Teria também de contrariar os pressupostos que fazem crer na nacionalidade como um traço de imanência natural. Como se sabe, em Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Benedict Anderson, em sintonia com certas premissas da lingüística saussuriana e com alguns princípios da retórica sofística, formulou uma teoria muito influente sobre a idéia de nação e de nacionalismo. Embora originário dos estudos de política internacional, seu conceito teve importantes conseqüências na teoria literária recente e nos estudos culturais. Conforme Anderson, não há uma essência espontânea que unifique as pessoas de uma mesma nação. O que ocorre, segundo ele, é a construção cultural de um logos discursivo que institui um simulacro apreendido como verdade natural ou como imanência preexistente ao discurso, à espera de assimilação pelos membros da comunidade. As pessoas, empiricamente concebidas, não se confundem com o país. Ao contrário, elas só podem ser concebidas como representantes do povo de qualquer país quando passam a incorporar traços da normatividade discursiva que institui a idéia de nação – normatividade que pode ou não representar as instituições oficiais. Não se trata, portanto, de defender uma concepção idealista de cultura ou de imaginário, porque o discurso que pode eventualmente representar um povo integra também a existência concreta e singular desse povo. Ao contrário do idealismo como postura epistemológica, essa noção conduz ao conceito de identidade nacional não como essência imanente, mas como construção que partilha da materialidade cultural, pois mantém contínua relação de reciprocidade entre imagem e prática social. A formulação de Anderson é simples e direta: 61 Iv a n Tei xei ra My point of departure is that nationality, or, as one might prefer to put it in view of that word’s multiple significations, nation-ness, as well as nationalism, are cultural artefacts (sic) of a particular kind.23 [O meu ponto de partida é que a nacionalidade, ou, como seria possível dizer diante da multiplicidade de significados dessa palavra, tanto a nação-lidade quanto o nacionalismo são artefactos culturais de uma espécie particular.] Esse pressuposto permite fortalecer um argumento reflexivo sobre a crítica literária dominante no Brasil, cujo modelo se funda na convicção hermenêutica de que há uma substância nacional espontânea e que ela foi captada por autores naturalmente talhados para isso, como Gonçalves Dias, Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar e Mário de Andrade, entre outros. De modo geral, essa crítica, formulada no século XIX e consolidada no século XX, impôs-se a missão de buscar no passado anterior à independência as raízes prenunciadoras desse trabalho que surge necessariamente como correlato do nascimento e da consolidação da nação e do povo brasileiro. Vem daí que o modelo consagrado estabelece como critério de análise a valorização calorosa e a depreciação glacial dos autores, conforme se aproximem ou se afastem do projeto de captação da alma brasileira. De acordo com as diretrizes finalistas do modelo, a culminância desse processo formativo teria sido o Modernismo. Decorreu dessa convicção uma verdadeira ditadura do gosto modernista sobre os padrões anteriores. Cristalizou-se, então, o método hermenêutico e teleológico, que acabou por transformar o passado em alegoria do presente; método em que um existe apenas como justificativa do outro. Essa prática, que possui uma versão singular na vanguarda dos anos 1950, tem produzido visíveis deformações de obras pretéritas em favor de sua acomodação aos valores atuais, como se identidade cultural fosse prerrogativa exclusiva do momento de enunciação crítica. Em linhas gerais, consiste nisso a principal linha de força (e também a princi23 Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Revised Edition. London, New York: Verso, 2002, p. 4. 62 Li teratu r a c o m o i m a g i n á r i o pal fragilidade) dos estudos literários brasileiros do século XX, cujos remanescentes persistem ainda hoje em alguns rescaldos do repertório neo-romântico da crítica modernista. Essa perspectiva se recusa a entender as essências como resultado de convenções históricas; presa à idéia de revelação, insiste em desconsiderar o valor como produto da cultura ou da relação do homem com as convicções de seu tempo. Seria insano tentar demonstrar a ineficácia, a incoerência ou a escassez de valor da leitura hermenêutica no Brasil. Trata-se da leitura possível e necessária ao momento de que surgiu. Todavia, novos tempos requerem outras alternativas, igualmente interessadas no diálogo intelectual próprio ao enunciado crítico. As obras de arte não existem sem enquadramento num sistema de referência interpretativa. A história da arte é a história de sua leitura. Falar de uma obra não é falar dela apenas, mas dos sentidos que se agregaram a ela ao longo de sua existência como artefato verbal e como artefato cultural. Em dimensão histórica, toda obra apresenta-se como palimpsesto. Dom Casmurro não foi escrito exclusivamente por Machado de Assis, mas por todos aqueles que procuraram discutir seu sentido a partir da estrutura oferecida pelo autor para que a história a fecundasse com as mais variadas hipóteses de inclusão ou exclusão semântica.24 5. Poesia: sentido e construção Desde o início do texto, imaginário tem sido identificado com o ato de criação, no sentido de instauração poética do mundo, que pode assumir, dentre outras, a forma do discurso verbal. A eficiência do enunciado poético obtém-se pela adoção ou rejeição de procedimentos retóricos como o ritmo, a rima, a paronomásia, a metáfora, a metonímia, a sinestesia e o hipérbato, dentre outros. A incorporação ou recusa de tais operadores, também conhecidos 24 Iser, Wolfgang. The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1980, pp. 53-54. 63 Iv a n Tei xei ra como tropos e figuras de linguagem, seriam procedimentos destinados a afastar ou aproximar o enunciado do perfil poético dominante em dado momento, atribuindo-lhe eficácia e poder de comunicação. O verdadeiro gesto poético é aquele que imita a estrutura do gesto poético. Ao conjunto de artifícios que atribuem perfil artístico à elocução, pode-se chamar, então, de imaginário, isto é, a propriedade imaginosa (tanto para mais como para menos) que supervisiona o modo adequado de configuração retórica da mensagem. Nessa acepção, imaginário seria também o conjunto de articuladores das imagens do mundo, por meio das quais se imitam os padrões de arte de uma comunidade. Guardadas as devidas proporções, o imaginário se manifestaria tanto nas insinuantes curvas de um entalhe em madeira de Aleijadinho quanto numa estrofe de cordel ou num trecho de João Cabral de Melo Neto. Examine-se a abertura do poema “Formas do Nu”, em que esse poeta mistura técnicas da chamada poesia erudita com elementos da elocução popular, para operar a instauração do imaginário: A aranha passa a vida tecendo cortinados com o fio que fia de seu cuspe privado.25 Um dos passos marcantes para a obtenção do efeito de engenho milagroso da estrofe é a personificação da aranha, pela atribuição de intencionalidade humana a seu trabalho animal. Isso decorre da perspectiva singular que o poeta escolheu para a voz (humana) do poema, que, em vez de falar de si, fala do animal como se fosse um semelhante. Daí a sagacidade de imaginá-lo tecendo, fiando e cuspindo. No conjunto, a linguagem adotada é metafórica, porque a voz poética vê um animal, mas o interpreta como gente. É como se dissesse: a aranha produz teia, assim como o homem tece cortinas. 25 Melo Neto, João Cabral de. Terceira Feira. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1961, p. 77. 64 Li teratu r a c o m o i m a g i n á r i o Graças ao poder sugestivo da doutrina implícita do poema, ele pode ser entendido como uma pequena alegoria do trabalho da criação poética, que deve brotar das entranhas de quem o produz. Insinua um paralelo com o esforço construtivo de certo tipo de poetas, dentre os quais se coloca o próprio João Cabral. Todavia, a lição mais abrangente que se pode inferir do poema para a formulação de um conceito de literatura como manifestação do imaginário é a noção de ficcionalização da realidade, por meio da metáfora distendida (alegoria), que possibilita falar de uma coisa por meio de outra. Ao abandonar a elocução denotativa, portadora de significado unívoco, e optar pela elocução conotativa, desencadeadora de múltiplos sentidos, o poeta partilha do conceito de poesia como encarnação viva do imaginário, não só por se fundar no uso imaginoso da língua, mas também por mimetizar o ato da criação de imagens. O poeta imagina alguém falando da aranha e, depois, imita essa imagem, dramatizando a posição de uma pessoa que observa os miúdos movimentos do animal, contrapostos à enorme imagem de outro homem tecendo ao tear. Assim como a aranha tece sua cortina, o observador virtual vai tecendo a teia do texto, num trabalho paciente e minucioso como o do próprio bicho imaginado. Em última análise, pode-se dizer, também, que o texto imita um conceito de imaginário, fundado na dilatação iluminadora do sentido do mundo, que pressupõe tanto o padrão quanto formas alternativas de ruptura, de resistência e de superação. Bibliografia Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Natio- nalism. Revised Edition. London, New York: Verso, 2002. Anjos, Augusto dos. Eu. Rio de Janeiro, 1912. Aristóteles. Retórica. Introdução de Manuel Alexandre Júnior. Tradução e notas de Manuel Alexandre Júnior, Paulo Farmhouse Alberto e Abel do Nascimento Pena. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1998. ____. Poética. Tradução, prefácio, introdução, comentário e apêndices de Eudoro de Sousa. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1986. 65 Iv a n Tei xei ra Aristóteles. La Poética. Edición trilingüe por Valentín García Yebra. Madrid: Editorial Gredos, 1974. Aristotle. On Rhetoric: a Theory of Civic Discourse. Newly translated, with introduction, notes, and appendices by George A. Kennedy. Oxford, New York: Oxford University Press, 1991. ____. The Rhetoric and the Poetics. Translated by W. Rhys Roberts and Ingram Bywater. Introduction by Edward P. J. Corbett. New York: The Modern Library, 1984. ____. The Poetics. Translation and commentary by Stephen Halliwell. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1987. Butcher, S. H. Aristotle’s Poetics. With an introductory essay by Francis Fergusson. New York: Hill and Wang, 1995. Culler, Jonathan. Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford, New York: Oxford University Press, 1997. ____. On Deconstruction: Theory and Criticism After Structuralism. Ithaca: Cornell University Press, 1992. Ste. Croix, G.E.M de. “Aristotle on History and Poetry”. In Essays on Aristotle’s Poetics. Edited by Amélie Oksenberg Rorty. Princeton: Princeton University Press, 1992. Durant, Gilbert. O Imaginário: Ensaio acerca das Ciências e da Filosofia da Imagem. São Paulo: Difel, 2001. Figueiredo, Antônio Borges de. Bosquejo Historico da Literatura Classica, Grega, Latina e Portugueza; para Uso das Escholas. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1846. Foster, E. M. Aspectos do Romance. Porto Alegre: Globo, 1969. Foucault, Michel. The Archaeology of Knowledge and The Discourse on Language. Translated by A. M. Seridam Smith. New York: Pantheon Books, 1972. ____. A Arqueologia do Saber. Tradução de Luiz Felipe Baeta Neves. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995. Gombrich, E. H. The Story of Art. Sixteenth edtion (revised expanded and redesigned). London: Phaidon Press Limited, 1995. 66 Li teratu r a c o m o i m a g i n á r i o Greemblatt, Stephen. “Towards a Poetics of Culture”. In New Historicism. Edited by H. Aram Veeser. London, New York: Routledge, 1989. Hibbard, G.R. “General Introduction”. In Hamlet, by William Shakespeare. Oxford: Oxford University Press, 1982. Iser, Wolfgang. The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1980. Le Goff, Jacques. L’Imaginaire Médiéval: essais. Paris: Gallimard, 1985. Lima, Luís Costa. Vida e Mimesis. São Paulo: Editora 34, 1995. Machado, José Pedro. Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. Com a mais antiga documentação escrita e conhecida de muitos dos vocábulos estudados. 3 vols. Lisboa: Editorial Confluência, 1967. Montrose, Louis A. “Professing the Renaissance: The Poetic and Politics of Culture”. In New Historicism. Edited by H. Aram Veeser. London, New York: Routledge, 1989. Melo Neto, João Cabral de. Poesias Completas. Rio de Janeiro, Sabiá, 1968. ____. Terceira Feira. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1961. ____. Serial. Lisboa: Guimarães Editores, 1960. Platão. A República. Introdução, tradução e notas de Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1980. ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro, José Olympio, 1956. ____. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1958. ____. Corpo de Baile. Rio de Janeiro: José Olympio, 1956. rosenblatt, Louse M. The Rader, the Text, the Poem: the Transactional Theory of the Literary Work. Carbondale, Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1994. Selden, Raman. “Imaginative Representation”. In The Theory of Criticism: From Plato to the Present, a Reader. London, New York: Longman, 1995. Woodruff, Paul. “Aristotle on Mimesis”. In Essays on Aristotle’s Poetics. Edited by Amélie Oksenberg Rorty. Princeton: Princeton University Press, 1992. 67 Anjos, escultura de Alfredo Ceschiatti (Belo Horizonte, 1918- ) Duraluminio, Catedral de Brasilia Fotografia de Claus Meyer Prefácio ao livro do museu de arte de Brasília R u b en s R ic u p e r o E m “Remate de males”, Mário de Andrade dizia: “Eu sou trezentos, sou trezentos e cinqüenta”. Antes dele, Walt Whitman, mais ambicioso, sentia conter um milhão dentro de si. Quantos estariam contidos em Wladimir Murtinho? Não no sentido habitual de que somos todos contraditórios e diversos, de que cada um é ele mesmo e o seu antípoda. Desse ponto de vista, Wladimir causava até a impressão oposta, pois parecia inteiro, personalidade feita de um só bloco, sem rachaduras nem inconsistências. Essa linha de aparente coerência interior, sempre fiel a si mesma, coexistia com a infinidade de suas manifestações. Ao longo de seus 83 bem vividos anos, Wladi foi homem de muitas vidas, de incontáveis iniciativas. Quando as pessoas hesitavam em começar alguma coisa por medo de que viesse a não dar certo, exclamava: “É preciso lançar 30 projetos para poder terminar um ou dois!” Não afirmava isso por leviandade ou falta de critério, por achar que dava tudo na mesma. Indiferente à quantidade, rigoroso no gosto e julgamento, Embaixador, professor de Teoria das Relações Internacionais na UnB e de História das Relações Diplomáticas Brasileiras no Instituto Rio Branco; ex-ministro da Fazenda (governo Itamar Franco), atual Secretário-Geral da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento). 69 Rubens Ri c u pero não era fácil no elogio ou na admiração. Sabia, no entanto, que ser melhor, em termos de homens ou idéias, não é garantia de prevalecer, compreendendo que a virtù não bastava; também fazia falta a fortuna. Era elevada, por isso mesmo, sua capacidade de resistência à frustração. No seu momento mais ingrato no Ministério da Cultura, tinha sido desterrado para cubículo longínquo, num fundo de corredor, paredes sujas, móveis e maquete em pedaços. Não se abalou, trouxe de casa quadros e objetos e – como aquele velho tenor italiano aposentado, comensal do nosso Dom Casmurro – quando andava, ao chegar ao escritório, “parecia cortejar uma princesa de Babilônia”. Nos primeiros dias de Brasília, em 1961, tempos de Jânio, acompanhei-o uma vez ao antigo DASP, para entrevista difícil com burocrata típico, em tudo o seu avesso, o diretor do órgão, Moacir Briggs, a fim de raspar do fundo do tacho do orçamento algum dinheiro para dar início às obras do Itamaraty. Foi a primeira revelação que tive de que nele o entusiasmo era servido por poderosa inteligência e sentido prático das realidades. Não obstante o formalismo, a frieza, a má vontade dos burocratas, Murtinho conseguiu fazer com que eles relutantemente admitissem o que, de saída, haviam negado: a legalidade e exeqüibilidade das fórmulas orçamentárias para financiar a construção. A renúncia logo depois, a turbulência e descontinuidade político-administrativa obrigaram a abandonar o empreendimento. Wladi não se perturbou, foi fazer outra coisa. Creio que, nessa época, decidiu passar uns anos fora e foi ser ministro-conselheiro junto à Embaixada no Japão, de onde ele e Tuni regressaram enriquecidos de experiências e coisas bonitas. Não tardou muito e estava de volta ao ponto de partida. Corria, nessa ocasião, no Itamaraty, o comentário de que só lhe tinham confiado a responsabilidade pela construção do prédio devido à convicção geral de tratar-se de missão impossível. Mais uma vez, subestimou-se o único tipo de personalidade que realiza algo de valor em meio adverso como o nosso: o sonhador de olhos abertos, capaz de dar consistência ao sonho. Graças à perfeita complementação com Oscar Niemeyer e a um grupo talentoso de colaboradores, levou à conclusão o que é, por fora e por dentro, a mais bela realização de Brasília, aju- 70 Prefác i o ao li vro do mu seu de a r te de B r a s í l i a dando a completar a obra de sonhadores como Juscelino, Darcy, tantos outros. Contribuiu, assim, para consolidar a nova Capital, tornando inadiável a resistida mudança das embaixadas estrangeiras e afastando, em definitivo, a tentação do retorno ao Rio de Janeiro, secreta aspiração de alguns no começo do regime militar. Brasília foi, em certo sentido, o projeto-síntese que deu unidade e sentido à sua existência e encarnou-lhe todos os sonhos. Foi lá que construiu a “casa della vita” e ali escolheu viver e morrer. Interessou-se por tudo, pelo Festival de Cinema, a Universidade, o projetado e esquecido Instituto de Teologia de frei Mateus Rocha, o Mosteiro, os projetos das embaixadas, a criação de bibliotecas no Plano-piloto e nas cidades-satélites; mergulhou no dia-a-dia das professoras, quando Secretário da Educação; era presença obrigatória em qualquer projeção de filme polonês, romeno, iraniano, em concertos da Escola de Música e da Orquestra, antes e depois do Teatro Nacional, na luta pelo Galpão, em todas as vernissages de galerias ou da Fundação Cultural. Sem perder a esperança, jamais se resignou a deixar inacabado o que faltava. De tempos em tempos, tentava fazer com que os novos donos do poder se interessassem em retomar a “construção interrompida”, sobretudo a do complexo da Biblioteca e dos museus da terra e do homem brasileiros, previstos e nunca realizados na Esplanada. Enquanto demorava a encontrar o seu Pompidou ou Mitterrand, o homem público capaz de renovar no Planalto a metamorfose trazida a Bilbao pelo Museu Guggenheim, ia se ocupando de impulsionar o Museu de Arte de Brasília, de não deixar desalojar e morrer o Museu do Índio, de contribuir para melhorar a qualidade dos nossos selos, para lançar as edições dos “Intérpretes do Brasil”, para fazer sair do papel o Museu Aberto do Descobrimento, possivelmente o que mais de importante há de ficar do V Centenário. Tinha idéias claras sobre as grandes instituições da cultura e da memória brasileira: Biblioteca Nacional, Museu de Belas Artes, Arquivo Histórico, Jardim Botânico, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Elementos constitutivos da fundação da nacionalidade e da independência, elas deveriam conti- 71 Rubens Ri c u pero nuar inseparáveis do Rio de Janeiro de dom João VI e do Império. Em lugar de transferi-las para a nova Capital, seria preciso criar em Brasília instituições originais, não cópias das do século XIX mas que encarnassem o espírito renovador da mudança do centro de decisões, como foi o Centro Nacional de Referência Cultural, semente do Pró-Memória e do Ministério da Cultura, que ajudou Aluízio Magalhães a criar. A essas entidades inspiradas em concepção contemporânea é que caberia cuidar da criação cultural a partir da data da transferência, em 1960, sem descurar a memória dos primórdios, como fez no Projeto Resgate e no sítio baiano do Descobrimento. A palavra-chave desse plano e “contemporânea”. Se, para Walter Benjamin, Paris era a capital do século XIX, para nós Brasília teria de ser a capital da transição do século XX ao XXI, ao menos em termos brasileiros. Capital testemunha do seu tempo, que é sua missão captar e exprimir, não só na arquitetura e no urbanismo mas especialmente no espírito que deve habitar e animar as instituições e as pessoas. Muito, quase tudo ficou por fazer dessa última parte e quem sabe será essa a tarefa das gerações que já viram a luz no Planalto Central, na nossa Terra do Meio. Wladi era, acima de tudo, um visual, apaixonado pelas formas, cores, proporção, equilíbrio, movimento. Era homem da arquitetura, da pintura, da escultura, do cinema, do teatro, das exposições, dos museus. Nada lhe daria tanta alegria como ver o nome lembrado numa das instituições que faltavam a Brasília, para alguém cujo conhecimento do mundo se fazia primeiro pelos olhos. Há outra razão para que ele ficasse agradecido por esta homenagem. Wladimir não desanimava com os adiamentos e frustrações; sabia esperar, mas gostava de terminar o que começara. Quando Tuni finalmente partiu, em inícios de julho de 2002, os amigos temeram que o gosto pela ação o abandonasse. Professor de vida até o fim, foi o contrário o que aconteceu. De modo sistemático, quase seguindo um plano secreto, ele foi completando tudo o que estava inacabado, inclusive a volta ao Equador de sua infância, que dizia às vezes não querer mais rever, pois só encontraria as sombras do passado. Como era tí- 72 Prefác i o ao li vro do mu seu de a r te de B r a s í l i a pico nele, pôs-se literalmente à obra, com jardineiros e pedreiros, reformou o jardim, renovou pisos, refrescou as pinturas, colocou em ordem os livros, refez sobretudo, com sua generosidade característica, o apartamento de Gladys, sua fiel e perfeita escudeira e ama de casa. Estava tudo pronto e consumado; ele podia enfim dizer, como em “Consoada”, seu poema predileto: O meu dia foi bom, pode a noite descer. (A noite com os seus sortilégios.) Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, A mesa posta, Com cada coisa em seu lugar. 73 Templo de Apolo, Tesouro dos atenienses Delfos Hoelderlin: a proximidade e a distância do sagrado Do r a F er r ei ra d a S il va Quando eu era menino, Muitas vezes um deus me salvava Do alarido e do açoite dos homens; Eu brincava tranqüilo, seguro Com as flores do bosque E as brisas do céu Comigo brincavam. HOELDERIN H oelderim (Johann Christian-Friedrich) nasceu na Suábia em 1770, de família modesta. Sua mãe desejava que ele fosse um pároco de aldeia, o que era comum em se tratando de um jovem com dotes intelectuais e sem dinheiro, na sociedade alemã aristocrático-burguesa daquela época. José Paulo Paes cita um biógrafo moderno do poeta que menciona um detalhe curioso. Em alemão o nome medieval do diabo e Ho- Dora Ferreira da Silva, poeta, ensaísta, publicou Andanças (1970), Uma via de ver as coisas (1973), Jardins/esconderijos (1979), Menina sem mundo e traduções. Sua obra está em Poesia reunida (Topbooks, 1999). 75 Dora Ferrei ra da Si lva elderlin, que significa “pequeno sabugueiro”, o qual segundo a tradição de certas regiões da Alemanha é considerado a árvore da vida, onde mora o espírito do destino. Terá sido talvez o destino que mudou o rumo de sua existência. Ainda no seminário, belo como um Apolo com roupas eclesiásticas, inicia a leitura dos antigos gregos. Alguns anos antes, na Latein-schule, e depois na escola do convento de Denkendorf, Hoelderlin aprendera rudimentos de latim, grego e hebraico, e suas respectivas literaturas. Em 1786 entra no seminário de Maulbronn, de severa disciplina religiosa, onde o proíbem de tocar flauta e só ocultamente lê então autores do pré-Romantismo: Klopstock, Schiller, Ossian. Começa a escrever seus primeiros poemas nessa época. A leitura dos gregos jamais representou em sua vida um exercício erudito, mas sempre foi uma busca de paradigmas, modelos de ser que pouco a pouco dele se apossaram, de início mansamente, depois com o impulso ambivalente do inconsciente, ora criativo, ora destrutivo. A violência apaixonada da poesia hoelderliniana, embora ligada à sua época, pressagia a modernidade. Como assinala Jose Paulo Paes, Hoelderlin teve de pagar por seu destino de vate precursor “o preço da penúria, do menosprezo e da insânia, à semelhança da progênie dos poetas malditos que o sucederia e sobre a qual ele estendeu, sem que o soubessem, a sua sombra enorme e benfazeja”. A poesia de Hoelderlin pode ser dividida cronologicamente em: Poemas da Juventude (1789 – 1794); Diotima (1795 – 1798); a Maturidade (1798 – 1800); Odes e Hinos (1799 – 1802); As Grandes Elegias (1800 – 1801); os Últimos Hinos (1800 – 1803); Fragmentos; Poemas da Loucura. No momento primaveril da poesia hoelderliniana, a leitura apaixonada de Platão, de Homero e dos trágicos gregos e o arrebatamento mais profundo de sua alma orientam-no para o louvor da Grécia antiga. Eis um fragmento do poema “Griechenland” (Grécia), onde invoca a pátria de seu espírito: Meu desejo se volta para um país melhor, Para Alceu e Anacreonte; 76 H oel derli n: a pro xi mi dade e a di s tâ n c i a do s a g r a do Feliz eu dormiria nos túmulos exíguos Dos heróis de Maratona. Fosse esta a última lágrima Vertida sobre a Grécia consagrada! Ó Parcas, que vossas tesouras cantem Pois meu coração pertence aos mortos. Por que o poeta se volta tão ansiosamente para a Grécia, invocando as terríveis Parcas num desejo confessado de morte, o que e sublinhado ainda mais pelo fecho do poema: “Pois meu coração pertence aos mortos.”? Hoelderlin é um extemporâneo. Terrível augúrio. Naquela sociedade aristocrático-burguesa de sua época, eram poucas as possibilidades de inserção de uma personalidade como a sua. Tornou-se um mero preceptor em casa de banqueiro, recomendado por Schiller, poeta já plenamente reconhecido. No entanto este último, numa carta a um amigo, referindo-se a Hoelderlin, confessa que suspeitava daquela “subjetividade violenta à qual se alia um certo espírito filosófico, não carente de profundidade”. Hoelderlin fracassa nessa primeira tentativa de educar o filho de Charlotte von Kalb, menino cujo temperamento era problemático. Comenta-se que o preceptor certo dia agarrara o discípulo pelo pescoço. Foi o fim de seu emprego. Mas a bondade de Charlotte levou-a a ajudar Hoelderlin, que se instalou em Iena, onde assistiu aos cursos de filosofia de Fichte, cujo pensamento “titânico” o impressiona. Esporadicamente e também por condescendência de Schiller alguns dos primeiros dos Hinos de Hoelderlin são publicados na Nova Talia e em outros almanaques da Suábia. Ao voltar-se para estudos de filosofia e estética comenta, numa carta a um amigo, que os estudos filosóficos eram uma espécie de hospital dos poetas. Mas de qualquer forma, sua amizade e participação nas idéias de Hegel chega a ponto de ambos selarem um pacto designado pela expressão “Reino de Deus” ou “En kai Panta” (unidade e totalidade) como ideal supremo da história do homem. 77 Dora Ferrei ra da Si lva Hoelderlin continua com seus problemas financeiros. Não sendo homem de recursos materiais, nem reconhecido em seu justo valor, tenta mais uma vez o preceptorado em casa de banqueiro. Um destino obscuro parece impeli-lo. A mulher do banqueiro é Susette Gontard, a Diotima que abrirá um novo ciclo na sua poesia e inspirará seu romance Hiperion. Susette Gontard, esposa do banqueiro, mãe de quatro filhos menores, foi a anima que passou a conduzir a poesia hoelderliniana. Houve entre ambos um amor platônico, que o nome de Diotima dado pelo poeta à sua amada, parece confirmar. Eis um poema em que Diotima é exaltada: Vem, o delícia das Musas celestes, Tu, que outrora reconciliaste os elementos hostis, Vem apaziguar o caos deste tempo, a furiosa discórdia Com os acordes da paz e que nos corações mortais Se conciliem as forças inimigas! Que a antiga natureza humana, sua alma grande e tranqüila Retorne poderosa ao coração carente do povo, ó beleza viva, Volta à mesa hospitaleira que é sempre tua e ao Templo! Pois Diotima vive como as flores frágeis durante o inverno: Rica de seu próprio espírito, busca no entanto o Sol. Mas o Sol do espírito, o mundo mais belo pereceu E na noite glacial alternam turbilhões. Como já dissemos, em sua juventude Hoelderlin sofrera a influência dos pré-românticos, cujo movimento Sturm und Drang (Tempestade e ímpeto) se opunha ao racionalismo e iluminismo alemães (Aufklaerung). Com os primeiros volta-se para a contemplação poética da natureza tal como Jean-Jacques Rousseau e, como este, acredita utopicamente no bon sauvage. Além desta postura acalenta o sonho de uma sociedade fraterna (o Reino de Deus ou o En Rai Panta), numa fusão idealizada de paganismo e cristianismo. A visão do mundo helênica, segundo a qual apenas na beleza o bem e a verdade se irmanam, se 78 H oel derli n: a pro xi mi dade e a di s tâ n c i a do s a g r a do projeta numinosamente naquela maravilhosa criatura que foi Suzette Gontard; para o poeta ela é a própria Diotima que no Banquete de Platão, como a Estrangeira de Mantinéia, é convidada por Sócrates a definir o Amor, o Eros. Ao que ela responde com a definição sábia e profunda de que o Amor é abundância e penúria, daí seu caráter paradoxal. Diotima abre um ciclo de poemas, além de ser a figura feminina principal de seu romance Hiperion, ou o eremita na Grécia. Trata-se de um romance epistolar entre Hiperion, Belarmin, Alabanda e Diotima. Neste momento de sua vida já estava ameaçado por sua extemporaneidade: era um poeta grego, vivendo na Alemanha, lutando como um Hiperion solar contra os turcos invasores da Grécia novecentesca, isolado do ambiente acadêmico alemão (mas de altíssimo nível). Dilacerado entre paganismo e cristianismo – o título desse romance tão bem o revela – estava a um passo da loucura. Aquele belo filho de Apolo mergulharia na insanidade durante os últimos quarenta anos de sua vida. Tal como Nietzsche, Friedrich Hoelderlin foi vítima da unilateralidade de sua experiência interior. O predomínio do elemento urânico ou celeste em detrimento do sentido da Terra determinou o que se chama de “enantiodromia” na psicologia junguiana, termo este que provém do pré-socrático Heráclito. O significado da palavra grega enantiodromia é a conversão de um oposto no outro, terrível castigo da unilateralidade. O poeta parecia prever esta catástrofe psíquica num poema do qual destacamos um fragmento: Vergonhosamente Uma força arrebata-nos o coração Pois todos os deuses exigem oferendas; E quando esquecemos um deles Nada de bom sucederá. As divindades que se manifestam ao longo da poesia de Hoelderlin não são arbitrárias e irritam apenas as sensibilidades aliadas a uma falta de conhecimento da realidade anímica do ser humano. Longe de serem arbitrárias, elas 79 Dora Ferrei ra da Si lva correspondem às metamorfoses da “imago dei” em sua mais íntima e sagrada intimidade. O poema “Patmos” dos Últimos Hinos já prenuncia as fragmentações perigosas que ameaçam o poeta. Citemos um fragmento desse poema na tradução de José Paulo Paes: Está perto, E difícil de alcançar, o Deus. Mas onde há perigo há também salvação. É nas trevas que moram As águias, e sem medo Os filhos dos Alpes cruzam, Sobre frágeis pontes, os abismos. [...] A mina esconde o ferro, na verdade, E resinas ardem dentro do Etna. Assim eu poderia, com riqueza, Pintar uma imagem onde se visse, Tal como havia sido, o Cristo. As resinas que “ardem dentro do Etna” devem ser associadas à entrega sacrifical de Empédocles, o taumaturgo e filósofo grego, personagem principal da tragédia hoelderliniana A morte de Empédocles. Em seu poema “Patmos” a energia destrutiva e suicida de Hoelderlin parece ter sido conjurada pela figuração do Cristo “tal como havia sido”. Mas a identificação do poeta com Empédocles é funda demais e o Etna ameaçador com suas resinas ardentes mora dentro dele. Ao afastar-se de Fichte, Hoelderlin assume a realidade autônoma da natureza, espécie de Não-Eu diante do poder titânico do Eu. A natureza não é um cenário idílico, mas uma plenitude viva de forças divinas. O poeta vive em profundo pathos com a alma cósmica e sagrada, que pode embalar o menino que “brincava tranqüilo”, mas cuja face escura é o avesso desse estado paradisíaco. 80 H oel derli n: a pro xi mi dade e a di s tâ n c i a do s a g r a do Uma das Grandes Elegias cuja tradução retomamos ao longo de meses se intitula “O Arquipélago” e nela nos deteremos porque fala da “distância dos deuses” (Gottesferne) e da “proximidade dos deuses” (Gottesnaehe). A proximidade dos deuses é o momento auroral de uma cultura, que parece bafejada pela presença benfazeja do sagrado: Retornam as gruas, buscando-te de novo? Navios Tentam aproar novamente em tuas margens ? Sobre Tua água tranqüila sopram aragens e das profundezas Emerge o golfinho para aquecer o dorso Na luz amanhecida ? É a hora da Jônia em flor. Os viventes, com novo coração, evocam na primavera Seu primeiro amor e rememoram a Idade de Ouro. Então venho saudar-te, Ancião, em teu silêncio! Para sempre vives, Poderoso. Repousas como outrora À sombra das montanhas e com teus braços ainda vigorosos Estreitas a terra encantadora; nenhuma filha perdeste, Pai: Tuas ilhas florescem, Creta persiste e Salamina Reverdeja à sombra dos loureiros, Delos ergue ao sol A fronte inspirada, cingida de raios; Tinos e Chios transbordam de frutos, Os vinhos de Chipre borbulham nas colunas embriagadas, Das alturas de Caláuria precipitam-se riachos Como antes, nas antigas águas do Pai. Todas as ilhas ainda vivem, mães dos heróis, Florescendo ano apos ano; se às vezes, do abismo Desencadeia-se um incêndio noturno, e a tormenta Arrebata uma das Graças, é em teu regaço Que ela tomba agonizante, e tu sobrevives, Ancião divino, Tu, que contemplas dos antros tantas auroras seguirem tantos crepúsculos. 81 Dora Ferrei ra da Si lva O “Arquipélago”, a segunda das Grandes Elegias que aqui citamos parcialmente, evoca um mundo auroral, semelhante à Idade de Ouro, em que a Natureza orvalhada pelo divino desperta numa luz amanhecida. É o tema da aurora, da primavera, do primeiro amor. Poseidon é saudado em seu silêncio criador. Poderoso, enlaça a terra grega em seus braços vigorosos: “E a hora da Jônia em flor.” As ilhas do Arquipélago são louvadas: Creta, Delos, Tinos e Chios, a transbordante de frutos. As colinas embriagadas pelos vinhos de Chipre, todas as ilhas – mães dos heróis – florescem ano após ano. E se uma das Graças é arrebatada pelo fogo das entranhas da terra, é no regaço do Ancião divino que ela agoniza; mas o deus criador sobrevive, ele, que contempla o mistério de tantas auroras e de tantos crepúsculos. Neste último verso transparece o sentido meta-histórico da proximidade dos deuses (Gottesnaehe) que precede a distância dos deuses (Gottesferne). A esse macrocosmo da Grécia antropomorfizada e auroral corresponde o microcosmo do poeta e sua missão criadora entre Céu e Terra: Quando os vivos iniciam o sonho áureo Que a cada aurora o poeta lhes prepara, A ti ele oferece, ó deus entristecido, um sortilégio Mais suave. Sua própria luz não alcança a beleza Do diadema – sinal de amor – com que, fiel à tua lembrança, Ele cinge a cada manhã os cachos grisalhos de tua fronte. Por que cabe ao deus criador a tristeza, em meio a plenitude auroral do começo ? É porque através da carnação histérica, suas lutas e inícios criadores o deus pressente que o abandono virá, a distância crescente entre deuses e homens. Impossível saber quem abandona e quem é abandonado. A Elegia evoca então dolorosamente as ruínas gregas, após a batalha de Salamina: Dize-me: Athenas, onde está? O deus em luto, Viste tua cidade – a mais amada – desabar em cinzas 82 H oel derli n: a pro xi mi dade e a di s tâ n c i a do s a g r a do Nas margens, sobre as urnas funerárias Dos Mestres! Acaso algum vestígio deles restou Para que um marinheiro de passagem possa dizer-lhes o nome, Consagrando-lhes um simples pensamento? O “Arquipélago” já confrontara a presença do divino no poder de criar beleza do gênio helênico, em passagens como esta: A Cidade... criação magnífica, obra do gênio firme e forte, Semelhante às constelações, forjando para si mesmo liames de amor. A fim de encerrar em formas grandiosas – por ele construídas – Sua eterna mobilidade. [...] A obra sai viva de suas mãos e tudo nela prospera em radiância esplêndida. Sempre de novo Hoelderlin traça a verticalidade unindo Céu e Terra e as formas grandiosas dos templos da polis, que – diz ele – são semelhantes às constelações. Numa intuição genial, ele menciona as formas grandiosas apolineamente encerradas na arquitetura e na escultura, prestes ao desbordamento dionisíaco de sua “eterna mobilidade”. A luta de persas e gregos e seus episódios mais marcantes escapam à historicidade monótona, alcançando píncaros que só a leitura completa e atenta da Grande Elegia revelará totalmente. Em paralelo ao poder genial de criar beleza na proximidade do divino é evocado enfim o distanciamento dos deuses (Gottesferne), tal como mencionamos atrás. Prestemos atenção a estes cinco versos fortes e terríveis, exemplificando o obscurecimento do fim de um mundo, antes de uma nova aurora: No entanto, ai de nós! Nossa estirpe caminha na Noite, Como se fora no Hades, longe dos deuses. Entregue ao labor 83 Dora Ferrei ra da Si lva Da oficina ruidosa, cada um ouve apenas a si mesmo; poderosamente Trabalham esses bárbaros, sem cessar. Seu miserável esforço Permanece estéril para sempre, como o das Fúrias. Nós estamos na Noite, no distanciamento do divino. “A atualidade de Hoelderlin – diz Ernildo Stein – deve-se ao fato de ter transposto o limiar de sua época, avançando para o futuro, sem propriamente filiar-se a uma tendência estética em voga. Nesse caminho solitário, sem modelos, quando sua obra chegou à maturidade, o poeta criou algo que ainda que mergulhado na história, ganhou uma historicidade atual em qualquer época.” É impossível ignorar o momento de obscurecimento da luz que o mundo atravessa. Atônitos sofremos dentro da humanidade, que é única, o desastre de guerras terríveis, destruição em massa, campos de extermínio, a ambigüidade da descoberta da energia nuclear, numa hora de rebaixamento da ética humana, a preponderância do poder sobre o amor. Sim, nós estamos atravessando a Noite do divino, à espera de um Dia que reconcilie tantas contradições. Nietzsche disse no Zaratustra que Deus morreu. Forma extrema de exprimir o distanciamento do Sagrado (Gottesferne) hoelderliniano. Acreditamos que Maria Zambrano foi a mais profunda intérprete desta curta e dura sentença: “Deus morreu”, que se encontra em seu livro El hombre y lo Divino. Citemos o último parágrafo deste seu livro que nos faz viver com toda intensidade e compreender até onde é possível essa curta sentença, resumo de nosso destino histórico: “Deus morreu.” Desfez-se de novo sua semente, desta vez nas entranhas do homem, nesse nosso inferno, onde engendramos, quando engendramos. Quando o Ser se abisma – a realidade luminosa e una –, não caímos no nada e sim no labirinto infernal de nossas entranhas, das quais não podemos desligar-nos. Tudo pode aniquilar-se na vida humana: a consciência, o pensamento e toda idéia que este sustenta, e até mesmo pode aniquilar-se a alma, esse vivo espaço mediador. ... Tudo o que é luz ou acolhe a luz pode cair nas trevas; trata-se do nada, da igualdade na negação, que nos acolhe como se fora uma mãe para fa- 84 H oel derli n: a pro xi mi dade e a di s tâ n c i a do s a g r a do zer-nos nascer de novo. Uma obscuridade que palpita... umas trevas que novamente nos dão à luz. Deus, sua semente sofre conosco, em nós, esta viagem infernal, esta descida aos infernos da possibilidade inesgotável; este devorar-se é o amor que se volta contra si mesmo. Deus pode morrer; podemos matá-lo... mas só em nós, fazendo-o descer a nosso inferno, a essas entranhas onde o amor germina; onde toda a destruição se transforma em ânsia de criação. Onde o amor padece a necessidade de engendrar e toda a substância aniquilada se converte em semente. Nosso inferno criador. Se Deus criou do nada, o homem só cria a partir de seu inferno nossa vida indestrutível. Dela, esgotada, nossa humana comunhão sairá um dia à claridade que não morre para, quase invisível, confundida com a luz, voltar a dizer a nosso amor resgatado: Noli me tangere... De propósito, ou não, deslocamos o eixo da intuição hoelderliniana, metafísica e meta-histórica, de caráter nitidamente masculino, para um ponto de vista introvertido e filosoficamente feminino. Maria Zambrano (e com ela concordamos) sublinha que só podemos matar Deus em nos mesmos, isto é, a “imago dei”. E numa seqüência admirável de sua “razão poética”, ela fala de “entranhas onde o amor germina” e “toda a destruição se transforma em ânsia de criação”, “onde toda a substância aniquilada se converte em semente”. O poder da criatividade feminina reside no amor e daí sua fidelidade ao Amado que aparentemente se ausenta deixando as palavras “Noli me tangere” de quem se afasta, mas não abandona. A mudança de nível é evidente e o toque sensível é negado, em benefício de outra forma de união e reencontro. Terminando, eis um dos poemas da loucura, de Hoelderlin, que parece uma pequena galáxia perdida na grande Noite: A beleza é própria das Crianças, Uma imagem de Deus, talvez. Tem a calma e o silêncio Que se louva também nos Anjos. 85 Friedrich Nietzsche (1844-1900) em 1873. Nietzsche e a loucura J . O. d e M e ir a P e nn a N o momento em que escrevo está no prelo, para próxima publicação pela Editora da UniverCidade, com patrocínio do Instituto de Filosofia e Ciências Aplicadas da aludida instituição, um ensaio meu sobre Nietzsche, com o título acima. É um pequeno livro de 170 páginas com ampla ilustração relacionada à vida do polêmico filósofo alemão. Meu propósito neste artigo é justificar e anunciar o trabalho em pauta. A filosofia de Nietzsche pouco conhecida ainda é no Brasil. Ela aqui chegou por intermédio de traduções francesas e obras de pensadores franceses que, na época do apogeu do “existencialismo” de Sartre e das divagações confusas de Foucault, Derrida, Deleuze, Kristeva e Irigaray desembarcaram de contrabando em nosso litoral, em que lutam tupinambás e tupiniquins. O primeiro francês a escrever uma vida de Nietzsche, num precioso ensaio crítico, foi Daniel Halévy. Sua obra é de 1909; Nietzsche morrera havia pouco tempo. Além de Guy de Pourtalès, que escreveu entre as duas guerras mundiais; Louis Corman, que abordou Nietzsche com o Psychologue des profondeurs, em1982; Paul-Laurent Assoun, que realizou um con- Diplomado em Ciências Jurídicas e Sociais. Embaixador do Brasil em Lagos, Israel, Chipre, Oslo, Islândia, Quito e Varsóvia. Professor universitário, membro da Academia Brasiliense de Letras. Autor de inúmeras obras, entre as quais: Shangai – aspectos históricos da China moderna (1944), Política externa, segurança e desenvolvimento (1967), O Brasil na idade da razão (1980), O evangelho segundo Marx (1982), A ideologia do século XX (1985), Utopia brasileira (1988), Decência já (1992). 87 J.O . de Mei ra Penna fronto entre Freud et Nietzsche em 1980, e dos já mencionados Foucault e Deleuze, há uma coletânea das discussões havidas no Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle, em julho de 1972, do qual, além de alguns estrangeiros ilustres, entre os quais Karl Löwith, participaram Eric Blondel, Eric Clémens, Jeanne Delhomme, Edouard Gaède, Sarah Kofman, Philippe Lacoue-Labarthe, Jean Maurel, Norman Palma e Paul Valadier em torno do tema específico “Nietzsche Aujourd-hui?”. De algumas dessas obras tenho conhecimento, de que me vali, no presente ensaio, com bastante esforço cartesiano. Em 1985, ocorreu em nosso país uma onda intelectual a respeito do filósofo germânico. Wilson Coutinho discutiu o fenômeno e menciona um simpósio sobre Nietzsche na Faculdade Candido Mendes do Rio. Alguns “filósofos”, artistas e críticos da cultura que escrevem em vários jornais, participaram dos debates. A obra foi então traduzida e publicada numa coletânea da Editora Brasiliense, sob o título Nietzsche hoje?. A crise de “nietzschemania”, porém, durou pouco. Conheço igualmente o ensaio de Cecil Meira, O Eterno Retorno de Frederico Nietzsche, de 1989, que li com muito interesse. Mas as “ondas” no Brasil podem ser altas e até servir para o surfe de intelectuários, atraídos pela celebridade momentânea. Entretanto, não me atrevo a afirmar com autoridade, mas acredito que o livro Nietzsche – o Sócrates de nosso tempo, de Mário Vieira de Mello, é um dos melhores que se tenha escrito em nossa terra sobre o pensador germânico. Não se trata de uma mera biografia ou da exposição sucinta da obra enorme de Nietzsche. É a defesa de uma tese. Mário enfatiza um aspecto em geral não muito desenvolvido pelo considerável número de críticos que, nos últimos anos, se debruçaram sobre essa obra: a importância da educação no pensamento de Nietzsche. Na verdade, é particularmente o papel pedagógico que Nietzsche pode aqui desempenhar, o que merece ser contemplado em toda tentativa de transplantar seu pensamento para esta nossa terra tropical, cheia de encantos mil e habitada por um povo tão pouco sério, é verdade, mas já naturalmente dionisíaco. Se Nietzsche tanto admirava e apreciava os italianos por sua espontaneidade, alegria e impulso vital, não se teria igualmente afeiçoado ao Brasil, como contraponto da decadência que percebia na civiliza- 88 Ni etzs c h e e a l o u c u r a ção européia do século XIX? Se, em vez de Oaxaca no México, houvesse pensado em Petrópolis como distante refúgio para sua solidão e criatividade intelectual, o que poderia haver acontecido? O mais curioso é que pode Nietzsche ser apontado como antecipando o tropicalismo, que no Brasil só se tornou consciente e inspirador de tendências teóricas após a Semana de Arte Moderna, de São Paulo, e a obra de Gilberto Freyre. É óbvio que o tropicalismo está associado ao erotismo dionisíaco dos povos morenos meridionais, vivendo em clima quente: Nietzsche certamente se deu conta disso em sua breve experiência na Costa Amalfitana, um dos locais mais belos e afrodisíacos do litoral do Mediterrâneo. Na obra de 1886, Além do Bem e do Mal, profeticamente assinalou Nietzsche que virtualmente todos os moralistas de antanho descobriram qualquer coisa de sedutoramente demoníaco na atmosfera quente das florestas tropicais. No verdadeiro ódio aos seres dos trópicos, “quer seja isso lançado à conta da enfermidade ou degenerescência do homem ou a seu próprio inferno e tormento próprio”, Nietzsche se pergunta por que ocorre tal ojeriza: para “benefício dos homens das zonas temperadas? Para a moral? Para a mediocridade?”. Grande amante da atmosfera da Itália, o filósofo descobre nas áreas quentes do planeta o dionisismo que promove triunfalmente o Übermensch de sua filosofia. Nietzsche obviamente esquecera a idealização da Grécia e do trópico paradisíaco que alucinou os grandes descobridores da época da Renascença... O fato é que, retornando ao Brasil como aposentado no princípio dos anos 80, me dei conta que havia uma natural e elogiável curiosidade em nossa terra pelo filósofo tedesco, em que pese uma compreensível reação a respeito dos aspectos mais extravagantes de um pensador, dado como profeta da violência, da desigualdade, do elitismo e do ateísmo, aspectos que naturalmente repugnam às tendências dominantes em nossa cultura intelectual. No novo milênio, o interesse por Nietzsche parece pouco a pouco se firmar no Brasil. O “Caderno de Cultura” de O Estado de S. Paulo publicou, a 7 de outubro de 2001, um pequeno estudo de Regina Schöpke que anuncia novas traduções de Nietzsche para nossa língua, assim como discute o livro de Rüdiger 89 J.O . de Mei ra Penna Safranski, Nietzsche – Biographie Seines Denkens (2000). Esta obra teria mesmo inspirado um filme sobre a crise de loucura de Nietzsche do cineasta brasileiro Júlio Bressane. Não posso comentar o filme, porque não o conheço. O livro de Safranski, Nietzsche, uma biografia filosófica, que li na tradução inglesa de 2002, é uma das melhores que julgo já haverem sido publicadas sobre a personalidade excepcional do pensador, entre outras coisas por fazer uso amplo da correspondência de Nietzsche, entrando assim na intimidade do filósofo. O estilo epistolar era muito comum na época e as cartas do filósofo são numerosas e excepcionalmente reveladores de suas preocupações e seu caráter. Do que ocorre na própria Alemanha, poucas informações possuo. Entretanto, no final dos anos 70 conheci, em Oslo, um jovem professor de origem vienense, Hans Eric Lampl, que também lecionava literatura latino-americana na Universidade local. Era um entusiasta de Nietzsche e membro de uma sociedade alemã que, anualmente, se reúne para longas discussões sobre o filósofo, precisamente em Sils-Maria, cantão dos Grisões na Engadine suíça, onde Nietzsche viveu alguns anos e escreveu algumas das maiores obras do acervo. Isso me faz crer que a memória de Nietzsche é ainda cultivada com fervor em seu país natal, depois de haverem expurgado a idéia aberrante de qualquer associação espiritual entre o pensamento do filósofo e as ideologias totalitárias, nacionalistas e socialistas, que dominaram a Alemanha na maior parte do século XX. Visitei certa vez Sils-Maria, pois costumo ir freqüentemente à Suíça onde, como cônsul-geral em Zurique, vivi quatro anos de intensas experiências intelectuais, inclusive como estudante no Instituto C.G. Jung de Psicologia, que, estando Jung ainda em vida (faleceu em 1961), funcionava na Gemeindestrasse, bem perto do centro da cidade. Tenho assim a honra de haver conhecido um dos principais intérpretes do filósofo e o local onde escreveu algumas de suas obras mais formidáveis. A verdade é que, como os leitores disso se darão conta neste ensaio, é sobretudo nos Estados Unidos e, particularmente, em suas Universidades, que Nietzsche é hoje estudado. Não só a estrutura do poder econômico e do poder militar se localiza hoje nos EUA, mas também é o centro da cultura em proces- 90 Ni etzs c h e e a l o u c u r a so de globalização. Por conseqüência, é sobretudo de autores de língua inglesa que me vali para preparar as três conferências, com o título “The Mystery of Nietzsche’s Breakdown”, que no Instituto C.G. Jung, agora localizado em Küsnacht, perto de Zurique, pronunciei em maio de 2000. Essas conferências constituem o cerne do argumento que desenvolvo no ensaio Nietzsche e a loucura. Os intelectuais brasileiros muito teriam a aprender com a leitura de Nietzsche, é o que concluí e o que pretendo defender como tese no ensaio aqui referido. Por sobre a barreira da língua, do estilo exuberante e difícil, da desinformação e calúnias que sofreu, e das más traduções existentes de seus livros, que seja ele lido com cuidado. A mensagem de Nietzsche é o de uma nova moralidade, de um novo mito, de uma “transfiguração de todos os valores”, de um individualismo heróico, como pretende Leslie Paul Thiele – em suma, uma mensagem apropriada para o mundo globalizado que está surgindo sob nossos olhos, neste início de milênio. Não acreditava Nietzsche que sua obra fora escrita para a posteridade, que ele nascera muito antes de seu tempo? Um de seus primeiros trabalhos tem como título Meditações extemporâneas, que melhor talvez traduziríamos como “Meditações prematuras”. Certamente a transfiguração que Nietzsche nos propõe pode servir de fermento nesta Terra dos Papagaios, precisamente porque inteiramente nova é ainda nossa cultura, sendo fácil contrapor-se e corrigir os vícios da inteligência e dos sentimentos que ainda dominam a frágil e insegura elite intelectual do país – seriamente contaminada por um vírus “romântico” que posso condensar na figura perversa de Jean-Jacques Rousseau. Antes de tudo que se saiba que Nietzsche não é pós-moderno (o que quer que signifique essa expressão esdrúxula). Ele não é ideológico. Não se coloca nem à esquerda, nem à direita. É, em grau supremo, o que se chamaria ‘politicamente incorreto’; mas representa, estou certo, uma das maiores forças intelectuais e morais no mundo em gestação, não tanto pelo que disse mas, como observa Karl Jaspers, pelas questões desafiantes que brutalmente nos endereçou. Noto que muitos dos amigos intelectuais que mais prezo possuem uma visão destorcida do pensamento nietzscheano. Gostaria de poder corrigir os 91 J.O . de Mei ra Penna mal-entendidos. É por isso que me atrevo a colaborar no verdadeiro dilúvio de publicações que hoje aparecem sobre o pensamento e a personalidade desse homem excepcional. Os homens superiores, os Übermenschen de amanhã, serão aqueles para quem a nobre Ética da Coragem, da Compaixão e da Reverência pela Vida, que mergulha suas raízes mais profundas do Oriente ao Ocidente, e tanto no Budismo quanto no Judaísmo e no Cristianismo, encontra expressão parcial nas preocupações ecológicas com o meio ambiente e com a necessidade de contenção demográfica, na insistência no sentido de respeito internacional pelos chamados “direitos humanos” e no esforço de extensão universal da liberdade individual, segundo certas regras de convivência sob o império de uma lei democrática. As descobertas mirabolantes da física, da cosmologia e da biologia, ao coexistir com a competição e a seleção darwiniana, devem procurar superá-las num imperativo categórico de aceitação global – uma ética que sustente a noção platônica de philadelphia, ou seja, de fraternidade e amizade entre todos os homens e mulheres. O filósofo pôs à nossa frente, em toda sua complexidade e brutalidade, um desafio com o qual teremos de lidar, procurando resolvê-lo. Nietzsche propõe um novo significado, um sentido novo e transcendental para a nossa existência frustrada e angustiada, vidas enfermas e insignificantes num Universo vertiginoso no qual nos sentimentos horrendamente privados de uma presença divina. Somos todos irmãos num mundo global. Mas somos órfãos. Num dos aforismo recolhidos em A vontade de potência, Nietzsche argumenta que Platão teria pretendido que cada um de nós deseja ser o senhor de todos os demais homens, se somente fosse isso possível – e, acima de tudo, gostaria de ser o próprio Senhor Deus. “É esse espírito que deveria de novo retornar” – exclama Nietzsche. De certa forma, toda a equação moral que a Humanidade enfrenta no novo século, em uma perspectiva social, política e, principalmente, de caráter ético, individual, já fora vivida e colocada por Nietzsche em termos filosóficos, cem anos atrás. Por tal feito monumental, devemos honrar sua memória. 92 Prêmio Senador José Ermírio de Moraes – 2003 Este ano coube o Prêmio Senador José Ermírio de Moraes ao escritor e poeta Bruno Tolentino, pelo livro O mundo como Idéia. O premiado foi saudado pelo Acadêmico Miguel Reale. Damos a seguir a saudação proferida por Miguel Reale, e em seguida, as palavras de Bruno Tolentino. Representou a família do doador o Sr. Antônio Ermírio de Moraes, membro da Academia Paulista de Letras. A distribuição dos bens masaccio (1401-1429) Cappella Branccacci – Firenze Chiesa del Carmine Sentido universal da poesia Sau d aç ão pr o f e r id a p e l o Ac ad êm i c o M i g u e l R e a l e A os que estranharem a outorga do Prêmio Senador José Ermírio de Moraes a um poeta, lembraria o estupendo prefácio de Euclides da Cunha ao livro Poemas e canções de Vicente de Carvalho, mostrando que “nem tudo é golpeantemente decisivo na profissão de números e diagramas”, como a de engenheiro que ele era e José Ermírio também. Ademais, o Senador José Ermírio de Moraes foi um empresário do mais amplo espectro, desde a prodigiosa atividade industrial até a fecunda atuação política, com o espírito sempre aberto às necessidades econômicas e às aspirações culturais do País, valores que os seus filhos herdaram, instituindo o prêmio que estamos outorgando, além de várias outras beneméritas iniciativas. Foi a visão universal dos problemas do poeta Bruno Tolentino que me levou a indicar aos caros confrades da Academia Brasileira de Letras o seu livro O mundo como Idéia para receber, este ano, tão hon- Prêmio Senador José Ermírio de Moraes – 2003 Sentido universal da poesia Sessão realizada no Salão Nobre da Academia Brasileira de Letras, a 4 de setembro de 2003. 95 Prêmi o Senado r Jo sé Ermí ri o de M o r a e s – 20 0 3 roso galardão. O que me impressiona em sua obra é o sentido universal de sua poesia, não lançando mão de artifícios e artefatos para compor seus versos, mas os desenvolvendo em sintonia com os valores estéticos da pintura e da música. A projeção ascendente de Bruno Tolentino, desde 1963, quando foi considerado Revelação de Autor, até receber os prêmios Jabuti, em 1995, Cruz e Sousa, em 1996 e Abgar Renault, que lhe foi atribuído, em 1997, por nossa Academia, corresponde à de um poeta clássico que ama e cultiva a forma como valor imagético concreto, nela unitariamente fundindo o sensível e o intelectivo, a palavra e o seu conteúdo significante. É em O mundo como Idéia que culmina a sua diretriz poética, suscitando desde logo uma pergunta: Idéia em que sentido? Não é por certo, como racionalização final do espírito objetivo, à maneira de Hegel, mas antes como sempre renovado desafio de encontrar a verdade em sintonia com a realidade, sem nunca se subordinar o eterno ao efêmero. Tolentino declara-se seguidor de Santo Tomás, mas o seu realismo tomista é o de um inconformado com as soluções alcançadas pelo homem em um mundo de perplexas provisoriedades ante o mistério da morte, como o demonstra este soneto: O real, fragmento separado do ser (pela noção de fragmento, entre outras), foi sendo imaginado desde o início, talvez, do pensamento, como conjuração ou como dado, mas sempre como alheio. Alheamento que, complicado pelo sofrimento, levaria o espírito apressado a uma equação que corrigisse o mundo substituindo a Idéia ao perecível. No entanto o coração é um moribundo 96 Senti do u n i v e r s a l da p o e s i a apaixonado, e como pouco a pouco a morte o vai reconvocando ao nível do real, ama-o e nega-o como um louco. Tolentino, porém, não é um filósofo, nem faz da filosofia um tema poético, porquanto, antes de mais nada, é ele um poeta que, na sua incansável busca da realidade como verdade, apela para o que nos dizem as artes, sobretudo a pintura e a música, partes integrantes de sua poesia. Eis aí uma das originalidades do livro que a ABL neste instante consagra: o recurso do poeta a obras de pintores, como Paulo Uccello, Piero Della Francesca, Tommaso Masaccio e Leonardo da Vinci, não como mera ilustração do que é dito, mas como componente essencial do afirmado. Para ele, sem esse apelo às demais artes, o poeta não teria condição de decifrar a verdade última do Ser. À luz dessa ampla compreensão estética, poderíamos afirmar que, ao ver de Bruno Tolentino, para a solução dos problemas ontológicos não basta a Metafísica, sendo necessário recorrer às artes poéticas, pictóricas, escultórias e musicais, sem as quais não seríamos capazes de ascender até a realidade em si. Em última análise, é esse o tema central das 70 páginas do prólogo do livro que estamos premiando, o qual condiciona nada menos de 384 páginas de poemas, muitos dos quais em inglês, italiano, francês e castelhano. Essa é outra originalidade de Tolentino, que transcende à língua portuguesa e compõe, com reconhecido êxito, dezenas e dezenas de poesias no idioma do lugar em que se encontra, ao lado de Ungaretti em Roma, de seus colegas das universidades de Bristol, Essex e Oxford, e dos companheiros de Paris, talvez pela força que tem a amizade nesse escritor, no fundo um homem solitário. Se a linguagem, no dizer de Heidegger, é a morada do Ser, também essa é a visão de Tolentino, que transcende às épocas, sabendo ser tanto um clássico do Renascimento como um atormentado homem comum de nossos dias. Nem se diga que, com essa compreensão universal da poesia, tenha ele se tornado alheio à realidade nacional, tão brasileiro é ele, seja quando expressa 97 Prêmi o Senado r Jo sé Ermí ri o de M o r a e s – 20 0 3 nossos modos de sentir em uma língua estrangeira, seja quando verte esplendidamente para o inglês o extraordinário poema sobre a “Máquina do mundo” de Carlos Drummond de Andrade. Mas, voltando à indagação do sentido da palavra “Idéia” em seu último livro, talvez seja oportuno lembrar a distinção de Kant entre conceito e idéia. O conceito segundo ele está em relação com a experiência e nela se constitui como explicação dos entes e de suas relações naturais, podendo ser objeto de verificação metódica e de prova. Já a idéia pertence ao plano da razão pura, não estando sujeita às normas da sensibilidade e da inteligência: plana ela alto no mundo da razão pura, como produto imprescindível da imaginação criadora. No fundo, é essa a Idéia, ou o Ideal que Tolentino procura em vão alcançar, sendo ele um poeta errante em busca da verdade e da realidade últimas, graças a uma idéia que abrangesse e pacificasse o mundo das inquietações e das perguntas. É na figura de Zenão de Eléia que o poeta vê o começo da indagação sem fim: Zenão, cruel Zenão, Zenão de Eléia, tu me feriste com o harpão da Idéia, esse vôo hipotético no ar: ardo em música e o dardo me atravessa, solar, a tartaruga não tem pressa e Aquiles corre sem a ultrapassar... O remédio, para que se atinja a Idéia, talvez esteja na língua. Daí o recurso à linguagem que, com seus infinitos espectros, pode nos levar a uma solução superadora das perplexidades do mundo: O prodígio da língua, como o lento desdobrar-se do vento em vendaval, dá-se no ar, mas vem e vai por dentro 98 Senti do u n i v e r s a l da p o e s i a de um túnel cristalino e intemporal, um casulo enraizado no geral que abrisse seus enigmas no momento: delicado, fugaz e impessoal. O acorde a que chamamos pensamento tem raízes no ser, mas vem no vento particularizado do real. E é ali, entre as partículas e o centro. que desponta o poema, esse cristal: materialização, refolhamento da luz meticulosa e musical. Devemos lembrar que Tolentino viveu dezenas de anos longe do Brasil, tendo vivido o drama atormentado da renovação literária na França, na segunda metade do século passado. Em um soneto intitulado “Galicismo d’alma”, confessa ter-se sentido perdido no torvelinho das imagens e das idéias então em conflito, até o ponto de emitir juízos temerários contra grandes escritores como Camus e Gide. Nesse soneto, que fixa um momento trágico de sua vida errante, Tolentino tem o mérito de ser sincero e de não se esconder. São de cunho manifestamente antibiográfico os terríveis versos com que ele investe contra tudo e contra todos: Camus foi meu pior entusiasmo, Claudel minha melhor desilusão, Rimbaud a minha própria confusão e Baudelaire o meu primeiro orgasmo. Mallarmé me deixava um tanto pasmo, mas fiz minha primeira comunhão com Bernanos, achando Gide um asno, Proust o gênio perverso da emoção 99 Prêmi o Senado r Jo sé Ermí ri o de M o r a e s – 20 0 3 e Sartre um ressentido. Mauriac me dava sustos, mas foi Julien Green quem me tirou do sério e pôs o spleen do inefável em mim; tive um ataque quando li Mont Cinère e Leviathan, minhas flores do mal para amanhã... É só em Julien Green que Tolentino julgou ter encontrado resposta às suas perplexidades, em consonância com sua formação religiosa, da qual não queria se afastar. Eis o soneto dedicado a Green: A graça é uma promessa exasperante se a desgraça não vem; foi Green, coitado, quem, colocando as duas lado a lado para que as visse bem, deu-me a constante, o Leitmotiv de uma vida errante, ávida de promessas: fui amado por causa disso, e temos conversado! Sem ele eu não teria sido o amante sempre absurdamente idolatrado e cheio da saudade delirante de ser outro, o que fora batizado, crismado e colocado ali diante da Santa Eucaristia e do pecado. Disse-lho e ele apertou-me a mão durante meia hora dizendo-me obrigado! Esses quatro últimos versos demonstram que a crise do poeta não era apenas filosófica ou estética, mas sobretudo religiosa, e ele se opunha com veemência a tudo que contrariasse as suas crenças. 100 Senti do u n i v e r s a l da p o e s i a Mas também Paul Valéry vai ao encontro de sua sensibilidade, abrindo as perspectivas da tão buscada Idéia: Pobre Paul Valéry, queria tanto um vento que o arrancasse ao seu torpor! Mas em vez de cantar queria o Canto, a Coisa Pura sem tirar nem pôr, sem tocar nada, a vaga, a chaga ou a flor... Como esperar que um vento alasse o manto da sua estranha estátua de isopor – a Idéia – sem o seu hábil esperanto sem esperança de interlocutor, era aquela magia sem quebranto, a geometria? E como ser cantor do mundo-como-idéia sem no entanto atar as mãos ao vento, esse escultor a desmanchar estátuas por enquanto...? Sempre, pois, o sentimento da provisoriedade, da poesia que se torna estátua “por enquanto” para se volver sempre ao perene fluxo do transitório, que todos os artistas também procuram superar. É a Leonardo da Vinci que Tolentino dedica um de seus mais belos poemas, considerando-o um poeta em luta com “o mundo como Idéia”. Eis um tópico expressivo desse poema: Por mais que tenha a chave de inferno ou paraíso, não existe grandeza 101 Prêmi o Senado r Jo sé Ermí ri o de M o r a e s – 20 0 3 no gesto que interponha uma só pincelada, ou o verso mais perfeito, entre o instante mortal e as lendas do conceito: a vaidade e a beleza, o verdadeiro e o vão, quando partilham um leito engendram uma traição. Sua Última Ceia Leonardo a completa como um poeta luta com o mundo-como-idéia; Essa aliança dos poetas, pintores, escultores e músicos, só ela – ao ver de Tolentino – nos permite penetrar no âmago do ser, sendo realizada uma espécie de globalização estética, acima dos gêneros artísticos, assim como acima das diferenças dos idiomas. Não obstante o recurso ao mundo todo das artes – não distinguindo entre uma “pincelada” e um “verso” – o espírito de Tolentino não encontra paz, e, em poema significadamente chamado “A grande Alma Penada”, não vê solução melhor do que um diálogo dentre Pascal e Baudelaire, após lembrar a proclamação do primeiro “Le silence eternel de ces espaces infinis m’effraie”: Se Baudelaire, à diferença de Pascal, odiou a amplidão e não soube conter a vertigem do mal no drama da razão, terá sido talvez porque insistiu em ver o olhar que usurpa e mata: 102 Senti do u n i v e r s a l da p o e s i a a Medusa da Idéia, esse avatar do ser que vai virando estátua. Pascal calou-se ante os silêncios infinitos e ouviu de Deus a cura; o outro, o ceifador do mal, saiu aos gritos, como um louco à procura da comiseração que os abismos não têm. A simples diferença entre o temor a Deus e o pânico de alguém que O não escuta é imensa. Um radical, um jansenista, um puritano da estirpe de Pascal, teme a misericórdia de Deus (se não me engano); mas nem em Port Royal, aquela fortaleza do orgulho, houve lugar jamais para um bueiro de que o Céu se tornasse a tampa tumular e o velho desespero a bússola da vida, ou um contrapeso a ela. Vira a alma penada o poeta imortal que ao abrir a janela vai do Infinito ao Nada. Como estão vendo, não me atrevi a me manifestar sobre o valor poético em si da obra de Bruno Tolentino, por faltar-me o dom da crítica-poética de Alberto Costa e Silva, Lêdo Ivo e Ivan Junqueira, tendo preferido estudar a razão de ser do livro intitulado O mundo como Idéia que permeia todos os seus poemas. 103 Prêmi o Senado r Jo sé Ermí ri o de M o r a e s – 20 0 3 Uma última observação me seja permitido fazer. Pode parecer que, tendo vivido tantos anos fora do Brasil, Tolentino tenha se alheado do que se entranha na cultura brasileira. Para provar que esse alheamento não se dá, lembro que, em sua obra, há diversos estupendos poemas integrados em nossas circunstâncias como, por exemplo, os dedicados ao nosso confrade Ivan Junqueira; a já citada versão para o inglês da “Máquina do Mundo”, de Carlos Drummond de Andrade; e, finalmente, os cem sonetos finais, de rara beleza, em homenagem a Ferreira Gullar, a demonstrar que diferenças ideológicas não afastavam os dois poetas do comum amor à poesia. 104 Discurso do poeta Bruno Tolentino S enhor Presidente, ilustríssimos senhores Acadêmicos, ilustríssimo e digníssimo senhor Antônio Ermírio de Moraes, meus amigos, meus inimigos – como diria Bandeira. É a segunda vez que ocupo esta tribuna, e pensei muito, desde então, na possibilidade de vir a ocupá-la um dia, mas certamente não em circunstâncias como esta. Não creio que exista um único escritor brasileiro que não tenha a aspiração de integrar-se a esta Casa de algum modo. O sonho de Machado de Assis na realidade atávica do gênio brasileiro, esta Casa é, naturalmente, o casulo onde se dá a transformação do verme em borboleta. Pode parecer extraordinária esta idéia, mas pensei muito nela. A Academia Brasileira de Letras não é exatamente um lugar onde se chega pronto. É um lugar que completa uma certa visão do país. Os que estão dentro como os que estão fora pertencem a esse mesmo processo, e não há dúvida disso. Há muito tempo, desde que eu era criança, Manuel Bandeira brincava muito comigo e dizia jus- Prêmio Senador José Ermírio de Moraes – 2003 Discurso do poeta Bruno Tolentino Proferido de improviso. Transcrito de gravação, sem a revisão do Autor. Prêmi o Senado r Jo sé Ermí ri o de M o r a e s – 20 0 3 tamente isso: – “Muito cuidado com o que disser. Um dia terá que dizê-lo de fardão.” Era uma maneira de me intimidar um pouco aquela língua terrível que eu tinha. Em todo o caso, pensando na probabilidade de deixar os meus ossos descansando junto aos de Machado e Manuel, que afinal de contas foram a vida inteira os meus únicos modelos, não poderia de modo algum imaginar que a próxima vez que ocupasse esta tribuna seria para ouvir as coisas que acabamos de ouvir, e nas circunstâncias as mais inesperadas. Porque é certo que ao compor este livro ao longo de quarenta anos eu tive uma idéia de Brasil, uma idéia de cultura, uma interrogação entre essa idéia e a fé que eu poderia ter nela. É claro que se escreve, se compõe para uma comunidade de língua, de cultura. Não se escreve no vácuo, não se faz coisa alguma fora de um contexto muito preciso, que é antes de mais nada, diria eu, um contexto racial. Digo isto no sentido mais profundo e intrínseco do que significa raça nesse sentido: a tribo, a raça. Os tupis não são tupiniquins, os aimorés não são aimorés, tamoios e assim por diante. É claro que nesse sentido a busca de definição nacional não pode deixar de ter preocupado a todos os escritores a que nos curvamos, sobre esta língua, “a última flor do Lácio”, que está cada vez mais bela e menos inculta. Nesta caminhada, tentando chegar a uma decisão quanto a poder aspirar a esta tribuna uma outra vez, simplesmente me esqueci de que a realidade, a inexorável positividade do real anda muito adiante de nós, e que nada, absolutamente nada, se faz sem uma conseqüência, sem um resultado. E que, com toda as minhas idiossincrasias, – afinal de contas sou obrigado a referir os meus defeitos porque são as únicas coisas que eu conheço bem – as minhas rebeldias, as minhas impertinências, podia perceber aonde é que ele estava me levando, mas não podia – e é isto que torna o real mais importante do que todas as idéias que possamos ter dele – imaginar a reação, o efeito desta busca da expressão nacional, em termos paradoxalmente poliglotas, a recepção que isto viesse a ter. Tanto é assim que considerei, todo esse tempo, este o meu único livro. Le livre – diria Mallar- 106 Di sc u rso do po eta B r u n o To l e n ti n o mé. Não sei bel se é verdade, mas em todo caso, todos os outros não teriam sido senão uma espécie de degraus para este patamar. Bem, até aí poderia eu pensar: tudo bem... quem sabe depois de publicar este livro, se conseguir terminá-lo e publicá-lo, quem sabe então pedirei àqueles senhores licença para ocupar aquela tribuna outra vez. Porém, como mais um candidato, mais um escritor brasileiro aspirando a uma cadeira nesta Casa. Jamais como homenageado desta Casa, por iniciativa de pessoas do nível honroso de... bem, a lista é muito longa... do Professor Miguel Reale, que chamei, mais de uma vez, há muitos anos, como o “decano da mente livre”. A idéia de que pudesse ele me trazer aqui, ele me colocar nesta situação, realmente, honestamente, senhores, esta não me passou pela cabeça. Até porque desconhecia as ligações do Professor Reale com o Senador José Ermírio, como desconheço muitas outras coisas importantes que no Brasil valem a pena. De maneira que não preparei um discurso para esta ocasião, não acabei de entender o que estava de fato se passando. Durante todo esse tempo tomei várias notas, do que eu diria ou não diria, mas a verdade é que não me via aqui, não conseguia me ver a dizer as coisas, e muito menos a ouvir justamente essas coisas. Não conseguia fazer esta transferência do óbvio para a realidade vivida. É assim que o real se manifesta para um artista. Talvez um filósofo sinta isto diferentemente, e certamente um cientista. Mas um poeta só acredita no real quando a pedra lhe cai na cabeça. Ele tem uma relação não tanto de hesitação, mas de desconfiança em sua própria idéia do real. Esta em todo caso terá sido a minha conclusão da leitura que fiz durante tantos anos da poesia universal. Evidentemente os senhores podem perceber a minha confusão, a minha emoção e a minha perplexidade – isto creio que Deus vai me dar até o último momento: a capacidade de estar aquém daquilo que acontece, de estar perpetuamente surpreendido com o que me acontece, seja excelente ou não. Neste momento, recordo-a primeira coisa que me aconteceu, à qual o Professor Reale acaba de fazer referência. Em 1960, quando, repentinamente, me comunicam que eu havia ganho o prêmio Revelação de Autor. Como? Eu não concorri a prêmio nenhum. Minha mãe e meus primos haviam reunido os 107 Prêmi o Senado r Jo sé Ermí ri o de M o r a e s – 20 0 3 meus poemas e feito essa inscrição. Um dia o Acadêmico Lêdo Ivo me telefona – Manuel Bandeira e Cassiano Ricardo eram os dois outros membros do júri – e diz coisas como as que ouvi acabei de ouvir. Imaginem o efeito dessas palavras num jovem poeta. Aliás, note-se aqui que, nessa trilogia de poetas do primeiro prêmio Revelação de Autor, Manuel Bandeira ficou bastante confuso quando recebeu esses manuscritos, com todos aqueles poemas que ele conhecia tão bem, que ele me mandava refazer. Em relação a alguns ele dizia: neste você não mexe mais não. Eram esses poemas que estavam ali, de maneira que ele os conhecia muito bem. Como é que ele iria ser o juiz disso? A solução estava ali à mão: ele colocou nas mãos de Lêdo Ivo a decisão, como relator do prêmio. A partir daí a minha vida intelectual, a minha vida enquanto artista não foi senão uma série de surpresas, de choques agradáveis, porque afinal de contas são sempre um consolo. O que temos na cabeça é sempre muito pior. Disso estou convencido. Essa série de surpresas me faz, não obstante, não me preparar para o que eu ouvi aqui hoje do Professor Reale. Até porque há uma extraordinária coincidência – e com isto pretendo terminar de importunar a vossa paciência. Atualmente faço parte do Instituto de Fé e Cultura da PUC de São Paulo, e nessa condição tenho que atender muitos alunos, muitas pessoas que vêm me procurar, que queiram conversar, todas as tardes de quarta-feira, quando fico à disposição. Desde a publicação de O mundo como Idéia tenho ouvido coisas impressionantes dos jovens que sabem onde me encontrar e portanto lá vão. O que mais me impressionou recentemente foi um certo jovem poeta. Não vou dizer-lhe o nome, e certamente todos vão saber quem é, um erudito, a pessoa que mais me recorda José Guilherme Merquior, sem o qual me é muito difícil viver. É muito difícil estar no Brasil na ausência de José Guilherme. Afinal de contas, sempre estivemos às turras, ali no mesmo espaço. Esse rapaz me fez recentemente uma análise, uma leitura desse livro tão parecida com a que o Professor Reale acaba de fazer, tão idêntica nas expressões, na escolha dos textos, que a minha conclusão agora é a seguinte: o milagre que é a arte, a cultura, o pensamento – la vie de l’esprit, diriam os franceses. Como é possível, num país de que já se disse 108 Di sc u rso do po eta B r u n o To l e n ti n o que não dá certo, que não vai dar certo, que dois intelectos separados por nada menos que setenta anos tenham a mesma qualidade do toque do cristal (sabe-se muito bem o que é o cristal quando se bate nele), a mesma intensidade, a mesma oportunidade, a mesma atualidade. É isto que nos faz ter a certeza de que, como dizia Nélida Piñon, o Brasil vai dar certo porque Machado de Assis deu certo – aliás, a coincidência vai a tal ponto que se torna orgânica, é como a simbiose de forma e conteúdo. A existência de Machado de Assis logo no início do projeto nacional brasileiro enquanto identidade independente é de tal maneira significativa, simbólica, indicativa do destino nacional, que não podemos ignorar essa dimensão. Note-se que na Argentina nossos queridos vizinhos esperaram até o final do século XX para receberem o seu Jorge Luis Borges, o único escritor sul-americano à altura de Machado de Assis. O Brasil começa com Machado de Assis. Na tentativa de dizer alguma coisa de conseqüente, nesta tribuna, que não tivesse a ver comigo, diria que andei relendo com toda atenção o magnífico livro de Gustavo Corção, O desacerto do mundo, onde há um ensaio magnífico sobre Machado de Assis. Aliás, consultei vários ensaios recentemente sobre Machado. Ali diz Gustavo Corção uma coisa que nos diz respeito a todos neste momento, mais do que nunca, em que as gerações se unem, as águas se misturam, nesse ponto de mistério profundo do ser, de manifestação profunda da nacionalidade, da vida do espírito de uma tribo, uma tribo que dúvida tanto de si. Gustavo Corção faz uma observação, que a mim é particularmente cara e que não será alheia aos corações de Vossas Senhorias. Ele nota que o grande criador de Brás Cubas (1881), de Quincas Borba (1891), dessa galeria de horrores da condição humana, desse personagem que se definia já de saída como um defunto-autor, que escrevia “com a pena da galhofa e a tinta da melancolia”, este homem que não tinha ilusões sobre a natureza humana, que fez, por assim dizer, a biografia do pecado original, como poucos fizeram na literatura universal, como talvez Diostoievski ou o grande escritor francês Julien Green – que era francês parce qu’il le voulait,non parce qu’il l’était. Nós temos toda essa afinidade com o espírito eslavo, e aí está a genialidade de Machado, este homem ex- 109 Prêmi o Senado r Jo sé Ermí ri o de M o r a e s – 20 0 3 traordinário que não podia ter ilusões sobre a natureza humana, que foi tido como amargo, cético, negativo. A verdade é que este homem, a partir de 1896 – três anos antes da publicação de Dom Casmurro (1900), a meio caminho da publicação do seu quarteto fabuloso que terminará com Esaú e Jacó (1904), ao qual haverá uma pequena coda com O memorial de Aires (1908), que ainda não consegui colocar bem na minha análise – até o último momento de sua vida, em 1908, fez o que nos toca, o que nos cabe a todos fazer todos os dias: com a pena da galhofa e a tinta da melancolia podermos naturalmente complicar a vida, e devemos complicá-la, devemos esmiuçar, devemos descrer. Le devoir du cepticisme, como dizia Montaigne, está conosco, é um legado da modernidade. Não há como escapar a ela. Não obstante, paralelo a isto, este mesmo homem criava, diuturnamente, esta Academia, o sonho desta Casa, o sonho desta teia perfeita, em que pudesse caber a essência da nacionalidade, com todas as imperfeições que ele lhe conhecia. E conhecia muito bem, a ponto de torná-las imortais, as deformações da alma nacional. Não obstante tudo isto, este homem esteve até o último momento – nas cartas a Joaquim Nabuco, na correspondência com Magalhães de Azeredo, com os amigos – insistindo nisto, induzindo as pessoas a virem a esta Casa. Conseguia verbas, criava até o último momento esta realidade. Machado teria sido tudo, menos um homem vaidoso. Certamente não era por vaidade, não era como para um pedestal para si mesmo que Machado fazia esse trabalho excepcional. Este, senhores, é o ponto que todos temos em comum. Podemos ser grandes escritores, péssimos escritores, escritores medianos, escritores medíocres. Podemos ser tudo isso, mas não temos como descurar o trabalho de unidade nacional que esta Casa representa, que por aqui passa e aqui se salva necessariamente. Aqui começa, aqui deságua e aqui vem. Até o último momento, durante os dois anos de viuvez, após a morte de Carolina – após o seu último soneto, “A Carolina”, que por acaso coincide com o primeiro de Manuel Bandeira, “A renúncia” – nesses dois anos Machado se curva sobre o término do seu trabalho literário, mas em nenhum momento descurou do dever de participação, que tantos de nós, por idiossincrasia, por orgulho, por mal-entender até mes- 110 Di sc u rso do po eta B r u n o To l e n ti n o mo a essência das coisas, muitas vezes dizemos: – Ora, a Academia?!... ora, mas como assim?... Fulano não precisava da Academia... Jorge de Lima era maior que a Academia... Nenhum escritor, nem mesmo Machado de Assis, e muito menos Machado de Assis, é maior que a Academia Brasileira de Letras, é maior do que a nacionalidade brasileira, o gênio nacional, que está aqui localizado, encarnado tanto quanto possível, mas certamente localizado. A última palavra seria... não sei como agradecer ao Professor Reale e a presença desta brilhante Mesa, e especialmente àqueles que não tinham que estar aqui. Poderiam estar aqui no dia 19, mas hoje é uma cortesia especial a presença de certos cavalheiros aqui. Não posso encerrar isto sem recordar as vezes em que aqui estive, desde muito pequeno, quando minha tia Jujuca, aquela belíssima figura,era a rainha desta Casa. Aqui vínhamos, crianças, comer biscoitos às escondidas e ficávamos por aí a ouvir sessões. Não posso deixar de recordar as figuras extraordinárias que já ocuparam esta Casa e foram importantíssimas, decisivas na minha formação e na minha definição enquanto membro da nacionalidade brasileira. Entre essas figuras, Antônio Houaiss, que desde 1953foi o meu primeiro modelo. Há muitos outros, como José Guilherme Merquior, que já mencionei. Quando deixei o Brasil, em 1964, eu não havia ouvido falar de Miguel Reale. Ao chegar à Itália, em setembro de 1965, em Portofino, no restaurante, num almoço em que estava o grande jurista Carnelutti, ouvi falar pela primeira vez de Miguel Reale. Ele me fez ir a Torino, à casa de sua filha, para que ele me explicasse o que era a Teoria Tridimensional do Direito. Então, vejam como é que a vida, de um modo circular, nos traz de volta aqui, para ouvir o que eu ouvi. Os senhores podem imaginar, então, a minha emoção. A última evocação, a de um poeta que não pertenceu a esta Casa, e que era não obstante a sua encarnação, se é que se pode falar em reencarnação no caso de Tasso da Silveira. A Academia concedeu-lhe o Prêmio Machado de Assis no ano de 1959, pouco depois da publicação do seu esplêndido último livro, Puro canto. A figura do uirapuru das neves, essa enorme cabeleira branca, cego já 111 Prêmi o Senado r Jo sé Ermí ri o de M o r a e s – 20 0 3 como estava, tateando para subir a esta tribuna e fazer o seu discurso, nunca me saiu da cabeça. Admirei-o, acompanhei-o, estudei-o, amei-o durante muitos anos. Mas essa imagem, essa particular visão tem tudo a ver com o que dizia Corção há algum tempo, em observação ao que eu dizia, do significado profundo de um escritor. Tasso da Silveira não era um membro da Academia, mas era um espírito encarnado desta Casa. E naquele momento ele a encarnava melhor do que ninguém. Com esta observação termino, e já que ouvi tanta poesia de segunda categoria, preciso agora reequilibrar as coisas com um soneto magistral, o último de Tasso da Silveira. Agradeço aos senhores de antemão, porque depois da leitura do poema creio que não vou mais falar. Agradeço a todos, agradeço gauchement – afinal, chegou o meu momento de ser gauche na vida. Diz Tasso da Silveira no Soneto XXXII: Somos aves do mar, batendo, ansiadas, as asas, num viveiro de pomar. Em torno, ao vento, agitam-se as ramadas: ao vento vivo que nasceu do mar. Ah, que nunca dobremos resignadas, as asas, nem deixemos de sonhar. O vento vem em trêmulas lufadas; e no canto do vento vem o mar... Se entre as formas efêmeras nascemos foi para que a alma eterna que trouxemos em si mesma realize, a soluçar a absoluta beleza, à nostalgia das origens divinas a que um dia retornaremos como para o mar... 112 Ciclo dos Fundadores da ABL Alegoria de Rodolfo Amoedo sobre José do Patrocínio O grande José do Patrocínio J o ão d e Sc a n t im b u r g o Q ue tenho eu a falar sobre um negro, durante a vigência da escravidão? Pode-se falar muito ou não falar nada. Pode-se atribuir o poder à palavra, que já derrubou reinos, impérios, já destruiu linhagens dinásticas inteiras e já elevou às alturas da glória não poucos de nossos semelhantes. Podem-se invocar as palavras proferidas por um Deus, na sua peregrinação, o Deus que deu testemunho do sofrimento humano, da injustiça que nos rastreia os passos, seja a do sublime da poesia, seja a da blasfêmia dos réprobos, que os há em abundância em todas as raças e todas as latitudes deste mundo, que já não sabemos como encontrar definições diante da agonia da civilização, a que os saltos prodigiosos da ciência não poderão dar um linimento até a cura. Imagino, neste local, a Academia onde tantas vozes foram ouvidas, menos, infelizmente, a voz de José do Patrocínio na nossa tribuna, ele que sofreu calado, sufocando nas suas lágrimas, nos confrangimentos de seu coração, a desgraça de sua raça, que parece ter sido Conferência proferida na ABL, a 1o de abril de 2003, abrindo o ciclo Fundadores da ABL. 115 Joã o de Sc anti mbu rgo fadada a viver abaixo do nível da dignidade humana, ainda que seu caráter o tenha prestigiado. No discurso de ingresso nesta Casa, disse Mário de Alencar, seu sucessor na Cadeira 21, que “não seguiria a regra usada na biografia dos homens notáveis, de procurar nos antecedentes de família e nos atos da infância a razão dos sinais e dos vestígios do destino deles”. A biografia de José do Patrocínio, se não fosse romanceada, com abundância de imaginação, como a de um Victor Hugo ou de um Sthendal, nada teria que oferecesse ao curioso em sua história familiar e individual. Havia trabalhado numa quitanda do interior e na casa paroquial de uma igreja de província, da qual o vigário era seu pai. Daí decidiu vir para a cidade grande, a vitrine carioca de seu tempo, quando o Rio de Janeiro projetava inteligências brilhantes ou desfazia reputações duvidosas. Segundo Mário de Alencar, de quem me valho, Patrocínio deixou Campos, onde vivia a vida pachorrenta das cidades do interior, ainda hoje semelhante, sob muitos aspectos, ao seu tempo, e arranjou um emprego como aprendiz de farmácia na Santa Casa de Misericórdia, para ganhar a ínfima quantia de dois mil réis, a moeda da época. Tinha casa e comida, mas esse dinheiro não lhe vinha da instituição, porém dos companheiros aos quais substituía em domingos e dias feriados. Era com o trabalho, enquanto os companheiros folgavam, que podia ter abrigo certo e a mesa na qual se alimentava. A essa quantia miserável, acrescentaria dezesseis mil réis recebidos de seu pai, vigário de Campos. Tinha portanto uma escora na qual se ampararia enquanto durasse a munificência obrigada pela consciência do vigário de Campos e a ajuda dos companheiros da farmácia da Misericórdia do Rio de Janeiro. Homem sem passado de legenda, desses fulgurantes nomes que enchem as páginas da história, e ou são heróis, ou santos, ou poetas, ou escritores, ou artistas em vária arte, que deixam nome à posteridade, para serem julgados, como o Aleijadinho em Minas Gerais, para citar o nome mais dramático e mais genial de quantos perambulam pelas páginas da nossa história. Para estudar, Patrocínio procurou o Externato Aquino, e lá obteve o que em nossos dias se chama bolsa de estudo. Começou a estudar. Aguilhoado pela 116 O grande Jo s é do P a tr o c í n i o vocação, queria ser médico. Estava inclinado a ser um desses seres que Deus escolheu para minorar a desgraça que colhe um ser no curso da vida. Não conseguiu por uma série de fatores que o impediram de chegar à Faculdade de Medicina. Mas, contentou-se com a de Farmácia, graças aos colegas que conquistou com sua inteligência, sua lhaneza, e às lições particulares que ministrava nas horas vagas. De seus estudos superiores, formou-se, portanto, em Farmácia, vindo a ser colega do grande poeta parnasiano Alberto de Oliveira. Não exerceu a profissão. Não era a sua vocação. Conformou-se, resignado, com a impossibilidade de chegar a médico, e deixou na gaveta o diploma de farmacêutico, indo para outras atividades, numa das quais seria um dos grandes nomes do Brasil, o jornalismo. Discreto ou envergonhado, Patrocínio não revelava seu passado, de resto sobre não ter muito o que revelar de dias idos de sua infância e juventude na modesta cidade de Campos, onde passou essa quadra de sua vida. Mas não interessa nesta evocação de um dos grandes nomes desta Casa e, mais ainda, um dos grandes nomes do Brasil de sua época, sobretudo na época agitada da propaganda abolicionista, na qual seu brilho não foi ofuscado pelo de Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, pela poesia de Castro Alves, e de quantos tomaram parte na vigorosa campanha pela Abolição, que tardou, mais de vinte anos depois que a Guerra de Secessão americana, com seiscentos mil mortos e feridos, libertou na grande nação do Norte os seus escravos, que, de resto, deixou-os abandonados, cada qual escolhendo o caminho que desejasse seguir na vida. O negro José do Patrocínio não precisou esconder nada de seus dias de Campos e dos primeiros tempos no Rio de Janeiro, pois que foram tão límpidos quanto sua alma, uma alma clara como um cristal, servido de um caráter cristalino como um brilhante. Sem dúvida, José do Patrocínio teve dias amargos e dias alegres em sua vida de menino pobre, jovem sem um horizonte a atraí-lo para atividades que enaltecem a pessoa. Dotado de uma inteligência viva, dessas que captam os acontecimentos, distantes ou próximos, com lucidez, José do Patrocínio não se lançou na poesia, embora tenha poetado, nem na procura de um emprego que desse para o seu sus- 117 Joã o de Sc anti mbu rgo tento. Iludindo-se a si próprio, preferiu a via do jornalismo, organizando um veículo, a que deu o nome de Os Ferrões – um panfleto, com o qual esperava desvendar o que fosse acessível aos leitores de jornais, principalmente no estilo com que procurou se fazer notar numa cidade onde proliferavam os panfletos, os jornais de quatro páginas sobre debates políticos. Lembra Mário de Alencar, com razão, em seu discurso de ingresso nesta Casa, que José do Patrocínio procurou imitar Eça de Queirós e Ramalho Ortigão, que lançaram em Portugal As Farpas, imitação, em terras lusas, como os Ferrões no Brasil, das Les Guêpes, de Alphonse Kar, em Paris. Evidentemente, haveria enormes diferenças entre uma e outra publicação, mas, o jovem negro, no seu ímpeto de conquistar um lugar de relevo no meio jornalístico do Rio de Janeiro, fez de seu jornal um baluarte de criticas políticas, sociais e econômicas, em suma, o que interessasse ao público. Patrocínio foi mesmo aguerrido, tantas vezes feroz nas suas críticas, mas Os Ferrões não alcançaram o prestígio com o qual ele sonhara – pois fora um sonho o seu ímpeto de jornalista na linha de Les Guêpes ou de As Farpas – e o jornalzinho, depois de dez números, sem progresso de venda que o sustentasse no Rio de Janeiro e um pouco em São Paulo, acabou suspendendo a tiragem, morrendo de inanição, com decepção amarga do fundador sobre a sua ambição O jornal serviu, porém, para chamar a atenção dos diretores de jornais com tiragem assegurada e freqüente no Rio de Janeiro e assinantes em São Paulo, e Patrocínio foi contratado pela Gazeta de Notícias, um dos grandes órgãos de imprensa do Rio de Janeiro, no qual pontificava Ferreira de Araújo, até hoje um dos maiores jornalistas do Brasil, especialmente nos comentários editoriais sobre a política e suas excentricidades, numa cidade frondeuse e politizada como sempre foi o Rio de Janeiro, ao menos até a mudança da capital para Brasília, quando Juscelino Kubitschek quis manter a palavra dada aos assistentes de um comício de sua campanha de candidato à Presidência da República. José do Patrocínio foi, em tudo, um justo. Daí, como vem num salmo, ter florescido como a palmeira, isto é, retamente, entre os seus contemporâneos. Negro, num país que fizera da escravidão a base da força econômica da qual necessitava nas lavouras de café, no ouro e outros produtos, teria que ser alvo 118 O grande Jo s é do P a tr o c í n i o de preconceito. Foi, sem dúvida, uma das vítimas desse terrível mal que assola as sociedades, mas soube superar os entraves que se lhe opunham, como demonstrou, com rara tenacidade, na sua vida livre. Mostrou-o optando pela farmácia, por não ter podido cursar a Medicina. Não se deixou abater quando o seu jornalzinho de gossips políticos não passou de dez números, portanto, de uma tremendo malogro, ele que punha na sua publicação a esperança de que viesse a ocupar no Rio de Janeiro um lugar de honra, portanto, destaque dentre os órgãos de imprensa que circulavam na antiga capital do país. Patrocínio não era, porém, de desanimar. Reuniu todas as forças com as quais contava, inclusive a que o fez impor-se na sociedade do Rio de Janeiro, e continuou a sua jornada. Homem tranqüilo, consciente de seu destino, não possuía uma psicologia complexa, dessas que levam os mestres, sobretudo o Dr. Freud, a longas meditações sobre a sua composição e seus reflexos no comportamento humano. Patrocínio era o perfeito homem de caráter e de convívio ameno. Não havia quem se lhe aproximasse ou viesse a conhecê-lo, que dele não se tornasse amigo. A amizade levou-o para o positivismo, que floresceu no Brasil com ampla atração e conquistou inúmeros adeptos, para influir na proclamação da República e na formação dos chefes de governo ao menos durante a primeira República, na qual predominou. Nos antecedentes do golpe de 15 de novembro de 1889, o positivismo era a filosofia que, inexplicavelmente, dominou a classe alta da política, das faculdades, da imprensa, enfim, de quantos estudassem o pensamento que predominava de Augusto Comte e seus caudalosos livros (que estão sendo reeditados, sob a direção, até há pouco tempo, até a sua morte, pelo filosofo e acadêmico francês Henri Gouhier). Mas essa decisão, tomada sem muita convicção, custou-lhe o corte dos 16 mil réis do vigário de Campos, evidentemente antipositivista. Também o nosso compatriota Paulo Carneiro estava reunindo todos os seus papéis, sobretudo a correspondência, para publicá-los em livro, ainda que o positivismo, como filosofia, não mais tenha seguidores, nem as novas gerações querem saber da lei dos três estados, de resto não querem de nada saber de filosofia, que nas faculdades está sendo lecionada gratuitamente, para mantê-la no currículo. 119 Joã o de Sc anti mbu rgo Mas, Patrocínio desencantou-se com o positivismo e passou-se para o catolicismo, no qual se integrou. Estudou-o a fundo, tanto quanto o permitisse a época, e se tornou um súdito sagrado de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi, no entanto, em religião, um grande espírito, um desses astros que brilham no firmamento da inteligência, e logo esmaecem. Manteve-se na altura a que chegou, e foi admirado e aplaudido, como escritor, como expositor e como cultor da apologética cristã. Era, como disse eu acima, um modelo de sinceridade e de conduta irrepreensível, qualidades com as quais conquistou definitivamente seus contemporâneos no Rio de Janeiro e em outras cidades do país. Conquistou São Paulo, por exemplo, até onde chegavam os ecos de suas conferências, de seus discursos, de sua luta por seus irmãos de raça, onde era aplaudido e seguido. Se Patrocínio vivesse hoje seria, certamente, autor de novelas de uma das emissoras dedicadas a esse filão de audiência. Era folhetinista, embora não os assinasse. Mantinha-o por terem todos os jornais o indefectível folhetim, como o têm hoje algumas televisões, para segurar audiência, que, de outra forma, debandaria para outras emissoras ou desistiria da tela fascinante. Observando-o no seu trabalho, em que era a eficiência, Ferreira de Araújo aproveitou Patrocínio como cronista parlamentar. Foi mandado para a Câmara dos Deputados, com ordem para colher tudo quanto necessitasse a fim de atrair leitores. Patrocínio alcançou sucesso, porquanto sabia colher, no seu exato sentido e na oportunidade que se lhe apresentava, a intenção dos debates, as intrigas entre os deputados, que as havia, como há ainda hoje, a atmosfera geral da Câmara. Foi um verdadeiro sucesso. Daí ter Patrocínio se voltado para o romance, a fim de conquistar uma posição que lhe garantisse um lugar de relevo dentre os mestres da ficção no Brasil da época. O primeiro romance de Patrocínio foi Mota Coqueiro ou a Pena de Morte. O enredo: a condenação de um suspeito de crime. Executado, verificou-se que era um inocente. Patrocínio deveria ter dividido com outros redatores a redação do romance. Mas como se saiu admiravelmente bem, seus colegas o deixaram sozinho para, sozinho, colher os louvores de uma vitória na imprensa e na crítica que se fazia na época. 120 O grande Jo s é do P a tr o c í n i o Conquistada a simpatia da imprensa e dos críticos, Patrocínio escreveu Pedro Espanhol, que alcançou igual sucesso, pois o nome do autor já estava feito na crítica contemporânea. Depois, o seu maior romance, provavelmente, um dos que resistiram ao tempo e pode ser lido hoje com proveito. Trata-se de Os retirantes, escrito em 1879, quando da grande seca do Ceará, seca tão violenta que até mesmo levou o grande poeta português Guerra Junqueiro a dedicar-lhe um poema, “A seca do Ceará”, em que ele fala da candente abóbada de um forno. Patrocínio excedeu-se nas páginas, mas o número delas não impediu o seu êxito, e a crítica não deixou de elogiá-lo, embora se referisse à extensão de seu número de páginas. Patrocínio aproveitava-se dessa posição, alcançada com o seu talento, para acudir aos interesses de seus irmãos de raça, à abolição. Deu-se inteiro à campanha nas suas várias fases. Em 1888, saiu-se vencedor. A eloqüência do tribuno, que ele veio a ser, do escritor, que ele era, do jornalista, comentarista dos fatos cotidianos, sobretudo da política, o seu mister. Patrocínio elevou-se acima do nível dos homens de seu tempo, formando na classe dos homens de pensamento, do que, em nossos dias denominamos, fazedores de opinião. Era isto o que distinguia Patrocínio dos demais companheiros, com a exceção das grandes figuras de seu tempo, dentre elas as de Rui e Joaquim Nabuco, este que já despontava e se elevava como um dos grandes nomes do nosso liberalismo e do pensamento nacional. Patrocínio era dotado de rara eloqüência, e como falava sobre a Abolição sua eloqüência como que se robustecia, e os auditórios aos quais ele se dirigia empolgavam-se, voltando-se, desde logo, contra a escravidão. Foi com esse nome de eloqüente, de orador fulgurante, de apóstolo de uma grande causa, contra a qual se opunham milhares de brasileiros, com interesses econômicos vinculados à escravidão, que entrou para a História. José do Patrocínio demonstrou estar possuído de um fogo sagrado, não lhe importando mesmo a vida, pois que a ameaça poderia sair de alguma obscura fazenda do Nordeste, ou do interior de mina de ouro de Minas Gerais, ou do bolso de um pagante de matador profissional, numa época de justiça próxima apenas dos grandes centros, e eliminá-lo. 121 Joã o de Sc anti mbu rgo Mas Patrocínio nem cogitava que poderiam lhe tirar a vida. Até mesmo se dava conta que sua vida, abatida por um sicário, valeria mais para a causa da Abolição do que em luta para alcançar o seu ideal, que era a libertação de seus irmãos de raça e de cor. Num poema famoso e formoso, citado por Mário de Alencar no seu discurso de posse na Academia, deixou Patrocínio expressa na causa por que se batia, as lágrimas de seu coração de combatente pela invectiva contra a da Abolição: E levantam-se mudos, taciturnos, Os mártires sombrios da avareza. ............................ E vão postar-se em quietação de estátuas Ante o feitor, submissos, alinhados; Os cães podem, latir ante os seus donos Mas eles devem estar sempre calados. Eis a revista! Um ato de miséria, De escárnio e de vileza acerbo misto, E que termina o escravo murmurando Junto ao senhor: louvado seja o Cristo. Louvado seja o Cristo! – mas Seus lábios Ensinavam doçura e piedade; Não mandavam que o déspota chumbasse Uma grilheta aos pés da humanidade. Louvado seja o Cristo! – mas nas sombras Daquela angústia longa e sobre-humana Irisava-se um arco de aliança Por todo o céu da consciência humana. 122 O grande Jo s é do P a tr o c í n i o Louvado seja o Cristo! – Ele era doce Como aos domingos o romper da aurora; Escravo! Não é ele quem sustenta O homem torpe e vil que vos explora? Quando se há de curar essa medonha Chega hedionda e fatal do cativeiro; E há de o trabalho sacudir os braços Lançando dos grilhões os estilhaços Longe dos céus formosos do Cruzeiro?! José do Patrocínio, o Zé do Pato, como carinhosamente o chamavam seus amigos das letras e do jornalismo, foi um rugido que ecoou pelo Brasil inteiro, abalando a escravidão. Era um letrado, que se fizera por si mesmo, que aprendera com sacrifício, que se formara farmacêutico com os maiores esforços pessoais e econômicos, pois que era pobre, e como letrado fez reboar pelo Brasil a sua voz tonitruante, que, finalmente, ajudou a mover montanhas, as montanhas da opressão, da insensibilidade dos interessados no eito dos escravos, e não os queiram alforriados, pois que se veriam desfalcados do valor dessa força humana, que deveria ser livre, como livres vieram a ser os escravos americanos, pela Guerra Civil, que fez de Lincoln o herói nacional, a maior figura da história dos Estados Unidos. A vida de José do Patrocínio não teve lances heróicos. Não se pode comparar com os heróis da Guerra do Paraguai, ou com grandes vozes, ricas economicamente e ricas de amor à pátria, como a de Rui e de Joaquim Nabuco. Não se lhe pode comparar Machado de Assis, mestiço, portanto, de origem africana, como o fogoso Patrocínio, mas o nosso grande combatente, o nosso orador de grandes recursos oratórios, o nosso combatente da justa causa da Abolição foi um dos nomes que ficaram na História do Brasil, para edificação das gerações vindouras, e fez mais do que o Zumbi, por ter se exposto, de peito aberto, contra eventuais assassinos, de pena afiada, como os mais corajosos combatentes da 123 Joã o de Sc anti mbu rgo imprensa, como os pobres que se erguem acima dos ricos, enfrentam o poderio da fortuna, e acabam vencendo quando justa é a causa que abraçaram. José do Patrocínio viveu pobre, mas com meios suficientes para se manter decentemente. Nos seus últimos dias na Terra, empobreceu mais, e já não tinha com que se manter, senão com o apoio de alguns amigos e com os jornais para os quais escrevia, a fim de obter algum dinheiro, com que se alimentava e se vestia pobremente, não raro próximo da indigência. Concluindo, tenho a maior satisfação em proclamar aqui José do Patrocínio um dos maiores brasileiros de seu tempo, um grande compatriota nosso, que teve uma vida aventurosa, inteiramente dedicada às grandes causas, a maior das quais a Abolição. Bendito seja o nome de José do Patrocínio. 124 Patrocínio: Um jornalista na Abolição M u r i lo M e l o Fil h o D esejo que minhas primeiras palavras sejam do maior e do mais sincero agradecimento ao Acadêmico Ivan Junqueira, pelo honroso convite para fazer hoje, aqui, esta alinhavada palestra sobre José do Patrocínio, na celebração do sesquicentenário do seu nascimento, que se completará no dia 9 de outubro deste ano, e no prosseguimento de um Ciclo de Conferências sobre os Fundadores desta Academia. Agradeço também as generosas palavras do Acadêmico Ivan Junqueira, com as quais aqui fui apresentado, e que me emocionaram profundamente. João Carlos Monteiro era o nome de um vigário da Cidade de Campos dos Goitacazes, no Norte Fluminense, debruçada à margem direita do rio Paraíba, famosa pela sua goiabada e pela sua cana-de-açúcar. Conferência proferida na ABL, a 8 de abril de 2003, durante o ciclo Fundadores da ABL. M urilo Melo Fi lho João Carlos formara-se em Direito pela Universidade de Coimbra, era vereador de sua Cidade de Campos e já fora promovido a cônego. Naquele tempo, a Igreja Católica permitia que seus clérigos fossem maçons e João Carlos era o Venerável da Loja “Firme União”, coabitando as suas funções de pastor das almas com os prazeres de duas mesas: a dos jogos de azar e a dos banquetes gastronômicos. Elegera-se deputado provincial, sendo também um fazendeiro e senhor de 92 escravos, que ele havia “reescravizado” como “africanos livres”. Ele já tinha 54 anos de idade quando se enfeitiçou por uma negrinha, de 13 anos, chamada Justina Maria, que engravidou e que, no dia 9 de outubro de 1853 – há 150 anos, portanto – deu à luz um bebê, com o nome de José Carlos do Patrocínio, batizado no dia 8 de novembro, dedicado ao Patrocínio da Virgem Santíssima, e que era mais um fluminense, conterrâneo aqui do Acadêmico Marcos Almir Madeira. Na “roda dos expostos” Filho da escrava Justina Maria e do padre João Carlos Monteiro, Patrocínio propriamente não nasceu, porque, segundo informa o poeta campista Antônio Roberto Fernandes, diretor da Biblioteca Municipal Nilo Peçanha, simplesmente foi “exposto” numa janela do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, na época situada à Praça das Quatro Jornadas, de Campos. Na calada da noite, ele foi depositado no peitoril da janela e empurrado de modo a que ela girasse em torno de um eixo central, num movimento que chamava a atenção da enfermeira de plantão. Foi então recolhido, medicado e abrigado, até que aparecesse alguém – neste caso a sua própria mãe – para o adotar. Aquela “roda dos expostos” tinha sido um recurso adotado para que não se tornasse pública a sua origem incestuosa. Filho de uma união tão ilícita, tão incomum e criado numa senzala, Patrocínio muito cedo se revoltou contra os açoites impostos pelo padrasto aos seus irmãos negros. 126 Patro c í ni o : Um j o rna l i s ta n a A bo l i ç ã o Sua mãe, Justina, já não era mais a preferida do Cônego João Carlos. E José do Patrocínio – o Zeca – sofria com aquela discriminação, que levara sua mãe a transformar-se numa quitandeira, envolvida com o comércio de frutas e de legumes. Aos 15 anos de idade, o menino Patrocínio não se conformava com as humilhações sofridas pela sua mãe, na qualidade de mais uma das muitas amásias do seu padrasto poligâmico, que sequer o havia reconhecido como filho. Aquele era um lar sem afeição, simplesmente insuportável, sob o guante de um vigário impulsivo e violento. Certo dia, o menino confessou a Justina Maria: – Mãe, quero ir embora daqui. Não agüento mais vê-la tão submissa, tão insultada e tão ofendida justamente por uma das outras amantes de João Carlos Monteiro. Todos quantos, algum dia, tiveram também de romper com suas famílias e suas cidades, para irem em busca de um lugar ao sol, como deve ter acontecido com alguns aqui presentes, podem imaginar facilmente o impacto causado na cabeça de Justina Maria, com aquela separação. Afinal de contas, o jovem Patrocínio era uma das poucas entidades que ainda lhe prendia à vida. Seria muito duro e difícil para ela privar-se dele e ficar desamparada na solidão do seu cativeiro. Ia perdê-lo, mas resignava-se por ver que aquela decisão do filho era certa e lógica. Fugindo de campos Patrocínio fugiu de Campos e veio para o Rio. Empregou-se na Santa Casa de Misericórdia, aqui bem perto, na Rua Santa Luzia, trabalhando na sua farmácia, como aprendiz e como servente, a braços com remédios e purgantes e, na enfermaria, como ajudante, às voltas com cadáveres pobres e indigentes. Vai trabalhar no jornal A República, de Salvador de Mendonça, o fundador, nesta Academia, da minha Cadeira no 20, que acabara de publicar o “Manifesto Republicano”, de Quintino Bocaiúva. E na Gazeta de Notícias, onde faz sua es- 127 M urilo Melo Fi lho tréia como o grande e admirável jornalista que viria a ser pelos anos afora. Publica também seus primeiros versos, contra a inauguração de uma estátua de bronze, em homenagem ao Imperador: Aí vês, oh! nefando aviltamento, De um despotismo cruento. Neste solo americano, Nas abas do régio bronze, Ou seja, escárnio ao invés, Os escravos curvos aos seus pés, Aos pés dum rei, dum tirano. Patrocínio é aí amparado por João Vilanova e pelo Capitão Emiliano Rosa de Sena, que o convida para morar em sua casa e para ser o instrutor de suas filhas, uma das quais, Maria Henriqueta, viria a ser justamente sua mulher e companheira pelo resto da vida. Na Gazeta de Notícias, começa a escrever artigos políticos, já pregando o abolicionismo e usando o pseudônimo de “Proudhomme”, em homenagem a Pierre-Joseph Proudhom, o pai do anarquismo. Era a época em que Manuel Antônio de Almeida começava a publicar os capítulos do seu Memórias de um Sargento de Milícias e José de Alencar fazia o mesmo com o seu O Guarani. O primeiro livro Nesse meio tempo, um fazendeiro rico, Mota Coqueiro, e mais três capatazes da região de Campos, eram executados com a pena de morte, sob a acusação de terem assassinado uma família humilde do local. Um ano depois, Patrocínio recebe a carta de um padre que, às vésperas de morrer, escuta a confissão de um lavrador, assumindo a autoria do crime. 128 Patro c í ni o : Um j o rna l i s ta n a A bo l i ç ã o Uma onda de protestos e de revolta toma conta do Rio e Patrocínio aproveita a história para publicar em capítulos o seu primeiro livro: Mota Coqueiro e a pena de morte. Pela Gazeta de Notícias, vai ao Ceará e, em candentes reportagens, narra o drama da seca que assolou o Nordeste em 1877, com Pedro II declarando que as jóias da Coroa deviam ser vendidas, contanto que nenhum cearense morresse de fome – um assunto, aliás, que hoje, mais de 100 anos depois – continua atualíssimo e desafiante. Durante quatro meses, Patrocínio convive com os flagelados, sua miséria, pobreza, doenças, falta d’água, abandono, prostituição e morte. Voltando de lá, escreve Os retirantes, que, localizado no Nordeste, tem um padre como seu personagem central: um padre devasso e desonesto, que não era outro senão o próprio Cônego Monteiro, pai de Patrocínio. Esse Os Retirantes é o nosso primeiro livro sobre o drama das secas, precursor e pioneiro do romance regionalista do Nordeste, assim saudado pelo crítico e Acadêmico Araripe Júnior: “O Autor de Os retirantes é um escritor apaixonado, que chora e se sensibiliza quando escreve e que se exalta e se enfurece quando fala.” Já fazia dez anos que Patrocínio estava longe de sua mãe e dedica-lhe um poema: Como outrora, ligou-se à minha infância, Liguei também a ti a mocidade, Não pela glória, que não tive nunca, Mas pelo coração, pela saudade. Patrocínio não nutria os mesmos sentimentos pelo padrasto, e escreve a poesia “O Padre”: É preciso lançar por terra esse espantalho Que se diz intérprete divino. 129 M urilo Melo Fi lho E, sob a máscara de moral austera, Esconde a negra vocação do abutre E os instintos sangrentos da pantera. Patrocínio já era aí um corajoso jornalista, um panfletário, engolfado nas campanhas contra a escravatura e a favor da República. Casa-se com Maria Henriqueta, a Bibi, que tinha sido sua aluna, uma jovem branca e bonita, dez anos mais moça do que ele. O jornalista Apulcro de Castro, de péssima reputação, não perdoa Patrocínio. E escreve em O Corsário: “Casou-se o preto cínico da Gazeta e está muito ancho o manganão. Mas, com quem ele foi casar-se? Procurou por acaso fazer a felicidade de uma pretinha, sua parenta? Escolheu uma dama de sua própria raça? Não. Nessa, não caiu o nosso moleque, um espertalhão, um negrinho que quis por força uma noiva, dengosa, alva e branca.” No Ceará, novamente Ao Ceará, onde estivera anos antes, testemunhando a tragédia da seca, voltaria depois, já então alcunhado de “Marechal Negro”, para solidarizar-se com os bravos jangadeiros cearenses, que, sob a liderança de Chico da Matilde, haviam bloqueado o porto de Fortaleza ao desembarque de qualquer navio negreiro. Vai à Europa, explicando sua ausência da campanha abolicionista pela necessidade de conseguir informações e documentos para o seu folhetim Pedro Espanhol, que realmente lançaria pouco depois, e também em busca de melhores condições de saúde. Patrocínio estava em Paris, sendo homenageado por importantes intelectuais franceses, quando recebe a notícia de que a escravidão 130 Patro c í ni o : Um j o rna l i s ta n a A bo l i ç ã o fora abolida no Ceará. E ali mesmo faz um apelo para que Victor Hugo apóie os abolicionistas brasileiros, recebendo dele, 48 horas depois e por escrito, a seguinte mensagem: “Uma província brasileira acaba de declarar extinta a escravatura, desfechando nela um golpe decisivo. Esta é uma grande notícia. Porque, antes do fim deste século, a escravatura terá desaparecido sobre a face da Terra.” No auge da popularidade, Patrocínio resolve visitar Campos. E aí é saudado por um combativo orador local, muito popular e de muito sucesso, chamado Carlos de Lacerda – (que pelo nome não se perca) – um homônimo e antecessor do futuro lutador e líder Deputado da Banda de Música udenista, companheiro aqui, do nosso estimado Acadêmico Oscar Dias Corrêa. Aí em Campos, Patrocínio experimenta uma das maiores emoções de sua vida. Tinha 32 anos e estava afastado há 17 anos dos seus conterrâneos. Durante um grande jantar que lhe foi oferecido, o mestre-de-cerimônias chamou para presidir a mesa uma escrava de nome Justina Maria, justamente sua mãe, com a qual ele se reencontra, em meio a muitos beijos e muitas lágrimas. Justina já estava sofrendo as dores de um quisto surgido quando ainda era jovem. Trazida pelo filho para o Rio de Janeiro, interna-se na Santa Casa de Misericórdia, em cuja farmácia, Patrocínio, aos 14 anos, tivera, como já vimos, o seu primeiro emprego. É então operada daquele quisto, já então transformado num perigoso tumor cancerígeno, do qual viria a falecer, cinco meses depois. Mas, pouco antes de morrer, Justina Maria ainda tem chance de embalar nos braços o seu neto: José do Patrocínio Filho, recém-nascido, e que mais tarde seria também um teatrólogo e um razoável cronista (meio boêmio). Aquela escrava, humilhada e repudiada pelo Cônego João Carlos Monteiro, teve no seu enterro a presença de grandes homens, correligionários do seu filho: Campos Sales, Prudente de Morais, Olavo Bilac, Coelho Neto, Rui Bar- 131 M urilo Melo Fi lho bosa, Joaquim Nabuco, Olegário e José Mariano, Aristides Espínola, Lopes Trovão, Paula Ney e André Rebouças. A morte e o enterro de Justina abalam Patrocínio, mas não o fazem desistir da luta. Afinal, sua mãe não vira em vida o fim da escravatura, mas muitas outras mães não morreriam sem assistir à sua Abolição. A abolição, em ascensão A seguir, Patrocínio elege-se vereador da Cidade do Rio de Janeiro, conquistando uma nova tribuna para a sua pregação abolicionista, que, por sinal, naqueles primeiros dias de maio de 1888, atravessa uma fase de crescente expansão. Fazendeiros de São Paulo e de Minas, até então conhecidos por suas arraigadas convicções escravagistas, começam a alforriar seus negros. Multiplicam-se os casos de escravos fugitivos, logo recolhidos e protegidos em locais seguros. Já enfermo, Dom Pedro II embarca para a Europa, em busca de saúde, e deixa no trono sua filha, a Regente Isabel, aconselhando-a no embarque: “Faça a Abolição, antes que algum aventureiro a faça.” Na Gazeta de Notícias, Patrocínio escreve: “A escravidão é um roubo. E todo dono de escravo é um ladrão. Ela é o nosso opróbrio, que o Brasil simplesmente não merece. O mais depressa possível, devemos varrê-la do nosso cenário. Não há liberdade nem independência em uma terra com 1 milhão e 500 mil escravos. De que valerá a pena instalarmos uma República numa pátria de tantos cativos?” As lendas brasileiras sobre negros já eram aí enriquecidas pelo heroísmo de Henrique Dias contra os holandeses, em Pernambuco; por Zumbi dos Palma- 132 Patro c í ni o : Um j o rna l i s ta n a A bo l i ç ã o res, em Alagoas; pelo Quilombo Arraial dos Crioulos, em Minas; pelo esplendor de Chica da Silva, no Arraial do Tijuco; pela resistência de Antônio Conselheiro na epopéia de Canudos, na Bahia; e pela tradição de “Negrinho do Pastoreio”, no Rio Grande do Sul. O abolicionismo passou então por duas fases bem distintas: uma até 1879, romântica, idealista, teórica, reflexiva; e outra, até 1888, bem mais prática, objetiva, com os pés no chão. Funda-se aí a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, com duas alas bastante definidas: A primeira: aristocrática, formada por Nabuco, no Parlamento, com apoio de Joaquim Serra, André Rebouças, Coelho Neto, Luís Murat, Raul Pompéia e outros intelectuais cultos e refinados, meio filósofos e teóricos. A segunda: popular, constituída por Patrocínio, na rua e no meio do povo, com Lopes Trovão, Luís Gama, Paula Ney, Pardal Mallet, Ferreira de Menezes, e outros líderes de ação prática e extremada, tribunos populares, que se alimentavam na reação dos comícios. Uma oratória diferente Ao revés de Nabuco, a oratória de Patrocínio nada tinha de elegante. Pelo contrário: não seguia os modelos clássicos, não fora educada pela Retórica, era desengonçada e feia, bamboleante, de gestos descoordenados. Mas, compensava esse desacerto com uma emoção que emanava de dentro daquele negro baixo, grosso, rechonchudo, quase calvo – de barba espessa e cerrada, no figurino de José de Alencar e de Alcindo Guanabara, uma barba predecessora da de Fidel Castro e do nosso Lula – com um turbilhão de frases curtas e contundentes, que falavam de perto aos corações e às mentes de um público vibrátil a cada frase sua. Dir-se-ia uma centelha que se acendia e que inflamava. As palavras jorravam como se estivessem num turbilhão, em catadupas, de uma cachoeira, com uma esplêndida faculdade criadora, imagens improvisadas e comparações imprevistas. 133 M urilo Melo Fi lho O Acadêmico Olavo Bilac confessa que nunca esquecerá aquela cabeça que assomava à tribuna, transfigurada e olímpica, parecendo crescer, inchar, dilatar-se, num torvelinho de rompantes geniais. Essas imagens brotavam do fundo de sua alma, espontâneas e repentinas, que captavam o auditório, mudo e quedo, submisso e silencioso, perplexo e de respiração suspensa, num estado de êxtase, como se estivesse bebendo cada uma de suas palavras. Os epítetos e as metáforas brotavam em cintilações de fulgores e de relâmpagos. As multidões prostravam-se aos seus pés, dóceis e obedientes, domadas, diante daquele Deus de ébano. Era um tumulto feito homem, como bem definiu o Acadêmico Araripe Júnior, um orador diferente, um misto de Cícero, Mirabeau, Danton, Lincoln e Robespierre, que parecia estar num palco, como um ator, representando um personagem importante, que no fundo era ele mesmo. Recorda o Acadêmico Coelho Neto: “Quem uma vez o viu na tribuna, guarda, por certo, na lembrança, a imagem de uma estranha figura semibárbara, quase grotesca. Não era um tribuno de escola, disciplinado e ordeiro. O seu discurso não tinha melodia: era um silvo ou um rugido. O seu gesto era desconexo. O seu olhar despendia fagulhas. Avançava, recuava, girava, retraía-se, ficava na ponta dos pés e despejava as suas bombas.” Há poucos minutos, o Acadêmico Marcos Almir Madeira contou-me que Coelho Neto definia Patrocínio como “um desmantelo de tormenta”. A batalha pela Abolição da Escravatura já tinha mais de meio século e se iniciara antes mesmo de Patrocínio nascer. 134 Patro c í ni o : Um j o rna l i s ta n a A bo l i ç ã o Retrato de José do Patrocínio Desenho: anônimo, s.d. Retrato de José do Patrocínio na juventude. Desenho: anônimo, c. 1870. 135 M urilo Melo Fi lho Primeiro. Ela começara no dia 7 de novembro de 1831, com a chamada “Lei Feijó”, assinada por Diogo Antônio Feijó, um sacerdote paulista, Ministro da Justiça da Regência Trina, que libertava os africanos chegados depois dela. Segundo. Prosseguira com a Lei Eusébio de Queirós, sancionada em 4 de setembro de 1850, que tomou o nome em homenagem ao seu Autor, nascido em Angola, Ministro da Justiça no primeiro Gabinete do Marquês de Olinda e que acabava com o tráfico dos escravos. Terceiro. Continuara com a Lei do Ventre Livre, de 28 de setembro de 1871, apresentada pelo Visconde do Rio Branco e promulgada pela Princesa Isabel, então na Regência do Império, que libertava os nascituros, filhos nascidos de mãe escrava. Quarto. Seguira adiante com o Projeto Saraiva, apresentado em 13 de maio de 1885 e transformado na Lei dos Sexagenários, que tornava livres os escravos com mais de 60 anos. E quinto. Era concluída, a seguir, com a Lei Áurea, que tomou o no 3.353, –redigida, apresentada, discutida e aprovada na Câmara e no Senado, no espaço de uma semana, apenas – para ser promulgada pela Princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888, que assim cumpria o conselho deixado pelo seu pai e que, por completo, extinguia finalmente a escravidão no Brasil. 13 de maio: dia histórico Numa crônica, Machado de Assis assim descreveu aquele 13 de maio: “Era um belo dia de sol claro e fulgurante. O povo em delírio acorreu à Rua do Ouvidor para aclamar os líderes da campanha pela Abolição, que apareciam na sacada dos edifícios e aí recebiam os aplausos populares.” No interior do Paço Imperial, a cena fora rápida. Em companhia do seu marido, Gaston d’Orleans, o Conde d’Eu, um francês impopular, a Princesa Isabel entra na sala, senta-se à mesa e, com letra firme – usando uma caneta de ouro comprada numa subscrição popular – sanciona o projeto que ela própria remetera ao Parlamento, e que abolia para sempre a escravatura no Brasil. 136 Patro c í ni o : Um j o rna l i s ta n a A bo l i ç ã o Patrocínio, que entrara na sala carregado nos ombros de populares, aproxima-se da Princesa, ajoelha-se, beija-lhe as mãos e proclama: – Vossa Alteza é a querida mãe branca dos escravos e a mãe loira dos brasileiros. Não menos emocionado, o monarquista Joaquim Nabuco chega à janela do Palácio, esforça-se para discursar, mas, com a voz embargada, consegue apenas dizer: – Está abolida a escravidão. Não há mais escravos no Brasil. Aplausos, flores e palmas festejam suas palavras. O povo dançava nas ruas. E a Abolição chegava finalmente ao seu feliz desenlace, como o mais belo movimento democrático de toda a História brasileira. Aquela conquista, que nos Estados Unidos custara o preço de uma sangrenta guerra de cinco anos – a Guerra da Secessão – entre o Norte e o Sul, aqui no Brasil era obtida com risos e festas. As comemorações do triunfo não atraíam Patrocínio, nem o fascinavam. Não gostava das vitórias, que costumam decepar os adversários. Atingido o objetivo, preferia recolher-se. E, na companhia de Paula Ney, refugia-se na redação do seu jornal. Está cansado e exausto. Precisa dar um cochilo, mas é interrompido: – Está aí fora o Dr. Benjamim Constant, com um grupo de cegos do seu Instituto, para cumprimentá-lo. Mesmo a contragosto, Patrocínio manda-os entrar. E Benjamim Constant os apresenta: – Patrocínio, trouxe-lhe aqui os meus cegos. Eles também te querem ver. Muito de propósito, emprego o verbo: os meus cegos te querem ver. Patrocínio tenta agradecer a homenagem. Gagueja algumas palavras, mas não as termina. Está comovido e começa a chorar. Benjamim Constant percebe o desconforto da situação e explica: – Meus queridos filhos cegos. Nem sempre as palavras conseguem exprimir o que sentimos. Chorando, este grande homem e orador, que é José do Patrocínio, acaba de pronunciar o seu mais belo discurso. Não o vistes nem o ouvis- 137 M urilo Melo Fi lho tes falar. Mas o vosso coração deve tê-lo sentido. Basta de emoções. Vamos embora. E dando o braço a cada um deles, lá se foi Benjamim Constant, com os seus cegos, cortando a multidão. A libertação, em vez da coroa Dizia-se que, sancionando aquele decreto, a Princesa imaginava salvar a Monarquia, primeiro para seu pai e em seguida para ela mesma, embora o Barão de Cotegipe a tivesse advertido, poucos meses antes, de que ela poderia ganhar a batalha da Abolição, mas seguramente perderia a guerra da Coroa. No dia 13 de maio, quando mostrou o decreto da libertação ao Conde d’Eu, seu marido, a Regente ouviu dele o seguinte conselho: – Não assine esse papel, Princesa. Este é o fim da Monarquia. V. Alteza está perdendo o trono. E ela respondeu com uma pergunta: – Que direito tenho eu, livre e batizada, de permitir que meus irmãos negros continuem escravizados, eles que, para libertá-los, só têm a mim? Não fora à-toa, nem um mero impulso pessoal, aquele beijo de Patrocínio na mão da Princesa Isabel. Por algum tempo, triunfará nele o abolicionista, mas nele também, durante algum tempo, morrerá o republicano. Sua gratidão à Princesa era total e apaixonada, a ponto de incentivar a organização de uma Guarda Negra, constituída de ex-escravos, dispostos a defender a Princesa Regente, contra tudo e contra todos. Segundo Patrocínio, aquela Princesa de nome extenso: Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela e Gonzaga de Bragança, quando assinou a Lei Áurea, já estava conformada de que trocava o seu Império pela libertação dos escravos. 138 Patro c í ni o : Um j o rna l i s ta n a A bo l i ç ã o Minhas Senhoras e meus Senhores. Peço-lhes agora licença para descrever aqui – com mais detalhes – um episódio a que o Acadêmico Ivan Junqueira se referiu, de passagem, na terça-feira da semana passada. Eram 20 horas do dia 17 de junho de 1889. Estávamos, naquela noite, no Teatro Lucinda, aqui no Rio, quando Patrocínio se vê surpreendido e é provocado por outro grande orador, Silva Jardim – que depois morreria tragicamente na cratera do Vesúvio – e que, naquele momento, com dureza, o acusava de ser um traidor do movimento republicano, rendido aos encantos da Princesa Isabel. Patrocínio estava no camarote em frente, murcho e cabisbaixo, semiderrotado por aquela enxurrada de ataques. À certa altura, ensaiou uma resposta tímida, sem brilho e sem calor. A surpresa de um aparte Paula Ney, seu fraternal amigo, esgueirou-se de sua companhia e foi lá para o meio do povão, na platéia, de onde, escondido, desferiu um aparte: – Cala a boca, negro sem-vergonha. És o último negro vendido e sujo. Aquela interrupção feriu Patrocínio intensamente. Sem saber de onde ela vinha, cuidou de respondê-la. Já agora era a fera ferida, de olhos esbugalhados, narinas acesas, o corpo trêmulo de indignação, que se agigantava na resposta, não apenas a Silva Jardim, mas também ao desconhecido aparteante: “Negro, sou, sim, com muito orgulho. Deus deu-me a cor de Otelo, para que eu sempre honrasse os negros, dos quais tenho a honra de descender. Sim, sou um negro de nascimento, filho de um padre com uma escrava. Nada mais sou do que uma pessoa de três pês: preto, pobre e plebeu.” E prosseguiu com tanto brilho, que saiu do Teatro carregado em triunfo. Depois, no camarim, de acordo com relato do Acadêmico Osvaldo Orico, Patrocínio reclamou: 139 M urilo Melo Fi lho – Eu só queria saber quem foi o patife que me atirou aquele desaforo. E Paula Ney, presente: – Fui eu, este seu criado. – Foste tu, mesmo? – Fui eu, sim. Querias então que eu assistisse, indiferente e omisso, à tua derrota? Os amigos são mesmo para essas ocasiões. Estavas dormindo no teu discurso. Eu vibrei um raio para te acordar. Só com os raios se despertam os titãs.” Desterro e ostracismo Meus amigos. Acusado de monarquista, Patrocínio é esquecido na organização do Ministério republicano, que conta com seus amigos: Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa e Benjamim Constant. A República já tinha mais de um ano. E não se lembrava do seu nome. Sobretudo os militares fecham a questão contra ele, por causa de sua fidelidade a Nabuco e Hilário de Gouveia, dois monarquistas radicais. Patrocínio resolve candidatar-se à Câmara pelo 2o Distrito do Rio de Janeiro. Recebe 713 votos e é derrotado por Timóteo da Costa. Floriano rebela-se contra Deodoro e termina conquistando o poder, para iniciar uma implacável perseguição aos adversários. Patrocínio é desterrado para Cucuí – lá no Alto Rio Negro – onde ele e seu grupo enfrentam doenças, febres, fome e esquecimento. Anistiado, volta ao Rio, mas não abranda o combate a Floriano, acusando-o de trair a República e reaproximando-se de velhos companheiros: Rui, Bilac, Pardal Mallet, Prudente, Campos Sales, Quintino e Seabra. O seu novo jornal A Cidade do Rio é fechado pelo governo, que o persegue e o ameaça de prisão. Com a posse de Prudente de Morais, Patrocínio reabre o jornal, fiel aos seus ideais republicanos, porém sem o mesmo sucesso de antes. 140 Patro c í ni o : Um j o rna l i s ta n a A bo l i ç ã o A fim de ocupar seu tempo, lança um projeto para construção de um balão dirigível – como aqui já narrou o Acadêmico Ivan Junqueira – cheio de um gás mais leve do que o ar, e que, por isto mesmo, podia elevar-se e manter-se na atmosfera. Era uma réplica e um invento mais ou menos semelhantes ao “Pax” de Augusto Severo e ao “Demoiselle”, de Santos Dumont, que exigia investimentos pesados e inacessíveis ao seu bolso de jornalista desempregado. Aprofunda seus estudos sobre aerostática, aeronáutica, mecânica e física. Aperfeiçoa o seu projeto, consegue uma patente, mas não obtém o dinheiro necessário para executá-lo. Mais uma vez, candidata-se a um cargo político, agora ao Senado, na vaga deixada por Lopes Trovão. Tem uma plataforma socialista, de apoio às camadas mais pobres. E novamente é derrotado. Pela terceira vez, também, afasta-se de Rui, por causa de Prudente de Morais: Rui, o Tartufo, contra Prudente; e Patrocínio, chamado de Aretino, a favor de Prudente. Eram dois gigantes e dois ícones do jornalismo brasileiro, que se bicavam com muita facilidade e que iriam hostilizar-se e reaproximar-se vezes sucessivas. Também com Carlos de Laet Patrocínio nunca teve muitas afinidades. Viviam brigando. Certa tarde, quando os fundadores desta Academia – entre os quais ele próprio – ainda se reuniam na pequena sala do escritório de Rodrigo Octavio, à Rua da Quitanda 47, Patrocínio ali chegou e só havia uma cadeira vaga, justamente bem ao lado de Laet. Patrocínio olhou, dirigiu-se para ela, mas antes quis saber: – Afinal de contas, nós dois, hoje, estamos de bem ou estamos de mal? – Estamos de bem. – Então, posso sentar-me. Boa-tarde. 141 M urilo Melo Fi lho A cadeira 21 José do Patrocínio foi o fundador da nossa Cadeira no 21 – depois chamada de “a Cadeira da Liberdade” – que teve como patrono Joaquim Serra e, como sucessores, acadêmicos de direita e de esquerda, em eleições pendulares, que bem atestam a nossa índole apartidária: Mário de Alencar e Olegário Mariano, de direita; Álvaro Moreyra, de esquerda; Adonias Filho, de direita; Dias Gomes, de esquerda; Roberto Campos, de direita, até o atual ocupante, Paulo Coelho, enfim, um radical de centro. Patrocínio não foi o que hoje se chamaria propriamente de um escritor. Além dos romances Mota Coqueiro e Os retirantes e do folhetim Pedro Espanhol, não teve pretensão nem tempo de produzir uma obra literária realmente importante. Esses seus três livros estão esgotadíssimos; deles existem hoje talvez dois ou três exemplares e bem que se poderia encontrar um editor interessado em republicá-los. Seria desejável também que se reunissem os seus artigos publicados nas três “Gazetas” da época: a “de Notícias”, a “da Tarde” e a “do Rio”, e se editassem os seus discursos pronunciados na campanha da Abolição. Os seus discursos, pronunciados por um dos maiores “meetingueiros” e “palanqueiros” de toda a oratória brasileira, poderiam até servir como subsídios para ilustrar a nossa variada bibliografia sobre a escravidão, que teve seus pontos altos em Castro Alves, com “Navio Negreiro” e “Vozes d’África”; em Bernardo Guimarães, com Escrava Isaura; em Machado, com o poema “Sabina”; em Artur Azevedo, com A escrava”; em Aluísio Azevedo, com O cortiço e O mulato, passando por Júlio Ribeiro, com A carne; por Coelho Neto, com A conquista e O rei negro; por Luís Guimarães Júnior, com “Os escravos”; Raimundo Correia com “O banzo”; Vicente de Carvalho, com “Fugindo ao cativeiro”; até chegar a Jorge de Lima, com “Essa nega Fulô”; a Cassiano Ricardo, com “Sangue africano”; a Leonardo Mota, com “Violeiros do Norte”; a Luís da Câmara Cascudo, com Lendas brasileiras; e a Pedro Calmon, com História de Castro Alves. 142 Patro c í ni o : Um j o rna l i s ta n a A bo l i ç ã o Minhas Senhoras e meus Senhores. Revoltado porque Sílvio Romero não cumprira a promessa de fazer uma conferência a favor da Abolição, Patrocínio não o desculpa e mantém com ele uma das mais violentas polêmicas de toda a nossa literatura. Escreveu então: “Trata-se de um ‘teuto maníaco’ de Sergipe, que se chamava Sílvio Vasconcelos da Silveira Ramos, mas que depois passou a chamar-se Sílvio Romero. Há vinte dias, encontrei-me com ele e ouvi dos seus lábios grossos e arroxeados, apesar de arianos, a confirmação de que não fizera a conferência por ainda estar doente. – Você é um miserável, um traste, um vilão muito ordinário, um pedante com fumaças de filósofo, um “chichisbéu” da literatura, um belchior da jurisprudência, um macaco de Tobias Barreto e um Satanás do materialismo, que se ajoelhou diante do catolicismo triunfante no Colégio Pedro II. Chamou-me ignorante, porque não tenho o hábito de andar citando autores alemães. O que hei de discutir com o Sr. Sílvio ex-Vasconcelos da Silveira? Este é o juízo que faço a seu respeito, oh! lazarento. Está respondido.” 52 anos de uma vida Patrocínio viveu apenas 52 anos. Atravessou toda a segunda metade do século XIX, porque, tendo nascido em 1853 – portanto, há um século e meio – morreu em 1905, sendo contemporâneo da sucessão dos vários gabinetes parlamentaristas, naquela gangorra que movimentou a maior parte do Segundo Reinado de Pedro II: os gabinetes conservadores chefiados pelo Visconde do Rio Branco, pelo Marquês de Olinda e pelo Duque de Caxias, sucedidos pelos gabinetes liberais de Sinimbu, Saraiva, Lafaiete, Martinho Campos, Paranaguá, Sousa Dantas e novamente Saraiva, que devolveram o poder aos conservadores Cotegipe e João Alfredo, culminando com o gabinete liberal de Ouro Preto, já nos estertores da monarquia parlamentarista e no advento do presidencialismo republicano. 143 M urilo Melo Fi lho Quando começou o novo século, em 1901, Patrocínio tinha apenas 47 anos de idade. Mas, já estava velho e cansado. Suas colaborações para a Gazeta do Rio eram cada vez mais raras e esparsas. Ele já se transformara também num boêmio notívago, amante das madrugadas e aproveitador de sua imensa popularidade junto às mulheres, sobretudo as charmosas francesas de então. Enquanto Santos Dumont tem êxito em Paris com o seu “14-Bis”, o barracão de Patrocínio, no qual estava sendo construído o seu avião, aqui no Rio, é destroçado por violenta tempestade. O projeto do seu invento era reduzido pelo temporal a uma sucata de ferros retorcidos. Sua situação financeira é cada vez mais grave. E mais difícil. Vende sua casa na Rua Riachuelo, faz empréstimos, torna-se novamente um escravo, desta vez, dos agiotas. Vai morar numa humilde casinha no Engenho de Dentro e volta a escrever, já então usando novo pseudônimo, que não era mais o Proudhome, o Zeca Pato, o Notus Ferrão, o Pax Vobis ou o Pombo Correio, mas sim Justino Monteiro, uma combinação do nome do seu padrasto João Carlos Monteiro com o de sua mãe Justina Maria. E escreveu: “Cheguei a ser um conviva da genialidade e um íntimo da realeza. Fiz-me à custa de muita luta e de muita persistência. Mas, não merecia o fim que estou tendo.” O jornal O Estado de S. Paulo faz uma campanha de donativos em seu favor, que José do Patrocínio Filho repele com uma carta altiva, dizendo que seu pai não estava precisando de esmolas. Com o assunto nos jornais, o quitandeiro suspendeu o fornecimento de frutas e o farmacêutico já não mais lhe fiava os remédios. A saúde de mal a pior Seu estado de saúde vai de mal a pior. Uma tuberculose, que há mais de um ano e meio se instalara em seus pulmões, agrava-se por uma vida desregrada e extravagante e o torna fraco, magro e anêmico. 144 Patro c í ni o : Um j o rna l i s ta n a A bo l i ç ã o Minhas Senhoras e meus Senhores. Não quiseram os desígnios da vida que Patrocínio tivesse uma origem feliz. Ele foi extraído de uma barriga humilde e escrava, dando-lhe à pele uma cor escura, cercando-lhe a infância de todas as desgraças, com a privação da paternidade legítima e os sofrimentos do seu povo escravizado. Quiseram que no seu sangue e nos seus nervos se acumulassem as revoltas da gente martirizada, contra a maldade dos opressores, toda a longa e trágica odisséia do sacrifício africano. O Acadêmico Olavo Bilac escreveu: “A raça negra viu aparecer o profeta esperado, dentro de um furacão de trovões e de flores, acendendo cóleras, cicatrizando feridas, despedaçando grilhões, fulminando orgulhos e ateando a fogueira em que o Brasil haveria de purificar-se. Ao chegar a hora da erupção daquela cólera vingadora, os brasileiros estremeceram, abalados e tomados de uma comoção entontecida. Nunca houvera, até então, no Brasil, uma voz que soasse tão alto e que ferisse tão fundo.” Incontida força da emoção Senhores Acadêmicos. Informa o Osvaldo Orico que, a Patrocínio, “pouco importavam amizades, estimas, conselhos e advertências. Na hora do combate, ele se transformava numa visão animalesca do combatente. E só retornava a si mesmo, quando trazia, da arena áspera e crua, o troféu da vitória preso nos dentes”. De acordo com Raymundo Magalhães Jr., Patrocínio “era uma incontida força emotiva, singularizando um destino. Cessada a luta, voltava a ser o homem bom e hospitaleiro, simples e cordial, em cujo espírito brincavam a doçura de uma criança e a indulgência de uma etnia afetiva. Seus braços levantavam-se em protestos e em agradecimentos. Numa das mãos, um raio. Na outra mão, uma rosa.” 145 M urilo Melo Fi lho Dele disse o nosso confrade Joaquim Nabuco: “Ele foi a alma da Abolição, uma alma democrática, aliada a uma outra alma dinástica, que foi a Princesa Isabel.” Filinto de Almeida, o grande amigo lusitano, consagrou Patrocínio em belos alexandrinos, como esta quintilha: Ó luz sonora, luz articulada e viva, Que pelos tempos vens clamando e iluminando. Luz espiritual que da alma se deriva. Verbo, libertador de uma raça cativa. Mesmo depois de morto, tu continuarás vibrando. Senhor Presidente. Senhores Acadêmicos. Senhoras Acadêmicas, Senhores Acadêmicos de Campos. Meus Amigos. Concluindo, devo dizer que corria o dia 30 de janeiro de 1905, um domingo de sol vibrante e de verão senegalesco. Patrocínio, que tinha pouco mais de meio século de idade, estava escrevendo para A Notícia, a mão, em cinco tiras, um artigo sobre a organização de uma Sociedade Protetora dos Animais. E dizia: “Tenho pelos animais um respeito egípcio. Penso que eles têm alma e que sofrem conscientemente as revoltas contra a injustiça humana, porque...” Aí, interrompeu a escrita e não terminou a frase. Levantou-se e correu para o banheiro, já engolfado no sangue da sua última hemoptise. O médico legista atestou-lhe a causa mortis: uma ruptura no aneurisma da aorta. 146 Patro c í ni o : Um j o rna l i s ta n a A bo l i ç ã o Do enterro ao despejo Seu enterro foi custeado pelo governo, que pagou funerais solenes, coches de gala, cavalos cobertos de luto, marchas fúnebres, embalsamamento do corpo e crepe nos lampiões. Oito dias depois – segundo me informou há pouco tempo o Acadêmico Carlos Heitor Cony – sua família tinha de desocupar a casa em que ele morrera, escorraçada por um mandato de despejo. Patrocínio morreu como vivera, batendo-se por uma Sociedade Protetora e defendendo os fracos, num último apelo em favor dos animais. Ele não se arrependia do bem que fizera e transformou em piedade o próprio sofrimento, para se compadecer da sorte de todas as criaturas que sofrem. Nasceu padecendo, mas morreu amando, perdoando e sorrindo. Assim, morria o campeão de duas grandes bandeiras: a da Abolição e a da República. Morria, talvez, um dos maiores oradores brasileiros de todos os tempos. Morria um plantador da Liberdade, um defensor do Direito, um apóstolo da Lei, um advogado das causas populares, um jornalista de batalhas memoráveis, um líder contra a ditadura de Floriano, um inimigo das oligarquias e dos senhores de engenho, um liberal dos direitos sociais, um paladino dos negros e dos escravos, o redentor de uma raça, um entusiasta de temas heróicos, uma bravura de procedimento, um ribombar de protestos, um poço de eloqüência e de talento. Morria o sonhador de um Brasil forte, próspero, industrialmente rico e socialmente justo. Morria um inesquecível brasileiro, chamado simplesmente: JOSÉ CARLOS DO PATROCÍNIO. 147 Inglês de Sousa (1853-1918) Acervo o Arquivo da ABL O ficcionista Inglês de Sousa Osc ar D ia s C o r r ê a A vida de Herculano Marcos Inglês de Sousa é marcada por duas fases distintas: na primeira, o ficcionista, o primeiro naturalista brasileiro, publicando seus livros no período que começa em 1876, estudante de Direito em São Paulo, com O cacaulista e se encerra com os Contos amazônicos, em 1892; e o segundo, o jurista dos estudos de Direito Comercial, em 1897, com Os Títulos ao Portador, no Rio de Janeiro. Barbosa Lima Sobrinho, a quem citei no meu discurso de posse nesta Academia, lembrando Renan disse, em prefácio ao discurso de Rodrigo Octavio Filho, no centenário de Inglês de Sousa: Conferência proferida na ABL, a 29 de abril de 2003, durante o ciclo Fundadores da ABL. Renan falava da má vontade com que se considerava a manifestação de mestria em domínios opostos, e poderíamos estender o seu conceito a domínios apenas diferentes. A crítica, ou o aplauso público, não parece favorecer os regimes poligâmicos, em matéria de atividade intelectual. Prefere, ou parece preferir, a disciplina e 149 O sca r Di as C o rrêa a rigidez da monogamia, o gênero único, a atividade uniforme, que valoriza e prestigia o conjunto da obra realizada. Aconteceu isso com Inglês de Sousa, grande ficcionista, de quem se esqueceram os romances, ignorados hoje do grande público, e o grande jurista, que acabou por predominar, talvez, digo eu, porque os juristas sejam menos desunidos e menos senhores de sua glória do que os ficcionistas. Olívio Montenegro comenta: Com Inglês de Sousa verifica-se um caso que não é comum na história dos literatos brasileiros – foi literato, jurista e homem de Estado, ao mesmo tempo, tendo exercido o governo das províncias do Espírito Santo e do Sergipe. E ainda hoje o seu nome é mais conhecido como jurista do que como autor de ficção. Talvez porque a ficção no Brasil nunca fosse levada tão a sério como as letras jurídicas. Até pelo contrário: no homem político do Brasil o gosto pela ficção literária sempre foi olhado com as maiores reservas, quase depreciado, como uma falta de compostura, uma espécie de boemia do espírito que não se casasse bem com a circunspecção e a dignidade das altas funções administrativas.1 Prefiro não aquilatar da justeza da afirmação, mas o certo é que Inglês de Sousa não teve o reconhecimento que sua obra merecia. Nesta oportunidade e nesta Academia, não nos ocuparemos, senão de passagem, com o grande jurista, que inovou com seus estudos em Os Títulos ao Portador no Direito Brasileiro. A obra, que se inicia com alentada Introdução, “síntese histórica” da matéria, desde os hebreus até o século XVII, tem configuração de obra moderna e, mais, pela fluência e exatidão da linguagem, excede o comum dos livros jurídicos. A exposição é viva e atual, e vêem-se alusões a temas modernos, ressaltando aspectos econômicos (Seção 1a), como os problemas do crédito e da poupan1 O romance brasileiro, J. Olympio, 2a ed., pp. 99-100. 150 O fi c c i o nis ta In g l ê s de So u s a ça, expressamente referidos (item 60) e todos os mais que o aprofundamento do tema exigia, demonstrando, demais disso, amplo e apurado conhecimento da bibliografia alienígena então existente. Do grande jurista, disse Rodrigo Octavio, depois de apresentar-lhe o filho: “Este é um padrão de sabedoria e austeridade.” E o biógrafo assim remata: Eu bem conheci o Mestre Inglês de Sousa. A aparência fria, reservada, distante e severa, que, aliada ao seu grande saber e autoridade, a todos infundia respeito, vinha, dir-se-ia, de uma possível e remota ascendência britânica, que o nome de família – Inglês – faria presumir. Entretanto, um melhor conhecimento de suas origens revela que a família – Inglês – é portuguesa, argárvia (sic) de quatro costados e já conhecida nas Espanhas muito antes do descobrimento do Brasil.2 Do grande advogado disse Xavier Marques, que lhe sucedeu nesta Casa: Advogado durante cerca de quarenta anos, Inglês de Sousa não conheceu a estreiteza e secura da inteligência profissional. [...] A advocacia não foi para ele o ato quase maquinal que se passa entre a banca e o foro, entre a clientela e o mundo judiciário; [...] Ela não o privou do convívio nobilitante dos belos ideais; tampouco lhe afrouxou a austeridade ou diminuiu a tensão aos escrúpulos com que discernia as causas propostas ao seu patrocínio. O causídico admirado pelo talento e a proficiência, ainda mais porventura se impunha pela ética irrepreensível. Da advocacia, tão largamente exercida, desde o consultório em Santos até o Rio, onde se estabeleceu com a fundação da República, havia ele de tirar elementos para uma alta reputação, que veio a culminar, por saber, moralidade e consciência, na fama do jurisconsulto.3 2 Rodrigo Octavio Filho, Inglês de Sousa – 1o centenário de seu nascimento. Rio de Janeiro, Editora Companhia Brasileira de Artes Gráficas, p. 11. 3 Discursos Acadêmicos, v. 5, pp. 98-99. 151 O sca r Di as C o rrêa A publicação de Os Títulos ao Portador assegura-lhe projeção nacional e o torna jurisconsulto de fama e prestígio, sendo indicado para Diretor da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais e Presidente do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, qualidade na qual presidiu o Primeiro Congresso Jurídico Nacional. Convidado, mais de uma vez, para o Supremo Tribunal, não aceitou a indicação, “por motivos de ordem pessoal”. E “convidado pelo Ministro Rivadávia Correia para organizar o novo Código Comercial, apresenta-o, dentro de 11 meses, com notáveis emendas aditivas, que o transformam em Código uno de Direito Privado, de que era convicto partidário. Realiza Inglês de Sousa a primeira codificação integral de todo o direito privado”.4 Isto, podemos dizer agora, com o novo Código Civil, em vigor a partir de 1/1/2003, que, em parte, a realiza, efetivamente. Representou o Brasil no Congresso Pan-Americano, em maio de 1916, com Pandiá Calógeras, e depois presidiu o Conselho Diretor da Caixa Econômica. Depois de exercer o jornalismo em São Paulo, sobretudo em Santos, onde morava o pai, Dr. Marcos, Juiz de Direito da Comarca, o Conselheiro Saraiva nomeou-o, aos 27 anos, Presidente de Sergipe. Rodrigo Octavio Filho narra episódio das eleições quando um chefe político do interior, Coronel Fraga, lhe diz: “– Vim buscar a força. – Que força? – perguntou Inglês de Sousa. – A força militar; é preciso mostrar aos eleitores que estamos de cima. Agora o prestígio é nosso. É ou não é? Inglês de Sousa, muito mais moço do que o Coronel Fraga, achando graça no pedido, manifestou-lhe o seu respeito, e disse, incisivo: – Não dou força nenhuma. As instruções do Presidente do Conselho são claras. Nada de força, nada de violência. As eleições devem ser as mais honestas... 4 Ob. cit., p. 28. 152 O fi c c i o nis ta In g l ê s de So u s a O coronel ficou bestificado. Podia esperar tudo, menos aquela resposta. Mas não desistiu e disse: – Está bem, Presidente. Se o senhor não me pode dar força, eu quero, ao menos, um clarim. Diante do espanto do Presidente, o Coronel Fraga acrescentou: – Eu não quero um homem que toque clarim, não senhor. Eu quero somente o clarim, o instrumento... Inglês de Sousa ordenou fosse entregue um clarim ao desapontado coronel, que mandou ensinar os principais toque militares ao pajem que o acompanhava. E quando este se manifestou perito em clarinadas, o coronel retornou viagem para a sua cidadezinha natal, onde precisava impor, definitivamente, o seu prestígio político. Calculou as coisas para chegar às portas da cidade antes do dia amanhecer. E mandou que o improvisado corneteiro soprasse a plenos pulmões o clarim da vitória... A população acordou espantada com aquela intervenção militar. O coronel escondeu o clarim numa moita, entrou em sua cidade e foi dizendo a todos, amigos e inimigos políticos: – A força aí está cercando a cidade. Vocês não ouviram os toques de clarim? Pois é: o prestígio agora é nosso. E havemos de realizar a mais honesta das eleições... Parece, conclui Rodrigo Octavio Filho, que a terra do Coronel Fraga foi a única, de Sergipe, que não deu, naquela eleição, um único voto a candidato oposicionista...”5 Tendo-se demitido da Presidência de Sergipe, foi nomeado Presidente do Espírito Santo; e, eleito novamente deputado provincial por São Paulo, profere seu parecer, “obra monumental”, sobre o Código Comercial; volta a Santos “e entrega-se de corpo e alma à advocacia”. Em 1891, publica, em Santos, O missionário, na tipografia do Diário de Santos, “de que era proprietário”.6 5 6 Ob. cit., pp. 25-26. Ob. cit., p. 26. 153 O sca r Di as C o rrêa A passeio no Rio de Janeiro, é convidado pelo Marechal Deodoro para governador do Amazonas. E Silva Jardim e Aníbal Falcão o indicam para governador de Pernambuco, recusando Inglês de Sousa ambas as indicações. Volta para São Paulo; morrendo-lhe uma filha de seis anos, tem a saúde abalada e, a conselho médico, muda-se para o Rio de Janeiro, em julho de 1892. Aqui exerce ativamente a cátedra e a advocacia, e, em 1893, publica os Contos amazônicos. Mas, nesta Academia, dedicar-nos-emos ao ficcionista, dos mais poderosos de nossa literatura, ainda que, pela ausência de seus livros nas estantes das livrarias e bibliotecas, tudo ajudado pela grande, irremediável e trágica desmemória nacional, seja um desconhecido, nem mesmo ilustre... se lhe não guardam o nome e as obras. Nascido em 28 de dezembro de 1853, faz 150 anos, em Óbidos, Pará, era filho do Desembargador Marcos Rodrigues de Sousa (que, quando juiz no Amazonas, hospedou Agassiz, em viagem ao Brasil, na sua passagem por Parintins; terminou a carreira como desembargador da Relação de São Paulo) e de D. Henriqueta Inglês de Sousa, de nobre ascendência algarvia, como assinala Rodrigo Octavio Filho. A ascendência paterna, não menos ilustre, inclui, no século XVIII, Pedro e Maria Dolzani, do norte da Itália, que se dedicaram, em Óbidos, à criação de gado. Sua filha, Carlota Dolzani, casou com Silvestre José Rodrigues Sousa, de sangue português, envolvido com sua fazenda e a política local (e que aparece como Capitão Silvestre no conto “O Donativo do Capitão Silvestre”, dos Contos amazônicos), que são os pais de Marcos, e avós de Inglês de Sousa, o que explica que seus livros tenham sido publicados com o pseudônimo de “Luiz Dolzani”, estudante ainda na Faculdade de Direito de São Paulo, quando surgiu O cacaulista, em 1876. De Óbidos, onde passou os primeiros anos da infância, Inglês de Sousa foi para o Maranhão, matriculando-se no Instituto de Humanidades, diz Rodrigo Octavio Filho (a quem estamos seguindo na lembrança de seus dados biográficos), onde sentiu o primeiro contato com a literatura, quando um colega lhe leu algumas passagens do Dom Quixote. “Foi realmente esse o seu primeiro con- 154 O fi c c i o nis ta In g l ê s de So u s a tato com a literatura de ficção. Ficou fascinado.” A propósito, convém lembrar, Taunay cuidou ver no O missionário de Inglês de Sousa, senão reminiscência, alguma afinidade com a maior de todas as novelas. “O Dom Quixote foi para Inglês de Sousa o livro revelação.”7 E a nós nos parece que o estilo de O coronel Sangrado lembra o “ingenioso hidalgo de la Mancha”. Em 1867 veio para o Rio de Janeiro, e matriculou-se no Colégio Perseverança, começando aí sua inclinação pelas letras. Adoecendo, convalesce na casa do Conselheiro José Vicente Jorge, Diretor Geral da Secretaria do Império. “Leu então e de um trago, sofregamente, muito de Shakespeare, Hugo e Herculano. [...] Em 1870 viajou para Recife, onde completou os preparatórios e matriculou-se na Faculdade de Direito.” Aí viveu “intensíssima vida intelectual, vastas leituras, freqüência aos teatros, longas conversas e intermináveis discussões sobre religião, filosofia, exegese, história, sociologia e literatura. O romantismo dos seus 18 anos não teria forças para resistir ao choque das novas idéias”. Já no segundo ano de Direito, “combatendo as pieguices de A moreninha, de Macedo, e o indianismo de Alencar”, escreveu o primeiro romance, O cacaulista, nos moldes do alsaciano Erckmann-Chartrian (1872). Seguiramse-lhe a História de um pescador e O coronel Sangrado, escritos em São Paulo, em cuja Faculdade cursou o quinto ano de Direito e se formou em 1876. No ano seguinte casou-se com D. Carlota Emília Peixoto, sobrinha-bisneta de José Bonifácio, dedicada companheira de toda a vida. Diplomado em Direito, em 1876, nesse mesmo ano publica História de um pescador e O coronel Sangrado; em 1891, O missionário (escrito em 1888); e, em 1892, Contos amazônicos. Esses livros firmaram-lhe a reputação literária, à época, e com eles conquistou lugar nos meios intelectuais do Rio de Janeiro. Aqui chegando, em 15 de novembro de 1896 comparece à primeira sessão da Academia Brasileira de Letras, na redação da Revista Brasileira, e em 1897 participa da fundação da ABL, “de cujos Estatutos foi o principal Redator”.8 7 8 Rodrigo Octavio Filho, ob. cit., p. 20. Josué Montello, O presidente Machado de Assis, p. 34. 155 O sca r Di as C o rrêa O mais interessante e estranho é que, a partir daí, sua obra é toda jurídica: em 1898, Títulos ao Portador; em 1903, Projeto de Código Comercial e Projeto de Direito Privado; talvez porque, abrindo banca de advogado, lecionando Direito Comercial e Marítimo, e presidindo o Instituto dos Advogados Brasileiros, a vida lhe impunha dedicação a esses temas, aos quais se entregou, até vir a falecer, em 6 de setembro de 1918. Não foi, pois, sem razão que Inglês de Sousa entrou para a ABL: era ele, à época, reconhecida expressão da ficção brasileira, e sua obra, ainda hoje, embora esquecida, o recomenda como uma das figuras mais admiráveis do romance brasileiro. E que se elegeu Tesoureiro da Academia, ao lado do Presidente Machado de Assis. A impressão causada pela riqueza dos seus romances amazônicos se espelha na afirmação de Josué Montello, de que de “suas obras O coronel Sangrado, embora correspondendo a uma narração completa, entrosa-se com O cacaulista, de que constitui desdobramento. História de um pescador, conforme indicação de seu prefácio, articular-se-ia a outros romances da série Cenas da Vida do Amazonas, sem prejuízo de sua ação distinta”.9 O curioso, continua Josué, é que, “apesar de terem como cenário a Amazônia, esses romances fixam mais o homem que a selva, como se esta, com a sua opulência, não interessasse ao romancista, que desejava apenas surpreender e apreender o elemento humano, nas suas lutas e nas suas fraquezas, nos seus caracteres e nas suas determinações”.10 Aí está, a meu ver, a grande virtude, sobretudo de O coronel Sangrado, que, com Montello e Lúcia Miguel-Pereira, considero a obra fundamental da ficção de Inglês de Sousa: a intensa vida das figuras do romance prepondera sobre a força da natureza. Mas a preparação dele está em O cacaulista, escrito em Recife (é datado de Recife, 24/06/1875) e publicado em Santos, em 1876. Volume de estréia, experimenta a pena na fixação da trama do romance, no desenho da paisagem e no debuxo das personagens. O próprio autor, Luiz Dolzani, pseudônimo que adota, em 23/12/76 apresentando a obra, diz que “o romance que se vai ler 9 Ob. cit., p. 74. Idem, p. 74. 10 156 O fi c c i o nis ta In g l ê s de So u s a foi escrito em 1875, na cidade do Recife, quando o autor cursava o quarto ano da Faculdade de Direito”. E completa: “Fazendo parte da coleção – Cenas da Vida do Amazonas – não é completo, como verá o leitor, e os episódios que nele se narram hão de ter o seu complemento no Coronel Sangrado, romance que brevemente sairá à luz.” O Amazonas é o cenário, sobretudo as plantações de cacau, onde se desenvolve a história e onde se movem as figuras que criou. Já se pressente a força da introspecção do romancista e o seu poder descritivo e narrativo. Dedica-o ao pai, Marcos Antônio de Sousa, “Cavaleiro da Ordem de Cristo, Juiz de Direito da Comarca de Santos (Ao primeiro amigo a primeira obra)”. Conta a história das lutas dos cacaulistas, em especial da Fazenda S. Miguel, propriedade de D. Ana, viúva do português João Faria e, sobretudo, mãe de Miguel de Faria, filho do casal, centro do romance. Em torno dele se tece o enredo, que serve ao autor para os cenários da vida amazônica, as terras do cacau, e envolve a disputa da fazenda de João Faria, onde mora a viúva Ana, mãe de Miguel, e sobre as quais avança o Tenente Ribeiro, padrinho de Ritinha, amiga de infância de Miguel. A duplicidade da situação deste, tendendo para Ritinha e detestando o Tenente; a esperteza deste, valendo-se dessa duplicidade, enriquecem a história e permitem a Inglês de Sousa pintar a vida da região, ao mesmo tempo em que lhe possibilita como que a introdução à cena política de O coronel Sangrado. Esse cenário lhe serve ao largo uso de suas virtudes literárias e à urdidura da trama romanesca. Segue-se-lhe O coronel Sangrado. É lê-lo, ainda hoje, e gozar-lhe a malícia do jogo político, que descreve com ironia e sarcasmo, movendo as personagens com argúcia e finura, com tal realismo que se pode sentir a presença palpitante delas nas cenas do livro. Romance de costumes políticos, nada fica a dever aos que vieram depois dele; pelo contrário, nos personagens mistura a esperteza e o sarcasmo, conjuga a ignorância e a arrogância, a graça e a matreirice, a timidez e a pureza, e consegue, no meio da disputa política, insinuar a paixão amorosa agressiva e dominadora. Espanta, a quem viveu a comédia política, a história da luta entre 157 O sca r Di as C o rrêa conservadores e liberais por volta de 1870, como Inglês de Sousa pôde retratá-la no Amazonas, com as mesmas tintas com que se pintariam no Sudeste. E, mais ainda, a riqueza da vida subjetiva dos personagens, figuras brasileiras de todas as regiões: o Coronel Sangrado, chefe ignorante e arrogante, julgando-se superior a todos, “dono do pedaço” (como se diz hoje), Napoleão, que pretendia não ter Waterloo; o Capitão Matias, o boticário Anselmo, o escrivão Ferreira e toda uma paisagem humana conhecida e atuante. A filha do Coronel Sangrado, a “feiarrona” Mariquinhas, alvoroçada com o retorno de Miguel de Faria, escorraçado pelo chefe liberal, Tenente Ribeiro; o reencontro de Miguel com Rita, filha ou afilhada de Ribeiro, a “cunhantã” da meninice de Miguel, e já então mulher do Alferes Pedro Moreira Bentes; e sobretudo o Capitão Antônio Batista, suplente de juiz municipal, de grande influência no partido conservador da localidade, todos concorrem para a inestimável importância do desenrolar da história. A partir desses personagens desenvolve-se o romance, que inclui todas as artimanhas, malícias, petas, traições que a luta política local pode oferecer: onde os ódios são mais enraizados, e o vizinho é amigo ou inimigo do vizinho, e tudo faz por ele ou contra ele. Inglês de Sousa tece o romance com estilo vivo, fluente, veste-o de verve e ironia, aflorando os sentimentos mais nobres e as atitudes mais chãs, ingredientes da autêntica farsa eleitoral daquela época. Dele diz Bella Jozef, na excelente “Apresentação” que escreveu para o volume 72 da coleção Novos Clássicos: Seu estilo é, na maioria das vezes, escorreito e sóbrio, compraz-se na escolha do termo justo e do vocábulo preciso, o que lhe dá encanto e espontaneidade. [...] É uma linguagem coloquial, procurando cingir-se ao vocabulário vivo da região. Freqüentemente recorre ao estilo indireto livre no diálogo e monólogo mental como meio favorito de fazer ouvir, falar e pensar seus personagens.11 11 Agir, 1963, p. 12. 158 O fi c c i o nis ta In g l ê s de So u s a E assinala que Aurélio Buarque de Holanda, lembrando Eça de Queirós, afirmou ter Inglês de Sousa “o mesmo ritmo sereno e ondulante, o mesmo espraiamento das palavras com breve estação nos incidentes para terminar com dois adjetivos de sentido e efeito sônico bem contrastante, a aliança do trivial e do raro, o jogo dos elementos díspares”. Josué Montello, no estudo que dedica a “A ficção naturalista”, em A história da literatura no Brasil, coordenada por Afrânio Coutinho, discorda em parte, quando assinala: Aluísio Azevedo, Inglês de Sousa, Júlio Ribeiro e Adolfo Caminha, as quatro figuras representativas do Naturalismo brasileiro, inclinaram-se pela cópia da realidade, com um ou outro traço de tinta violenta e crua. Aos quatro faltou a ironia corrosiva com que Eça, na pintura da sociedade portuguesa, atendeu a seus propósitos de demolição. Em compensação, souberam dispor da observação meticulosa, por vezes apaixonada, que, se não serviu a atrair a atenção para a reforma do mundo burguês, pelo menos fixou indelevelmente alguns instantes brasileiros, com aquela fidelidade nítida que faz do romance o espelho do tempo e da vida.12 Se a apreciação, a nosso ver, colhe quanto a O missionário, em O coronel Sangrado há passagens do melhor de Eça, no tom e no estilo. No Inquérito promovido por João do Rio no Momento Literário, “Inglês de Sousa afirmou que os autores que mais contribuíram para a sua formação literária foram Erckmann-Chartrian, Balzac, Dickens, Flaubert e Daudet”. E João do Rio acrescenta: “Nessa relação não figuram, assim, Émile Zola, que parece ter-lhe inspirado o argumento de O missionário, e Eça de Queirós, que o impressionou com o ritmo de seu estilo”. E Josué pergunta: “Por que ErckmannChartrian?” Ele mesmo responde: 12 Ob. cit., p. 68. 159 O sca r Di as C o rrêa Hábeis fixadores de tipos e costumes alsacianos, Erckmann-Chartrian deixaram obra copiosa no conto, no romance e no teatro. Antes que Zola empolgasse o público parisiense, eram eles que dominavam esse público, com o Realismo comedido de suas narrativas singelas. Seu mérito derivava da fidelidade com que transplantavam da vida real para o papel literário as paisagens e as figuras da Alsácia.13 Mas, o romance tido como marco na obra de Inglês de Sousa é O missionário, que lhe assegura o lugar na coorte dos nossos primeiros naturalistas, como lhe chama Peregrino Júnior, “literatura de índole regionalista na Amazônia”: “Na primeira fase, de Inglês de Sousa e José Veríssimo – a dos homens da terra – mais fidelidade ao real, mais autenticidade, um comovido amor à gente e aos seus costumes.”14 Explica-se: como não haveriam Inglês de Sousa e José Veríssimo, por coincidência, ambos de Óbidos, de espelhar o sentimento nativo? O Missionário parece a Peregrino Júnior “romance denso e forte, mas prolixo, monótono, enfadonho, sem grande vivacidade. Contudo, um documento exato e minucioso da vida amazônica”. Considera que “sem dúvida, mais palpitantes e concisos, são os seus Contos da Amazônia”.15 Parece que o crítico não teve à mão O cacaulista, nem O coronel Sangrado, mas há muito de verdade no seu comentário quanto a O missionário, quando lhe exproba o excesso naturalista de pormenores, ainda que se exceda quando o considera cansativo e tedioso. O próprio Inglês de Sousa, tempos depois, em resposta a inquérito de João do Rio, no Momento Literário, escreveria, textualmente: Das poucas obras que hei publicado, prefiro O missionário, ainda que a sua fatura não corresponda ao meu modo atual de ver e sentir a natureza. O O 13 Ob. cit., p. 73. In: Coutinho, Afrânio, A literatura no Brasil, t. III, p. 227. 15 Ibidem, p. 228. 14 160 O fi c c i o nis ta In g l ê s de So u s a missionário é espesso e palavroso; tem, pelo menos, cem páginas a mais. Todavia, ainda hoje escreveria alguns capítulos como o da viagem do Padre, o dia do Chico Fidêncio, o enterro do Totônio Bernardino. O que acontece é que, à época, Inglês de Sousa, depois de ter elaborado, com êxito, o romance vivo, ligeiro, mordaz, que é O coronel Sangrado, julgou dever comprovar sua aptidão para a expressão mais densa, carregada, ao gosto naturalista do momento, o que fez em O missionário. Josué Montello diz que o “livro é grande e derramado”, vendo na preocupação naturalista a influência de Zola e do anticlericalismo de Eça em O crime do Padre Amaro. Bella Jozef, ao contrário, afirma que “não há sentimento anticlericalista n’O Missionário, apesar da idéia fixa no romance naturalista. Neste sentido afasta-se totalmente de Zola e outros romancistas da época. Ao contrário deles, o clérigo é ser humano e não obrigatoriamente repulsivo”. Suas intenções, envenenadas desde a origem por um sentimento anticristão, a saber, o orgulho e a presunção (conforme assinalou Sérgio Buarque de Holanda, baseado, aliás, no próprio texto do livro) teriam de ruir em face dos imperativos da herança e do meio. “Sua queda não decorre tanto da impossibilidade de cumprir aqueles deveres sagrados em condições adversas do meio social, como das bases fragílimas em que eles realmente assentavam, o que evidencia, a nosso ver, a religiosidade de Inglês de Sousa. Um ímpio não teria problemas de fé, como o autor. O que faz o Padre Antônio de Morais pecar é sua pouca fé, o falso conceito de santidade e misticismo, produto a ambição e da vaidade.”16 Na verdade, pode dizer-se que haverá n’O Missionário a inspiração de Cervantes para as figuras do Padre Antônio de Morais e de Macário, o sacristão, que lembram o Quixote e Sancho. Padre Antônio, cavaleiro da fé, que a pretende ver implantada na terra dos Mundurucus, à margem do Canumã, e idealiza a conversão dos silvícolas, “conquistando fama imorredoura, que levaria 16 Bella Jozef, ob. cit., p. 17. 161 O sca r Di as C o rrêa seu nome à remota posteridade, com os de Francisco Xavier e José de Anchieta”.17 Macário, assombrado e enfatuado pela proximidade do Padre, fica bem no papel de fiel escudeiro, como aliás lembra José Veríssimo: “... um Sancho Pança bem local, bem original, uma boa criação do Sr. Inglês de Sousa.” De passagem se diga que a crítica de Veríssimo é das mais exatas, porque alia ao conhecimento crítico a visão da vida local, também ele, como Inglês de Sousa, nascido em Óbidos. Analisa o romance detidamente, recorda-lhe os cenários e as personagens, para dizer: “O livro è um dos melhores, ao meu parecer, da nossa ficção em prosa,” embora lhe assinale um defeito: “A desproporção entre o assunto e o desenvolvimento que lhe deu o autor. O drama parece-me pequeno para tão grande cenário, o painel demasiado vasto para a pintura.” A análise de Veríssimo parece-nos consistente, quando conclui: Não creio que o naturalismo tenha produzido no Brasil obra superior a esta; mas nela mesma, estou em que o reconhecerá o próprio autor, deixou os vícios inerentes aos preconceitos das escolas. Na explicação, por exemplo, dos motivos do Padre Antônio de Moraes, há talvez demasiada minúcia, rebuscada análise, sobeja interpretação. Recorre também o romancista a noções científicas para robustecer a sua análise psicológica da alma e dos móveis da ação do seu protagonista, o que se me afigura um erro.18 Olívio Montenegro (ob. cit., loc. cit.) começa o estudo da obra de Inglês de Sousa dizendo que “há livros que são como certa espécie de gente: tem um destino caipora. Livros cheios das melhores virtudes, do ponto de vista intelectual e artístico, e não se sabe porque não se apercebem deles. Não apanham a menor popularidade”, para concluir que O Missionário é “o romance mais organicamente vivo e completo de quantos podemos filiar à escola naturalista do Brasil”, embora mal tratado pela crítica, o que comprova no exame percuciente que faz, concluindo: 17 18 O missionário. Ed. Topbooks, 1998, p 133. Estudos de literatura brasileira, vol. III. Garnier Editor, p. 31. 162 O fi c c i o nis ta In g l ê s de So u s a No livro de Inglês de Sousa o homem não sofre no meio da paisagem que o cerca: nem a paisagem parece diminuída ao contato do homem. Ele colocou a paisagem no seu justo plano, no plano que lhe cabe em todo o romance que é o fundo de quadro. O plano alto e que domina o resto da vida do homem é o da vida do padre Antônio Ribeiro de Morais, o missionário. Mas nada como ler a obra. Ou melhor, as obras, porque não há como não ler O cacaulista, História de um pescador, O coronel Sangrado, O missionário e os Contos amazônicos. Os Contos amazônicos, de 1893, reeditam o estilo mais livre de O cacaulista e O coronel Sangrado, sem a densidade da linguagem de O missionário, nas longas digressões que o Padre Antônio, de Silves, estabelece consigo mesmo, até a região perdida dos Mundurucus. Dedicado a Sílvio Romero, misturam fatos e abusões da região, não faltando os lances patrióticos de “Voluntário”, na guerra contra o Paraguai, e de “Rebelde”, nas lutas da cabanagem, reaparecendo em “Feiticeira”, em personagens de O cacaulista e O coronel Sangrado, como Miguel de Faria, Padre João e o boticário Anselmo; ou no “Acauan”, na intensidade da narrativa, que sublima o drama da antiga Vila de S. João Batista de Faro. O estilo toma, às vezes, o tom irreverentemente delicioso de O coronel Sangrado, quando anatematiza, no conto “Amor de Maria” a “maldita política” que, diz ele, dividiu a população, azedou os ânimos, avivou a intriga, e tornou insuportável a vida nos lugarejos à beira do rio”, para afirmar: Depois que o povo começou a tomar a sério esse negócio de partidos, que os doutores do Pará e do Rio de Janeiro inventaram como meio de vida, numa aldeola de trinta casas as famílias odeiam-se e descompõem-se; os homens mais sérios tornam-se patifes refinados e tudo vai que é de tirar a coragem e dar vontade de abalar destes ótimos climas, destas grandiosas regiões paraenses, ao pé das quais os outros países são como miniaturas mesqui- 163 O sca r Di as C o rrêa nhas. Sem conhecerem a força dos vocábulos, o fazendeiro Morais é liberal e o capitão Jacinto é conservador.19 Ou refere: “Alma generosa do povo brasileiro, quão mal apreciada és pelos eternos faladores da Câmara dos Deputados!”20 E não poupa os ingleses: Saindo do seu mutismo tradicional, o escrivão Ferreira contava numa roda de senhores que os ingleses não querem saber de santos, que adoram uma cabeça de cavalo, e se divertem socando as ventas aos amigos, para lhes aliviar com essa amistosa operação o cérebro sujeito a congestões violentas, pelo vapor da cerveja que sobe do estômago.21 Mas, não falta a Mariquinhas, a mais gentil rapariga de Vila Bela! Era uma donzela de dezoito anos, alta e robusta, de tez morena, de olhos negros, meu Deus! de cabelos azulados como asas de anum! Era impossível ver aquele narizinho, bem feito, aquela mimosa boca, úmida e rubra, parecendo feita de polpa de melancia, as mãozinhas de princesa, os pés da Borralheira, impossível ver aquelas perfeições todas sem ficar de queixo no chão, encantado e seduzido!...22 E vai num crescendo que só a leitura de “Amor de Maria” propicia. Mas, não devo exceder-me mais. Quaisquer tenham sido as influências que recebeu, sua obra merece, ainda hoje, ser lida, porque poucas existem, em nossa literatura, com as qualidades que apresenta, e tão bem espelhando a terra e a gente. É interessante dizer que, por mais longínquas possam ser as origens e fontes dos seus romances, topamos, no Sudeste, com algumas das personagens que brotaram no cenário amazônico e que ressurgem com a nitidez das que Inglês de Sousa nos legou. 19 Contos amazônicos, Laemmert & C. Editores,1893, pp. 59-60. Ibidem, p., 103. 21 Ibidem, p. 104. 22 Ibidem, pp.57-58. 20 164 O fi c c i o nis ta In g l ê s de So u s a Àquelas influências confessadas acrescentaria Cervantes, como lembrou Taunay, nas figuras do Padre Antônio de Morais e do sacristão Macário, Quixote e Sancho, bem como no estilo fluente, mordaz, satírico de O coronel Sangrado. Mas, prezados Confrades, são críticos literários muitos dos que aqui estão, consagrados pela obra; eu, leitor de muitas leituras e algum proveito, lhes direi apenas que é hora de reeditar Inglês de Sousa, para que se lhe faça justiça, dando-lhe lugar na galeria dos grandes autores brasileiros. Repetirei o que disse Rodrigo Octavio Filho, ao final de sua conferência, há cinqüenta anos: A maior homenagem que se poderia prestar à sua memória seria o reeditar-lhe a obra. Esperemos que isso aconteça, para que o seu espírito de homem de letras e jurista recupere o lugar que lhe compete em nossa vida cultural.23 Este o nosso objetivo ao resumir, nestas notas, nossa apreciação, renovando as homenagens que todos os brasileiros devemos a Inglês de Sousa, pela obra literária e jurídica que nos deixou, e que a posteridade, estou certo, não se esquivará de preservar e honrar, como esta Academia Brasileira de Letras, hoje, com ufania, faz. 23 Ibidem, p. 40. 165 Valentim Magalhães (1853-1909) Acervo do Arquivo da ABL O fundador Valentim Magalhães Alb er to Ven a nc io Fil h o A Academia Brasileira de Letras prossegue na série de conferências dedicadas ao centenário de falecimento dos fundadores, ampliando a iniciativa da gestão do saudoso Presidente Austregésilo de Athayde de homenagear o centenário de nascimento dos acadêmicos. Se examinarmos a relação dos quarenta fundadores de nossa Instituição, veremos que eram na época figuras expressivas do meio intelectual, mas o decorrer do tempo acarretou o esquecimento de alguns deles, cuja obra não teve permanência para chegar aos nossos dias. No ano passado ocorreu o centenário de morte de Urbano Duarte, fundador da Cadeira no 12, que passou no esquecimento, e o mesmo aconteceria com Valentim Magalhães, não fosse a feliz iniciativa do Presidente Alberto da Costa e Silva e do Secretário-Geral Ivan Junqueira. Desses fundadores, duas exceções se apresentaram então, a confirmar a escolha, Carlos Magalhães de Azeredo, com apenas vinte e Conferência pronunciada na Academia Brasileira de Letras, a 15 de abril de 2003, durante o ciclo Fundadores da ABL. 167 Al ber to Venanc i o Fi lho sete anos, que mal iniciava uma dedicada carreira literária, e Graça Aranha, que até então não escrevera nenhum livro, apenas o prefácio para a obra de Fausto Cardoso Concepção monística do Universo, porém vivia no ambiente da Revista Brasileira e cinco anos depois despontaria com a publicação de Canaã. O acadêmico Antônio Valentim da Costa Magalhães foi o fundador da Cadeira no 7 e escolheu como patrono Castro Alves. A escolha dos patronos se deu em fase posterior, muitas delas por critério de mérito, como Machado de Assis a José de Alencar, e outros por caráter pessoal que atendia também o critério do mérito, como o de Junqueira Freire por Franklin Dória. Outras foram de caráter regionalista, como a de Maciel Monteiro por Joaquim Nabuco, e Luís Murat escolheu por pura amizade Adelino Fontoura. É curioso que Rui Barbosa, ao invés de escolher um jurista afinado com suas atividades principais, tenha se voltado para um jornalista – Evaristo da Veiga – e há o caso de Raul Pompéia, escolhido por dois fundadores: Domício da Gama e Rodrigo Octavio, cabendo àquele a preferência e Rodrigo Octavio optando por Tavares Bastos. Valentim Magalhães escolhe um poeta, um dos maiores, Castro Alves, dando a entender que na atividade intelectual gostaria de ser considerado como poeta. Na fase prévia de organização da Academia, fundada por Lúcio de Mendonça, Valentim Magalhães não consta entre os dez acadêmicos que seriam nomeados pelo Governo, nem nos vinte a serem eleitos, e nem nos dez restantes que seriam correspondentes. Afastada a criação da Casa como órgão do governo, reúnem-se na sala da Revista Brasileira para a fundação, em 15 de dezembro de 1896, quinze pessoas, entre as quais Valentim Magalhães. É de supor que sua presença tenha sido por influência de Lúcio de Mendonça, de quem era particular amigo e com quem manteve extensa correspondência. 168 O fu ndado r V a l e n ti m M a g a l h ã e s Na segunda reunião de 23 de dezembro a que comparecem apenas onze pessoas, está presente novamente Valentim Magalhães. E na terceira reunião em 28, Rui Barbosa, Filinto de Almeida e Valentim Magalhães justificam a ausência em carta, quando é aprovado o projeto de estatuto. Na sessão de 4 de janeiro de 1897, da eleição da diretoria, não esteve presente Valentim Magalhães, nem na sessão de 18 de janeiro, mas na sessão de 28 de janeiro, em que se completa a eleição dos quarenta acadêmicos, comparece Valentim Magalhães. Curiosamente nem Lúcio de Mendonça nem Valentim Magalhães assistem à sessão inaugural de 20 de julho de 1897 e justificaram a ausência por carta, alegando enfermidade. Ocorreu algum incidente que magoou o fundador, sendo acompanhado por Valentim Magalhães? Valentim Magalhães passa a freqüentar a Casa a partir da sessão de 16 de maio de 1898 e as sessões de 6 e 16 de junho, e nessa sessão é nomeado, junto com Graça Aranha e Lúcio de Mendonça para compor comissão que iria estudar as propostas de sócios correspondentes. Comparece a várias sessões de 1898, 1 de julho, de 8 de agosto, 1 de outubro, 3 de outubro, eleição do Barão do Rio Branco, 30 de outubro, e 2 de dezembro. Há um período de ausência, incluindo a posse de Domício da Gama em 1 de julho de 1900, que se interrompe com a presença na sessão de 15 de maio de 1902, última a que comparece. E na sessão de 27 de maio de 1903 a ata declara laconicamente: “O Presidente Machado de Assis abriu a sessão e comunicou à Academia o falecimento de Valentim Magalhães.” Dos membros fundadores pode-se concluir que foram pessoas dedicadas à atividade literária, e muitos deles jovens, como Valentim Magalhães que em 1897 teria trinta e sete anos, mas já apresentava uma produção literária significativa, o mesmo ocorrendo com a grande maioria dos fundadores, embora no futuro muitos, como Valentim Magalhães, tivessem ficado na obscuridade. Valentim Magalhães foi sucedido por Euclides da Cunha, que no discurso de posse traçou-lhe o perfil completo e exaustivo, que guardaria parelha na sucessão da cadeira, em idênticos estudos, com os discursos de Afrânio Peixoto 169 Al ber to Venanc i o Fi lho sobre o autor de Os sertões, e o de Afonso Pena Júnior sobre o autor de A esfinge, ambos sem qualquer referência ao fundador. Coube ao meu mestre e nosso saudoso confrade Hermes Lima, sucedendo a Afonso Pena Júnior, traçar na síntese primorosa do seu estilo o retrato de nosso homenageado de hoje: O fundador Valentim Magalhães, morto na casa dos quarenta anos, foi tão vário e dispersivo que sua existência lembra uma torrente sem caminho. Prógono da “Idéia Nova” que na época vagamente sintetizava o movimento renovador da cultura, das letras e das artes, dotado de talento e ardendo na ânsia de viver, gozou de notoriedade e prestígio, produziu muito, porém improvisou demais. Ao sabor de solicitações contraditórias, cedo por elas é devorado como se não lhe tivesse sobrado tempo para colocar na faixa de seu destino a quota pessoal de realismo e disciplina que seu nome e sua vocação de escritor estavam a exigir. O sucessor Pontes de Miranda limitou-se à reduzida síntese biográfica, e a nossa colega Dinah Silveira de Queiroz vinculou a figura do patrono Castro Alves ao fundador: É ele, é Castro Alves, aquele jovem tão belo com sua larga testa, seus olhos fundos, seus cabelos fortes como se tivessem movimento, vivos na disparada de seus poemas, de sua “Vozes d’África”, que estaria agora influindo com sua profunda vocação todos os que se abrigaram à cadeira número sete desta Academia como patrono. E por um desses prodígios da bênção de padrinho imprimiria a nós, seus pupilos, uma direção. Eis aqui Valentim Magalhães, um dos fundadores da Academia que, em 1879, recita: “Ó luz, Ó liberdade! Não estás longe, não! Vens perto da verdade. Pois que o trabalhador começa a meditar!” O espírito revolucionário que poderia defluir também do sentido da obra de Castro Alves, acrescenta Valentim certa maneira satírica para estudar os escritores que lhe foram 170 O fu ndado r V a l e n ti m M a g a l h ã e s contemporâneos e... “Entre nós, quando um poeta e um prosador, ao cabo de haver-se arruinado a editar-se a si próprio, e de haver obrigado bom número de cidadãos incautos a ficar com as suas obras... de graça e de estar farto de se ouvir chamar célebre pelas gazetas – julga-se em caminho da notoriedade, para fora do reposteiro negro da obscuridade, passa um dia, inesperadamente, pelo amargo desengano, pela decepção de ouvir perguntar-lhe um dos seus colegas de repartição ou um dos seus habituais companheiros do café, do bonde ou da charutaria: – Como? Pois também você é literato? Não sabia. Aquele ‘também’ é característico e, como sintoma, vale bem um império. E o nosso confrade e amigo Sergio Corrêa da Costa, atual ocupante da cadeira, vinculou-o aos objetivos da Academia: O fundador da cadeira – Valentim Magalhães – revelou sempre intensa preocupação com o Brasil e sua cultura, seja na liderança intelectual que exerceu, seja na continuada prática do jornalismo, em que fixou temas e aspectos da nossa realidade social e política, até então escassamente apreciados. Seu empenho junto aos demais fundadores desta Academia, no sentido de dar à Instituição um cunho nacional, eminentemente representativo das tendências e características de todas as regiões do País, confirma esse traço marcante que procuro assinalar. O início Valentim Magalhães era filho legítimo de Antônio Valentim da Costa Magalhães e de D. Maria Custódia Alves Meira, aquele de nacionalidade portuguesa e esta carioca e filha de negociantes abastados do Rio de Janeiro. Nasceu nesta capital, a 16 de janeiro de 1859, na antiga Rua Conde d’Eu, hoje Frei Caneca, 58, num domingo, e alguns meses depois era batizado na Igreja de Santo Antônio dos Pobres, e recebeu o nome de Antônio. 171 Al ber to Venanc i o Fi lho Tinha um ano de idade apenas quando se viu órfão de mãe, mas não lhe faltaram os cuidados do pai, por ele criado e educado; e com seus tios Dr. João Alves Meira e D. Maria Quitéria Alves Meira aprendeu as primeiras letras. Depois de cursar por algum tempo as aulas do Colégio Fábio Reis, fez os seus estudos preparatórios no antigo internato de São Francisco de Paula, sito no Largo do Rocio (atual Praça Tiradentes), no mesmo edifício onde funcionou mais tarde o Clube Naval. No livro Alma há uma página evocativa da figura bondosa do Cônego Belmonte, velho diretor do Colégio, recordando com saudades aqueles primeiros tempos. Os jornais tinham noticiado o falecimento do mestre, e isto despertou na alma do antigo discípulo uma recordação da infância. Valentim Magalhães manifestou desde cedo pendor para as letras e já aos treze anos colaborava em alguns jornais de província. Em 1876, com dezessete anos, seguiu para São Paulo e no ano seguinte matricula-se na Faculdade de Direito. Rui Barbosa, chegando a São Paulo para concluir o curso de Direito, escreveu a um parente na Bahia: “Estou engolfado na vida acadêmica.” A vida acadêmica não era a freqüência às aulas e o estudo dos manuais, mas sobretudo a participação nos clubes literários, nos jornais estudantis, nos grêmios abolicionistas e republicanos, nas lojas maçônicas. Foi essa vida acadêmica que Valentim Magalhães encontrou ao fixar-se em São Paulo. Logo no primeiro ano foi eleito redator do Labarum, com Eduardo Prado, e colaborou na República, órgão do Club Republicano Acadêmico, a que se havia filiado. Nessa última folha, dirigido então por Lúcio de Mendonça e Manhães de Campos, publicou Valentim os seus primeiros folhetins chistosos e críticos. Nesse mesmo ano, além de um poemeto elegíaco sobre o general Osório, publicou ele, em colaboração com Silva Jardim, um livro em prosa e verso, Idéias de moço, rematando com um conto fantástico “O grito na treva”, escrito a duas penas, no gosto byroniano, à maneira da Noite na taverna de Álvares de Azevedo. 172 O fu ndado r V a l e n ti m M a g a l h ã e s Os poetas mais festejados na Academia naquele tempo eram Teófilo Dias, Afonso Celso, Assis Brasil e Valentim Magalhães; mas em 1879 a nomeada deste último superara o estreito círculo acadêmico com a publicação dos Cantos e lutas, livro de poesias que a imprensa acolheu com aplausos. E desde então, integrando o jornalismo, começou a escrever nos jornais de maior importância e maior circulação de São Paulo e da capital: a Província de S. Paulo, o Correio Paulistano, a Gazeta de Notícias, a Gazeta da Tarde, o Globo. Em 1880 colabora com a Evolução, folha republicana e federalista, dirigida por Júlio de Castilhos e Assis Brasil, com cooperação de Pereira da Costa, Alcides Lima, Antônio Mercado, Teófilo Dias, Homero Batista, Pedro Lessa e outros estudantes. Tendo ido a São Paulo em março apenas para se matricular no quarto ano, permaneceu toda a época letiva fora daquela cidade. Publicou então vários contos e poesias e escreveu folhetins na Gazeta de Notícias, e esta lhe editou o poemeto “Colombo e Nenê” para distribuição como prêmio aos assinantes; freqüentou as rodas literárias da capital, onde o espírito e o talento lhe fizeram adquirir inúmeros amigos e admiradores; e, gozando das larguezas proporcionadas pela recente lei do “ensino livre”, só voltou a São Paulo em novembro, para prestar os exames, nos quais foi plenamente aprovado, apesar de não haver assistido às respectivas aulas. Em 1881, Valentim Magalhães fundou em São Paulo a Comédia, de que foi redator, primeiro com Silva Jardim, e depois com Eduardo Prado. A Comédia era de publicação diária e durou pouco menos de três meses, de 2 de março a 23 de maio. A turma que se formou em 1881 contou figuras expressivas: Francisco de Paula Paiva Baracho, juiz em São Paulo; Aristides de Araújo Maia, deputado à Constituinte Republicana; Job Marcondes de Rezende, advogado, Manoel José Villaça e Arlindo Ernesto Ferreira Guerra, magistrados de alto conceito; Estevam Leão Bourroul, justamente cognominado o Veuillot Brasileiro; Júlio Prates de Castilhos, o político rio-grandense; Raphael Corrêa da Silva Sobrinho e João Braz de Oliveira Arruda, lentes da Faculdade; João Passos, que, por muitos anos, exerceu com brilho as funções de procurador-geral do 173 Al ber to Venanc i o Fi lho Estado de São Paulo; João Antônio de Oliveira César; Isaías Martins de Almeida e Leopoldo Teixeira Leite, advogados afamados; Manoel Ignácio Carvalho de Mendonça, eminente civilista, a quem se devem a Doutrina e Prática das Obrigações, Rio e Águas Correntes e Contratos no Direito Civil Brasileiro; Theófilo Dias de Mesquita e Eduardo Paulo da Silva Prado. Diz Euclides: Destacara-se (Valentim) notavelmente, granjeando invejável nomeada entre conterrâneos que se chamavam Júlio de Castilhos, Silva Jardim, Barros Cassal, Teófilo Dias, Eduardo Prado, Raul Pompéia, Lúcio de Mendonça, Assis Brasil, Afonso Celso, Fontoura Xavier, Augusto de Lima, Alcides Lima, Alberto Sales, Pedro Lessa, Luís Murat, Júlio de Mesquita, Raimundo Correia. Ora, Valentim foi a figura representativa no meio de tão díspares tendências, por isto mesmo que lhe faltou sempre uma diretriz à atividade dispersiva. Spencer Vampré, falando dessa fase, diria: “Valentim Magalhães, espírito vibrante e combatido de poeta, de jornalista, e de crítico”, e dele transcreve: A nau da vida Veleja a nau da Vida... De repente : – “Mais um!” brada Saturno, e às ondas lança O cadáver de um ano... Docemente Desliga o barco, ao sopro da Esperança. Canta, na tolda, a Juventude ardente; Chora a Velhice, e invalida descansa; E a Morte, – nuvem negra –, indiferente, Por sobre as águas pérfidas avança. – “Mais um!” repete o nauta apavorado; Como um fúnebre pêndulo, oscilando 174 O fu ndado r V a l e n ti m M a g a l h ã e s Na dúvida, que o punge e que o tortura; – E enquanto ao sol da vida, rutilando, Lhe aquece e beija o crânio atordoado Vai-se-lhe abrindo aos pés a sepultura. Sá Viana, nos Esboços críticos da Faculdade de Direito de São Paulo em 1879, relatou com ironia a situação do corpo discente, falando dos “estudantes que são todos que vão diariamente ao convento ou mesmo que lá não vão, mas pagam a matrícula à Fazenda Nacional. Classe que representa poucos, pois a aridez e força dos estudos fazem recuar grupos numerosos que se limitam a adquirir conhecimento geral. Nesse grupo está Valentim Magalhães”. Considera Sá Viana que, de todos os ramos da literatura na Faculdade de São Paulo, era a poesia que merecia o devido cultivo e aponta dois estudantes que pensavam na mesma coisa, a poesia, Raimundo Correia e Valentim Magalhães. E deste último comenta: “É moço inteligente, podia ser bom estudante de direito se se dedicasse com mais seriedade ao estudo, mas não, é poeta.” Diz Euclides da Cunha: Os primeiros quinze anos de Valentim Magalhães coincidem com uma fase de profundas mudanças da nossa existência política. De 1860, ao levantar-se o preamar democrático, simbolizado em Teófilo Otoni e rugindo na “Mentira de Bronze” de Pedro Luiz, a 1870 e 1875, quando a monarquia perdeu, uma após a outra, as muletas da aristocracia territorial e da Igreja – foi tão intensiva a decomposição do antigo regime que o simples enfeixar as frases acerbas dos maiores chefes de seus partidos é uma missão de Tácito, e não se compreende que se perdesse tanto tempo para realizar-se o passeio marcial de 15 de novembro de 1889. Assim, a juventude do escritor aparelhava-se para a vida, quando em torno à sociedade se alterava, apercebendo-se de novos elementos para existir; e isto precisamente no cenário mais revolto de uma tal metamorfose. 175 Al ber to Venanc i o Fi lho A geração de que Valentim Magalhães foi a figura mais representativa, devia ser o que foi: fecunda, inquieta, brilhantemente anárquica, tonteando no desequilíbrio de um progresso mental precipitado a destoar de um estado emocional que não poderia mudar com a mesma rapidez; e a sua vida, a sua carreira literária vertiginosa, toda disposta a nobilíssimas tentativas reduzidas a belíssimos preâmbulos, a nossa própria vida literária, impaciente e doidejante, brilhando fugazmente à superfície das coisas, inapta às análises fecundas pelo muito ofuscar-se com as lantejoulas das generalizações precipitadas. Formado, volta ao Rio. Em carta a Lúcio de Mendonça diria: “No dia 15 de maio de 1882 devo partir com a família – mulher e filho – para a cidade de Piraí que V. conhece bem; aí vou trabalhar com o meu grande, com meu maior amigo, o tio José Alves Meira, que V. também conhece e estima, certamente.” A estada foi curta e retornou em pouco tempo para se desdobrar em vários empregos. Em dezembro de 1883 mudava de planos: “Tomei uma decisão heróica. E aqui me tens. Mudei-me do teu berço para o meu berço. Não é que eu lá não arranjasse a vida às 500 maravilhas (mil seria exagero) o foro ainda rende bastante, além disso eu trabalhava como o Meira, meu protetor e meu amigo.” E queixando-se da profissão: “Aquilo de só ver o nariz dos escrivães, as orelhas dos juízes, as unhas dos colegas, a cauda dos políticos – aquilo matava-me lentamente. Não trepidei, abracei o Meira, disse um adeus ao teu berço e cá estou. Fiz bem? Fiz mal? Não o sei.” E falando das novas atividades: “É preciso que saibas que ganhando dez réis de mel coado, sou entretanto um dos homens apensionados desta cidade heróica. Tenho a Gazeta, tenho a Semana, tenho a Escola Normal (onde finjo ensinar pedagogia); tenho os exames de português na instrução pública, tenho uma advocacia manhosa, tenho inúmeros cacetes, tenho o diabo.” Em confidência a Lúcio: “Se eu tivesse ficado em tua terra, ganharia a mesma importância, mas não pude suportar aquilo. Voei de lá para aqui e, embora 176 O fu ndado r V a l e n ti m M a g a l h ã e s não folgadamente, vou indo. Trabalho muito, é verdade, mas ao menos ando com o espírito arejado, leve, satisfeito.” Fundou em 1885 A Semana e este periódico, estritamente literário, fez o milagre de durar numa primeira fase três anos. Mas para isto, à parte um concurso notável, em que se extremavam Urbano Duarte, Raul Pompéia, Alfredo Sousa e Luís Rosa, despendeu o melhor da sua atividade e quanto lhe adviera da herança paterna. Mas não vacilou ante a ruína. “Iludia-se quem lhe medisse a fortaleza pela volubilidade. Era um caráter varonil blindado de uma jovialidade heróica. Tinha esse recato do sofrimento que é a única expressão simpática do orgulho. Os seus melhores amigos jamais lhe divisaram desânimos.” Tive ocasião de compulsar a coleção quase completa que a Biblioteca da Academia possui de A Semana e verificar a alta qualidade do periódico, com excelente apresentação gráfica, publicação certa, seções variadas, sem falar no excelente corpo de colaboradores. Ao lançar o primeiro número da A Semana em 3 de janeiro de 1885, diria Valentim Magalhães: Dissemos nos prospectos com que anunciamos a criação desta folha: “A Semana constitui uma novidade para o público. E acreditamos não havermos enganado o público.” As razões que tínhamos e temos para pensar que A Semana é uma novidade são as seguintes, apontadas nos prospectos: Não é propriamente uma revista, como as que até hoje tem havido. Publicação hebdomadária, terá, no entanto, o caráter de um jornal diário. O seu fim único será este: – fazer a história completa e fiel da semana, decorrida, dando a nota do dia. Para isso terá seções em que se ocupará com tudo quanto tenha sido feito na semana em ciências, artes, letras, comércio, indústria, costumes, religião, etc., oferecendo aos leitores uma curta notícia, satisfatória e imparcial, de todos os fatos que em todos esses ramos de atividade se tiverem realizado nos sete dias decorridos. No intuito de auxiliar os jovens escritores de talento, aceitará A Semana qualquer trabalho literário em harmonia com a sua índole e o seu programa, 177 Al ber to Venanc i o Fi lho publicando-o e pagando-o ao seu autor, de conformidade com a tabela da folha. A primeira das condições para a aceitação desses trabalhos será a responsabilidade de seus autores. Sobre o andamento de A Semana escrevia Valentim a Lúcio de Mendonça em junho de 1885: “Estamos precisadíssimos de dinheiro. A coisa vai bem, mas de fora das províncias, onde contamos grande número de assinantes, superior aos da Corte, pouco dinheiro tem vindo. E isto é o diabo atualmente em que nos metemos em grandes despesas: tipografia, casa na Rua do Ouvidor, etc. Tem paciência meu velho, e arranja-me esse par de botas ... pecuniárias.” Em dezembro de 1897 comentava o fracasso em carta ao mesmo destinatário: “Obrigado pelos teus pêsames pela degringolade da A Semana. Apesar dos pesares, ainda me julguei feliz vendendo tudo por uma tuta e meia, assumindo a responsabilidade das dívidas passivas, que são muitas, e perdendo todo o dinheiro que ali enterrei, porque mesmo assim, não me estourou a folha nas mãos, passei-a adiante, desobriguei-me com os assinantes e não fiz inteiro fiasco. Ao contrário, parece-me que consegui sair-me bem de tão terrível aperto. Agradeço-te cordialmente, meu bom e bravo Lúcio, o muito que pela minha pobre Semana fizeste. Rei morto, rei posto. Vou meter-me noutra!” Desde o primeiro número havia uma seção História dos sete dias, comentando os fatos da semana, inicialmente sempre assinada por Valentim Magalhães e em números subseqüentes com outras assinaturas, que parecem ser pseudônimos do diretor, como Valmor N.N., José Reis Filho. A revista teve vários endereços: a Travessa do Ouvidor, 36, sobrado; Rua do Ourives, 51; e afinal Rua da Quitanda, 34, bem próximo do escritório de Rodrigo Octavio nos altos da Farmácia Araújo Pena, onde se realizaram as primeiras sessões da Academia. Valentim Magalhães era o redator chefe e seus redatores, todos futuros acadêmicos: Filinto de Almeida, Aluísio Azevedo, Luís Murat e Urbano Du- 178 O fu ndado r V a l e n ti m M a g a l h ã e s arte. A colaboração era a mais variada. Machado de Assis foi um colaborador eventual e Capistrano de Abreu escreveu sobre temas históricos. A Semana realizou um concurso sobre o maior poeta brasileiro, sendo vencedor Gonçalves Dias e em segundo lugar Castro Alves, e manteve por certo período a seção Galeria de Elogios Mútuos, em que um escritor escrevia a biografia do outro. A Semana reaparece em julho de 1895, sob a direção de Valentim Magalhães e Max Fleiuss (1868-1943). O prospecto de lançamento, assinado pelo primeiro, dizia, entre outras coisas: O que foi este periódico, que, sob minha direção, existiu nesta capital de janeiro de 1885 a novembro de 1887, sabe-o todo o Brasil, cujo movimento literário representou durante aquele período [...] A sua influência sobre o movimento literário e artístico do Brasil foi tão patente [...] que acredito que a notícia do ressurgimento d’A Semana será recebida com vivo júbilo e geral aprovação. Afirmava então ser oportuno o aparecimento: Há quatro anos que o espírito público vive absorvido, ocupado, oprimido pela Política, com opor uma obsessão pesada e funesta. As letras retraíram-se quase completamente e o nível intelectual tem descido de modo inquietante, perceptível aos olhos menos sagazes [...] As incertezas e atribulações do atual momento político vão produzindo sobre a alma nacional uma depressão tão funda e penosa, que é tempo de abrir-lhe um respiradouro, de rasgar-lhe uma janela, aonde ela venha haurir um ar puro, álacre, oxigenado vigorosamente pelas serenas produções da literatura contemporânea. A Semana terá agora os mesmos colaboradores de então, além dos escritores novos que a queiram honrar com as suas produções. Não terá prevenções, nem coteries, nem preconceitos literários. Procurará ser moderna, sem 179 Al ber to Venanc i o Fi lho acompanhar contudo as extravagâncias e despropósitos nascidos na sede de ser novo, de ser original por qualquer modo. A Semana apareceu em 1885 pela mesma razão por que vai reaparecer em 1893: porque o estado cultural dos espíritos determinava esse fato naquele momento histórico. Ao reiniciar a nova fase de A Semana em 1895, já contando com um eficiente administrador, Valentim Magalhães atribuía o insucesso da fase anterior à falta de capital para os melhoramentos: “Não chegavam as assinaturas e os anúncios para fazer face às despesas excessivas. Tive de sacrificar o meu bolsinho. Esgotado ele e sem elementos novos para a luta, desanimei e passei a folha adiante. Poucas semanas depois finava a probrezinha.” Mas afirmava ser A Semana “a única de minhas obras de que imodestamente me orgulho”. Nessa nova fase, o periódico vai durar até junho de 1897. Entre as suas promoções de 1895 figurou o concurso entre os leitores para saber quis “os seis melhores romances escritos em língua portuguesa”, com o seguinte resultado: 1o lugar – Os Maias 2o lugar – O primo Basílio 3o lugar – Memórias póstumas de Brás Cubas 4o lugar – A relíquia 5o lugar – A mão e a luva 6o lugar – O Ateneu Vendo na Semana uma capela de elogio mútuo, tacitamente antipática aos valores emergentes das novas gerações, Luís Murat e Artur Azevedo fundaram a Vida Moderna, episódio relatado por Coelho Neto, anos mais tarde, nas páginas de A conquista. Valentim Magalhães tinha uma produção febril. Em 1886 escreveu Vinte contos; em 1887, Horas alegres; publicou, refundidas em 1888, as Notas à margem; em 1889, Escritores e Escritos... “Vede: não há a solução mais breve no duodecê- 180 O fu ndado r V a l e n ti m M a g a l h ã e s nio que percorremos. Não se pula uma data sem pular-se um livro. O escritor violou doze vezes seguidas o nonum primatur in anno...” Diz Euclides, comentando o período: De 1889 a 1895 houve aparente descanso. A República, feita numa madrugada, criara a ilusão de grandes coisas feitas da noite para o dia. Valentim, como todos, vacilou na vertigem geral. Ordinariamente se acredita que o empolgasse o anseio da fortuna fácil, naquela quadra que a ironia popular ferreteou com o nome de ‘encilhamento’. Com efeito, salvante alguns artigos esporádicos, o incansável homem de letras parecia mudado num infatigável homem de negócios. E fundou – como toda a gente – uma companhia. Mas considerai como o sonhador desdenhou as voltas retorcidas dos cifrões e alinhou parcelas como se alinhasse versos; aquela ‘Educadora’, que se transformou depois numa vulgar companhia de seguros, era uma fantasia comercial. Não segurava vidas, segurava inteligências; e o segurado, ao invés de um ajuste sinistro com a morte, a troco de alguns contos de réis, garantia a educação dos filhos. O devaneio mercantil não vingou. Na expressão de Caio Prado Júnior sobre o Encilhamento: A quase totalidade das novas empresas era fantástica e não tinha existência senão no papel. Organizavam-se apenas com o fito de emitir ações e despejá-las no mercado de títulos, onde passavam de mão em mão em valorizações sucessivas. Chegaram a faltar nomes apropriados para designar novas sociedades, e inventavam-se as mais extravagantes denominações. A transformação terá sido tão brusca e completa que revemos as próprias classes e os mesmos indivíduos mais representativos da monarquia, dantes ocupados com a polícia e funções similares, e no máximo com uma longínqua e sobranceira direção de suas propriedades rurais, mudados subitamente em ativos especuladores e negocistas. Ninguém escapará aos novos imperativos da época. 181 Al ber to Venanc i o Fi lho Assim ocorreu com Valentim Magalhães, que dedicado à literatura e ao jornalismo, se abalançou a criar uma companhia de seguros, “A Educadora”, com fins de garantir a educação dos jovens. Não é preciso dizer que esse empreendimento teve completo fracasso. Também o futuro Acadêmico Emílio de Menezes empenhou-se nessa aventura, da qual redundou apenas um sólido prejuízo. Cabe relatar episódio curioso ocorrido com nosso confrade e decano, o Acadêmico Josué Montello. Certa vez Afonso Pena Júnior, diretor de bancos e de companhias de seguros, pediu-lhe que falasse a um grupo de empresários no Dia Internacional do Seguro. Josué Montello fez então uma explanação da vida e obra de Valentim Magalhães, com grande espanto dos presentes, para afinal declarar que escolhera essa figura, pois fora fundador de uma companhia de seguros. Passado este interregno Valentim reavivou-se, e no qüinqüênio de 1895-1900 continuou a marcar os anos pelos livros e opúsculos: em 1895, Filosofia de algibeira; Bric-à-Brac, em 96; em 97, o seu primeiro romance, Flor de sangue; Alma e Rimário, em 98-99 – deixando prontos quatro outros: Fora da Pátria, Na brecha, Novos contos e Outono, que lhe demarcariam, na mesma progressão, os quatro últimos anos de existência... Valentim Magalhães foi jornalista, escritor, poeta, contista, teatrólogo, romancista e deixou uma vasta produção literária, nesta conferência só sendo possível analisar as principais. O poeta Na juventude e especialmente na poesia foi o mentor da Idéia Nova, movimento que não teve grande repercussão, mas que representava uma idéia de renovação do ambiente intelectual. No ensaio A Nova Geração, refere-se Machado de Assis a dois poetas, Fontoura Xavier (de que cita poesias avulsas e um opúsculo, “O Régio Saltimbanco”) e Valentim Magalhães, que já a essa altura havia publicado os livros Idéias de moço (1878), em colaboração com Silva Jardim, a quem pertence a parte em prosa, e Cantos e lutas (1879), nos quais seguira a corrente socialista. Registrou Machado de Assis: 182 O fu ndado r V a l e n ti m M a g a l h ã e s O primeiro livro de Valentim Magalhães sabemos já que na opinião dele, a Idéia Nova é o céu deserto, a oficina e a escola cantando alegres, o mal sepultado, Deus na consciência, o bem no coração, e próximas a liberdade e a justiça. Não é só na primeira página que o poeta nos diz isto; repete-o no “Prenúncio da aurora”, “No futuro”, “Mais um soldado”, é sempre a mesma idéia, diferentemente redigida, com igual vocabulário. Pode-se imaginar o tom e as promessas de todas essas composições. Numa delas o poeta afiança alívio às almas que padecem, pão aos operários, liberdade aos escravos, porque o reinado da justiça está próximo. Noutra parte, anunciando que pegou da espada e vem juntar-se aos combatentes, diz que as legiões do passado estão sendo dizimadas, e que o dogma, o privilégio, o despotismo, a dor vacilam à voz da justiça. Nessa contradição, que o poeta busca dissimular e explicar, há um vestígio da incerteza que, a espaços, encontramos na geração nova, – alguma coisa que parece remota da consciência e nitidez de um sentimento exclusivo. É a feição desta quadra transitória. Quer o Sr. Valentim Magalhães que lhe diga? Essa idéia, a que emprestou alguns belos versos, não tem por si nem a verdade nem a verossimilhança; é um lugar-comum, que já a escola hugoísta nos metrificava há muitos anos. Hoje está bastante desacreditada. Tem o Sr. Valentim Magalhães o verso fácil e flexível; o estilo mostra por vezes certo vigor, mas carece ainda de uma correção, que o poeta acabará por lhe dar. Creio que cede, em excesso, a admirações exclusivas. As idéias dele são geralmente de empréstimo; e o poeta não as realça por um modo de ver próprio e novo. Crítica severa, mas necessária, porque o Sr. Valentim Magalhães é dos que têm direito e obrigação de a exigir. Silva Jardim, com quem escreveu Idéias de moço (1868) afirma: “Valentim Magalhães é um petroleiro, vive embriagado pelas idéias modernas, roncando contra o obscurantismo, a inquisição, os reis, e os padres, seduzido pela casta idéia, a liberdade.” 183 Al ber to Venanc i o Fi lho Como poeta, segundo Raimundo Corrêa, “Valentim Magalhães, em seguida ao lirismo dos verdes anos e da primeira adolescência, fez-se adepto fervoroso da escola social. Esta escola poética que, com vários corifeus ilustres no Brasil e em Portugal, tentou substituir ao subjetivismo exagerado dos românticos o seu objetivismo abstrato e por demais palavroso, esteve muito em voga entre nós, até à época do centenário de Camões, acontecimento que veio dar à literatura nacional uma nova e mais segura orientação. Por esse tempo foi que Valentim publicou os seus Cantos e lutas, obra adaptada aos moldes daquela escola. Três são as poesias que a crítica destacou aí com mais vivos elogios: “Os dois edifícios”, “O herói moderno” e “Prenúncio de aurora”. A primeira delas acabou por figurar em várias antologias escolares, parecendo que a este fim mesmo é que estava destinada; a segunda foi excluída, pelo autor, do seu Rimário; e a última é ainda hoje um dos melhores spécimens da escola.” Sílvio Romero, na História da Literatura Brasileira, adotando espírito classificatório, trata dos vários períodos da poesia, e aponta na reação ao Romantismo (1872 ou 1873 em diante) uma poesia realista, uma vez social, revolucionária outras, e incluía junto com Valentim Magalhães, Carvalho Júnior, Fontoura Xavier, Lúcio de Mendonça, Augusto de Lima, aos quais se prende Medeiros e Albuquerque. Descrevendo a Idéia Nova, Euclides esclarece: Não maravilha que a nova geração, do avançar aforrado, não soubesse, afinal para onde seguir. Apenas um exíguo grupo se destacou: arregimentou-se em torno de um filósofo; e afastou-se. Ninguém mais o viu – e mal se sabe que ele ainda existe, reduzido a dois homens admiráveis, que falam às vezes, mas que se não ouvem, de tão longe lhes vem a voz, tão longe eles ficaram no território ideal de uma utopia, no dualismo da positividade e do sonho... 184 O fu ndado r V a l e n ti m M a g a l h ã e s O resto ficou numa fronteira indecisa a tatear dentro de uma miragem que, à falta de melhor nome, se chamou durante muito tempo a Idéia Nova. Que era a Idéia Nova? Eu poderia responder-vos que era uma coisa muito velha, uma curiosa infantilidade de cabelos brancos, ou uma novidade de cem anos – mas prefiro a palavra de um poeta do tempo. Escutemo-lo: Está deserto o céu. No grande isolamento, Palpita ensangüentado o sol – um coração... Mas os deuses de Homero, o Jeová sangrento, Alá e Jesus Cristo, os deuses onde estão? Morreram. Era tempo. Agora encara a terra: Ressoa alegre a forja e sai da Escola um hino. O gênio enterra o mal em uma negra cova. Deus habita a consciência. O coração descerra Aos ósculos do Bem o cálix purpurino. Vem perto a Liberdade. É isto a Idéia Nova. Os versos são de 1879 e o poeta, à volta dos vinte anos, chamava-se Antônio Valentim da Costa Magalhães. Valentim, na nota final de Rimário, último livro de poesia (1900), escreveu, referindo-se à esposa: “Nos Cantos e lutas, em Alma e neste livro encontram-se, palpitantes, os vestígios e os influxos de minha ventura doméstica, hoje extinta. Não é à memória d’Ela própria, viva, presente, inapagável, como existe e existirá, sempre, no meu espírito e no meu coração. Este livro abre por um adeus, em 1878, o de um curto afastamento, e termina com um adeus, em 1899, o da Morte, o do afastamento infindável. Estas datas marcam a alvorada e a noite de um dia de primavera luminoso e flóreo, e, por isso mesmo, demasiado rápido, – a minha mocidade!” 185 Al ber to Venanc i o Fi lho O que finaliza aí, porém, não é somente a mocidade do poeta, é a sua própria vida, pois ele não tardou muito em seguir ao túmulo a esposa idolatrada. Rimário (1878-1899), publicado em 1900, último livro de poesia, é a síntese da produção poética de mais de vinte anos, escoimada dos versos que excluiu. Nas notas fala do sucesso do primeiro livro, Cantos e lutas, da absorção pela prosa: Fui sendo esquecido como poeta, passei de moda. [...] A princípio fui gênio, mas tarde coisa nenhuma, hoje César, João Fernandes amanhã. Passaram muitos anos e passaram alguns lustros. Bons ou maus, os meus livros de prosa foram sucedendo-se, empilhando-se. Ultimamente lembrou-me juntar-lhes, para que não houvesse essa falha na minha obra total, o livro, ainda por fazer, dos meus versos feitos. Não alimento ilusões sobre a sorte deste livro. Nele vai a minha mocidade, a melhor porção da minha existência, o mais forte do meu cérebro, o mais puro do meu coração. É a minha vida que passa cantando, cantando suas aspirações e seus sonhos, seus desenganos e suas paixões, seus gozos e seus martírios. É desse livro o poema a Machado de Assis: Honremos altamente esse que ensina A subjugar os metros revoltosos; Esse que torna os ares sonoros Com a doce voz da lira peregrina; Esse que da poesia os puros gozos Liberalmente aos corações propina; E tem da forma a religião divina Apostolado aos crentes sequiosos; Esse que arranca aos rígidos vocábulos A música rebelde e fugidia; 186 O fu ndado r V a l e n ti m M a g a l h ã e s Que da língua os diamantes corta e lavra E tange à rima os áureos tintinabulos. Honra ao mestre da Prosa e da Poesia, Ao vencedor da Idéia e da Palavra! O contista Em 1882 publicou os Quadros e contos, segundo Euclides “livro prometedor, onde refulgem páginas descritivas de excepcional colorido, avivadas todas daquela galanteria do escrever, que raro o abandona – e que se acaso o abandona é para tornar maior. Realmente, joeirando-se todos os seus versos escritos em 1883, talvez nos restassem apenas três sonetos; mas estas 42 linhas perduram nas nossas letras como a expressão mais eloqüente de uma saudade ao mesmo passo excruciante e encantadora na sua tocante singeleza. Falecera-lhe o pai extremosíssimo, e Valentim, que até então escrevera para toda a parte, num insofregado anelo da consideração coletiva, – surpreendido pela desdita, confiou, chorando, a alma da sua esposa, aquele poema de duas páginas, ‘O nosso morto’.” Quadros e contos é, na opinião de Wilson Martins, uma reunião de contos propriamente ditos (nenhum deles “naturalista”, no sentido exato da palavra, mas todos de intenção “realista” evidente) e de páginas que poderíamos denominar de crônicas, na acepção mais vaga do vocábulo. Dentre estas últimas, a mais impressionante é a desmistificação da vida acadêmica e, em particular, da legendária Academia de São Paulo, a propósito da cerimônia de colação de grau: A colação de grau não se realiza em um só dia para todos os bacharelandos; mas dia a dia, e a quatro, depois de haverem prestado no derradeiro ato as derradeiras parvulezas jurídicas. Para essas festas acadêmicas não interrompe os seus deliciosos hábitos de inveterada porcaria. 187 Al ber to Venanc i o Fi lho O velho convento conserva as suas vidraças bordadas a pedra, trabalho da revolução de 71, a negra e abundante varíola que lhe sarapinta as paredes, trabalho do tempo, as suas fealdades clássicas, as suas enfermidades sujas e legendárias [...] Continua, – isto agora quanto ao interior – a estender sob as arcarias degringolantes e gafadas o mesmo estilo de corredores: preciosos depósitos dos escarros de 20 gerações de bacharéis, que aí se acumulam – os escarros e não os bacharéis – em gloriosas máculas escuras [...] A sala designada para o ato não se enfeita, não se apelintra, não se lava; não é varrida ao menos [...]. Escapou-me observar que não há em todo o edifício da academia uma sala especial, que digo eu?... um banco, um reles banco de pinho, para receber as famílias que concorrem ao ato, enquanto o esperam. As senhoras, em grande tenue, conservam-se de pé, gentilmente alinhadas à parede, sendo forçadas a ter suspensas pelas pontas dos dedos as pomposas traînes dos vestidos ricos, a fim de não inutilizá-los, pousando-os no chão [...]. Enquanto com todo o vagar, a portas fechadas, se lavra a ata e se preparam as coisas para a cerimônia, toda essa pobre gente amarrota-se, abafa, desespera e sua; os homens sinistramente vermelhos, abotoados na suas redingotes, enforcados nos seus colarinhos novos e nas suas gravatas brancas, dessorando mau humor e péssima pomada húngara. E assim prossegue a página terrível, com que nos curar para sempre de todas as idealizações póstumas que se vieram acumulando desde o período romântico sob as “arcadas” do Largo de São Francisco; período estudado com idênticas conclusões em meu livro Das Arcadas ao bacharelismo. “Os contos do volume são convencionais e indecisos entre o sentimentalismo romântico e algumas ‘notações’ que se querem realistas, mas pertencentes, na verdade, àquele ‘realismo’ do monstruoso e do grotesco em que o romantismo também se comprazia.” Notas à margem – diz Euclides – recordam uma escaramuça agitadíssima, estonteadora, sem rumos, à caça do imprevisto, onde não há triunfos nem reve- 188 O fu ndado r V a l e n ti m M a g a l h ã e s ses, e os recontros e os adversários se travam e se distinguem fugitivos, a relanços e aos resvalos, um reconhecimento armado que não para… Porém, o que ali falta no compasso das idéias, sobra na propriedade do dizer e num desvelado apuro de linguagem, que influíram consideravelmente em nosso meio. Muita gente, entre nós, começou a escrever melhor, sob as reprimendas gráceis daquele infatigável caçador de solecismos e persistente fiscal de pronomes insubordinados. Ao mesmo passo na imprensa diária acentuou-se melhor esta forma literária facílima, que é o artigo do jornal, onde a medida e a intensidade das idéias têm de ceder, não já aos dúbios contornos, capazes de ajustá-las ao maior número possível de critérios, nos limites de uma atenção de quartos de hora, senão também à fluidez de expressão, que lhes permita insinuarem-se nas nossas preocupações, encantando-nos um momento um momento – e passando sem deixarem traços. Vou agitar alguns conceitos falíveis. Revendo estes volumes, o que para logo se põe de manifesto é uma falta de unidade pasmosa. O escritor muda no volver das páginas. Novamente Euclides: Nos Cantos e lutas, escuta-se, ao toar solene dos alexandrinos, o lirismo humanista que Pedro Luís divulgara desde 62. De feito, a inspiração não lha diluem lágrimas: é robusta, impessoal, refulgente – e a sua [...] grande musa austera e sacrossanta, que para o céu azul os olhos a levanta banhados no fulgor virgíneo da verdade, era sem dúvida sincera. Mas esta linguagem, cantando herculeamente as odes imortais, nunca mais se repetiu. Ao contrário, a poesia filosófica (e falo assim por obedecer à moda, porque uma tal poesia se me afigura tão absurda quanto uma geo- 189 Al ber to Venanc i o Fi lho metria lírica ou a astronomia romanceada de Flammarion), a poesia ‘social’, em que tanto importa o subordinar-se a expressão à verdade, teve depois em Valentim um irrequieto adversário. No livro Notas à margem, Valentim Magalhães incluiu uma crônica, lamentando que ao enterro do grande jurista Teixeira de Freitas só tenham comparecido quatro pessoas. Machado de Assis glosou o comentário, dizendo também a escassez de amigos e colegas no enterro de José de Alencar, que “também era jurisconsulto, romancista, orador e político. Não era só isto: era o chefe da nossa literatura”. E atribuía a ausência com ironia à falta de calças pretas. De Alma, livro de contos, diz Raimundo Corrêa: Mas para os que, como eu, preferem a todos os trabalhos de Valentim Magalhães os que ele escreveu no estilo familiar, as suas melhores páginas estão talvez nesse encantador livrinho – Alma. “O primeiro dente”, “O primeiro nome” e “Noites eternas” são com efeito três peregrinos poemas em prosa; e, quando os leio, suponho que o autor seria inimitável, inexcedível nesse gênero íntimo. Pondo de lado todos os discursos e conferências que fez, didáticas e literárias, muitos artigos de polêmica e inúmeros escritos dispersos por vários jornais, para considerar exclusivamente o que ele chegou a reunir em volume, não se pode negar que, com respeito ao prosador, este seu legado, só por si, constitui uma obra vasta e multifária, pela infinidade de assuntos que abrange. O ensaísta José Veríssimo, escrevendo no início da República, diz que as letras não exerciam qualquer influência nos movimentos de idéias: “Em nosso país os movimentos de ordem espiritual, longe de atuarem sobre os fenômenos sociais, destes recebem impulsão e vida.” Havia, registra ele, “uma sensível atmosfera nacionalista depois da proclamação da República, mas o movimento literário era pobre”. E acrescentava Valentim Magalhães: 190 O fu ndado r V a l e n ti m M a g a l h ã e s Literatura sem livros, literatura de folhetos, posso também chamar àquela que ora temos. Escassíssima, a nossa produção literária quase que se resume hoje exclusivamente no conto, na fantasia ligeira e desvaliosa, na poesia, ou melhor, em alguns versos publicados nas folhas diárias ou em efêmeras revistas. O romance, a crítica, a filosofia, a história, os estudos literários, o drama, este principalmente, morrem verdadeiramente à mingua de produção. A mesma literatura política [...] não dá senão raros e mesquinhos frutos. Segundo Wilson Martins: Constituído, como os Estudos brasileiros de José Veríssimo, de artigos escritos para diversos períodos desde 1881, o livro Escritores e escritos de Valentim Magalhães oferece curioso documento sobre a nossa vida intelectual nesse período. Mencionemos, antes de mais nada, que começa com um elogio da Forma – “Ninguém que almeje passar por poeta tem mais o direito de ignorar os preceitos gerais da arte do verso.” Adepto do culto da forma, dizia Valentim Magalhães: “Essa religião não tem entre nós mais que meia dúzia de sacerdotes. E esses mesmos celebram as cerimônias do seu culto, praticam os divinos mistérios de sua seita no meio de uma multidão de ignorantes, que lhes não entende o Latim, e que só aplaude os versejadores pesadões, aqueles que apenas conhecem da Poesia este princípio: escrever em linhas curtas. Felizmente ainda temos alguns descendentes da raça divina dos helenos, ainda temos alguns poetas... que se dão à árdua e deliciosa tarefa de procurar a forma perfeita. Pesam as palavras em balanças microscópicas, medem-nas, estudam-nas, combinam-nas, como um alquimista fantástico fazendo ouro; estudam Lecomte (sic), Gautier e Banville, como se foram tratados de botânica e de mineralogia, e fazem o que tanto aconselhava o poeta da Comédia da Morte e tanto recomenda o Artur de Oliveira – lêem os dicionários. 191 Al ber to Venanc i o Fi lho Nos Escritores e escritos, afirma Euclides, “desponta-lhe o antagonismo em dizeres concisos, golpeantes”: “Em literatura a forma é quase tudo. Especialmente em poesia. É preciso ter como Teodoro de Banville o sentimento das palavras... A Forma! Eis o grande, o milagroso talismã! Quem o possui atravessa a vida sem conhecer impossíveis caprichos do seu gênio.” A “Forma” lá está com F maiúsculo. É o fetichismo do vocábulo. Com efeito, poucas vezes na língua portuguesa a palavra foi tão voluntariosa no violentar idéias, transfigurado-as ou emparelhando-as nas mais bizarras antíteses. O romancista Em 1897 Valentim de Magalhães publicou seu único romance: Flor de sangue. Diz no prefácio: Nesses quatro lustros de atividade mental, tenho feito um pouco de tudo – versos, folhetins, contos, panfletos, crítica, biografia, artigos de todo gênero, teatro, que sei eu? e tenho construído com parte desses materiais para mais de uma dúzia de livros. A crítica tem me reconhecido, com munificência que me há penhorado, um espírito vivaz, variável, curioso; uma atividade indefesa; um certo amor à língua vernácula, e daí pronunciado carinho no escrevê-la e um estilo correto e agradável; porém não tem ocultado o seu pesar por me não ver abalançar-me a isso que chamam os críticos “obra de fôlego”, ou “trabalho sério” – um poema, um romance, um livro de crítica profunda. Ora, eu devo confessar que essa censura me calou sempre no espírito por havê-la formulado muitas vezes a mim próprio. Mas as necessidades inadiáveis da vida material, tão pesadas para um pai de família pobre neste terra em que das letras ainda não se pode viver exclusivamente, impediram-me sempre de levar por diante esse projeto, cem vezes formulado e não poucas começado a exe- 192 O fu ndado r V a l e n ti m M a g a l h ã e s cutar. O tempo que me deixavam livre as ocupações de que provinha o pão quotidiano e o meu estado de saúde, precário sempre, chegavam apenas para escrever o conto, a notícia crítica, a crônica faceta, o artiguinho diário a que me comprometera em um ou vários jornais; não havia possibilidade de realizar o meu sonho, satisfazendo a exigência dos críticos – escrever uma obra de fôlego. Sem parágrafo escrevi-o sempre de uma assentada, capítulo por capítulo, e, acabado, relia-o, corrigia-o, mandava copiá-lo por um secretário, conferia a cópia e remetia-a aos tipógrafos. Se conto este pormenores é para explicar as muitas imperfeições de forma que sou o primeiro a reconhecer, tais como a vulgaridade de algumas frases, a fraqueza de certas expressões, o banal de vários títulos de capítulos (e dei-lhes títulos por uma conveniência pessoal: para orientar-me em cada capítulo do estado, do ponto em que ficara o enredo, a composição), um ou outro galicismo, como “golpe de vista”, e outros defeitos mais. O capítulo que primeiro escrevi, com a intenção de fazê-lo o primeiro livro, foi o quinto da segunda parte – um dos últimos: eu havia principiado pelo fim! Não resolvi fazer um romance naturalista, nem de aventuras, nem de psicologia, nem simbolista, nem idealista; resolvi simplesmente fazer um romance. E ele foi-me saindo dos bicos da pena com um certo feitio, uma certa fisionomia, um certo caráter, que não tentarei definir e ainda menos explicar. Se todavia me interpelasse alguém sobre tal ponto, diria que para o seu autor é o meu romance filiado à escola da verdade, a única, que como os Goucourt, acredito real e fecunda em Arte. Todos os tipos que nele fiz mover-se, e não sei se viver, encontrei-os na vida social, não só fluminense, não só brasileira, mas de todos os países. O romance Flor de sangue descreve a vida amorosa de uma senhora da alta burguesia, Corina, e está dividido em duas partes, cada uma terminando com um suicídio, o primeiro, do amante, que era filho adotivo do marido, e o se- 193 Al ber to Venanc i o Fi lho gundo, do marido ao saber muito mais tarde da relação da esposa com o filho adotivo. O suicídio está presente também no “Soneto de um suicida”: (A Lucindo Filho) Mata-me a dura lei da vária Natureza Que nos faz desejar o que nos é proibido; O fruto do pecado e o mais apetecido, E o crime é um belo ornato as graças da Beleza. O dístico – Mão toque e do mal a certeza São dois imãs fatais, a que anda o amor vencido; Os direitos cruéis do amante e do marido Aumentam da paixão a tempestade acesa. Morro porque te quero e não podes ser minha, Separa-nos um muro estúpido e fatal, Quando, no entanto, o amor, a rir, nos avizinha. Suplício sobre-humano e delícia infernal, Que todos podem ver mas ninguém adivinha: – Morro porque és o bem e desejar-te é o mal. É interessante salientar que o personagem principal do livro, Fernando Gomes, é um beneficiário do Encilhamento, o autor certamente transmitindo a experiência pessoal para descrever os episódios, e é curioso apontar o teor da errata: em lugar de “bosque nemoroso”, “bosque umbroso”; ao invés de “estourar os miolos”, “cortar o pescoço”. José Veríssimo, em Estudos de literatura brasileira coloca o livro no Naturalismo pelo tema e à literatura apressada de folhetim pela execução, aponta “indecências e imoralidades” e “quase nenhuma qualidade literária”. 194 O fu ndado r V a l e n ti m M a g a l h ã e s Com outro julgamento, Euclides contesta: “Nada direi do livro malogrado, onde, entretanto, um velho tema se remoça com uma cativante originalidade de desfecho. Considero apenas que a crítica desaçaimada, que o estraçalhou até à errata final, não disse mais do que o próprio romancista, no prefácio.” Raimundo Corrêa viu injustiça, por vezes, na severidade dos críticos, a qual se acrescentava à “diatribe malévola dos desafetos”. Escreve Machado de Assis: Flor de sangue pode dizer-se que é o sucesso do dia. Ninguém ignora que Valentim Magalhães é dos mais ativos espíritos da sua geração. Tem sido jornalista, cronista, contista, crítico, poeta, e, quando preciso, orador. Há vinte anos que escreve, dispersando-se por vários gêneros, com igual ardor e curiosidade. Quem sabe? Naturalmente nem tudo o que escreveu terá o mesmo valor. Tudo é que as obras sejam feitas com o fôlego próprio e de cada um, e com materiais que resistam. Que Valentim Magalhães pode compor obras de maior fôlego, é certo. Na Flor de sangue o que o prejudicou foi querer fazer longo e depressa. A ação, aliás vulgar, não dava para tanto; mal chegaria à metade. Há muita coisa parasita, muita repetida, e muita que não valia a pena trazer da vida ao livro. Quanto à pressa, a que o autor nobremente atribui os defeitos de estilo e de linguagem, é causa ainda de outras imperfeições. Não insisto; aí fica o bastante para mostrar o apreço em que tenho o talento de Valentim Magalhães, dizendo-lhe alguma coisa do que me parece bom e menos bom na Flor de sangue. Que há no livro certo movimento, é fora de dúvida; e esta qualidade em romancista vale muito. Verdadeiramente os defeitos principais deste romance são dos que a vontade do autor pode corrigir nas outras obras que nos der, e que lhe peço sejam feitas sem nenhuma idéia de grande fôlego. 195 Al ber to Venanc i o Fi lho Na classificação do romance e do conto, Sílvio Romero, na História da literatura brasileira, indica o meio naturalista da cidade (1860/1884), inicialmente com Manuel de Almeida, Carneiro Vilela e Celso Magalhães, ao qual se prendem com Valentim Magalhães, Afonso Celso, Xavier Marques e Domício da Gama. Finalmente, ao tratar da crítica comenta: Em nosso quadro esquemático, foram somente contemplados os críticos por temperamento os que fizeram da difícil arte de Sainte-Beuve a sua profissão espiritual, e postos fora os pretensos críticos de arribação, sujeitos adventícios, que por capricho de momento, confundindo crítica com desforra ou desabafo ocasional, foram levados alguma vez a exercer a discussão polemista, sempre com desaso. É o caso de Alencar nas Cartas sobre a Confederação dos Tamoios, Franklin Távora nas Cartas de Simprônio a Cincinato, Joaquim Nabuco no que escreveu contra Alencar, e Valentim Magalhães no que publicou contra os Últimos arpejos, livro de poesias de Sílvio Romero. O polemista Na arena jornalística, Valentim Magalhães digladiou com intrépidos polemistas, como Ferreira de Araújo, Carlos de Laet e Sílvio Romero, adversários dignos dele. Mas de permeio se metiam, às vezes, indivíduos que só desejavam ganhar fama à sua custa, e outros que aproveitavam covardemente o ensejo para o ferirem pelas costas. E, quantas vezes, por quem nem sequer o conhecia de perto foi ele gratuitamente agredido! Entretanto, Valentim não esmoreceu jamais. Diria a Lúcio de Mendonça: “Tenho pintado o bode como tens visto. Ultimamente com o Sílvio (Romero) era preciso sová-lo. Sovei-o e me parece que em regra.” Tratava-se do livro Notas à margem dos “Últimos arpejos” – crítica ao livro de versos de Sílvio. Eis a resposta de Sílvio Romero: 196 O fu ndado r V a l e n ti m M a g a l h ã e s Valentim Magalhães! – Famoso homem de letras em verdade... Foi durante mais de vinte anos o porta-bandeira da oposição tenaz, implacável, irredutível, contra tudo que se pensou e se fez na Escola do Recife nas últimas décadas do século passado. Guerra foi essa cuja constância, nunca desmentida, só podia rivalizar com a sua própria sem razão, sempre provada. – Os serviços prestados às letras e ao pensamento nacional por uma legião inteira de combatentes da idéia, entre outros, os Tobias Barretos, os Viveiros de Castro, um Martins Júnior, um Sousa Pinto ... não têm chegado para desarmar a odiosidade sistemática a uns, as censuras infundadas a outros, os esquecimentos calculados a estes, as meias simpatias àqueles, e até os festejos suspeitos de certos renegados que por qualquer motivo caíram nas graças de determinados críticos, que se arrogam nesta boa terra a função de distribuir os títulos e louvores espirituais. Adolfo Caminha, no romance Tentação, fez o louvor da província, o casal de provincianos que se desloca para o Rio e aqui só encontra a falsidade e a hipocrisia. Nessa obra, Adolfo Caminha quis vingar-se de Valentim Magalhães, ao “fazer-lhe a caricatura, freqüentemente insultuosa e desafiadora, no tipo de Valdevino Manhães, diretor da Revista Literária e autor de muitíssimos livros, de muitíssimas obras, entre as quais o poema herói-cômico “Juca Pirão”, paródia ao Y-Juca-Pirama, de Gonçalves Dias. A intenção de desforra fez reviver o polemista que parecia espreitar em Caminha os movimentos do romancista, com o intuito de atenuar-lhe a força e desviar-lhe a vocação”. O teatrólogo Valentim Magalhães também se dedicou ao teatro: Doutores e Inácia do Couto, paródia à tragédia de D. Inês de Castro, incluídas no livro Teatro (1888); O império da lei e O país do café, incluídas no livro Horas alegres, e em colaboração com Filinto de Almeida O Grão Galeoto e No seio da Morte, ambas tradução de D. José Echegaray, também em colaboração com Filinto de Almeida, e A mulher-homem, 197 Al ber to Venanc i o Fi lho entre outras. As peças eram mais para serem lidas do que representadas, e não tiveram grande repercussão. Este comentário é confirmado pela análise de Ronald de Carvalho: A literatura dramática brasileira, depois de Martins Pena, Macedo Alencar, França Júnior e Agrário de Menezes, se não deixa de existir pelo volume da produção, minguou pelo caráter cênico das obras aparecidas. O ato ligeiro, a burleta, a comédia trivial, a revista popular e anedótica de Artur Azevedo, Valentim Magalhães, Moreira Sampaio e muitíssimos outros, todos empenhados, aliás, em “educar” o gosto do nosso público, “envenenado pelo dramalhão romântico” não conseguiram qualquer processo sensível para o nosso teatro decadente. Ficamos, ao contrário, com um teatro fútil e parasitário, imitado ou simplesmente traduzido do francês, menos nacional que nunca, apesar dos propósitos e das intenções regeneradoras de que estava inçado. Afinal, cabe o comentário de Raimundo Corrêa sobre o diletante: Há bastantes anos que ele abrilhanta assiduamente as colunas do nosso jornalismo; a sua pena destra e nervosa não só pelo folhetim chistoso tem volateado, mas também pela poesia, pela sátira, pelo teatro e pela crítica, deslizando sem dificuldades nos assuntos mais graves, como nos mais leves assuntos, e quase que não há esfera de atividade literária para a qual se não ache voltada alguma das múltiplas faces do seu belo talento, nem departamento nenhuma das letras onde a sua passagem não tenha ficado mais ou menos assinalada por algum bom serviço. Essa complexidade cerebral, rara e invejável aliás, é, no entanto, por uns visos de puro diletantismo, o que mais do que tudo o tem prejudicado, deprimindo aos olhos da crítica mal prevenida o seu real e contestável merecimento. Que é que o faz não persistir por muito tempo e mais atiradamente num só terreno? Será aquele suposto diletantismo, ou bem uma outra causa que me- 198 O fu ndado r V a l e n ti m M a g a l h ã e s lhor se pode investigar no próprio temperamento do escritor. Dir-se-á que, em tratando um assunto qualquer, logo o desvia dele a sugestão de um novo e diferente assunto em que também não persiste mais do que no primeiro. O exercício ansioso e febril de uma atividade assim distribuída em tão várias direções simultaneamente lhe não permite, ao incansável trabalhador, levantar edifício bem sólido em terreno nenhum. Quantos há, porém, de merecimento inegável embora, que cultivando um só gênero exclusivamente, não têm conseguido neles êxito igual ao de Valentim Magalhães no cultivo simultâneo de muito? Acrescenta Euclides: Resumo o meu juízo: toda a obra literária de Valentim Magalhães pode ter o título único de um de seus livros – Bric-à-brac. E a este propósito ouçamo-lo na esplêndida volubilidade de seu estilo disserto, referindo-se àquele livro sem cuidar que fazia toda a sua psicologia literária: [...] Pois esta obra é isto mesmo; é um amontoado de curiosidades literárias, e objetos de arte escrita... Junto a um conto comovido e sincero, um trecho da sátira mordaz e irreverente; em seguida a um grito de entusiasmo, uma caricatura a traço largo; depois de um surto amplo de fantasia caprichosa, um quadro exato e minucioso da vida social – Bric-à-brac. De manhã à noite, em um só dia, o homem percorre toda a gama sentimental – enternece-se e lacrimeja; encoleriza-se e ruge; alegra-se e ri; enfara-se e boceja; enamora-se e canta; indigna-se e satiriza... A figura humana A esse respeito diz Euclides: Expressiva é aquela admiração delirante. Valentim Magalhães era excepcionalmente afetivo. Tudo lhe denuncia um nobre espírito impropriado a agir sem os estímulos de uma ardente simpatia, vinculando-o às outras almas. 199 Al ber to Venanc i o Fi lho Esta literatura associada que, em geral, a exemplo dos Goncourts, exige a base da consangüinidade, ele a praticou como nenhum outro, reunindo um irmão legítimo, Henrique Magalhães (com quem escreveu uma paródia à Morte de D. João), a Silva Jardim, a Filinto de Almeida e Alfredo Souza, nos laços da mesma fraternidade. Não se conhece um livro sem uma dedicatória. São raríssimos os seus escritos dispersos, cujos títulos não tenham logo abaixo um parêntesis guardando o nome de um amigo. A admiração, que é o sintoma mais lisonjeiro de um caráter, rompia-lhe sempre num enorme exagero. Admirou daquele jeito Guerra Junqueira; admirou Camilo Castelo Branco, “polígrafo indefeso, formidável, único”; admirou Ramalho Ortigão, “um mestre, senhor de todas as verdades do mundo moderno...”; admirou Machado de Assis, esse que arranca aos rígidos vocábulos a música rebelde e fugidia... admirou os seus próprios companheiros. Sendo preeminente na “nova geração”, não desdenhou fazer-se o garboso mestre sala, para apresentá-la ao país. E o país conheceu-a, em grande parte, através da sua palavra carinhosa. Não preciso exemplificar. No círculo daquela afabilidade irradiante e avassaladora caíram os que chegavam pouco depois, desde Coelho Neto, Medeiros e Albuquerque e Olavo Bilac até aos mais obscuros escrevedores da província. A alguns cantou em verso, desde Carvalho Júnior, desaparecido tão moço e a quem conhecemos apenas como um meinsinger loiro, alegre e extravagante, até alguém que não preciso nomear, tão conhecido nosso é o ... que esculpido Tem, sonhos, dores, alegrias E é príncipe do Reino Unido Das Harmonias.” 200 O fu ndado r V a l e n ti m M a g a l h ã e s Da capacidade de fazer amigos, mesmo à distância, aponte-se o depoimento de Xavier Marques no discurso de posse nesta Casa: Um dos fundadores desta Casa, Valentim Magalhães, cuja memória nesta ocasião me é grato evocar, fez que eu, certa vez, cativo de sua insistência, lhe prometesse candidatar-me à primeira vaga que se abrisse na Academia. De ânimo leve, um tanto fascinado, prometi. Mas apenas acabara de fazê-lo, tamanhos se me afiguraram os óbices por vencer na íngreme subida a que me convidava o amigo, que achei conveniente ir-me logo afeiçoando à idéia de uma evasiva, com qualquer pretexto, no momento oportuno, isto é, no momento crítico. Valentim Magalhães possuía, aprimorado, no melhor sentido da expressão, o espírito de camaradagem. Nunca lhe pude ouvir as razões que o induziram a considerar plausível a minha entrada, desde aquela época, para a Academia. Pessoalmente nunca nos conhecemos. E somente em honra do seu caráter afetivo assinalo a simpatia com que sempre me distinguiu o autor que, dezenove anos antes, estreara nas letras sob os auspícios de sua brilhante nomeada. O tempo, para quem eu, com tão pouca fé pessoal e desvalido de “estro” havia apelado, deu a mais desconcertante resposta aos meus desígnios. Em março de 1903 dizia-me em carta o saudoso acadêmico: “Escreva-me, dando-me notícias suas, e decida-se a apresentar-se à primeira vaga da Academia Brasileira.” Em menos de dois meses, em 17 de maio, verificava-se a vaga. Era a de Valentim Magalhães... Assim é que fui candidato, sem ilusões, quando razão não tinha para esperar senão um junto revés: candidato por um desses motivos irraciocinados do sentimento, que às vezes nos levam a arcar com aparências audazes e emprestam colorido extravagante, pretensioso, no caso, às ações mais inocentes. Esta reminiscência é uma homenagem do coração devida àquele que, embora trocando pela justiça a liberalidade, primeiro cogitou de franquear-me este egrégio cenáculo. Por exígua que seja, eu não a podia negar-lhe. 201 Al ber to Venanc i o Fi lho E para EuclIdes: A linha acentuada do caráter de Valentim ia de uma alevantada altivez a uma robusta alacridade que o forrava aos rancores – embora não lhe faça a grave injustiça de acreditar que ele fosse incapaz do ódio, que é muitas vezes a forma heróica da bondade. Mas este nunca lhe repontou nas polêmicas acirradas que travou e no mais aceso das quais lhe refulgia a graça amortecendo ou falseando os mais violentos golpes. Foi, porém, o mais breve dos triunfos. Não que ao escritor diminuísse o engenho, senão porque o surpreendeu um período anômalo da existência política. Dele citemos, afinal um auto-retrato aos vinte e seis anos: Mas o que queres tu, meu Lúcio? Eu sou um nervoso, vivo pelos nervos; preciso de atividade, de vibração, de variedade de aspectos, de área larga e principalmente de carne fresca, de carne de vaca. Sofria de uma dispepsia atroz, que a absoluta ausência de meio literário e de distrações agravavam medonhamente. Conclusão No dia 13 de maio de 1903, à tarde, Raimundo Corrêa foi a Santa Teresa em visita a Filinto de Almeida, e a esposa deste velho camarada recebeu-o, triste e apreensivo, com a notícia de que Valentim Magalhães estava gravemente enfermo. Momentos depois chegou Filinto e partiram juntos, inquietos, para a casa do comum amigo, que morava no Rio Comprido. Aí viram-no prostrado no seu leito, vindo a falecer no dia 17 de maio. 202 203 Silva Ramos (1853-1930) Acervo do Arquivo da ABL Silva Ramos: mestre da língua Na p a s s ag em d o sesq u i c en t e n á r io d e s e u na s c i m en to (6. 3 . 1 85 3 – 1 5 . 1 2 . 1 9 30 ) E v an i ld o B e c h a r a O último 6 de março assinalou a passagem do sesquicentenário de nascimento de um dos fundadores desta Casa, José Júlio da Silva Ramos, vindo ao mundo, como quase tudo parece indicar, na cidade do Recife, em 1853. Digo ‘como quase tudo parece indicar’ sua naturalidade recifense, porque assim sempre a proclamou Silva Ramos, diante da curiosidade de netos, intrigados que estavam do carregado sotaque lusitano que o avô conservou pela vida fora. Para corroborar essa pequena ponta de desconfiança existem alguns dados relevantes que um futuro biógrafo seu terá de examinar com mais profundidade, entre os quais trago à luz dois. Do arquivo da Universidade de Coimbra chegou-me a certidão de batismo do nosso homenageado,1 onde se declara que o ato religioso ocorreu aos 19 de junho de 1853, na Igreja da Conceição Nova de Lisboa e que o pequerrucho José Júlio, filho de João da Silva Ramos e de Emília Augusta Apolinário Ramos nascera em Lisboa. Conferência proferida na ABL, a 6 de maio de 2003, durante o ciclo Fundadores da ABL. 1 Devo a pesquisa à minha colega Maria Aparecida Ribeiro, professora da Universidade de Coimbra e diretora do Instituto de Estudos Brasileiros. 205 Ev a n ildo Bec hara O outro dado, não intrigante como o anterior mas também não desdenhável, consiste na omissão do nome do nosso acadêmico no Dicionário Bibliográfico Brasileiro de Sacramento Blake, que não deixa de arrolar, em dois momentos, o pai pernambucano. É bem verdade que contamos com possível incompletude, lembrada pelo próprio operoso bibliófilo; mas estranha que faltasse informação de um já professor do Colégio Pedro II (1898), de cujo pai se ocupara Sacramento Blake com boa largueza de informações. Mas não fostes convidados a esta sessão para uma escavação de ordem biográfica do nosso ilustre homenageado, e sim para revivermos juntos os consagrados méritos que o guindaram ao quadro dos trinta primeiros que pensaram e arquitetaram a construção deste cenáculo acadêmico, cada vez mais respeitado e amado do povo brasileiro, como síntese harmoniosa de sua pujança cultural e literária. Acostumado e afeito às tertúlias literárias de sua longa permanência em Coimbra e em Lisboa, e causeur cintilante que era, as reuniões da Academia, ao lado de poetas, romancistas, críticos e jornalistas, traziam-lhe à lembrança e à saudade os doces momentos de convivência com João de Deus, Guerra Junqueira, Cesário Verde e muitos outros. De tal modo lhe eram gradas as sessões acadêmicas, que se inscreve entre os mais assíduos. Para terdes uma idéia dessa assiduidade, basta-vos dizer que das 89 realizadas entre 1896 e 1908, sob a presidência de Machado de Assis, assistiu a 69, juntamente com João Ribeiro, só atrás de José Veríssimo, com 79, e do presidente, com presença quase integral.2 Sua doação à Casa e o talento que seus confrades lhe conferiam devem, certamente, ter pesado para que fosse, na sessão de 18 de janeiro de 1897, eleito para ocupar o cargo de 2o Secretário com vista a integrar a primeira diretoria completa, juntamente com o 1o Secretário, Rodrigo Octavio. 2 Estatística levantada na tese de Cláudio Cezar Henriques Atas da Academia Brasileira de Letras – Presidência Machado de Assis. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 2001. (Coleção Austregésilo de Athayde, vol. 2.) 206 Si lva Ramo s : m e s tr e da l í n g u a Nas homenagens que justamente lhe foram tributadas in memoriam, no seu falecimento, ocorrido em 1930 e no transcurso do 1o centenário de nascimento, em 1953, os pontos de exaltação incidiram na sua produção de poeta, jornalista e tradutor, embora não lhe fossem esquecidos os méritos de excelente filólogo e exímio professor de Língua Portuguesa. Sobre Silva Ramos recaíam os votos da crítica de então elogiando o delicado poeta romântico com ressalto de sua veia lírica, denunciada na epígrafe de Alfredo de Musset “L’amour est tout... Aimer est le grand point...” com que abria seu único livro de versos, Adejos, publicado em Coimbra, em 1871, registrando-lhe os arroubos juvenis dos dezesseis aos dezoito anos. Ressaltava-se-lhe também o cronista encoberto no pseudônimo Julio Valmor de A Semana e outros órgãos da imprensa fluminense e, com não menos ênfase, o professor de nomeada, estimulador de estilistas e incentivador de futuros cultores do idioma. Os dotes de sua poesia, é bem verdade, foram exageradamente exaltados pelo paulista que lhe sucedeu nesta Casa, o inspirado autor de Vida e Morte do Bandeirante, Alcântara Machado. Outro ocupante da mesma cadeira n.º 37, sessenta e sete anos depois, com o peso de sua autoridade de excelente poeta, melhor os ajuizou. Eis as palavras do nosso confrade Ivan Junqueira no seu discurso de posse, acerca de Adejos: [...] esses versos de Silva Ramos, além de irremediavelmente datados, refletem antes, ou tão-somente, os arroubos de um espírito ainda em ebulição e as fundas influências que recebeu em Coimbra, as quais seriam decisivas para a sua sólida formação de gramático e filólogo.3 Todos os discípulos que tiveram a honra de lhe assistir às aulas são unânimes em aludir ao amor ao idioma que inoculava em seus ouvintes, à interpreta3 Discurso de Posse de Ivan Junqueira e Discurso de Recepção de Eduardo Portella. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 2000, p. 11. 207 Ev a n ildo Bec hara ção reveladora das excelências lingüísticas escondidas nos textos literários e a vivacidade com que, no sotaque lusitano, emprestava à leitura de trechos literários recolhidos na mais clássica e de bom gosto seleta escolar, a Antologia Nacional de Fausto Barreto e Carlos de Laet. Silva Ramos perscrutava os meios estéticos de expressão utilizados nos textos literários, reconhecendo-lhes e decifrando-lhes ‘a indocilidade com que eles recebiam a rigidez de normas inflexíveis’, para trazermos aqui uma frase feliz do saudoso Barbosa Lima Sobrinho, em saudação à passagem do centenário do ilustre filólogo.4 Neste sentido são extremamente reveladores os depoimentos de seus numerosos alunos, entre os quais lembrarei apenas dois, o de Manuel Bandeira e o de Sousa da Silveira, ambos filólogos que, já adultos, recordavam as aulas do nosso homenageado a crianças do 1o ano da turma de 1897 do Ginásio Nacional, denominação, àquela fase republicana, do Colégio Pedro II. Ainda hoje recordo – diz-nos Bandeira – a maravilhosa lição que foi a leitura que fez da “Última corrida real de touros em Salvaterra”: não só tenho bem presente na memória o quadro objetivo da sala de aula, a atitude dos colegas, a figura subitamente remoçada do mestre, a voz com todas as suas inflexões mais peculiares, como também todas as imagens interiores evocadas pelo surto eloqüente da leitura: o garbo e esplendor da ilustre Casa de Marialva ficou para sempre dentro de mim como um painel brilhante. Na verdade em um ponto da minha consciência quedou armado um redondel definitivo para essa última corrida de touros em Salvaterra, a qual nunca deixou de ser uma das festas preferidas da minha imaginação. A tal ponto, que longe de ser a última, passou a ser a eterna corrida de touros, eterna e única, pois foi a primeira que vi – porque positivamente a vi! – e me fez achar insípidas, mesquinhas, labregamente plebéias as verdadeiras touradas 4 Discurso do Presidente, Sr. Barbosa Lima Sobrinho. Sessão de 28 de maio de 1953. In: Revista da Academia Brasileira de Letras, ano 52, vol. 85. Anais de 1953. Rio de Janeiro: ABL, 1953, pp. 237-240. 208 Si lva Ramo s : m e s tr e da l í n g u a a que assisti depois com os olhos do corpo e não com os da imaginação excitada pelo gosto literário do mestre.5 O testemunho de Sousa da Silveira revela-nos o filólogo que aceita aquela indocilidade à rigidez de regras inflexíveis a que atrás referi. Falando a Homero Senna acerca do mestre, lembra Sousa fatos de língua que já denunciam a argúcia do futuro comentador de textos: Nesse primeiro ano do Ginásio encontro, entre os professores, Silva Ramos, de saliente e forte personalidade, embora disfarçada pela sua modéstia e encantadora simplicidade. Posso dizer que foi ele quem primeiro me chamou a atenção para as belezas do idioma que falamos e para os recursos do estilo. Lembra-me, por exemplo, que em classe fazia ressaltar as onomatopéias que se encontram na célebre página de Camilo referente ao suplício da Marquesa de Távora. Na “Última corrida de touros em Salvaterra”, de Rebelo da Silva, entre muitas outras coisas, o velho mestre salientava a impressão de ansiedade que, em certa altura, se traduz pela sucessão de períodos curtos. Também não me esquecerei jamais de que nos versos de Gonçalves de Magalhães, relativos à descrição do Amazonas, indicou-nos o efeito dos dois proparoxítonos usados pelo poeta para sugerirem a idéia de largura e vastidão do rio: Baliza natural, ao norte avulta O das águas gigante caudaloso Que pela terra alarga-se vastíssimo. Ora... outro professor, a respeito de tais versos, nos teria dito que os nossos românticos não se preocupavam muito com a correção da língua e colocavam desordenadamente os pronomes. Censuraria, com certeza, Maga5 Manuel Bandeira, Poesia e Prosa. Vol. II, Prosa, pp. 1167-1168. Rio de Janeiro: Editora José Aguilar, 1958. 209 Ev a n ildo Bec hara lhães por ter colocado o pronome átono depois do verbo na oração subordinada relativa e ainda por cima depois de um adjunto adverbial. E não seria de admirar que, se fosse versejador, sugerisse aos alunos uma emenda, substituindo um verso, como o de Magalhães, belo e sugestivo, por outro corretíssimo, do ponto de vista gramatical, mas sem nenhum poder de expressão. Foi com Silva Ramos que adquiri o gosto do gênero de comentários que tenho feito à obra de alguns autores nossos e portugueses, de que pode servir de exemplo a edição crítica que organizei das poesias de Casimiro de Abreu... Esses comentários têm suas raízes nas lições do querido professor, o qual lançou em meu espírito sementes que frutificaram... Sabia fazer com que os alunos tomassem gosto pelo estudo da língua. E o mais importante... é que lecionou à nossa turma apenas durante o ano de 1897. Mesmo assim, pôde influir fortemente em meu espírito.6 Na oportunidade deste sesquicentenário desejo mostrar-vos, em modesto bosquejo, um Silva Ramos eminentemente filólogo, no mais amplo sentido de que se reveste o termo, com um embasamento teórico que raramente se encontra nos seus contemporâneos, numa época de formação superior autodidata dentro de um momento histórico altamente renovador nos métodos de estudo 6 Apud Maximiano de Carvalho e Silva, Sousa da Silveira. O Homem e a Obra. Sua Contribuição à Crítica Textual no Brasil. Rio de Janeiro: Presença / Pró-Memória / Instituto Nacional do Livro, 1984, pp. 11-12. Também a este mesmo propósito se manifesta M. Bandeira em carta a Alphonsus de Guimaraens Filho, de 21 de fevereiro de 1942: “Não tenho no entanto a felicidade de estar fazendo sonetos tão bonitos como esses que você me mandou. Imperfeições e deficiências? Sinceramente não encontro nenhumas. O primeiro verso do primeiro soneto tem onze sílabas; e o quarto verso do primeiro e do segundo soneto só tem nove. Mas depois da minha antologia romântica e da edição de Casimiro, do Sousa da Silveira, um grande poeta e grande versejador como você não tem que dar satisfações a ninguém: nós é que temos de descobrir, como eu e o Silveira fizemos, os motivos secretos intuitivos que levam os poetas de verdade a pôr versos de 11 e 9 sílabas no meio de decassílabos. No caso dos seus sonetos estão transparentes os tais motivos, e quando você morrer (o que espera seja daqui a uns sessenta e tantos anos) e se fizer uma edição crítica de suas obras poéticas há de aparecer um Sousa da Silveira para o interpretar e defender das possíveis cavalgaduras do fim do século XX ... (Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Itinerários. Cartas a Alphonsus de Guimaraens Filho. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1974, pp. 84-85.) 210 Si lva Ramo s : m e s tr e da l í n g u a científico da linguagem e das línguas, especialmente modernas, cujo marco deflagrador, nas pegadas de Frederico Diez, se acha assinalado, em Portugal, a partir de 1869, com a produção pioneira de Francisco Adolfo Coelho e, no Brasil, em 1878, com a Gramática Histórica, de Pacheco da Silva Júnior e, em 1881, com a Gramática Portuguesa, de Júlio Ribeiro. Silva Ramos, sem nos deixar uma obra orgânica sobre nossa língua, estava a par dos princípios metodológicos mais correntes no seu tempo, princípios metodológicos a que chamava “estudos positivos dos fatos da linguagem [...] que constituem a ciência das línguas”.7 Sabia a posição mais correta e operacional em que deviam ficar tais princípios na tarefa de ensinar a língua a jovens estudantes ginasianos: por trás do mestre, orientando e disciplinando seu discurso lingüístico e metalingüístico, e não fazendo desses princípios e das questões complexas que envolvem o assunto da aula. Graças ao empenho e iniciativa editorial de Laudelino Freire, podemos contar hoje com uma coletânea de prosa, poesia e algumas lições de Língua Portuguesa, vinda à luz em 1922, intitulada Pela Vida Fora. Caberá à Academia, no prosseguimento da homenagem de hoje, reeditar em breve essa coletânea, acrescida de outras lições esparsas em jornais e revistas, além de um opúsculo que pouco parece na sua bibliografia, A Reforma Ortográfica e a Academia Brasileira de Letras (1926). Expôs seu ideário didático-pedagógico em mais de uma oportunidade; lembrarei uma de suas lições no artigo que escreveu para o número inicial da Revista de Cultura, do Padre Tomás Fontes, em 1927, com o título de “Em ar de conversa”: Toda nação tem o seu código de bem falar e escrever em que se instruem os naturais até aos quinze ou aos dezesseis anos, e cada qual procura exprimir-se de acordo com ele, abandonando os problemas da língua aos filólogos e aos gramáticos a quem compete destrinçá-los. 7 Silva Ramos, Pela Vida Fora. Rio de Janeiro: Edição da Revista de Língua Portuguesa, 1922, pp. 75. 211 Ev a n ildo Bec hara Entre nós, que sucede? Os estudantes de português e muitos dos que escrevem para o público descuram inteiramente da gramática elementar para se interessarem pelas questões transcendentais: a função do reflexivo se, se ele pode ou não figurar como sujeito, o emprego do infinitivo pessoal e do impessoal, qual o sujeito do verbo haver impessoal e outras que tais cousas abstrusas que nada adiantam na prática. O apuro científico de Silva Ramos está presente em muitas de suas declarações sobre fatos da língua; um mergulho nelas, por superficial que seja, nos revela o princípio ou os princípios em que se assentam. Quando se alude ao mestre, logo acodem à lembrança palavras suas que se tornaram clássicas e assumiram até certo ar anedótico, como aquela afirmação: “Eu não sei como se colocam os pronomes, pela razão muito natural que não sou eu quem os coloca, eles é que se colocam por si mesmos, e onde caem, aí ficam.”8 Por trás deste comentário aparentemente inocente, há um punhado de princípios metodológicos que cabe trazer à luz para análise. O primeiro deles é, novidade àquela quadra dos estudos de linguagem, a introdução dos fatores de fonética sintática e de entoação frasal como motivadores de fatos de distribuição de termos oracionais, especialmente do jogo de vocábulos tônicos e átonos no boleio da frase. Não se tratava mais da famosa explicação por atração dessa ou daquela palavra, mas sim pelos fenômenos de entoação, tema então recente entre estudos de fonética praticados especialmente pelos lingüistas alemães, revelados de maneira inovadora por M. Said Ali, em artigo na Revista Brasileira, a 1 de março de 1895, de cuja lição só Silva Ramos soube extrair orientação para seu magistério, pois não a vemos exarada nas melhores e mais correntes gramáticas da época, que ainda insistiam na improdutiva e falsa teoria da atração vocabular. Ainda nas pegadas de Said Ali e como corolário da nova teoria da entoação frasal, pôde Silva Ramos compreender que, estando a distribuição dos prono8 Id., ibid., p. 119. 212 Si lva Ramo s : m e s tr e da l í n g u a mes oblíquos sujeita ao ritmo frasal e que esse ritmo era diferente entre brasileiros e portugueses, natural seria que a colocação não coincidisse nos dois espaços geográficos – o americano e o europeu. E mais: que o brasileiro teria direito a esse uso, recriminado pelos portugueses. Eis lição de Silva Ramos, em 1914, comentando os Novíssimos Estudos da Língua Portuguesa, de Mário Barreto: Acreditamos, entretanto, que, quando o professor Mário Barreto se dispuser a tratar o assunto com a amplitude que ele comporta, a conclusão a que terá de chegar, necessariamente, em face dos princípios da ciência que tanto acata e venera, é que a situação do pronome átono na proposição, tanto no Brasil como em Portugal, é determinada exclusivamente pelo ritmo, diferente numa e noutra região, consoante a tonicidade e o valor dos fonemas que não condizem aquém e além-mar. O fenômeno é puramente de som, daquela fonética de que fala Brugmann, que considera a frase como “uma unidade fonética completa em si mesma.9 Em 1907, na prova escrita do concurso a que se submeteu para preenchimento de cátedra do Colégio de Pedro II, não fora diferente a sua lição: Seja como for, o regulador único da distribuição dos pronomes átonos na locução brasileira é igualmente o ritmo, governado por princípios de que os naturais do Brasil não têm a mínima consciência, como os que nasceram em Portugal não a têm dos que regulam a cadência da locução portuguesa. Ora, tentar reduzir o ritmo, o número, a cadência da linguagem brasileira ao ritmo, ao número, à cadência da linguagem portuguesa é irracionável empreendimento. [...] Ora, dependendo exclusivamente a situação dos pronomes átonos brasileiros da fonética peculiar ao Brasil, como se pôde originar essa preocupa9 Id., ibid., p. 82. 213 Ev a n ildo Bec hara ção dos gramáticos e mestres do vernáculo, entre nós, de estabelecerem regras para a colocação daqueles elementos, de acordo com os hábitos do falar português, a ponto de ter o assunto servido de tema para uma tese de concurso no Colégio de Pedro II? Essa singularidade veio a gerar-se da maneira seguinte: José Feliciano de Castilho, português, a cujo ouvido mal toava a construção brasileira, lembrou-se de censurar a José de Alencar pela forma por que ele usava colocar os pronomes. Ora, se o ilustre escritor e crítico se tivesse limitado a afirmar que a fraseologia do autor de Iracema se afastava, nesse particular, dos bons modos da língua vernácula, nada haveria que lhe opor: ele, porém, não se ficou por aí: pretendeu sustentar, de clássicos em punho, que sempre eles obedeceram a uma norma, na maneira como colocavam os pronomes; e entrou a deduzir regras. Foi o que o perdeu. Alencar defendeu-se galhardamente. Choveram de todos os lados contestações. A autoridade contrapunha-se autoridade, a citação retorquia-se com citação. Castilho quase perde a cabeça [...] Os nossos gramáticos correram açodados a sancionar a doutrina de Castilho, estabelecendo regras que todas padeciam de fraqueza orgânica, visto como repousavam todas em considerações reportadas à sintaxe e à morfologia, que nada têm que ver com a espécie: atração para o sujeito, afinidade para as subordinativas, solicitação por parte das negativas, e quejandas relações, que deviam embaraçar muito seriamente [...] os que têm por ofício manipular os acepipes literários.10 A visão científica com que Silva Ramos investigava a linguagem e os fatos da língua portuguesa habilitara-o a tratar com a superioridade que não se encontrava nos gramáticos da sua época, ainda os mais bem informados, a existência das variedades de uma mesma língua histórica, diversificadas em diferenças cronológicas, regionais, sociais e estilísticas, em todas as dimensões de concretização dos seus atos de língua. Está claro que se encontram em estu10 Id., ibid., pp. 222-224. 214 Si lva Ramo s : m e s tr e da l í n g u a diosos de todas as épocas percucientes intuições dessas variedades, mas não fazem delas emprego operacional e funcional. Considerar uma língua não como um bloco homogêneo e unitário, mas como um diassistema, vale dizer, um complexo conjunto de variedades, é conceito bem moderno na ciência das línguas. Silva Ramos, estilista e funcionalista avant la lettre, tirava partido dessa realidade nos artigos sobre que doutrinava os adultos e nas lições em que instruía os alunos. Como as grandes figuras, estava a par das doutrinas em que se havia educado, mas não deixava de procurar aperfeiçoar conceitos e métodos. Assim é que a lingüística antes do seu tempo se caracterizara pelas raízes do método evolucionista e naturalista, segundo cujos preceitos as línguas eram emparelhadas aos organismos vivos, sob a égide das ciências naturais, que nasciam, cresciam, se desenvolviam e morriam independentes da vontade dos homens. Recebeu também Silva Ramos as luzes do método histórico-comparativo alemão e a ele acrescentou o ideário sociocultural da escola do americano Whitney. E mais avante acrescentou, já no final da vida e da ocupação magisterial, os ensinamentos incipientes do psicologismo francês de Ferdinando Brunot, em La Pensée et la Langue, saído em 1922. Registrem-se diferenças de visão da linguagem e das línguas nos dois excertos seguintes; o primeiro, datado de 1918, tipicamente fiel a um ideário naturalista em que a linguagem é uma proprietária biológica do homem. Neste sentido, vê como um processo fatalista de evolução as diferenças que se vão criando entre o português do Brasil e o português de Portugal, que haverão de favorecer o surgimento de um dialeto brasileiro independente: O que particularmente nos poderia interessar a nós brasileiros, como se depreende das consultas endereçadas freqüentemente aos professores de português, era saber se está próxima ou remota a emancipação do dialeto brasileiro, a ponto de se tornar língua independente. A dialetação, como bem sabeis, é um fenômeno natural que a ninguém é dado acelerar ou retardar, por maior autoridade que se arrogue; ao tempo, e 215 Ev a n ildo Bec hara só ao tempo, é que compete produzi-lo. As línguas românicas foram dialetos do latim, um dos dialetos por sua vez do ramo itálico, dialeto ele próprio da língua dos árias; não pode haver, portanto, dúvida mínima, para quem aprendeu na aula de lógica a induzir, que o idioma brasileiro, de dialeto português que ainda é, chegará a ser um dia a língua própria do Brasil. Que poderão, entretanto, fazer os mestres neste momento histórico da vida do português na nossa terra? Ir legitimando pouco a pouco, com a autoridade das nossas gramáticas, as diferenciações que se vão operando entre nós, das quais a mais sensível é a das formas casuais dos pronomes pessoais regidos por verbos de significação transitiva e que nem sempre coincidem lá e cá; além da fatalidade fonética que origina necessariamente a deslocação dos pronomes átonos na frase, o que tanto horripila o ouvido afeiçoado à modulação de além-mar. Consentiremos que os nossos alunos nos venham dizer que assistiram festas, responderam cartas, obedeceram ordens, perdoaram colegas e que, em compensação, assegurem aos mestres que lhes estimam, que se lhes não visitam com freqüência, é que receiam incomodar-lhes e que se lhes não saudaram na rua, foi que lhes não viram? Por mim, falece-me autoridade para sancionar tais regências, nem acredito que qualquer dos meus colegas se abalance a tanto. E, contudo, o que nenhum de nós teria coragem de fazer, hão de consegui-lo os anos que se vão dobando lentamente.11 Em outro tom é o seguinte comentário, de 1919: A língua não é um ser independente, não se pode desagregar de todos os outros aspectos da atividade social a que está intimamente ligada, para se considerar em abstrato; é uma resultante necessária da vida coletiva nas suas infinitas modalidades. Se conseguirmos, portanto, assimilar as virtudes das 11 Id., ibid., pp. 178-179. 216 Si lva Ramo s : m e s tr e da l í n g u a atenienses, ático será o nosso dizer; se persistirmos em importar, à mistura com os hábitos de elegância, os vícios, elegantes ou não, dos bárbaros e civilizados, proliferarão os barbarismos [= estrangeirismos], e se levarmos a desídia ao extremo de nos abandonarmos, como os habitantes de Soles, segregados da Grécia culta num recanto da Cilícia, não há fugir aos solecismos e acabaremos todos por falar como a mucama que tanto me irritou. É fatal.12 Por fim, cabe-nos falar da maior batalha que Silva Ramos travou nesta Casa: a batalha da ortografia, a cuja vitória final chegou muitos anos depois de morto, pelo peso científico dos princípios defendidos nos recuados anos de 1915. Todas as discussões havidas nesta Academia sobre sistematização ortográfica, iniciadas com a proposta de Medeiros e Albuquerque aprovada na sessão de 11 de junho de 1907, se caracterizaram por um empirismo e, como conseqüência, por soluções que transgrediam muito do progresso já conseguido lá fora sobre os fundamentos científicos em que se deveria assentar um tão razoável quanto possível sistema de representação na escrita do plano fônico da língua. As primeiras luzes no domínio do português vieram com o aparecimento, em 1904, da Ortografia Nacional, elaborada pelo competente foneticista e ortógrafo lusitano Gonçalves Viana. Aperfeiçoadas as suas recomendações com a eliminação de alguns exotismos, as propostas de Viana serviram de base para a reforma oficial da ortografia portuguesa de 1911. No Brasil, esta reforma simplificadora recebeu o beneplácito de Silva Ramos no seio da Academia, e no magistério pela acolhida de Mário Barreto, Sousa da Silveira, Antenor Nas- 12 Id., ibid., pp. 119-120. 217 Ev a n ildo Bec hara centes, Clóvis Monteiro e Jaques Raimundo, para ficarmos apenas com os mais representativos professores do Rio de Janeiro. Aceitando os argumentos técnicos do nosso homenageado, acolhe esta Casa sua proposta de adoção da reforma portuguesa na sessão de 11 de novembro de 1915. Essas núpcias entre as duas Academias duraram pouco, pois, em 1919, resolveram nossos confrades de então abandonar o acordo, pondo por terra tudo o que se havia deliberado sobre a magna questão ortográfica. O retrocesso muito magoou a Silva Ramos, que resolveu não mais tratar do assunto com seus pares. O argumento que nesta Casa se levantou contra a proposta incidia numa falsa razão ainda hoje trazida à baila em debates dessa natureza: a lusitanidade da pronúncia respeitada pelo acordo e tão natural ao autor de Pela Vida Fora. Havendo diferenças visíveis na pronúncia de brasileiros e portugueses, era impossível um sistema gráfico único para as duas nações, justificavam. Ora, falso o argumento, porque o sistema ortográfico não é essencialmente fonético mas fonológico, isto é, só leva em conta as unidades fônicas que têm valor lingüístico distintivo. Vale isto dizer que um vocábulo como menino, diretor ou também pode ser proferido diferentemente nas diversas regiões do Brasil e de Portugal, mas só será representado na escrita, cá e lá, de uma única maneira. E aí reside efetivamente a só responsabilidade de um sistema ortográfico. O fato ocorre com toda língua espalhada no vasto território nacional ou entre nações diferentes – como o espanhol, o francês, o inglês, o russo ou o árabe, por exemplo –, mas para esses idiomas existe apenas um modo de se grafar a grande maioria de seus vocábulos. Entre brasileiros e portugueses ainda não se chegou a uma razoável unidade porque se tem insistido em que o sistema ortográfico – argumento nem sempre verdadeiro – com a utilização excessiva de notações gráficas (como acentos, consoantes mudas e até o hífen) leva o falante a pronunciar “corretamente” as palavras dentro da diversidade fonética existente em todo o espaço da lusofonia. Aqui está o calcanhar de Aquiles que tem impedido a tão sonhada unidade gráfica no seio da Academia Brasileira de Letras e da Academia das 218 Si lva Ramo s : m e s tr e da l í n g u a Ciências de Lisboa: quer-se uma unidade e se ameaça ela com os fatores da diversidade. A proposta de 1915 de Silva Ramos e dos confrades que a subscreveram, adotando o sistema oficial português, assinalaria o primeiro passo no sentido da pretendida unificação. Posta em prática por largo tempo, viriam fatalmente as emendas para se alcançar a unidade a que tanto aspiramos como um dos fatores de difusão da língua portuguesa no mundo. Os argumentos de Silva Ramos contra propostas menos científicas acabaram vitoriosos com a aprovação do Formulário Ortográfico de 1943, revisto em pequenas alterações de 1971, que consubstanciava a velha lição de Gonçalves Viana. De todo este percurso intelectual e acadêmico de Silva Ramos como filólogo abalizado e como mestre da língua exemplar resta-nos, nesta passagem do sesquicentenário de nascimento, assumir o compromisso de levar avante sua obra e suas lições. 219 Poesia IVAN JUNQUEIRA O que me coube Pois foi só o que me coube: o que eu quis e nunca houve. o sonho que se fez logro, como o daquele, o do Horto, que na cruz pendeu exposto. Foi só isto. E mais o açoite que me vergasta o do aço do osso, o vinagre, o fel na boca. o céu ao reverso, torto, e Deus, déspota, deposto. Foi o sabor que me soube: o da maçã, que era insossa, o do vinho (azedo) no odre e o do pão, estrito joio sem trigo nenhum no miolo. Poeta, crítico literário e tradutor, Ivan Junqueira é membro da ABL (Cadeira 37). Trabalhou na imprensa carioca, foi diretor do Núcleo Editorial da UERJ e editor da revista Poesia Sempre. Sua poesia, desde Os mortos (1964) até A sagração dos ossos (1994), está em Poemas reunidos (Editora Record, 1995). 221 IVAN JUNQUEIRA Foi só isto o que me trouxe a vida (essa morte em dobro a quem faço ouvidos moucos), além de uns parcos amores, de um Pégaso avesso ao vôo, de uma flébil flauta doce, do corvo a chorar Lenora e de Apolo aquele torso a transmutar-se num outro. Foi só. Mais nada. Acabou-se. 222 M ar c e l o D in iz * Ócio O sono não aguarda pautas e, no espelho, um canto de quarto, uns retratos que ninguém olha. O sol novamente se arrasta, * Poeta, letrista e professor, doutorando em Letras pela UFRJ. confere o cálculo e se afasta sem deixar vestígio de glória. As palavras todas na página e aquele mesmo armário aberto, aquele mesmo espelho absorto. Se a luz traduzisse em segredo a distensão dos semitons, cada nuança de sua incidência oblíqua e filtrada, a modorra teria o dorso de uma fêmea. 223 Marcelo Diniz Marcelo Diniz M a rcelo Di ni z Agulhas Não precipitemos as coisas; essa vertigem que parece insuflar fôlego, palpitação ao inanimado ainda é muda, saibamos perceber esse estado. Não devotemos ainda às pedras ou a qualquer outro ente que nesse perímetro nos afete o discurso esperado do cosmos, não estimemos apelos dos astros no que ainda é simples vibração inaudita e presente nesse íntimo espanto. Sintamos apenas – não denominemos o amor – na língua as agulhas do instante translúcido, o conteúdo evanescente após estourada a fina esfera de toda metáfora. 224 Lena Jesus Ponte* Soneto volátil Pra onde vão os seus olhos, pra que pontos de fuga, ariscos galopes em savanas africanas? Pra onde escorre esse rio sem leito, incontido, por que grotas se infiltra, rolando entre seixos? Pra que estranhos planetas seus olhos viajam de inabitáveis mundos, inóspitas paisagens? Em que profundos universos abissais nadam fosforescentes enguias submarinas? * Formada em Letras (UFRJ), professora de Língua Portuguesa, publicou entre outros livros: Meu mundo (1965), Revelação (1983) e O corpo da Poesia (1992). Como escapam, mercúrio, dos dedos fugindo... Segredos ou medos por trás das cortinas preservam cativos sentimentos despidos. Saltitam seus olhos por sobre reticências... não param no ponto onde habitam meus olhos, meninos aflitos rompendo distâncias... Neve sobre brasa A pele da matéria vida descasca ao sol. Sem protetor, se expõe por inteiro 225 Lena Jesus Ponte Lena Jesus Ponte Lena Jesus Ponte a cidade suada, em carne viva. Um câncer social se adivinha, se avizinha. As calçadas gritam. Em gabinetes refrigerados, o ar condicionado dos economistas transforma em estatística o que se mostra víscera. Agoniza o corpo urbano sob o olhar gelado das teorias. 226 Ildásio Tavares* Restos Há um resto de noite pela rua que se dissolve em bruma e madrugada. Há um resto de tédio inevitável que se evola na tênue antemanhã. Há um resto de sonho em cada passo que antes de ser se foi, já não existe. * Poeta, contista, romancista, tradutor e crítico baiano. Entre outros livros, escreveu O canto do homem cotidiano, Roda de fogo, Nossos colonizadores africanos, O amor é um pássaro selvagem. Há um resto de ontem nas calçadas que foi dia de festa e fantasia. Há um resto de mim em toda a parte que nunca pude ser inteiramente. I O pavão é cauda e cor em ação, tumulto de luz em desperdício. 227 Ildásio Tavares Ildásio Tavares Ildásio Tavares Passo de pose, orgulho ao sol beleza em vão entre os demais, o pavão faz burguesia nos quintais. II O Pavão come do milho em comunhão para um depois de garbo e só. Carne também, destino ao prato, o pavão (enquanto assiste à degola, à depenação) garante a vida por decoração. 228 Hildeberto Barbosa Filho* Distonia poética Por mais que escave a caverna dos fonemas; por mais que explore as entranhas da linguagem. Por mais que revolva as vísceras da página, não há palavras para o poema. * Poeta e ensaísta, diplomado em Ciências Jurídicas e Sociais e em Letras. Alguns ensaios publicados: Aspectos de Augusto dos Anjos, Ascendino Leite: paixão de ver e de sentir, A convivência crítica e As ciladas da escrita: aspectos da literatura paraibana. Nem mesmo o tédio que se estende às tardes de domingo; nem mesmo a distonia que me alaga a maldita segunda-feira devolvem-me o sabor das frescas imagens com que devo lavar e polir a pele do poema. 229 Hildeberto Barbosa Filho Hildeberto Barbosa Filho Hildeberto Barbosa Filho É cruzar os braços e sucumbir ante a impotência dos vocábulos e uma vez mais morrer de silêncio. Insônia Todas as noites pastoreio as novilhas da insônia em pastas de morto leito. Toco suas mandíbulas de onça devassa que me devasta o sangue e a alma. Conto os algarismos de sua garupa insensata, nervo de canina ruminação. Meu pensamento bóia nas cisternas da insônia como um peixe sufocado e órfão. Como salvar-me dessa gleba desolada? Esculpindo Imagens de outra amada ou plantando estacas de sal na carne do poema. 230 Foed Castro Chamma* Inverno Juntos viajamos ao confim dos tempos desfrutando o sabor de teu hálito e o toque delicado das mãos que me fogem quais aves transparentes neste inverno que pede o teu calor análogo ao mosteiro cercado pelo gelo de uma Sibéria polonesa e sobre o banco a monja deitada e o exorcista a imprecar ao demônio que a abandone reeditando a mística da Dor. O aconchego no inverno atrai o fogo da carne ao amoroso que a vida celebra na matéria onde germina o bálsamo que vivifica as forças combalidas pelo gelo da mortificação, o gelo de uma amora acesa em ímpetos de labaredas invisíveis que se ocultam e são as rosas de um jardim florescente que Deus aguarda e rega as folhas tépidas de Joana a negar o fragor crepitante do gelo entre os galhos encobertos pela fria, dolorosa estação. * Poeta, ensaísta, membro do Grupo Jornal de Poesia. Publicou Melodias do estio, Iniciação ao sonho, O poder da palavra, Labirinto, O andarilho e a aurora, Pedra da transmutação, Sons de ferraria, Navio fantasma e o ensaio Filosofia da arte. Rompe os parâmetros que se impõem ao Fogo o ímpeto avassalador da Aliança concebida entre os pares que no aconchego dos corpos 231 Foed Castro Chamma Foed Castro Chamma Foed Castro Chamma suprem a imposição polar da álgida calota de uma Antártida a reeditar o fogo branco da Patagônia da nossa solidão sombria em que afundamos exauridos da ausência da alma e a liturgia necessária ao conforto dos lábios afogueados sob o pêlo de uma áfrica que o Continente de cocada e sumo interminável a metáfora agasalha qual imagem afogueada de assombro e rapto ao confim dos tempos no leito que convém aos corpos insubmissos voltados para a dança e seus quadrantes amorosos que as estações renovam a cada inverno, a cada canto consagrado ao rito da Natureza que os anos celebram, os momos, as legiões com suas listas de duas cores como as zebras. Visões da fé não aquecem o corpo místico da Dor que os braços enlaçados buscam suprir na viagem sem retorno afogueada do desejo e a impressão canina da fome que avassala os nossos corpos na contradição terrível que acompanha o Amor e o inverno não aplaca em seus desígnios paralelos. O brilho do diamante é de uma estrela em miniatura que o pensamento induz à relação do espírito a transfigurar-se na compleição do homem tal um deus cuja remota salvaguarda é a virtude do herói que transforma o Arquétipo em mito. 232 Foed Castro Chamma O Inverno (c.1786) Francisco Goya (1746-1828) Óleo sobre tela, 275 x 293 Madri, Museu do Prado 233 Foed Castro Chamma França Júnior Paisagem (1877) Óleo s/madeira, 16 x 24 cm José Joaquim da França Júnior (Rio de Janeiro, RJ, 1838 – Poços de Caldas, MG, 1890) é o patrono da Cadeira 12 da ABL. Exerceu a advocacia, ocupou cargos públicos e dedicou-se ao jornalismo, à produção de folhetins e textos teatrais e, a partir de 1873, começou a se interessar pela pintura, tornando-se excelente paisagista. Participou da Exposição Geral de Belas Artes de 1884, em Paris, e realizou mostras individuais, em 1889, na Casa de Wilde e na Galeria Glace Élégante, no Rio de Janeiro. 234 Geraldo Holanda Cavalcanti* FIM DE VERÃO EM ITAIPAVA 1. O azul é mais limpo tem mais viço o espaço se é início de março Leio os verdes da mata que a montanha escala e de aquarela faço Um gavião no alto abre seu paraglide e finge que flutua mas a sombra na relva a presa amedronta que célere se oculta Uma cigarra insiste um cachorro protesta uma andorinha passa sussurra o pintassilgo a cambaxirra pia na asa do ipê Geraldo Holanda Cavalcanti Geraldo Holanda Cavalcanti * Poeta, diplomata. Membro do PEN Clube. Publicou O mandiocal de verdes mãos (1964), O elefante de Ludmila (1965) e Poesia reunida (2000). Geraldo Holanda Cavalcanti Impertinente o sabiá desafiando o poeta canta no lugar certo e o meu verso infecta 2. Minha piscina imita David Hockney e a cada instante espero ver soltar-se] da teia de luz a presença numinosa que faz do instante inopinada epifania 3. Uma rapsódia de cores invade o ar São as trombetas da solaridade surgindo do pomar; um oboé se esgueira, um corne inglês desperta um bandolim se afina são a cadenza da nêspera, o smorzando do abacate e na miçanga escarlate o pizzicato das pitangas Mas Zora se agacha e mija em minha frente 4. Uma lagartixa me repta das divagações cromáticas 236 Geraldo Holanda Cavalcanti com impacientes meneios desvia-me o tento Há outro cenário oculto parece dizer-me e atrás da escada some E em vez da mata clara outro mundo descubro onde o meio-dia é escuro mundo cujos ruídos não são para meus ouvidos, onde mais curto é o diálogo entre a luz e a sombra e outro metro define a proporção dos seres Nele um grilo manco se esbate prisioneiro exangue de um harém de formigas 237 Helena Ortiz* Ante-sala * Coordenadora do projeto Panorama da Palavra, que apresenta talentos da poesia brasileira e o jornal de literatura Panorama. Publicou o livro de poesia Ímpar, na série Pintores e Poetas (da Telemar). A noite passa lenta e fluorescente purgam feridas sobre a cama metálica equipada para gestos mínimos o corpo é vasto para delírios e flutua inflado pelos limites do quarto onde se esgota úmido cada vez mais longe da porta Poemas P au l o B o m f im Apelo ...Mas deixai-me poetar Em nome dos que não sonham, Dos que calçam desespero Em percursos cotidianos, Dos que cruzam confluências Com pára-brisas de tédio, Dos fugitivos, nos bares, Dos vencidos que se amam, Dos inocentes que esperam. ...Mas deixai-me poetar Neste esvair sem sentido Com palavras indomadas, Ou com vocábulos mansos. – Que eu cante a vida que passa E os destinos sem destino – Que eu cubra de redondilhas As damas da madrugada, Jornalista e poeta, estreou em 1947 com o livro Antônio Triste (prefácio de Guilherme de Almeida). Autor de vária obra, traduzida para o alemão, francês, inglês, italiano e espanhol. É o decano da Academia Paulista de Letras. 239 Pa ul o Bo mfi m E meus versos sejam potros Onde as crianças galopem, Lona de circo estelante Vestindo a fome do mundo, Valsa brisa em realejo Na esquina dos desencontros. Sei da lógica das máquinas, Das avenidas neuróticas, Do roubo das alvoradas E dos anjos que se matam. Sou feito de tudo e nada. ...Mas deixai-me poetar! Canto-cântaro De que argila foste feito Canto cântaro de amor? Em que torno te tornaste Dona e duna, chão e pluma! Com que mármore marcaste O perfil das alamedas? Céu de selva onde caminho Sem possíveis salvações! Qual o sol por soletrar Teus bizarros compromissos? Ah! cilada tão silente, Tecla solta em cravo rubro! Fiandeira onde me fio Dedos-dédalos danando: – Se sou chuva é porque morro, Canto-cântaro de amor! 240 Poemas Soneto I Não busco especiarias, sou apenas Um corpo transformado na paisagem, Barco de amor e morte, céu de penas, Vôo tinto de rumos e ancoragem. Se pastoreio estas contradições Que são agora carne e pensamento, É porque trago a noite e seus violões A percorrer os quarteirões do vento. Dos passos estrangeiros crio o mapa E a bússola escondida na lapela, O resto é chuva desenhando a capa Que jogo sobre o corpo da procela. Não busco especiarias. Sou somente A mesa posta e o convidado ausente. Soneto X Os dormentes da estrada inda galopam. Não são potros, nem rios, nem fazendas Onde chegar com malas e moendas De triturar vazios, e onde tocam Sanfonas em varandas que hoje evocam Os mortos, as partilhas, as contendas. São apenas dormentes, quase lendas, Demandas e fronteiras que provocam O cismar de meninos já crescidos. Só paisagens subindo na mangueira, E apitos em mourões apodrecidos. 241 Pa ul o Bo mfi m Não são rios, nem potros, são crianças É fumaça vestida à marinheira: – Sonhai, dormentes! silenciai, lembranças! Soneto XIII A legenda se impõe e os alaúdes Salmodiam os feitos de ninguém, O périplo dos dias se derem Em trirremes de nobres atitudes. Submersas as canções e os rostos rudes, As ânforas partidas não retêm O elã de continuar, e tudo além É ímpeto morrendo nos açudes. Na túnica do mundo vagos sóis Relembram faunos, armas, inventivas, E sortidas de deuses e de heróis. A voz do coro é um eco desumano. Captamos no desterro e nas derivas, Algo sagrado e muito de profano. Soneto XVIII Nós, senhores de léguas, donatários Do tempo que é sertão; de muitas milhas De costa, herdeiros recebendo as filhas Da terra descoberta em rumos vários 242 Poemas Mal sabemos de nós, os perdulários, Os que esbanjam lonjuras em guerrilhas, Fidalgos de alma ruiva, reis de quilhas E proas aportando calendários. Nós, senhores de léguas, e mendigos Da chama de um momento onde pervagam Os serros, os cocares inimigos. E o fim, senda e regresso, pluma a arder No gorro audaz, e os passos que se apagam Em sesmarias do deixar de ser! Soneto XX Um rei sem dama surge do baralho E põe-se a galopar pela campina. Nem a cota de malha nem a fina Armadura retém-no sob o pálio De nuvens que relincham pelo atalho De chuva. Só a espada desatina Os elementos, brilho que destina, Metal de caos que ordena o impulso falho. Cerco de olhares, lanças que fulguram! Algo salta o baralho e em realeza Suplanta seus barões e a rude tropa. Senhor e palafrém se transfiguram: (Os jogadores são de pedra à mesa) Coroado de si mesmo um Rei galopa. 243 Pa ul o Bo mfi m Soneto XXII Inspiro a casa, os livros, e este vento, As formas e as essências que hoje habitam O chão do inundo. As forças que me ditam Seus destinos de carne e pensamento. Pelos caminhos do ar, renovo e invento A vida que me cerca. Noites gritam Nos olhos estrelados, que me fitam, Desperto em mim, e esse acordar é lento. Recrio o amor, as árvores frondosas, O castelo perdido, o pão, a bruma, A idéia do cristal, o som das rosas. Quando sinto que o sol desperta a imagem, Morro com ar que se tornou espuma, Sopro a palavra no papel paisagem. Soneto XXIV Agora, peço muito que me ajudes A retornar ao ponto de partida, Novos olhos revejam minha vida Antes que ela transborde dos açudes. Despirei nesse instante as atitudes, Minha roupa de estrelas já cerzida, O chapéu de alvoradas e a esquecida Capa de chuvas e de ventos rudes. 244 Poemas Comigo ficarão unicamente Os versos que escrevi e as derradeiras Flores que desfolhaste em minha mente. Depois, no grande espelho, a tarde é calma: – Saber que passo além destas fronteiras, Com meus disfarces já cobertos de alma! De tudo quanto amamos De tudo quanto amamos o que resta, O riso desbotado dos retratos, A talagarça dos momentos gratos Ou a tristeza desse fim de festa? Ficou por certo a ruga em nossa testa Inventariando feitos e relatos, E vozes e perfis somando fatos, E a desfocada imagem da seresta. E tudo o fogo aluga em canto findo, Este porque de coisas devolutas, E o tempo nômade que foi partindo. Ficou de quanto amamos nos escolhos A restinga das horas dissolutas, E o mar aprisionado em nossos olhos! 245 Pa ul o Bo mfi m Do menino O menino, caminho de lembranças, Bate a bola do mundo pela rua; Traz cafezais nos bolsos, traz a lua, E não encontra mais outras crianças! Indaga das esquinas de águas mansas, Do espectro dos sobrados, da falua, Dos fastos que se foram, da alma nua Que se vestia outrora de esperança. O neto se disfarça em seus avós, Retrato de memórias redivivas E cantochão dos que ficaram sós. Um menino entardece em suas fugas: Que mãos o aprisionaram, tão esquivas, Pássaro-tempo no alçapão das rugas! Um dia Um dia partirei com minhas malas, (Espaços que carrego pela vida), Com pássaros-gravatas e a medida Do verde exato para tantas galas. E quando me cansar de carregá-las, Nelas colocarei a despedida, A cantiga de amor mais pressentida, O vôo do silêncio e as grandes falas. 246 Poemas Irão cheias de sol, de bom agouro, Com vastas solidões e meus remédios, E bois pastando a mansidão do couro. E quando alguém gritar na noite nua: – Lá vai o poeta carregando tédios! Deixai-me prosseguir de rua em lua. 247 João de Barros (c. 1497-1570) Gravura de Teodoro A. de Lima. Ligado à corte portuguesa, João de Barros foi Feitor da Casa da Índia por 35 anos. Nessa posição, pôde consultar documentos e colher relatos de marinheiros e comerciantes do Oriente. Foi o primeiro historiador português a documentar-se de forma sistemática. Nas Décadas, obra oficial, encomendada por D. João III, seguiu o modelo de Tito Lívio. Só publicou três Décadas da Ásia (1552, 1553 e 1563), obra que influenciou Luís de Camões ao escrever Os Lusíadas. O continuador da obra foi Diogo do Couto (1542-1616). Guardados d a M emó r ia À margem das décadas Sylv i o B. P e r e ir a D os clássicos portugueses que floresceram no século XVI, João de Barros é, por todos os respeitos, um dos mais abalizados, o único, porventura, que, pela gravidade da narração, pureza de estilo e opulência de linguagem, pode ser lido, ainda mesmo por aqueles que se não dedicam ao estudo da língua através dos seus monumentos literários, sem que, em pouco, o livro, por falta de sabor, lhes caia nas mãos. De feito, ele nas Décadas – a mais primorosa obra do insigne cronista das glórias portuguesas na Ásia – muito que aprender, e louvar, porque ao copioso do vocabulário se ajunta a admirável propriedade das palavras; as pompas de estilo, correntio, desafetado, insinuante, o alevantado quilate das vozes; a sintaxe que, de fora parto certos archaismos de construção, e muito de imitar, o polimento e a técnica, perfeita do todo. A João de Barros não tem faltado panegiristas, que ele os houve grandes em cópia e qualidades. Mencionaremos de caminho e para o leitor desafeito ao trabalho de tais coisas, apenas o nome e parecer de alguns. Frei Antônio de São Romão, diz Agostinho de Campos na Artigo Publicado no Jornal do Brasil, 30 de janeiro de 1925. 249 À margem das décadas Syl v i o B. Perei ra sua Antologia Portuguesa, chama-lhe, com assaz de justiça, o Tito Lívio Português. Dom Fernando Alvia de Castro o compara, com não menos acerto, ao famoso autor da Ilíada. Francisco José Freire (mais conhecido talvez por Cândido Lusitano) discorrendo, nas Reflexões, acerca dos clássicos de sua terra, dá-lhe, entre outros gabos, o título de Mestre da Linguagem Portuguesa. Para Antônio Pereira de Figueiredo, João de Barros é aquele, em que mais reluz a eloqüência da Língua Portuguesa considerada no seu fundo e que assim merece Barros ser o Escritor, de cuja lição mais se aproveitem todos os que aspiram a falar bem a mesma língua. Nicolau Antônio chamou ao estilo de tão claro historiador luculenta oratorio, Levianae aemulae, etc. Cícero, se fora seu contemporâneo, ou póstero chamar por certo illustris oratio. Muito longe iríamos no enumerar dos louvores a tão conspícuo escrito, a quem cabe a honra de haver disciplinado e polido a linguagem, enfadonha e desataviada, dos Cancioneiros e das crônicas, que eram então os melhores monumentos literários. Outro, porém, é o nosso intento. Da leitura, paciente e atenta, de tão pomposa obra, vimos tal curiosos exemplos do falar antigo – muitos dos quase, por obra de um feliz e sensato ressurgimento, começam a aparecer nas obras de alguns bons escritores daqui e de Portugal – que pensamos não haja malbarato de tempo no transcrever de parte deles. Poucos são certamente os que, nestes tempos, se entregam a leitura e análise dos nossos clássicos. É verdade, e verdade de todos conhecida, que os Luíses de Sousa e os Vieiras, com seres de muita castiça e elegante elocução, fazem ao abandono, na poeira das bibliotecas, onde, só de raro em raro, um ou outro estudioso, andando, no novo garimpeiro, á carta do ouro do genuíno e são dizer português, os arranca para o sempre proveitoso manuseio. Tamanha desafeição aos velhos e colendíssimos mestres é tanto mais de estranhar quanto é grande o número dos que por ali andam a jactar-se de sabedores de português. Este trabalhinho – fruto das nossas vigílias após os labores cotidianos – é mais que modesto e não sonha por si as honras de artigo. Não é nenhuma novidade o que vamos dizer, com permissão dos doutos, cuja benignidade pedi- 250 À m a r g e m da s dé c a da s mos, e cujas observações acolheremos com sumo prazer. Pensamos, todavia, que há muitas causas antigas, que, pela excelência do seu paladar, devem de quando em quando, ser memoradas, por que não as desfaça e inutilize o esquecimento. Muitas palavras, entre as de que vamos apontar algumas acepções pouco conhecidas para quem não se dão o convívio dos livros, são muito encontradas em qualquer dos vinte e quatro volumes (edição de 1778) de que se compõem as Décadas, incluídas neste número as que foram prosseguidas por Diogo do Couto. O substantivo golpe, fora o sentido por que é hoje geralmente conhecido, tinha também, e tem ainda, o do partitivo grupo, porção, certo número de homens, segundo se contém nos nossos bons Dicionários, e nos revelam os seguintes exemplos: “Peró isto aproveitava já bem pouco, porque ante de sua vinda eram passados alguns Mouros de cavalo com um golpe de gente de pé...” (Déc. II, L. VI. Cap. VIII, p. 119) “No qual tempo veio dar com Jorge Botelho, que andava esgarrado dos outros Capitães, um golpe de gente de refresco...” (Déc. II, L. IX, Cap. I, p. 327) “Andando este conflito às escuras da fumaça da artilheria um pequeno espaço, em quanto os nossos se detinham no subir da estância; tanto que um golpe deles se fizeram senhores dela, assim descoseram na carne dos inimigos, que os meteram a ambos em fugida...” (Déc. III, L. II, Cap. II, pp. 124-125) De Frei Luís de Sousa temos dois exemplos idênticos, que colhemos, á ventura, nos Annays de El Rei D. João III: 251 Syl v i o B. Perei ra “Ordenou primeiro que tudo meter dentro na fortaleza um bom golpe de gente para dous efeitos: (Obr. cit. L. III, Cap. XIII, p. 167) “Em 23 de março deste ano... apareceu antemanhã Laxamena sobre o sítio de Upa, que junto á povoação dos mouros, e lançou em terra um golpe de gente.” (Ibid., L. III. Cap. XIV, p. 172) Na História de Portugal do “severíssimo” Alexandre Herculano encontramos: “Doze golpes de gente, de dez soldados cada um, subiriam assim sucessivamente ao muro...” (Ob. cit. Vol. I, L. II, p. 364) A palavra té (que se não deve confundir com a preposição té com aférese do a, muito usada assim na poesia como na prosa) com o sentido adverbial de cerca, pouco mais ou menos, aproximadamente: “Em guarda da qual tranqueira deixou Affonso Pessoa com té setenta homens...” (Déc. II, L. IX, Cap. I, p. 322) “...e depois de enxotar o grande número de gente que consigo tinha que poderia, ser té seis mil almas...” (Déc. II, L. IX, Cap. I, p. 325) O substantivo camello servia para designar uma peça de artilharia. “... mandou pôr uma barcaça com um camello, e outras seis peças pequenas de metal...” (Déc. II, L. IX, Cap. I, p. 322) 252 À m a r g e m da s dé c a da s “Pote Quetir porque quando a sua gente vinha cometer a tranqueira recebia mais dano do camello... que dos espingardeiros de Affonso Pessoa...” (Déc. II, L. IX, Cap. I, p. 322) “... somente ficou um bombardeiro que tirava com o camello que levaram para se servir dele neste mister...” (Déc. II, L. IX, Cap. I, p. 323) “E quando foram dar com o camello... acharam o cepo dele todo cheio de sangue, e segundo se soube, era por cortarem ali a cabeça ao nosso bombardeiro.” (Déc. II, L. IX, Cap. I, pp. 328-329) No primeiro destes quatro exemplos, o substantivo camello está escrito com dois ll enquanto nos demais figura com um só, grafia esta que parece ser a adotada pelo autor. Tal dualidade ortográfica supomos deva ser levada à conta de mero descuido de impressão. Da conjunção senão com o sentido preposicional de exceto topamos o seguinte exemplo: “... andava o mar tão alevantado, que soçobrou o esquife, e todos se salvaram, senão ele...” (Déc. II, L. VIII, Cap. VI, p. 313) Do substantivo cor com a acepção de vontade, desejo, houvemos à mão também um exemplo: “E porque já com esta cor de nos lançar de Malaca...” (Déc. II, L. IX, Cap. IV, p. 354) Muito e muito temos ainda que dizer, porque a matéria é substanciosa, e a fonte que ela fornece inesgotável. Hoje, porém, contentemo-nos com o que já dissemos. 253 PATRONOS, FUNDADORES E MEMBROS EFETIVOS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS (Fundada em 20 de julho de 1897) As sessões preparatórias para a criação da Academia Brasileira de Letras realizaram-se na sala de redação da Revista Brasileira, fase III (1895-1899), sob a direção de José Veríssimo. Na primeira sessão, em 15 de dezembro de 1896, foi aclamado presidente Machado de Assis. Outras sessões realizaram-se na redação da Revista, na Travessa do Ouvidor, n. 31, Rio de Janeiro. A primeira sessão plenária da Instituição realizou-se numa sala do Pedagogium, na Rua do Passeio, em 20 de julho de 1897. Cadeira 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Patronos Adelino Fontoura Álvares de Azevedo Artur de Oliveira Basílio da Gama Bernardo Guimarães Casimiro de Abreu Castro Alves Cláudio Manuel da Costa Domingos Gonçalves de Magalhães Evaristo da Veiga Fagundes Varela França Júnior Francisco Otaviano Franklin Távora Gonçalves Dias Gregório de Matos Hipólito da Costa João Francisco Lisboa Joaquim Caetano Joaquim Manuel de Macedo Joaquim Serra José Bonifácio, o Moço José de Alencar Júlio Ribeiro Junqueira Freire Laurindo Rabelo Maciel Monteiro Manuel Antônio de Almeida Martins Pena Pardal Mallet Pedro Luís Porto-Alegre Raul Pompéia Sousa Caldas Tavares Bastos Teófilo Dias Tomás Antônio Gonzaga Tobias Barreto F.A. de Varnhagen Visconde do Rio Branco Fundadores Luís Murat Coelho Neto Filinto de Almeida Aluísio Azevedo Raimundo Correia Teixeira de Melo Valentim Magalhães Alberto de Oliveira Magalhães de Azeredo Rui Barbosa Lúcio de Mendonça Urbano Duarte Visconde de Taunay Clóvis Beviláqua Olavo Bilac Araripe Júnior Sílvio Romero José Veríssimo Alcindo Guanabara Salvador de Mendonça José do Patrocínio Medeiros e Albuquerque Machado de Assis Garcia Redondo Barão de Loreto Guimarães Passos Joaquim Nabuco Inglês de Sousa Artur Azevedo Pedro Rabelo Luís Guimarães Júnior Carlos de Laet Domício da Gama J.M. Pereira da Silva Rodrigo Octavio Afonso Celso Silva Ramos Graça Aranha Oliveira Lima Eduardo Prado Membros Efetivos Ana Maria Machado Tarcísio Padilha Carlos Heitor Cony Carlos Nejar Rachel de Queiroz Cícero Sandroni Sergio Corrêa da Costa Antonio Olinto Alberto da Costa e Silva Lêdo Ivo Celso Furtado Alfredo Bosi Sergio Paulo Rouanet Miguel Reale Pe. Fernando Bastos de Ávila Lygia Fagundes Telles Affonso Arinos de Mello Franco Arnaldo Niskier Marcos Almir Madeira Murilo Melo Filho Paulo Coelho Ivo Pitanguy Zélia Gattai Sábato Magaldi Alberto Venancio Filho Marcos Vinicios Vilaça Eduardo Portella Oscar Dias Corrêa Josué Montello Nélida Piñon Moacyr Scliar Ariano Suassuna Evanildo Bechara João Ubaldo Ribeiro Candido Mendes de Almeida João de Scantimburgo Ivan Junqueira José Sarney Roberto Marinho Evaristo de Moraes Filho Composto em Monotype Centaur 12/16 pt; citações, 10.5/16 pt.
Download