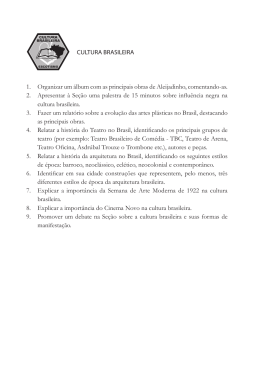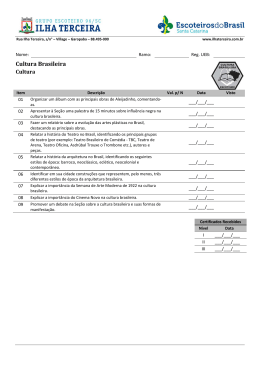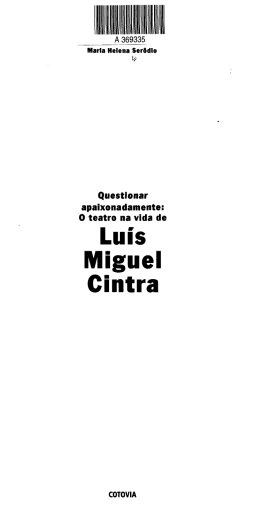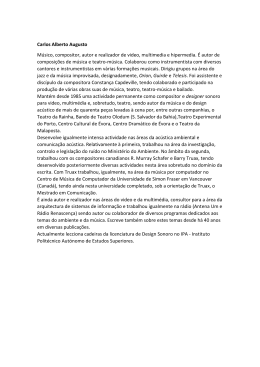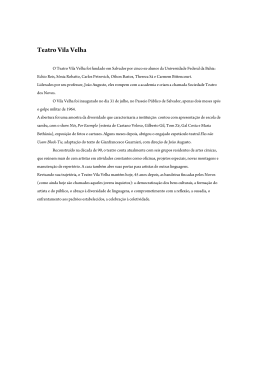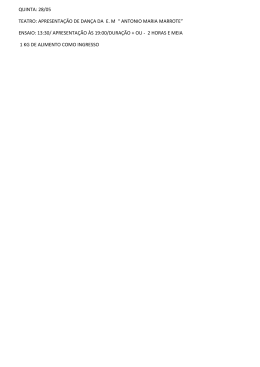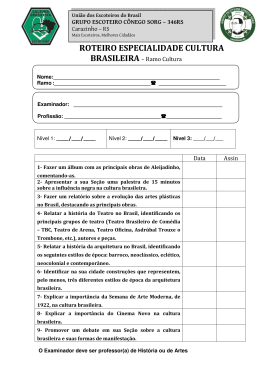Teatro Nacional São João 5‑22 fevereiro 2015 GATA EM TELHADO DE ZINCO QUENTE Cat on a Hot Tin Roof (1955) de Tennessee Williams encenação Jorge Silva Melo tradução Helena Briga Nogueira cenografia e figurinos Rita Lopes Alves luz Pedro Domingos som André Pires construção de cenário Thomas Kahrel operação de som Flávio Martins assistência Leonor Carpinteiro produção executiva João Meireles, João Chicó com Catarina Wallenstein Maggie Rúben Gomes Brick Américo Silva Papá Pollit Isabel Muñoz Cardoso Mamã Pollit João Meireles Reverendo Tooker João Vaz Dr. Baugh Tiago Matias Gooper Vânia Rodrigues Ema Rafael Barreto Sookey Inês Laranjeira Dixie Margarida Correia Trixie e os meninos Joana Pinto/Clara Sousa e José Pedro Pereira/Rafael Ferreira coprodução Artistas Unidos Teatro Viriato Fundação Centro Cultural de Belém TNSJ apoio Centro Cultural do Cartaxo espetáculo coproduzido no âmbito da rede 5 Sentidos estreia 19Set2014 Teatro Viriato (Viseu) dur. aprox. 1:50 M/12 anos qua 19:00 qui-sáb 21:00 dom 16:00 Espetáculo em língua portuguesa, legendado em inglês O TNSJ É MEMBRO DA PARCEIRO MEDIA “Será possível devolver ao teatro aquilo que aparentemente o cinema fixou para sempre?” Jorge Silva Melo 2 Um casamento destruído pelo álcool, a ausência de filhos, mistérios e mentiras. Heranças, valores, filhos, sexo. E a doença, a morte. O que é a propriedade privada? Gata em Telhado de Zinco Quente é uma tragédia: a passagem do mundo velho a um novo que não há meio de nascer. No trágico Sul de Tennessee Williams tudo se agita em volta do dinheiro. Estreada em Nova Iorque, em 1955, com direcção de Elia Kazan, esta peça ficou célebre graças ao belíssimo filme com Elizabeth Taylor, Paul Newman e Burl Ives nos papéis principais. No entanto, quer a versão de Kazan, quer o filme realizado por Richard Brooks em 1958 evitaram muitos dos problemas da peça original. Será possível devolver ao teatro aquilo que aparentemente o cinema fixou para sempre? Será possível voltar a fazer estas peças sem as cores esplendorosas de Hollywood? Será possível ver outra vez Maggie, a Gata como uma aventureira que a falta de dinheiro cega? Será possível voltar a pôr no palco estes dilemas, esta ansiedade, esta sofreguidão? Eu aposto que sim. Mas é uma peça de teatro. São tão extraordinários, tão dotados, tão livres os actores que tenho vindo a ver surgir, tão únicos, é tão extraordinária a liberdade e a integridade conseguidas nestes já quase vinte anos dos Artistas Unidos. E estava a ver as rugas começarem a surgir, os cabelos brancos a aparecer e dei um berro: não quero que estes actores a quem tudo devo, a vida, a arte, o amor, tudo, a vida de todos os dias, não quero que percam aqueles papéis que foram escritos para eles, não quero deixar passar o tempo, quero ver a Catarina Wallenstein, quero ver o Rúben Gomes, sim, o Américo Silva, a Isabel Muñoz Cardoso, a Vânia Rodrigues, quero vê‑los a decifrarem comigo as tortuosas peças de Tennessee Williams, aqueles papéis que agora podem fazer, agora mesmo, sem deixar para outro século. Gostei, no outro dia, de ler o meu Peter Stein dizer ao jornal Público: “Nunca quis ser encenador quando era novo, queria só ajudar uns actores”. É tal qual: ajudar uns actores que admiro, encontrar teatros, dinheiro, tempo, colegas, roupas para eles nos darem o que só os actores sabem, lágrimas, risos, suores, no fundo, abraços estreitos durante a noite. Foi assim que nasceu esta ideia de revisitar Tennessee Williams, gostava de fazer três das suas peças (esta Gata, o Doce Pássaro, a Noite da Iguana – mas quando? onde?), peças de outros tempos, de outros palcos, peças que saberei ajudar a fazer. Pois só isso agora desejo: ajudar a fazer. E que cada espectador possa guardar dentro de si a extraordinária liberdade destes artistas maravilhosos, cuja disponibilidade e grandeza não sei se merecemos. Textos escritos de acordo com a antiga ortografia. 3 Tennessee Williams* Perguntam‑me sempre, nestes debates em que fui obrigado a participar nos últimos anos, qual é a minha peça preferida entre todas as que escrevi. Elas são tantas que a memória me falha e respondo “sempre a última”, ou sucumbo ao instinto de dizer a verdade e digo: “Penso que talvez seja a versão escrita da Gata em Telhado de Zinco Quente”. Esta peça é a que mais se aproxima do que poderia ser, ao mesmo tempo, uma obra de arte e um trabalho bem feito. Em minha opinião, ela tem consistência; todas as personagens são divertidas, credíveis e comoventes. Além disso, obedece ao precioso preceito de Aristóteles, segundo o qual a tragédia deve comportar uma unidade de tempo e de espaço e uma certa grandeza no seu tema. O cenário de Gata em Telhado de Zinco Quente nunca muda e o tempo da representação é exatamente o tempo da ação, o que quer dizer que cada ato, do ponto de vista do tempo, se segue exatamente ao que o precede. Não conheço nenhuma outra peça moderna no teatro americano que obedeça ao mesmo princípio. Mas, seja como for, as minhas razões para preferir a Gata são mais profundas. Creio que, na Gata, me ultrapassei a mim próprio, no segundo ato, no plano da expressão, para dar à personagem do Papá Pollit uma espécie de eloquência em estado bruto, o que nunca consegui fazer com nenhuma das minhas outras personagens. Tenho de contar a história da produção da Gata em 1954 e do desastre que aconteceu logo depois do seu fenomenal sucesso. O Kazan tinha partilhado imediatamente o entusiasmo da Audrey [Wood] pela peça, mas disse que havia alguns pontos fracos num dos atos. Pensei que falava do primeiro ato, mas não, tratava‑se do terceiro: ele queria uma heroína mais admirável do que a Maggie que era apresentada no texto original. Intimamente, eu não concordava com ele. Com a Maggie, pensava ter feito o vivo e comovente retrato de uma jovem mulher que a frustração amorosa tinha levado a seduzir um rapaz que não a deseja. “Seduzir” é uma palavra demasiado doce. O Brick é literalmente obrigado a ir para a cama com a Maggie, por ela lhe ter confiscado a garrafa… Tinha tido também de violar a minha própria intuição, fazendo o Papá Pollit voltar à cena no terceiro ato. Não via nada que pudesse pô‑lo a fazer nesse ato e não tinha a impressão de que, do ponto de vista dramático, fosse bom que ele fizesse uma nova entrada nesse momento. Por isso, pu‑lo a contar “a história do elefante”. Os censores centraram o seu ataque nessa cena; insistiram em que a suprimisse, e eu substituí‑a por outra que sempre me desagradou. 4 * Excerto de Memoirs. London: Penguin, 2007. p. 168‑170. Trad. Ana Campos. Não lhes falaria de tudo isto se, depois da Gata, não tivesse recebido o Prémio da Crítica e o Pulitzer. Eu fico sempre doido nas noites de estreia, mas a estreia da Gata em Nova Iorque foi particularmente dramática. Pensava que era um fracasso, uma deformação do que eu tinha querido escrever. No fim, pensei que tinha ouvido as pessoas a tossir durante todo o espetáculo. Suponho que não tinham tossido assim tanto, não mais do que é habitual. Na realidade, a peça veio a ser o meu maior sucesso, a que esteve mais tempo em cena. No fim do espetáculo, na noite da estreia, o Kazan disse‑me: “Vamos para a minha casa até à saída das críticas”. Ele estava totalmente confiante de que seria um sucesso. Lá fora, encontrei a Audrey Wood e naquela altura encontrava‑me totalmente dependente dela para qualquer questão artística. Disse‑lhe: “Audrey, vamos todos para casa do Kazan esperar pelas críticas”. Respondeu‑me: “Oh, não, tenho outros planos”. Fiquei magoado e respondi ‑lhe com maus modos. Depois disso, parti para Itália com o Frankie e, pela primeira vez – não, pela segunda –, durante um período bastante longo, fui incapaz de escrever. O café forte já não bastava para fazer correr a minha seiva criadora. Durante várias semanas, suportei essa impotência, depois comecei a tomar Seconal com Martini. Cedo fiquei prisioneiro desse hábito. Durante esse verão de 1955, em Roma, esse estado criativo de abandono teve como resultado o filme Baby Doll, cujo texto contém uma espécie de divertimento gratuito sobre esse assunto, uma qualidade que não foi completa ou corretamente explorada no filme. Poderiam ficar com a impressão de que culpo o Kazan pelo início das minhas calamidades de escritor drogado. Nunca culpei ninguém por nada, a não ser por crueldade voluntária. Tive sempre a mesma convicção que a Blanche: “A crueldade deliberada é a única coisa imperdoável”. Talvez culpasse a Audrey pela sua negligência durante os dramáticos anos 60. Mas, mesmo a ela, não a culpo muito. Quanto ao Kazan, não o culpo por nada, nem sequer por aquela pergunta que ele me fez dentro de uma limousine alugada, quando voltávamos de um triste serão em casa da Jane e do Tony Smith: “Tennessee, quanto tempo é que achas que ainda vais viver?” Não fiquei chocado com a brutalidade da pergunta dele, porque há muito tenho a intuição de que dentro de todo o artista dormita o gato do diabo: “Mais alguns meses, Gadg”, respondi‑lhe calmamente. Por alguns instantes, ninguém abriu a boca dentro do carro que nos trazia de South Orange. Cada um de nós tomava consciência de ter vivido um minuto de verdade. 5 6 “O melhor é mantermo‑nos longe das nossas mães” Uma entrevista com Tennessee Williams. Por Robert Berkvist.* * The New York Times (21 Dec. 1975). Trad. Ana Campos. A vida está novamente a correr bem a Tennessee Williams. Depois de um longo e difícil período durante o qual a sua reputação esteve em queda, a sua obra é agora alvo de um renovado e generalizado interesse. Na verdade, poderão surgir nada menos do que três reposições simultâneas de peças suas na Broadway, durante as próximas semanas: Jardim Zoológico de Cristal [The Glass Menagerie] estreou-se no Circle in the Square; Doce Pássaro da Juventude [Sweet Bird of Youth], aclamada no Kennedy Center e, posteriormente, na Brooklyn Academy of Music, é reposta no Harkness Center, no dia 29 de dezembro; e o Phoenix Theater apresentará uma das suas peças mais curtas, 27 Vagões Cheios de Algodão [27 Wagons Full of Cotton], como parte do seu programa de abertura no Playhouse, no dia 26 de janeiro. Além disso, Williams tem duas novas peças prestes a estrear (apesar de bastante longe da Broadway), tem uma terceira em curso e está a dar que falar com as suas Memoirs sensacionalmente sinceras, publicadas no mês passado. Chegado recentemente à cidade, vindo de São Francisco, onde viu o American Conservatory Theater preparar‑se para encenar a sua nova comédia, This is (An Entertainment), e a planear uma viagem a Viena para a estreia do seu drama político The Red Devil Battery Sign (“totalmente reescrito” após o desonroso desfecho pré‑Broadway no verão passado), Williams fez uma pausa suficientemente longa para refletir sobre algumas questões da sua vida e da arte. O autor está, naturalmente, satisfeito pelo facto de as suas peças estarem, mais uma vez, a provocar agitação no meio teatral, apesar de, com a prudência de um marinheiro que mal consegue acreditar que a tempestade já passou, ter manifestado alguma preocupação com a possibilidade de tantas reposições poderem levar a uma “indigestão”. Depois de lhe pedir que especulasse sobre os motivos por detrás do reaparecimento, Williams respondeu com um murmúrio: “Oh, Deus, acho que prova que, quando vivemos o suficiente, ou somos totalmente esquecidos ou entramos no negócio do revivalismo”. Mas será que não há algo no ar do tempo que torna o público novamente recetivo a algumas das suas peças? Será que, por exemplo, a aura da década de 1940 de Jardim Zoológico de Cristal produz agora um efeito especialmente nostálgico? “Penso que sim”, afirma Williams mais seriamente, com o seu suave sotaque sulista, arrastando as vogais até soarem como um lamento. “Penso que alguns dos meus trabalhos, como Doce Pássaro da Juventude, são agora vistos mais 7 à luz de outros valores do que pelo sensacionalismo. Hoje em dia, as pessoas estão mais habituadas a cenas de sexo e violência; conseguem ver uma peça como Doce Pássaro da Juventude de uma forma muito mais objetiva. Gata em Telhado de Zinco Quente é outro exemplo disso. O objeto da confusão sexual de Brick já não provoca a sensação que em tempos provocou, pelo que o verdadeiro tema da peça – a falsidade generalizada da nossa sociedade – é agora percebido com mais clareza.” Talvez, então, o enorme sucesso da reposição de Gata no ano passado não tenha sido um acaso? “O caso Watergate pode ter sido útil para a Gata”, concordou com uma gargalhada. Williams não gosta muito de falar do seu trabalho. “Pode‑se dizer quais foram as peças de que mais se gostou, mas isso não significa que elas sejam as melhores. A última pessoa a falar sobre o seu trabalho é o próprio autor, sabe? Além disso, cheguei à conclusão de que a minha reação às peças muda constantemente. Vejo uma boa produção de uma peça e digo ‘Ah, esta é provavelmente a melhor’, e depois vejo outra. As minhas maiores peças não são produzidas com frequência. Duvido que Doce Pássaro da Juventude tenha sido produzida mais do que três ou quatro vezes. Trabalhei com muito poucos encenadores fenomenais – Elia Kazan e Ed Sherin, e acho que é tudo. Mas trabalhei com atores muitíssimo talentosos, porque é preciso ter muito talento para interpretar estas personagens um tanto excessivas e projetá‑las para o público. Todas elas resultam de uma imaginação exaltada.” Williams soltou uma gargalhada com satisfação, às custas do seu próprio comentário. Existe, insistiu ele, “muito pouco” de autobiográfico nas suas peças, “apesar de estas refletirem, de certa forma, o particular tumulto psicológico por que passava no momento em que as escrevi. As mais antigas são relativamente calmas, como Jardim Zoológico de Cristal”. Mas não haverá determinadas semelhanças entre Laura, a filha física e emocionalmente inválida de Jardim Zoológico de Cristal, e Rose, a irmã doente mental de Williams? “De certa forma, apesar de a minha irmã ser uma pessoa com muito mais vivacidade do que Laura. De uma vivacidade tremenda. Ela poderia ter ficado bastante bem se não lhe tivessem feito aquela maldita operação. Teria conseguido voltar à superfície.” A operação foi uma lobotomia. Por um momento, Williams pensa no passado, e depois sorri perante uma recordação. “A minha mãe entrou em pânico, sabe, porque, segundo ela, a minha irmã começou a utilizar aquela palavra de quatro letras. ‘Faz qualquer coisa! Não a deixes falar assim’, gritava a minha mãe.” Williams projetou as palavras num falsete histérico. “Mas Rose não fazia isso. Oh, não, ela dizia coisas com o mesmo significado dessa palavra de quatro letras, mas fazia‑o com uma linguagem elegante” – a sua voz assume um tom de soprano sonhador – “do género: ‘Mãe, nós, as meninas da [escola] All Saints, costumávamos abusar de nós próprias com as velas que roubávamos na capela’. A nossa mãe não suportava aquilo!” A lembrança provoca‑lhe uma enorme gargalhada. “A minha mãe tem agora noventa anos e é uma inspiração para todos nós”, acrescenta Williams secamente. A sua mãe – a “Miss Edwina” – entra em alguma das suas peças? “Em todas elas, diria eu”, responde calmamente. “Ela tinha o dom da tagarelice. Devo dizer que contribuiu muito para a minha escrita – as suas formas de expressão, por exemplo. E aquela histeria subjacente conferia‑lhe uma grande eloquência. 8 Continuo a achá‑la totalmente mistificante – e assustadora. O melhor é mantermo‑nos longe das nossas mães.” As Memoirs do dramaturgo são notáveis pela sincera discussão a respeito da sua homossexualidade, a ponto de alguns críticos sugerirem que o teor da obra é desequilibradamente sexual. “Porquê? Porque a [editora] Doubleday manteve todos os temas polémicos e eliminou as coisas que eram apenas humorísticas. Em tempos, o livro foi assim, grosso”, afirma, medindo o volume gigantesco no ar, “mas cortaram‑no em grande. No fim de contas, eles estão no negócio da venda de livros e tinham de pensar no que seria comercialmente viável. Mas a redução do livro alterou‑lhe a ênfase, dando a impressão de que sou uma espécie de maníaco sexual. Não tenho tempo para ser um maníaco sexual, não acha? Criei uma versão expandida que coloca as coisas em perspetiva.” O livro é, de certo modo, um exorcismo? O purgar de antigos demónios, sexuais e artísticos? “Não, de todo. Apenas disse: ‘Vou escrever a minha história tão honestamente quanto conseguir’. E foi o que fiz. Mas não, não é um exorcismo. Não há necessidade disso. Nunca achei que a minha vida fosse escandalosa; para mim, até foi bastante normal. Acho que, desde que uma pessoa tenha em conta determinadas regras, não há nada de vergonhoso sobre ela. A minha vida não é diferente da vida de qualquer outra pessoa, exceto que, por vezes, os pronomes são diferentes. Mas o que há num pronome?” Williams troça daqueles que sugerem que as suas peças são, na realidade, dramas travestidos – peças não assumidas sobre a homossexualidade. 9 “Absurdo”, afirma. “Qualquer pessoa que me conheça minimamente sabe que não tenho necessidade de disfarçar a natureza sexual das minhas personagens. Porque o faria? Qualquer pessoa que tenha lido os meus contos sabe que nunca dissimulei nada. A sexualidade faz parte do meu trabalho, naturalmente, porque a sexualidade faz parte da minha vida e da vida de toda a gente. Não vejo uma diferença essencial entre o amor que existe entre dois homens e o amor que existe entre um homem e uma mulher. Não há diferença essencial, e já estudei ambos.” Prosseguiu, continuando a defender as mulheres das suas peças, muitas das quais estão entre os papéis femininos mais memoráveis alguma vez criados para teatro – Blanche DuBois em Um Elétrico Chamado Desejo [A Streetcar Named Desire], Alma Winemiller em Verão e Fumo [Summer and Smoke], Maggie em Gata em Telhado de Zinco Quente, Alexandra Del Lago em Doce Pássaro da Juventude. “Não sinto qualquer animosidade em relação às mulheres”, afirma Williams. “Tenho tendência a considerá‑las invioláveis – como as irmãs e as mães. São melhores quando o seu papel é desempenhado como totalmente Mulher. Foi isso que tornou tão arrebatador o desempenho de Irene Worth neste mais recente Doce Pássaro da Juventude. Ela estava destinada a ser totalmente feminina, não um travesti. Acho os travestis aborrecidos e superficiais. Não têm qualquer paixão real, exceto um interesse narcisista pela sua aparência. Não me poderia interessar por isso. Não, não existe animosidade. Blanche era um monstro? Na minha opinião, ela era bastante agradável. E a Miss Alma também. Alexandra Del Lago era agradável, apesar de ser um monstro. Mas a maioria das pessoas são monstros. Não querem admiti‑lo, mas são. Todos nós aprendemos a funcionar de acordo com um sistema de enorme hipocrisia.” Será por acaso esse o tema da sua nova peça? “Oh, não, a peça que estou a escrever agora é uma comédia tumultuosa”, afirma Williams. “É sobre uma mulher cujos filhos ficaram no jardim‑de‑infância durante catorze anos… Bem, não posso descrever as minhas peças, mas é muito engraçada”, afirma, não contendo o riso. “As minhas outras novas peças são como as duas faces da mesma moeda. This Is trata do lado divertido da revolução, a outra, Red Devil, é um ataque às delinquências morais da América. Penso que todas as minhas peças tiveram – subliminarmente, pelo menos – um teor social considerável. Espero que estas peças convençam as pessoas de que ainda consigo escrever com eficácia.” Há quem afirme que o Williams de hoje apenas consegue explorar o passado e que, tal como aconteceu com Arthur Miller e Edward Albee, secou. “Dizem isso acerca de todos os escritores”, respondeu. “Sei que dizem isso a meu respeito – talvez com alguma razão. Sei que Albee é talentoso e que não é, de modo algum, um talento esgotado. A peça Paisagem Marítima [Seascape] estava muito bem escrita. Mas não o compreendo. Recentemente, ele disse ‑me algo bastante aterrador. Disse: ‘Sabes, sempre me fizeste lembrar um pequeno Arthur Miller’. Foi uma observação um tanto confusa. Deixou‑me perplexo. Ele nunca tinha feito comentários sobre o meu trabalho. Em relação a Miller, não sei. Sempre admirei o seu trabalho, particularmente As Bruxas de Salem [The Crucible], mas, como sabe, não trabalhamos da mesma maneira. Não existe qualquer semelhança evidente no nosso trabalho. No que me diz respeito, continuo a gostar de escrever, por isso, vou continuar a escrever.” 10 Williams pensa que é “muito mais difícil” escrever para o teatro de hoje do que há vinte anos atrás. “Em primeiro lugar, há muito menos teatros para os quais escrever, e atualmente todos têm medo de correr os riscos que a escrita e a produção de peças implicam. Os produtores insistem em todos os tipos de salvaguardas. E o público mudou. Cada vez mais, a televisão ataca a sensibilidade das pessoas. Admito que uma determinada percentagem dessas pessoas aceitará sempre bem o teatro, depois do bang, bang, bang da televisão, mas nunca em número suficiente. Por isso, o teatro já não tem o tipo de apoio do público que costumava ter.” Williams considera as condições de ‘crescimento‑ou‑falência’ dos teatros comerciais da América demasiado mortíferas para o talento. “A maioria dos nossos dramaturgos mais jovens é castrada pelo sistema em que trabalha”, afirma. “O público não está preparado para ter a paciência que lhes permita evoluir enquanto artistas. Deve ser‑lhes permitido ter os seus fracassos, se forem fracassos audazes, aventuras criativas.” Há inúmeros talentos na escrita na América, defende Williams, mas não têm apoio. “As pessoas certas não estão a ser subsidiadas, o tipo certo de teatro. Aqui, não temos uma Royal Shakespeare Company. Precisamos de teatros de repertório. Os artistas norte‑americanos têm imensa sorte quando conseguem ser alguém. Aqui, o talento esgota‑se antes do tempo, é queimado pelas pressões. Ter a nossa peça produzida na América envolve uma tensão tal, à conta dos custos e da pressão do sucesso, que as energias das pessoas envolvidas, especialmente as do dramaturgo, rapidamente se esgotam.” Aos 61 anos, Williams não aparenta sinais externos dos danos provocados por tais pressões, nenhuma cicatriz daquilo que em tempos apelidou de “a catástrofe do sucesso”, apesar de ter descrito a história arrepiante da destruição do seu espírito e corpo nas suas Memoirs. Vestido de forma conservadora, bebericando vinho branco, até poderia passar por um homem de negócios bem‑sucedido a quem tivessem aconselhado cuidado com a dieta. Apesar de não ser exatamente otimista quanto ao futuro (“Penso que a América está sob a ameaça de regressar ao primitivismo”), está determinado em ir ao seu encontro nas suas próprias condições. “Tenho do meu lado esta incrível força e resistência hereditária”, diz sorrindo, “e tenho a intenção de sobreviver porque não acredito que haja mais nada além do esquecimento como alternativa. E não me lembro de nada do esquecimento antes de ter nascido.” 11 Tennessee Williams 1911‑1983 Marie‑Claire Pasquier* Tennessee Williams é o pseudónimo de Thomas Lanier Williams, nascido em Columbus, Mississippi, em 1911. O dramaturgo norte‑americano, que se tornou famoso em 1947 com Um Elétrico Chamado Desejo, não parou – até à morte, em 1983 – de escrever peças que conheceram, frequentemente, um grande êxito popular. Com Arthur Miller, é uma das duas grandes figuras do teatro norte ‑americano depois de Eugene O’Neill. Como Miller, Williams viu a sua notoriedade alcançar um grande público graças aos belíssimos filmes realizados a partir da sua obra, ao longo de toda a sua carreira – por Elia Kazan, mas não só. Mas se Miller era um nova‑iorquino, Williams é um homem do Sul, um homem da nostalgia, da decadência, poderíamos dizer. Uma decadência que o autor observa com fascínio e da qual extrai uma magia ambígua. O que capta a sua atenção é o momento fugaz de felicidade ou beleza que não sabemos como reter, aquilo que rápida e inexoravelmente se irá quebrar, desbotar, corromper. O que está a ponto de se partir (a fragilidade de uma coleção de miniaturas de animais em cristal é uma dessas imagens que ele foi capaz de tornar inesquecíveis) é a juventude (o “doce pássaro da juventude”), que não tarda a perder a sua feição aveludada, é o sempre precário equilíbrio nas relações humanas que, mais cedo ou mais tarde, resvala para a loucura. A Blanche DuBois de Elétrico é simultaneamente tudo isto: o Sul que não encontra consolo para a grandeza perdida, o Sul da pureza de vidro ao fundo das extensas fileiras de plantações, que se compromete irremediavelmente, mentindo sempre para conservar uma fachada cada vez mais deteriorada e que soçobra subitamente na vertigem da revelação das contradições. O filme realizado por Kazan em 1952 não envelheceu, e Vivien Leigh permanece na nossa memória, depois da Scarlett de E Tudo o Vento Levou, como a Blanche DuBois forte e frágil que conduz uma ambulância após o confronto com o belo, perturbador e cativante Marlon Brando no papel de Stanley Kowalski, o polaco de modos rudes que casou com a sua irmã. Uma vida de errância O verdadeiro nome de Tennessee Williams é Thomas Lanier Williams e foi ele próprio que adotou por primeiro nome ou pseudónimo a denominação desse Estado onde os seus antepassados foram pioneiros. A infância, rodeada de mulheres, foi marcada pelo medo de um pai autoritário, felizmente ausente grande parte do tempo; pelo amor pela sua irmã Rose (modelo da Laura de Jardim Zoológico de Cristal), que acabará esquizofrénica e sobre a qual Tennessee dirá: “As pétalas do seu espírito estão torcidas pelo medo”; pela 12 * In Michel Corvin (dir.) – Dictionnaire Encyclopédique du Théâtre à Travers le Monde. Paris: Bordas/SEJER, 2008. p. 245‑246. Trad. Pedro Sobrado. proteção dos avós. Será um adulto instável, atormentado, tentado pelo álcool, assombrado pelo medo das mulheres. Os jovens pelos quais, desde sempre, se sentiu seduzido não o fazem feliz (apesar da presença de um companheiro até ao fim da sua vida). Para ele, a sexualidade está associada à culpabilidade e passa muito do seu tempo (com exceção daquele que dedica ao seu trabalho de escritor) a errar “entre o divã do psicanalista e as praias das Caraíbas”. Começa por escrever novelas e poemas. Em 1936, com vinte e cinco anos, descobre profissionalmente o teatro, associando‑se à companhia Mummers, de St. Louis. Outro momento importante é o encontro com Kazan: entre os dois cria‑se, desde logo, uma afinidade ao nível da sensibilidade, e Kazan será o primeiro a ter o mérito de saber respeitar o segredo das personagens de Williams, ao mesmo tempo que as dá a conhecer ao grande público. Um vocabulário de imagens Williams, o escritor, é assombrado pela fuga do tempo e escrever para o teatro é, para ele, um meio de suspender o instante, de o reter numa forma, como a melodia retém a música. “O tempo, esse inimigo no coração de cada um de nós.” E ele sabe bem que, no final, nós seremos vencidos. Até lá, teve “as paixões e as imagens que cada um de nós tece entre o nascimento e a morte”. A palavra “imagens” é aqui importante: como nos sonhos, todo o nosso esforço para comunicar com outrem se funda – tanto na vida como no teatro – em imagens. Temos à nossa disposição todo um vocabulário de imagens. E o poeta – ou o autor dramático – é aquele que sabe atualizá‑las, fazê‑las servir a expressão de uma tensão, de uma emoção. Por esta razão, o símbolo é, em teatro, a forma mais eficaz, a mais económica – e a mais bela – de dizer as coisas. A qualidade visual do seu teatro explica que tantos cineastas tenham desejado transpor a sua obra para o ecrã. Entre 1950 e 1970, quase não houve um ano em que não fosse realizado um filme a partir da obra de Williams. Em 1952, Kazan filma Elétrico; em 1956, Baby Doll (a expressão tornou‑se proverbial). Em 1958, Richard Brooks realiza Gata em Telhado de Zinco Quente e, em 1962, Doce Pássaro da Juventude. Mankiewicz realiza Bruscamente no Verão Passado [Suddenly Last Summer] em 1959 e John Huston, em 1963, A Noite da Iguana [Night of the Iguana]. Todos os grandes estiveram envolvidos, incluindo Sidney Pollack, Joseph Losey e Sidney Lumet. Note‑se, de passagem, a arte do título em Williams: um poema denso e frágil como um haiku. Pela magia do cinema, os nomes das maiores estrelas de Hollywood permanecem ligadas a este teatro: Anna Magnani com A Rosa Tatuada [The Rose Tattoo] e O Homem na Pele da Serpente [The Fugitive Kind]; Katharine Hepburn, Paul Newman, Elizabeth Taylor, Montgomery Clift, Richard Burton, Ava Gardner (e naturalmente Vivian Leigh e Marlon Brando): as mulheres resplandecentes, vestidas de branco, intocáveis; os homens, animais soberbos de movimentos leves e ágeis, como se fossem de feltro. 13 Jorge Silva Melo Fundou em 1995 os Artistas Unidos, de que é diretor artístico. Helena Briga Nogueira É licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Foi professora de Inglês no Ensino Básico e Secundário, entre 1990 e 1994, lecionando Português desde 1993 até ao presente. A partir de 2006, passou a lecionar também a disciplina de Expressão Dramática, na Escola de Sever do Vouga. Colabora na produção de textos dramáticos para a Viagem Medieval de Santa Maria da Feira. Traduziu Um Elétrico Chamado Desejo e Outras Peças (2009) de Tennessee Williams, bem como Riverside Drive e Old Saybrook de Woody Allen, reunidas em Infidelidades (2010). Catarina Wallenstein É diplomada pela Escola Superior de Teatro e Cinema (Teatro, 2008) e frequentou o Conservatoire de Paris. No cinema, trabalhou com José Nascimento, Gaël Morel, Manoel de Oliveira, João Botelho, Artur Serra Araújo e Rúben Alves. Nos Artistas Unidos, participou em Não se Brinca com o Amor de Alfred de Musset (2011 ‑12) e A Estalajadeira de Carlo Goldoni (2013). Rúben Gomes Frequentou os cursos da Act – Escola de Actores. É uma presença regular na televisão. No teatro, trabalhou com João Mota, Philippe Leroux, Cláudia Lucas Chéu e Pedro Marques. Com os Artistas Unidos, participou em A Nova Ordem Mundial de Harold Pinter (2010), Um Homem Falido de David Lescot (2011), Dias de Vinho e Rosas de J.P. Miller, versão de Owen McCafferty (2012), A Morte de Danton de Georg Büchner (2012), Feliz Aniversário de Pinter (2012), A Estalajadeira de Goldoni (2013), O Campeão do Mundo Ocidental de Synge (2013) e O Regresso a Casa de Pinter (2014). Américo Silva Tem o curso do Instituto de Formação, Investigação e Criação Teatral (1989) 14 e é diplomado pela Escola Superior de Teatro e Cinema (Teatro, 1994), tendo trabalhado com Ávila Costa, José Peixoto, João Lagarto, Carlos Avilez, Rui Mendes, Diogo Dória, Francisco Salgado, Manuel Wiborg e, no cinema, com Jorge Silva Melo, Alberto Seixas Santos e Miguel Gomes. Colabora com os Artistas Unidos desde 1996, tendo participado em Um Homem Falido de David Lescot (2011), Não se Brinca com o Amor de Musset (2011‑12), A Farsa da Rua W de Enda Walsh (2011‑12), A Morte de Danton de Büchner (2012), Feliz Aniversário de Harold Pinter (2012), A Estalajadeira de Goldoni (2013) e O Campeão do Mundo Ocidental de Synge (2013). João Meireles Tem o curso do Instituto de Formação, Investigação e Criação Teatral (1992). Trabalhou com Luís Varela, Manuel Borralho, Ávila Costa, Adolfo Gutkin, Aldona Skiba‑Lickel, José António Pires, o Pogo Teatro e o Teatro Bruto. Integra os Artistas Unidos desde 1995. Participou recentemente em Um Precipício no Mar de Simon Stephens (2010‑14), Não se Brinca com o Amor de Alfred de Musset (2011‑12), A Farsa da Rua W de Enda Walsh (2011‑12), A Morte de Danton de Büchner (2012), Por Tudo e por Nada de Nathalie Sarraute (2013) e A Modéstia de Rafael Spregelburd (2014). João Vaz É diplomado pela Escola Superior de Teatro e Cinema. Trabalhou com Stephen Medcalf, António Pires, Luís Castro, Teresa Sobral, Luís Alvarães, Xosé Blanco Gil, R. Kot‑Kotecki, José Mora Ramos, Carlos Fogaça, José Peixoto e José Martins. Em cinema e televisão, trabalhou com Andrzej Jakimowski, João Canijo, Artur Ribeiro, João Pupo, Telma Meira, Fernando Vendrell, António Duarte, Luís Brás, Alexandre Montenegro, Edgar Feldman, Ruy Guerra, Ricardo Espírito Santo, Diogo Collares Pereira, Mário Barroso, Frederico Serra, Tiago Guedes de Carvalho, Carlos Assis, Fátima Ribeiro, José Carlos Oliveira, Fernando Lopes, João Pedro Ruivo, Manuel Mozos, Pedro Ruivo, Luís Alvarães, Joaquim Leitão e José Fonseca e Costa. Participou em filmes publicitários. Nos Artistas Unidos, participou em Penélope de Enda Walsh (2012) e O Campeão do Mundo Ocidental de Synge (2013). Tiago Matias Estreou‑se na Companhia de Teatro de Sintra, onde trabalhou com João de Mello Alvim, Nuno Correia Pinto, Antonino Solmer, Jorge Listopad, Carlos Pimenta e Pedro Penim. No Teatro da Cornucópia, trabalhou com Luis Miguel Cintra e Christine Laurent, em textos de Brecht, Pirandello, Sófocles, Shakespeare e Tchékhov. Tem participado em diversas séries de televisão e faz dobragens e locuções. Nos Artistas Unidos, participou em O Peso das Razões de Nuno Júdice (2009), Rei Édipo a partir de Sófocles (2010), Comemoração de Harold Pinter (2010), A Morte de Danton de Büchner (2012), Feliz Aniversário de Pinter (2012) e Procedimentos de Regularização de Diferenças de Dimítris Dimitriádis (2014). Vânia Rodrigues É diplomada pela Escola Superior de Teatro e Cinema (Teatro, 2008). Trabalhou com André Uerba, Miguel Moreira, Mónica Calle, João Mota, João Abel, Tiago Vieira, a companhia Há Que Dizê‑lo e a Latoaria. No cinema, trabalhou com Pedro Palma e Raúl Ruiz. Nos Artistas Unidos, participou em Esta Noite Improvisa‑se e Seis Personagens à Procura de Autor de Pirandello (2009), O Peso das Razões de Nuno Júdice (2009), Comemoração de Harold Pinter (2010), Fala da Criada… de Jorge Silva Melo (2010), Não se Brinca com o Amor de Musset (2011‑12) e A Morte de Danton de Büchner (2012). Isabel Muñoz Cardoso Tem o curso do Centro Cultural de Évora. Trabalhou com Luís Varela, José Peixoto (Teatro da Rainha/ Malaposta), José Carlos Faria, José Mora Ramos, Diogo Dória, Jean Jourdheuil e Solveig Nordlund. Formou o Teatro do Tejo em 1989. Nos Artistas Unidos, participou em inúmeros espetáculos a partir de António, Um Rapaz de Lisboa de Jorge Silva Melo (1995), tendo interpretado textos de Gerardjan Rijnders, Samuel Beckett, Jon Fosse, Harold Pinter, Antonio Onetti, Sarah Kane, Bertolt Brecht, Arne Sierens, Jean‑Luc Lagarce e Irmãos Presnyakov. Rafael Barreto Concluiu o curso profissional de Artes do Espetáculo na Escola Secundária de Gil Vicente (2011). Integrou o elenco de Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare (Teatroesfera) e Fantoches Gigantes de Ricardo Neves‑Neves, ambos com encenação de Paula Sousa, O Solene Resgate de Ricardo Neves‑Neves, o espetáculo infantil Oru, com direção de Ana Lázaro (Te‑Ato/’dOBRAR), e Menos Emergências de Martin Crimp, com encenação de Ricardo Neves ‑Neves. Fez assistência de encenação em A Festa de Spiro Scimone, com encenação de Ricardo Neves‑Neves. Participou em animações infantis com o Teatro do Biombo. Dá aulas de dança (hip hop) no CAF – Centro de Artes e Formação. Inês Laranjeira Frequenta o curso de Teatro da Escola Superior de Teatro e Cinema. Frequentou o Clube de Teatro Jovem do Teatro da Garagem. Teve formação na área de canto (jazz). Concluiu o curso profissional na Escola Profissional de Imagem, dirigido por Cristina Cavalinhos, com trabalho final encenado por Fernando Gomes. Em 2014, participou em Menos Emergências de Martin Crimp, dirigido por Ricardo Neves‑Neves. Margarida Correia Iniciou a sua formação teatral no Teatrão, em Coimbra. Frequenta o curso de Teatro da Escola Profissional de Imagem. Estudou canto jazz (com Susana China) e clássico (com Ana Loureiro e Orlanda Velez Isidro). Trabalhou com Luis Miguel Cintra em Ilusão, baseado em peças de Federico García Lorca, e participou em projetos de António Olaio e Susana Mendes Silva. Rita Lopes Alves Trabalha com Jorge Silva Melo desde 1987. Assinou o guarda‑roupa de vários filmes de Pedro Costa, Joaquim Sapinho, João Botelho, Margarida Gil, Luís Filipe Costa, Cunha Telles, Alberto Seixas Santos, Pedro Caldas, Teresa Villaverde, Carmen Castelo ‑Branco, José Farinha, Teresa Garcia, Fernando Matos Silva e António Escudeiro. Nos Artistas Unidos, é, desde 1995, a responsável pela cenografia e figurinos. Thomas Kahrel Nasceu em Amesterdão, Holanda. Frequentou a Academia Gerrit Rietveld, onde estudou escultura e pintura. Estudou música eletrónica no Instituto de Sonologia em Utrecht. Trabalha desde 1985 no campo das artes performativas. Vive em Portugal desde 1990 e trabalha como cenógrafo para várias companhias de dança e teatro. Trabalha com os Artistas Unidos desde 1999. Pedro Domingos Trabalha com Jorge Silva Melo desde 1994, tendo assinado a luz de quase todos os espetáculos dos Artistas Unidos. Trabalha regularmente com o Teatro dos Aloés. É membro fundador da Ilusom e do Teatro da Terra, sedeado em Ponte de Sôr, que dirige com a atriz Maria João Luís. Leonor Carpinteiro É diplomada em Estudos Artísticos – Artes do Espetáculo pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (2011). Realizou o seu estágio curricular nos Artistas Unidos no mesmo ano. Trabalhou com o Teatro Archa (Praga, República Checa) e com o grupo de teatro SPACE (Amesterdão, Holanda/ Budapeste, Hungria), entre outros. Frequenta o curso de fotografia da Ar.Co e é atualmente assessora de imprensa dos Artistas Unidos. Nos Artistas Unidos, participou em A Estalajadeira de Carlo Goldoni (2013) e O Regresso a Casa de Harold Pinter (2014). Antemão. Foi baterista dos R.E.F., fez os arranjos e a direção musical de Parece que o Tempo Voa e fez a música de Sons de Fogo do grupo Tratamento Completo, de que foi percussionista. No teatro, trabalhou com Manuel Wiborg, Miguel Hurst, Rissério Salgado, Solveig Nordlund, João Meireles e João Fiadeiro. Trabalha frequentemente com os Artistas Unidos desde 2001. João Chicó Completou o curso de Produção da Escola de Tecnologias, Inovação e Criação e o curso de Gestão e Produção do Forum Dança. Trabalhou com O Bando, FIAR, Clara Andermatt, Chapitô e com as empresas Backlight e Ligações II. Em 2011, funda a Fosso de Orquestra. É diretor técnico dos Artistas Unidos desde 2012. Flávio Martins Estudou sociologia em Coimbra, áudio em Lisboa, violino em Faro e contrabaixo no Barreiro. Foi técnico de som, luz e vídeo no café‑teatro Santiago Alquimista e trabalhou mais de sete anos no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo como técnico de som, assistente de iluminação e projecionista. Desde 2012, tem trabalhado como freelancer para várias empresas, como a Backlight ou a Lourisom, e com O Bando, FIAR, Éter e Artistas Unidos. É dirigente da associação Olfato Pela Forma, que há mais de dez anos organiza o Festival Mau. André Pires É membro fundador da Locomotivo, do grupo de teatro‑circo Plot e do Pé 15 ficha técnica TNSJ coordenação de produção Maria João Teixeira assistência de produção Maria do Céu Soares Mónica Rocha direção de palco Rui Simão direção de cena Ana Fernandes luz Filipe Pinheiro (coordenação) Abílio Vinhas Adão Gonçalves José Rodrigues Nuno Gonçalves maquinaria Paulo Ferreira som António Bica apoios TNSJ Gata em Telhado de Zinco Quente é apresentada por gentileza da Universidade do Sul, Sewanee, Tennessee. Artistas Unidos é uma estrutura financiada por apoios Artistas Unidos agradecimentos Artistas Unidos Carlos Caetano Diogo Ribeiro Isabel Nogueira João Branco Teatro Nacional D. Maria II Virgin Active Health Clubs Artistas Unidos Escritório Rua Campo de Ourique, 120 1250‑062 Lisboa T 21 391 67 50 [email protected] www.artistasunidos.pt Teatro Nacional São João Praça da Batalha 4000‑102 Porto T 22 340 19 00 Teatro Carlos Alberto Rua das Oliveiras, 43 4050‑449 Porto T 22 340 19 00 Mosteiro de São Bento da Vitória Rua de São Bento da Vitória 4050‑543 Porto T 22 340 19 00 www.tnsj.pt [email protected] edição Departamento de Edições do TNSJ coordenação Pedro Sobrado fotografia Jorge Gonçalves impressão Empresa Diário do Porto, Lda. Não é permitido filmar, gravar ou fotografar durante o espetáculo. O uso de telemóveis ou relógios com sinal sonoro é incómodo, tanto para os intérpretes como para os espectadores. apoios à divulgação agradecimentos TNSJ Câmara Municipal do Porto Polícia de Segurança Pública Mr. Piano/Pianos Rui Macedo 16 17
Baixar