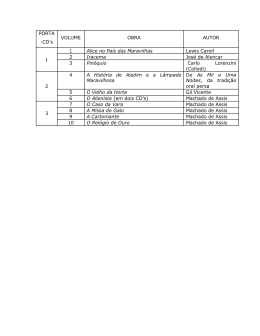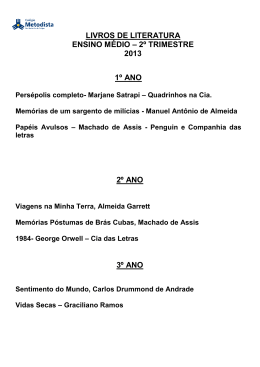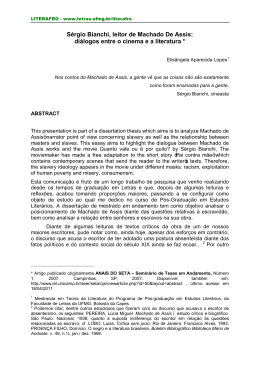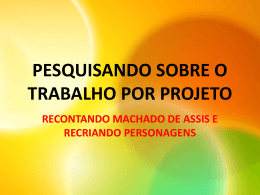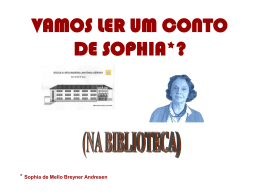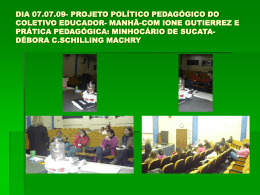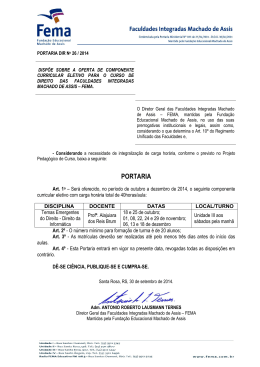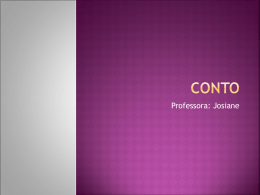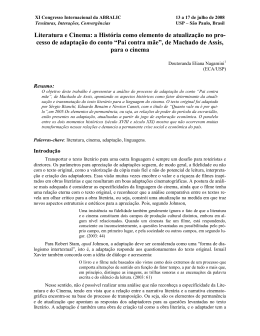“Quanto vale ou é por quilo?”: relíquias machadianas de um Brasil antigo? Tatiana Sena RESUMO: A partir da articulação entre o conto Pai contra mãe, de Machado de Assis, e a livre adaptação cinematográfica deste texto no filme Quanto vale ou é por quilo? (2005), de Sérgio Bianchi, a pesquisa analisa, mediante uma leitura intersemiótica, como as obras em questão dialogam com a história do Brasil, enfatizando os impasses da formação sócio-econômica e cultural do país, marcada pelo escravismo e pela exclusão social. Ao atualizar o roteiro machadiano, Bianchi costura dois planos temporais, mostrando o quanto dos séculos XVIII e XIX persiste e ressignifica-se no século XXI do tempo brasileiro. Palavras-chave: literatura; cinema; história do Brasil A história do Brasil encontra na literatura um espaço privilegiado de reinvenção, no qual a rememoração ficcional de episódios consagrados ou esquecidos da história nacional frequentemente possibilita a reativação diferencial dos imaginários que plasmam a memória cultural do país, visibilizando conflitos e impasses recalcados nas versões oficiais do discurso brasileiro. Para o escritor e crítico literário Silviano Santiago, “a memória histórica no país é uma planta tropical, pouco resistente e muito sensível às mudanças” (2004, p. 148), citando como exemplo dessa falta de memória nacional o narrador de Dom Casmurro, o lacunar Bentinho. Nas obras machadianas, a rememoração é uma busca não apenas subjetiva, mas também social, como podemos notar pelo cinismo corrosivo com que o narrador de Memórias Póstumas de Brás Cubas explicita as máscaras sociais da elite nacional no século XIX. Justamente pelo talento com que realiza esse entrelace entre narradores esquecidiços e memorialistas, o escritor Machado de Assis é o autor que melhor evidencia, através de um foco narrativo oblíquo, os elementos contraditórios que compõem a história brasileira no século XIX. Descerrando múltiplos significados desse século, em que grandes embates ideológicos foram travados em torno da formação racial e escravocrata brasileira, Machado de Assis traz à cena a formação ética de uma elite parasitária e pouco propensa a discussões mais aprofundadas sobre a cidadania. Conforme a antropóloga Lilia Schwarcz, no seu artigo “Raça como negociação”, no Brasil, durante o século XIX, os intelectuais da época “entendiam a questão nacional a partir da raça e do indivíduo, mascarando uma discussão mais abrangente sobre a cidadania” (2000, p. 22). A introdução da questão racial no cenário brasileiro permitiu a naturalização de diferenças sociais, políticas e culturais, sendo as teorias dos darwinistas sociais bastante difundidas, contudo deixava inquietações sobre qual poderia ser o futuro de um país reconhecidamente miscigenado. O Brasil particularizou o modelo racial, selecionando das teorias os trechos que eram convenientes ao projeto nacional. Os centros acadêmicos da sociedade brasileira, apesar dos diferentes enfoques e atuações, contribuíram para a naturalização das diferenças. Enquanto na Escola de Direito do Recife se processava a adequação das teorias de raça à realidade brasileira, a Escola de São Paulo foi responsável pela adequação prática das teorias, promovendo uma política imigratória seletiva. Houve uma complementariedade nas atuações desses centros acadêmicos. As escolas de Medicina também tiveram atuações complementares. Na Bahia, as teses de medicina legal, sob orientação de Nina Rodrigues, afloraram, repercutindo as idéias de Lombroso. Os médicos baianos criticaram o que seria um jusnaturalismo no Código Penal, ao prever uma igualdade jurídica para seres racialmente (“essencialmente”) desiguais. Por sua vez, os médicos cariocas vinculavam pobreza à mestiçagem e estas à falta de higiene, por isso preconizavam drásticas intervenções higiênicas, nas camadas mais pobres, a fim de sanear, via eugenização, a densidade populacional dos negros, então entendidos como estrangeiros, no contexto nacional. As teorias raciais, no Brasil, serviram para solapar o debate pela cidadania, visto que tornaram indesejada a parcela negra da população. Embora, nas duas primeiras décadas do século XX, tenha ocorrido uma reconfiguração crítica das teorias raciais no ambiente acadêmico, houve uma disseminação dessas teorias na prática cotidiana da existência social brasileira, tornando-se senso comum expressões de cunho racista. Somente na década de 1930 ocorreu uma mudança paramétrica do conceito de miscigenação: o que era negativo foi realçado como traço positivo de identidade. Nesse contexto, reemerge o “mito das três raças”. Gilberto Freyre, em seu Casa Grande & Senzala (1930), procura consolidar essa imagem mítica, abrindo espaço para um outro famoso mito brasileiro: o da democracia racial. Contudo, ao priorizar o discurso mítico da formação racial brasileira, como assinala Schwarcz (2000), Freyre expôs o quanto a questão racial é importante entre os brasileiros e que se fazia necessário refletir sobre tal importância no processo de socialização e formação nacional. O “mito da democracia racial” continua repercutindo nas representações que o país faz de si, demonstrando o quanto o Brasil ainda se identifica pela raça. Por seu memorialismo implacável, que deixa entrever um pessimismo latente com a realidade nacional e com a condição humana, ou ainda com a condição subumana, as obras de Machado de Assis têm sido constantemente revisitadas e recriadas, ao longo de mais de um século, por diversos autores que procuram rediscutir a realidade social brasileira. Nas últimas décadas, muitos cineastas se propuseram à transposição fílmica de narrativas machadianas. A partir da articulação entre o conto Pai contra mãe, de Machado de Assis, e a livre adaptação cinematográfica deste texto no filme Quanto vale ou é por quilo? (2005), de Sérgio Bianchi, analisarei como as obras em questão dialogam com a história do Brasil, enfatizando os impasses da formação sócioeconômica e cultural do país, marcada pelo escravismo e pela exclusão social. O conto Pai contra mãe, publicado em 1906, no livro Relíquias da Casa Velha, aborda um desses esquecimentos mais sintomáticos da memória nacional: a escravidão como a instituição social que organizou a vida sócio-econômica brasileira desde o século XVI. Para o historiador Luiz Felipe Alencastro (2005), em palestra na Association Lacanienne Internationale, “a instituição forma uma tela de fundo, um elemento do cenário em que se desenrola a trama. Nesse conto a escravidão é o próprio centro da história”. O conto narra uma história de fuga e perseguição, destacando estranhas simetrias que constituem a ordem repressiva escravocrata, à qual se ligaram Cândido Neves, caçador de escravos foragidos, e Arminda, uma jovem mulata foragida, apresentando como a escravidão envolvia aparelhos, ofícios e pessoas. Pressionado pela má condição financeira e pela iminência de ter que deixar o filho recém nascido na Roda dos enjeitados, Candinho seleciona o anúncio de recompensa pela captura de Arminda, e passa a procurá-la pelas ruas do Rio de Janeiro. No dia em que entregaria o filho, Candinho consegue capturar Arminda, que está grávida e implora pela liberdade. Diante da inclemência do caçador, ela luta até o limite de suas forças, mas, ainda assim, é devolvida ao dono, abortando na frente deste e do caçador de escravos. Candinho volta para casa com o filho e pondera que “nem todas as crianças vingam”. Como salientou Luiz Felipe Alencastro, o conto Pai contra mãe apresenta “uma situação extravagante: um proletário que ganha sua vida capturando escravos fugidos, pessoas que são tão pobres quanto ele. Mas esse proletário possui uma profissão que reforça a escravidão. Seu trabalho propaga o terror entre os negros e constitui uma lembrança permanente da presença da instituição.” (Alencastro, 2005). Através de um narrador dissimulado, o conto se inicia enfatizando que “a escravidão levou consigo ofícios e aparelhos” (Assis, 1982, p. 200). O verbo no pretérito perfeito e a minuciosa descrição que se segue dos aparelhos da escravidão, como se estes fizessem parte de um passado muito remoto, parecem encenar um distanciamento temporal excessivo. Esse recurso irônico apenas enfatiza os esquecimentos estratégicos da memória nacional, haja vista que da Abolição da escravatura até a data de publicação do conto decorrera menos de duas décadas. Entretanto, o autor simultaneamente inscreve na memória cultural brasileira, de forma indelével, a crueldade da escravidão; afinal, como o narrador considera ao rememorar a máscara de folha-de-flandres, “era grotesco tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel”. O conto Pai contra mãe pode ser considerado como um memorial literário que ajuda na recomposição revisão crítica dos arquivos da escravidão e do racismo no Brasil. O ferro ao pescoço, o ferro ao pé e a máscara de folha-de-flandres são os aparelhos com que o terror escravista instaurou uma pedagogia que subjugava os escravos e os fixava numa condição subumana de existência, pois, como o narrador assinala, era “menos castigo que sinal” (Assis, 1982, p. 2000). As justificativas apresentadas para o uso de tais aparelhos, assim como a venda destes à porta das lojas de funilaria, acentuam a naturalidade com que aquela sociedade vivenciava a tortura, agenciando valores sociais distorcidos por uma lógica de exploração fria e desumanizante. Afinal, para expurgar os “vícios” e os “pecados” dos escravos, assegurando a “sobriedade” e a “honestidade” da ordem social, era preciso a dor e a mutilação, cuja dosagem não era mensurada pelo aspecto humano, mas pelo valor monetário, já que, como ressalta o narrador, “o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói” (Assis, 1982, p. 2000). O Código Penal Brasileiro de 1838 possibilitava que se transformasse qualquer penalidade contra os escravos em pena de açoites. Dessa forma, “legaliza-se e perpetua-se, até 1888, a tortura em um segmento específico da população, os escravos, que eram sempre negros e mulatos. Essas deformações do sistema penal deixarão, é claro, profundas seqüelas no Brasil de hoje.” (Alencastro, 2005). A máscara de folha-de-flandres aparece então como um signo da sociedade brasileira até o século XIX, pois traduzia a mentalidade predatória que procurava não apenas silenciar, mas também aniquilar as subjetividades dos escravos, emudecendo suas vozes e apagando suas faces. A máscara de folha-de-flandres não era, pois, um disfarce social, era uma marca, um estigma, a máscara mais explícita de interdição no jogo social dissimulado do Brasil, pois, longe de esconder uma identidade, ressaltava-a. Embora o narrador do conto advirta, “mas não cuidemos de máscaras” (Assis, 1982, p. 2000), o escritor Machado de Assis parecia ter uma obsessão por máscaras. Não para “desmascarar” socialmente, como o poeta Gregório de Matos, no século XVII, fazia com suas sátiras aos “fidalgos caramurus”, a partir de um local social de quem se considerava merecedor legítimo das regalias sociais que estavam sendo “usurpadas” pelos de “sangue de tatu”, mestiços filhos de portugueses com as índias, mas para perscrutar o drama moral dos que, conseguindo participar do jogo social, aproveitavam as brechas do poder instituído para ascender socialmente. Não raro, a história moral dos personagens machadianos evidencia “a passagem, a ruptura e a consciência da ruptura” (Bosi, 1982, p. 440) dos que cruzaram fronteiras sociais, à custa de máscaras. Para o crítico literário Alfredo Bosi, o signo da máscara é uma chave de leitura muito produtiva para compreender como Machado de Assis disseca as ambigüidades da subjetividade entre o ser e o parecer, já que “a vida em sociedade, segunda natureza do corpo, na medida em que exige máscaras, vira também irreversivelmente máscara universal” (Bosi, 1982, p. 441). A máscara adere à face, tornando-se, mais do que mera aparência, a única possibilidade de ser no jogo instituído pela mise-en-scène do escravismo “paternalista”. A simulação não é apenas estratégia, é regra moral de uma sociedade ambivalente, em que o jogo ardiloso com as máscaras que forjamos no espaço público demarca nosso local dentro de posições sociais assimétricas e rigidamente hierarquizadas, excluindo e subalternizando os que não se adequarem à regra. Alfredo Bosi, ressaltando os estudos da crítica literária Lúcia Miguel Pereira, acredita que o signo da máscara longe de ser apenas um recurso estilístico seria a “chaga existencial do homem Machado que passou de uma classe para outra cortando os laços que o amarravam à infância pobre” (Bosi, 1982, p. 440). É justamente enfatizando a simbologia da máscara, especificamente a crueldade coisificante da máscara da folha-de-flandres, que o cineasta Sérgio Bianchi pretende fazer a junção e a transição temporal entre passado e presente na narrativa de Quanto vale ou é por quilo?. Através de uma construção híbrida, em que são entrecruzadas múltiplas linguagens, discursos, tempos, locais de enunciação e memória diferenciados, o filme desenvolve um jogo articulador de micronarrativas, que recriam e atualizam os dilemas inscritos no conto Pai contra mãe, acrescido de problematizações oriundas de intersecções historicizantes, baseadas nas crônicas do Brasil no século XVIII, coligidas por Nireu Cavalcanti no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro e reunidas no livro Crônicas históricas do Rio colonial, lançado em 2004. Nesta transposição fílmica, Arminda é moradora de uma favela carioca, envolvida na implementação de um projeto de informática na comunidade, em parceria com uma organização não-governamental, a Stiner, uma empresa especialista em marketing social. Candinho é um desempregado que, se colocando a serviço de pequenos comerciantes, transforma-se numa espécie de “justiceiro” no bairro popular em que mora, matando jovens acusados de furtos. Quando Arminda denuncia as irregularidades na compra superfaturada de computadores pela Stiner, um dos sócios da empresa a sentencia de morte. Candinho é então contratado. O desfecho do filme apresenta duas possibilidades de conclusão. Na primeira, Arminda é sumariamente executada por Candinho. No segundo final, Arminda propõe a Candinho uma sociedade numa central de seqüestros, na qual os dois redistribuíssem a renda compulsoriamente. Ao atualizar o roteiro machadiano, Bianchi nos incita a perceber que, se a escravidão levou consigo aparelhos e ofícios, bem mais duradouros se mostram os valores e as práticas que estruturavam aquela instituição social, visto que, extinta por decreto, seus códigos e sistemas não deixaram de lastrear o cotidiano brasileiro nos contextos pós-abolicionistas, reemergindo em formas ressignificadas. A atuação dos mesmos atores protagonizando cenas em épocas distintas, mas adotando práticas análogas, enfatizam uma estranha e persistente lógica de dominação. Quanto vale ou é por quilo? deixa muito nítido a construção do discurso e da ética dominante na sociedade brasileira em diferentes séculos, explicitando a ferocidade com que a elite atua na manutenção da cadeia de exploração social, mas também assinalando a frivolidade de seus relacionamentos com as camadas menos favorecidas da população. A cena em que uma socialite, Marta Figueiredo, meticulosamente coreografa lugares e expressões, a fim de produzir uma fotografia com crianças pobres, tendo as casas de alvenaria da favela ao fundo, evidencia o tom caricatural dessas relações. Ao ocupar o centro da fotografia, a socialite desliga-se do cenário, demonstrando sua imiscibilidade com este. Durante a cena, uma narração em off explica que “doar é um instrumento de poder”, mesmo diante de cenas que causam “nojo, espanto, piedade, carinho, felicidade e, por fim, alívio. E ainda faz uma boa dieta na consciência”. O filme critica a elite nacional, cuja ojeriza e medo ao contato com as camadas populares ficam explícitos. Denuncia os conchavos e as alianças com os quais a elite mantém o controle sobre os postos estratégicos e sobre o capital nacional, utilizando inclusive as ONG’s para a lavagem de dinheiro de operações ilícitas das empresas nacionais. O poder simbólico é exercido de forma sub-reptícia, mas com uma eficiência ímpar, como podemos perceber na cena em que, durante a recepção do “Prêmio Inovação Solidária”, o personagem Ricardo Pedrosa, um dos sócios da Stiner, desarticula um protesto contra ele, convidando os manifestantes a adentrarem no Teatro Municipal e a participarem do evento. Diante do misto de deslumbre e acanhamento, em vista do requinte e suntuosidade do local, Ricardo Pedrosa indaga aos manifestantes: “vocês já estiveram aqui antes?”, apresentando-se como o anfitrião histórico preferencial, hábil para promover a conciliação entre regras sociais que escapavam ao universo dos manifestantes, postos à margem das estruturas do poder cultural no país. Bianchi monta um mosaico sócio-racial em que o Brasil marcadamente hierarquizado explicita seus paradoxos e conflitos, estigmatizando prioritariamente negros, mulheres e pobres. Talvez por isso, observar a trajetória de Arminda, que entrelaça as três identidades historicamente mais fragilizadas em nossa nação, permitanos compreender uma dimensão importante da formação social do Brasil. No conto Pai contra mãe, a fuga de Arminda marca sua resistência na luta pela sua libertação. Quando recapturada e reconduzida ao cativeiro, percebemos como eram quase impossíveis as possibilidades de fugir à sua condição de aniquilamento social, já que ela quis gritar, mas “entendeu logo que ninguém viria libertá-la, ao contrário” (Assis, 1982, p. 204). Diante da iminência dos açoites que o senhor lhe daria pela fuga, Arminda suplica a Cândido Neves que a liberte devido a sua gravidez, ao que o caçador faz questão de ressaltar: “Você é que tem culpa. Quem lhe manda fazer filhos e fugir depois?” (Assis, 1982, p. 204). A falta de perspectivas sociais e existenciais da personagem culmina com a cena do aborto, como narrado: “no chão, onde jazia, levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta a escrava abortou” (Assis, 1982, p. 205), em que se aborta não apenas o fruto do seu ventre, mas, sobretudo a possibilidade de uma descendência, de um outro futuro, de uma outra história. No filme Quanto vale ou é por quilo?, Arminda busca melhorias para o projeto de informática da comunidade, mas encontra apenas equipamentos sucateados, descaso e morte por parte dos responsáveis pelo empreendimento “solidário”. Também podemos perceber a mesma subalternização na história emudecida e posta sempre em segundo plano da personagem Fátima, uma menina negra, com cerca de dez a doze anos. Ela é “dada” por tia Mônica à personagem Noêmia, para pagar uma dívida não apenas financeira, mas de gratidão, pelo favor recebido. Quando Mônica “pega” a menina para “criar”, ressalta que ela terá “comida boa todo dia” e seria tratada “como filha”, mas, quando vai ser “repassada” para dona Noêmia, Mônica enfatiza as qualidades de Fátima como “prendada”, “limpinha” e que “não come quase nada”. O título do conto Pai contra mãe concentra uma tensão não apenas de gênero, mas também racial, se levarmos em consideração as dinâmicas opressivas derivadas do patriarcalismo racialista. Do ponto de vista matrilinear, a ascendência brasileira é majoritariamente constituída por negras e índias, cujas heranças culturais são sempre invisibilizadas. Ainda no século XVII, o poeta Gregório de Matos considera que “milagres do Brasil são” (Matos, 1989, p. 46) mascarar a ascendência materna nãobranca, motivo de estigma e vergonha, que deveria ser camuflada inclusive pela falsificação da própria linhagem. Um outro exemplo lapidar de tais posturas é o personagem Amleto Ferreira, do romance Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro. Mulato e sarará, quando ascende socialmente, Amleto Ferreira apressa-se tanto em falsificar a certidão de nascimento, como também tenta apagar as marcas simbólicas, vincadas no próprio corpo, de uma ascendência desprivilegiada, utilizando-se de várias máscaras sociais e ideológicas. Dessa forma, percebemos que, do ponto de vista patrilinear, a reprodução do modelo patriarcal e embranquecedor mostra-se quase indispensável para a mobilidade social dos setores subalternizados pela racialização. Embora não seja apresentada nenhuma informação sobre as características raciais de Candinho no conto Pai contra mãe, podemos inferir duas possibilidades: ou o personagem é um branco pobre ou é um mestiço de tez clara. Para o crítico Alfredo Bosi, Cândido Neves é “pobre, mas branquíssimo até no nome” (Bosi, 1982, 455). Entretanto, parece-me instigante considerar como a transgressiva ironia machadiana pode nos abrir outros espaços interpretativos para essa dúbia caracterização, sinalizando através desses nomes, digamos, “alvejantes” um trabalho de compensação “branqueadora” protagonizado por Cândido e Clara, tendo em vista mascarar a condição de mestiços na qual mais possivelmente ambos se situavam, tal como sugere o seguinte trecho: “O casal ria a propósito de tudo. Os mesmos nomes eram objetos de trocados, Clara, Neves, Cândido; não davam que comer, mas davam que rir, e o riso digeria-se sem esforço” (Assis, 1982, p. 201). A lógica deslocadora do embranquecimento na sociedade brasileira fica assim ironicamente indicada e questionada, já que os significados sócio-culturais para a “brancura” não estão associados à pobreza. Talvez por isso o casal consumasse nos nomes, máscaras patronímicas, um sentido que lhes era negado socialmente. Na releitura do cineasta Sérgio Bianchi, Candinho aparece como um mestiço. Já Clara é uma jovem que aposta na tintura loira do cabelo como um investimento na imagem. Como ela considera ao folhear uma revista de celebridades, é preciso “se sentir que nem eles, para ser que nem eles”. Nota-se em todo o filme a preocupação do diretor em discutir como a manipulação dos signos corpóreos e estéticos, pautada contemporaneamente nas máscaras publicitárias e midiáticas, que reforçam a lógica da simulação racial como regra básica da construção do valor social na realidade brasileira, lógica acentuada pelo consumismo globalizante. Outro momento importante nessa problematização identitária no filme verifica-se na seqüência em que uma propaganda de uma ONG é gravada: os profissionais se esforçam por cumprir as exigências do contratante, que estipulou um percentual de 75% de crianças negras na peça publicitária. Os traços corporais, como pele e cabelo, são os critérios de identificação usados, a fim de buscar o “mais preto” nas crianças envolvidas. Quando o produtor de elenco olha para um menino de pele escura, exclama “ah, esse é 100%, tem até pedigree!”, ao que a representante da ONG, uma personagem negra, reclama, fazendo um discurso exaltado sobre “dívida histórica” e representação midiática. Arminda, que assiste a cena de longe, vê naquelas crianças a imagem de crianças escravas enfileiradas, amarradas, defronte a uma mesa farta. Penso que tais questões são sintetizadas de forma bastante produtiva numa seqüência que não foi incluída no filme, mas que foi disponibilizada nos extras da versão para DVD de Quanto vale ou é por quilo?. Nesta cena que ficou de fora, após uma discussão de teor racial durante uma apresentação de teatro de rua, a personagem de Arminda questiona: “como é que se cobra uma dívida histórica? É mostrando que o negro é bom, o negro é lindo? Ou é mostrando o saldo podre de tudo isso com uma faca encostada na garganta do devedor?”. A violência urbana tem sido um dos aspectos mais dilemáticos da sociedade brasileira nas últimas décadas. O escritor Zuenir Ventura, em seu ensaio “A cultura da violência” (2001), considera que a história do Brasil é marcada por uma violência exacerbada, sempre exercida de cima para baixo, enfatizando que não são apenas os pobres que respondem às tensões sociais com violência que é muito mais abrangente e não se resume à criminalidade. Para Ventura, “a cultura da violência é um padrão de relacionamento entre pessoas, que estamos absorvendo e reproduzindo opressivamente em nosso cotidiano” (2001, p. 346). Em Quanto vale ou é por quilo?, o presidiário, representado Lázaro Ramos, dispara: “esse é nosso navio negreiro”, estabelecendo paralelos temporais ao fazer uma analogia entre o sistema carcerário e o sistema escravocrata no Brasil. Dos escravos, que “eram tudo máquina” desde e século XVI, até os presos que são “escravos sem dono”, na contemporaneidade, o personagem chama a atenção para uma história de objetivação. E se o Estado brasileiro aceita custear um presidiário por mais de três salários mínimos, na época, o personagem provoca: “isso diz alguma coisa sobre nosso país”. Considero que essa “coisa” se relaciona com a estrutura dicotômica forjada desde o período colonial, marcada pelo escravismo, que a classificação de Gilberto Freyre traduz magistralmente: Casa Grande & Senzala. O desrespeito ao outro não é apenas circunstancial em nossa cultura, é um traço cultural, o modo como “repartimos nossa compreensão de mundo entre nós e os outros” (Ventura, 2001, p. 349). Durante uma visita da mãe, o presidiário vocifera: “acho que eles têm que sofrer um pouco, para passar um pouco de opressão, para ser mais justo”. Para a psicanalista Maria Rita Kehl, nos extras do filme em DVD (2005), essa é a “revanche possível” dos que “não têm esperança de reverter para si” a expectativa de uma vida melhor. O quadro de desesperança com a realidade nacional, delineado pelo cineasta Sérgio Bianchi, tem seus tentáculos fincados não apenas no presente, mas também no passado brasileiro. O pessimismo de Bianchi parece reativar a visão pessimista inscrita no conto machadiano. Os discursos que sublimavam o “cruel” e o “grotesco” das desigualdades sócio-raciais no imaginário brasileiro encontram-se erodidos frente a uma realidade que impõe o consumo, mas que não fornece condições de efetivá-lo. Como o presidiário de Quanto vale ou é por quilo? provoca: “O que vale é ter liberdade para consumir, essa é a verdadeira funcionalidade da democracia”. Tanto o conto quanto o filme dialogam com a história de discussões democráticas podadas, postergadas e contemporizadas, devido às pressões políticas que visavam, apenas, interesses momentâneos e, via de regra, da elite nacional. O debate sobre a cidadania, que desde o século XIX ficara obstruído, encontra no campo cultural um espaço produtivo que questiona não apenas o presente, mas também o passado histórico da nação. Na “memória tropical” brasileira, constantemente rebrota todas as contradições da formação sócio-histórica nacional. Se aguçarmos nosso olhar para os códigos que estruturam o cotidiano do país, perceberemos o quanto dos séculos passados está presente, de forma ressignificada, na contemporaneidade brasileira, como o cineasta Sérgio Bianchi demonstrou com a transposição do conto Pai contra mãe, uma das narrativas machadianas mais cruéis com a realidade social brasileira, mas que ainda mantém sua pertinência. Dessa forma, se entendermos que a casa velha não se refere apenas à própria vida do autor, mas é também uma metáfora para o Brasil, perceberemos que as relíquias são antigas, pois remontam à formação do país, mas que não foram superadas. As relíquias plasmadas por Machado de Assis parecem resguardar traços culturais que foram, e ainda são, caros à sociedade brasileira. Referências: ALENCASTRO, Luiz Felipe. “Pai contra mãe”: o terror escravagista em um conto de Machado de Assis. 2005. Disponível em: http://www.freud- lacan.com/articles/article.php?url_article=lpdealencastro141105. Acesso em: 28 set. 2007. ASSIS, Machado. Pai contra mãe. In: BOSI, Alfredo. et al. Machado de Assis. São Paulo: Ática, 1982. BOSI, Alfredo. A máscara e a fenda. In: BOSI, Alfredo. et al. Machado de Assis. São Paulo: Ática, 1982. MATOS, Gregório de. Poemas Escolhidos. Organização, seleção e notas: José Miguel Wisnik. São Paulo: Cultrix, 1989. QUANTO vale ou é por quilo?. Direção: Sérgio Bianchi. Produção: Paulo Galvão. Roteiro: Sérgio Bianchi, Eduardo Benaim, Newton Canitto. Intérpretes: Ana Carbatti, Herson Capri, Cláudia Mello, Caco Ciocler, Ana Lúcia Torres e outros. [S.I]: RIOFILME, Petrobras e Agravo Produções, 2005. Cor (107 min). Site oficial disponível em: http://www.quantovaleoueporquilo.com.br/ SANTIAGO, Silviano. A democratização no Brasil (1979-1981). In: O cosmopolitismo do pobre: crítica literária e crítica cultural. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004. SCHWARCZ, Lilia K.Moritz. Raça como negociação: sobre teorias em finais do século XIX no Brasil. In: FONSECA, Maria Nazareth Soares. Brasil afro-brasileiro. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. VENTURA, Zuenir. Cultura da violência. In: AGUIAR, Luiz Antonio (org.). Para entender o Brasil. São Paulo: Alegro, 2001.
Baixar