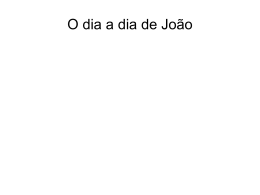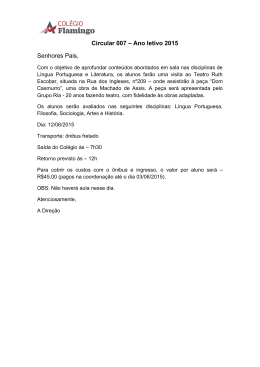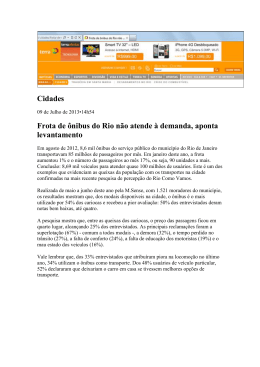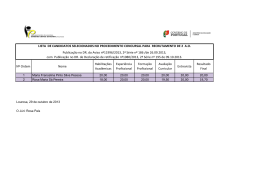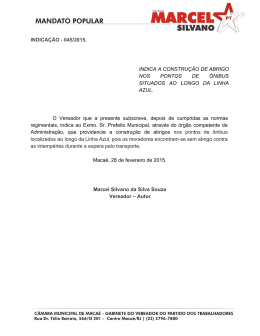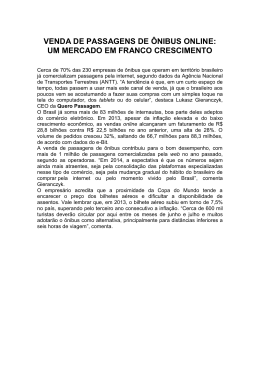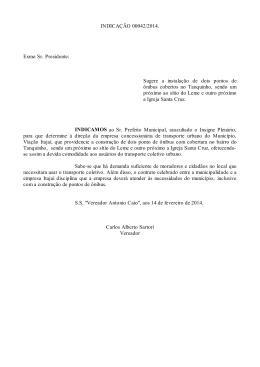NÃO POSSO AFIRMAR em que momento tudo começou. Não sei nem se alguma coisa começou. Meu verdadeiro ponto de partida são as horas brancas em que permaneci diante da tela. Virando todas as noites que antecederam o número um do topo da página decidi não crer nas palavras. Elejo então como o momentoemquetudocomeçou o dia de hoje, mais do que isso, o agora. Espero o ônibus num ponto. Sei que parece um bom ponto de partida para o delírio que ora ensaio, mas este pela última vez. Talvez vinte, trinta, quarenta minutos tenham passado. Nenhum ônibus sequer. Talvez ainda seja noite, mas o calor não para de derreter as pessoas que, como eu, esperam. Os poucos que têm forças para andar se quebram como ovos e escorrem fundindo-se ao piche. Não muito longe, recipientes transbordando vermes e baratas malcheirosos aguardam a companhia de lixo. Algumas árvores morrem além. O paredão que normalmente acolhe os que esperam, recuados no ponto de ônibus, já devorou alguns de meus pares. Tento curtos passos lá e cá, na intenção de distrair a impaciência que urra no meu estômago e lembrar o número do ônibus. Em vão. Mal sei aonde devo ir. Se lembrasse ao menos de onde vim teria uma pista. Nada. Reconheço apenas o ponto, a parada que placas da cidade. Pela décima vez retiro um passe do bolso. Meu último bem. No mais apenas a roupa do corpo: blusão desbotado, jeans, tênis. O relógio que pesa em meu pulso perdeu seu valor. Apenas uma 22 insossa recordação de quando o tempo funcionava, nas histórias e na vida. Tendo perdido esse tempo, decidi não crer mais nas histórias, muito menos na vida. te para pagar a passagem. Não sei desde quando aquela falsa moeda morava em meu bolso. Moedas mesmo, deixei-as no último bar. Talvez fosse a brotar entre o poste e a calçada. Arrastei-me dissimuladamente até ocupar a primeira vaga do espaço onde em breve se estenderia a mancha comprida do oásis que os postes oferecem aos que esperam ônibus inexistentes, à noite, no calor. O vale ovaleovale, anda logo senão te furo. Saído de dentro do poste, ele me ameaça com um canivete. Apesar de bem mais alto, seus olhos e as feições da arma que empunha parecem-me inofensivos. É o único que tenho, eu tentaria argumentar. Antes que o pensamento se formalize, ele avança voraz mordendo o vale-transporte com que eu acabava de enxugar o suor da testa. Sob seu canino esquerdo esguicha sangue do meu rasgo que os dentes do faminto desenham na misuas unhas deslizam dilacerando meu braço até encontrarem resistência na pulseira que arrebenta. O relógio cai. Pelo outro lado o canivete perfura calmamente meu fígado. Polícia, chamaapolícia, uma mulher, que também esperava, inicia uma súplica estéril e se cala sob o olhar de reprovação dos outros que resistem no ponto. Uma sirene, ao longe, anuncia a aproximação da viatura. Assustado, o pivete recua e me sorri ofegante. Por seus lábios entreabertos pinta-se a bandeira da França com um fragmento azul do bilhete rasgado e gotas de sangue, sobre o branco dos dentes. A sirene cada vez mais próxima. Atravessando rapidamente a rua, ele se atira na caçamba de lixo e desaparece para sempre. O sangue escorre pelo buraco do lado direito do meu abdome. A vista começa a embaçar. Esde onde deveriam surgir os ônibus, desponta uma ambulância em alta velocidade, cada vez mais próxima. Fecho os olhos aliviado. Pelo menos poderia sair sem pagar passagem. O volume da sirene chega ao máximo e volta a se afastar, lançando a poeira da rua em meu corpo. Lá vai mais um desses ricaços com parada cardíaca, comenta alguém no ponto. Um vulto quente se aproxima. Entreabro os olhos e percebo que um sujeito se agacha ao meu lado. Tento me erguer. Com o relógio de pulseira arrebentada nas 24 mãos, ele me olha envergonhado, como um ladrão disfarça andando. Ei, quero gritar. Não tenho voz. Agora, como fazer para voltar? Antes, embora não houvesse ônibus, embora não houvesse volta, aquele vale era minha salvação. Não há mais saída. De qualquer jeito, eu já tinha decidido não crer na liberdade. Talvez tudo tenha começado mesmo muito antes de meu pai ir embora, quando eu ainda acreditava. Mas não é possível voltar. Tudo o que posso construir é a partir dessa parada. primo a ferida com a mão. Um maldito ônibus tempo em direção à porta. Me imagino subindo no veículo como os outros, mas nem me mexo. A mulher que clamara pela polícia me atira discretamente um lenço antes de galgar a escada. Umas contrações no fígado dão-me a impressão de que minhas entranhas ainda estão sendo investigadas pelo canivete. O lenço entre minhas mãos talvez fosse para estancar o sangue. Cheguei a dobrá-lo como uma compressa. Mas a ferida é enorme. Nem uma bandeira poderia cobri-la. Nenhuma. Levei-o ao nariz atraído pelo perfume adocicado. Certamen- te não foi para servir de gaze que ela me jogara aquele lenço. Foi, sim, seu penúltimo gesto de resistência, assim como o fora chamar a polícia, contrariando os que se afastavam em silêncio. Penúltimo porque o último foi ter entrado naquele ônibus, me abandonando. É o perfume do lenço que anestesia minha dor. Fez-me lembrar rosa. Não por ser perfume de rosa, que, na verdade, nem usava perfumes. É o cheiro do teu corpo que me atrai, disse-lhe, certa vez, quando passávamos por uma dessas lojas em que vendedoras sorridentes e bem vestidas atacam possíveis fregueses empunhando sprays. Não menti. Mas o que motivou realmente tal declaração melosa foi mais o meu bolso que o cheiro de rosa. O fato é que ela nunca mais usou perfumes e eu me habituei àquele cheiro. De mulher. Que subsiste a qualquer perfume. O mesmo odor que me inebria no lenço, evocando a vaga possibilidade de rosa estar me esperando em casa, como sempre. Mas agora não é sempre. Nossa casa já é bem capaz de ter desabado como a noite desaba na sombra do poste. Um barulho de motor me faz virar para a rua. Respiro – moribundo que vai dizer a última palavra – e levanto. Se conseguir bater um papo com o trocador, dizer que fui assaltado, etc, etc, talvez ele me dê uma carona e eu chegue 26 a tempo de tirar rosa dos escombros. Como toda última palavra de moribundo, meu gesto também morreu pela metade. Contorci-me de dor voltei a sentar. O ônibus passou deixando-me com mais poeira na cara e com o lenço embebido em sangue. Foi-se tua última chance, rosa. Nenhum perfume permaneceria sob o vinho que brota do meu as ruínas de nossa casa, tentando desistir como eu, eu, como a cidade se desmilinguindo ao redor. Do prédio em frente, através do silêncio da rua deserta, vaza uma música. Levanto a cabeça: apenas uma janela aberta e iluminada. É aquele ponto luminoso e sonoro que parece conter o prédio. Um centro de gravidade que revoluciona as leis da física: som e luz. Tenho certeza de que se o valente morador daquele apartamento desligasse um disjuntor a construção desmoronaria como o resto da cidade. Apuro a audição. É mesmo um samba do Vinícius, mas não o da rosa. É aquele que diz que pra fazer samba tem que ter tristeza, mas que o samba é pai da alegria, qualquer coisa assim. Tento prestar mais atenção, para ouvir a parte da olhos de rosa, as mãos de rosa, o que me animaria a levantar, pedir um trocado ao grupo de rapazes carecas que se aproxima e esperar também o próximo ônibus, mas eles vêm em tanto alvoroço, falando tão alto que mal dá tempo. Os carecas estão embriagados e articulam uma língua impossível. Embora eu já estivesse decidido a não mais esperar ônibus algum, minha mão permaneceu estendida. Que horas são, por favor. Pergunto como quem pede uma esmola. Imediatamente se entreolham e desatam numa contorce como um epilético; outro se encurrala no muro – um condenado que espera o fuzilamento; o terceiro se aproxima com um cigarro aceso, traga fundo. A brasa brilha e em seguida é apagada na palma da minha mão estendida. No mesmo momento, ouço a aproximação de alguém pelo lado oposto. Dois disparos liquidam com o epiléptico e com o condenado. O fumante ensaia uma fuga correndo, mas um terceiro tiro o faz continuar, rastejando. Acaba com esse puto, o desconhecido que se aproximara estende-me a pistola. Tem a aparência de um mendigo. Não temos mais o direito nem de pedir esmolas, diz. É um mendigo. Devemos nos unir contra esses vândalos, continua. E pelo jeito me confunde com algum colega. Olho 28 para o fumante que ainda se arrasta e ganha alguma distância. Tomo a pistola em minhas mãos e fuzilo o mendigo. O fumante já tinha me deixado em paz e os outros dois se confundiam com o cimento mole da calçada. Procuro ainda a voz de Vinícius, mas só há rosa não me espera mais. Está soterrada, provavelmeio dos escombros como a imagem que guardo dela. Como um eco que estoura meus tímpanos. Desde quando anotei o número um no topo Sonhei que para escrever bastava ligar o computador e abrir a janela: gaivotas raras, o Pão de Açúcar eterno e um ou outro avião sobre a Guanabara. fundo de garantia foi por motivo de saúde. Não pude sair deste apartamento moribundo. Meus vizinhos me evitam. E me contento com a paisagem dos fundos: uma rua malcheirosa onde cabeças frenéticas disputam o espaço com carrocerias motorizadas. Apesar de ser apenas uma placa, uma convenção – o que é a cidade senão um conjunto de convenções disfarçado em arquitetura? – a parada
Download
![MEIOS_DE_TRANSPORTES[1]](http://s1.livrozilla.com/store/data/000116631_1-b3285340c4cf15d56f9bd0a618606073-260x520.png)