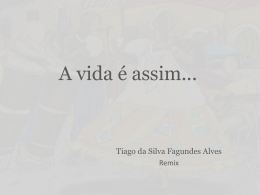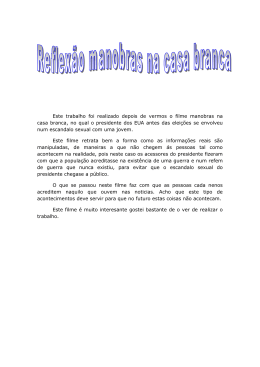RESENHA DE NOTÍCIAS CULTURAIS Edição Nº 51 [ 18/8/2011 a 24/8/2011 ] Sumário CINEMA E TV...............................................................................................................3 Folha de S. Paulo - A vida secreta de Marighella............................................................................3 O Globo - Mario Sergio Conti assume o ‘Roda viva’.......................................................................4 O Estado de S. Paulo – Entre desenho e Espinosa........................................................................4 Folha de S. Paulo - Mostras e novo livro lembram 30 anos da morte de Glauber...........................6 Correio Braziliense - Lenda urbana ................................................................................................6 Isto é - Senna versus Dzi croquettes...............................................................................................8 O Globo - Em nome do pai..............................................................................................................8 TEATRO E DANÇA....................................................................................................10 Folha de S. Paulo -: Ópera carnavalesca de Zé Celso honra tradição de Oswald de Andrade... .10 O Estado de S. Paulo - Matrimônio inspirado no Circo.................................................................11 O Estado de S. Paulo - Corpos que tiranizam os olhares.............................................................12 Bravo – Nossa aposta Roberta Estrela D'Alva .............................................................................13 ARTES PLÁSTICAS...................................................................................................14 O Globo - Dois é demais ..............................................................................................................14 Isto é - Associações orgânicas......................................................................................................17 O Globo - Altos sentidos................................................................................................................18 MÚSICA......................................................................................................................20 O Estado de S. Paulo - Múltiplo indivisível....................................................................................20 O Estado de S. Paulo - As horas cariocas de Thaís......................................................................21 Estado de Minas - Cidadão do mundo .........................................................................................22 O Estado de S. Paulo - Batuque das Gerais.................................................................................22 Correio Braziliense - Virtuose que virou compositor......................................................................24 Isto é - Sertanhol...........................................................................................................................25 Folha de S. Paulo - Zélia Duncan faz 30 anos de carreira com Tatit e Itamar..............................26 LIVROS E LITERATURA...........................................................................................26 Correio Braziliense – Fome de palavras .......................................................................................27 O Estado de S. Paulo - Pobres agentes secretos cubanos...........................................................28 Veja - A valentia da burocrata.......................................................................................................30 O Estado de S. Paulo - Obra de João Almino é premiada em Passo Fundo................................31 ARQUITETURA E DESIGN........................................................................................32 Correio Braziliense - A fé segundo Oscar Niemeyer ....................................................................32 O Estado de S. Paulo - Obra de Arte Total na Casa de Vidro.......................................................33 QUADRINHOS............................................................................................................35 Correio Braziliense - Metrópole em claro e escuro........................................................................35 MODA.........................................................................................................................36 Bravo - Yes! Nós já não temos banana ........................................................................................36 OUTROS.....................................................................................................................38 Correio Braziliense - Mitos indígenas ...........................................................................................38 O Globo - O pensador das periferias na era digital.......................................................................39 2 CINEMA E TV FOLHA DE S. PAULO - A vida secreta de Marighella No ano em que ex-guerrilheiro comemoraria centenário, documentário revela vida íntima do ícone da esquerda e traz rap inédito de Mano Brown MORRIS KACHANI DE SÃO PAULO (18/8/2011) "Um dia, faz 40 anos, eu estava indo com meu pai para a escola e ele disse: 'Vou te contar um segredo: seu tio Carlos é o Carlos Marighella'". Assim começa o documentário "Marighella", de Isa Grinspum Ferraz, com estreia prevista para outubro. Em uma hora e 40 minutos, "Marighella" desfia a trajetória do ícone da esquerda brasileira que acabou baleado e morto dentro de um Fusca em 1969, em São Paulo. Meio século da história do país pode ser contado a partir dos acontecimentos em sua vida: a gênese do comunismo baiano, mulato, do qual Jorge Amado era partidário; o conflito entre integralistas e comunistas; a legalização do Partidão; a clandestinidade; a frustração com Stálin; o golpe militar e, por fim, a luta armada. Mas o que torna "Marighella" único é o olhar íntimo que só quem era de dentro da família seria capaz de documentar: "Tio Carlos era casado com tia Clara. Eles estavam sempre aparecendo e desaparecendo de casa. Era carinhoso, brincalhão, escrevia poemas pra gente. Nunca tinha associado o rosto dele aos cartazes de 'Procura-se' espalhados pela cidade", continua a voz em off da própria Isa, que assina direção e roteiro do filme. "A ideia é desfazer o preconceito que até pouco tempo atrás havia contra meu tio. Era um nome amaldiçoado, sinônimo de horror. Além da vida clandestina e do ciclo de prisões e torturas, procuramos mostrar também o poeta, estudioso, amante de samba, praia e futebol, e acima de tudo o grande homem de ideias que ele foi", diz Isa, socióloga formada na USP. Na esteira da pesquisa que foi feita, surgiram algumas revelações. Clara Charf, companheira de Marighella de 1945 até sua morte, hoje aos 86, Marighella (à dir.) com a sobrinha Isa no ombro, ao lado da companheira Clara Charf e do resto da família Grinspum em 1962 desenterrou uma pasta que pertencia a ele, na qual aparecem correspondências, mapas e esboços de ações guerrilheiras. A produção também descobriu uma gravação de Marighella para a rádio Havana, de Cuba. Em sua fala tipicamente cadenciada, ele anuncia o rompimento com o Partido Comunista e a adesão à luta armada. Mesma época em que intelectuais europeus como o cineasta francês Jean-Luc Godard passam a enviar remessas de dinheiro em apoio à sua causa. O filme ainda traz trilha sonora de Marco Antônio Guimarães e Mano Brown e depoimentos esclarecedores de militantes históricos, como o crítico literário Antonio Candido: "Marighella encarnava moral e psicologicamente o seu povo. Ele era pobre e não abandonou sua classe". Já a judia Clara enfrentaria resistência do pai ao assumir o relacionamento, no que acabou se transformando numa versão tropical de "Romeu e Julieta". "Carlos era preto, comunista e gói (não judeu)", lembra Clara, aos risos. "Mas era muito doce e, no fim, conquistou a todos." 3 O GLOBO - Mario Sergio Conti assume o ‘Roda viva’ Jornalista começa em outubro no programa, que volta a ser feito ao vivo Luiz Fernando Vianna (18/8/2011) Nos últimos três anos, o “Roda viva”, da TV Cultura, trocou quatro vezes de apresentador. A quinta mudança no comando do mais antigo programa de entrevistas da televisão brasileira acontecerá em outubro, com a estreia de Mario Sergio Conti nas noites de segunda-feira. Diretor de redação da revista “Piauí” — cargo que também ocupou na “Veja” e no “Jornal do Brasil” — e autor do livro “Notícias do Planalto”, Conti aceitou o convite sob a condição de o programa voltar a ser ao vivo, o que não vinha acontecendo com Marília Gabriela, apresentadora desde o ano passado. — É um elemento jornalístico para o programa ter uma temperatura. A TV aqui e na França, que conheço um pouco, é muito engessada, ensaiada, editada. Acho importante ter a surpresa, a intervenção do acaso — afirma o jornalista, que também pediu o fim dos entrevistadores fixos, retornando o formato de pessoas ligadas ao tema do entrevistado, e nova mudança de cenário, agora a cargo de Daniela Thomas. A saída de Marília Gabriela, segundo a Cultura, deveu-se à impossibilidade de ela ser apresentadora exclusiva, já que tem programas no SBT e no GNT. “O objetivo é o de garantir a máxima independência”, afirmou a emissora em nota. Entrevistas gravadas irão ao ar nas duas próximas semanas, e em setembro haverá uma seleção de bons momentos dos 25 anos do “Roda viva”. Desde 2008, com a saída de Paulo Markun, também passaram pela bancada Carlos Eduardo Lins da Silva, Lillian Witte Fibe e Heródoto Barbeiro. Para Conti, tantas alterações não significam uma crise de identidade. — É natural que, ao longo de 25 anos, o programa vá mudando, atualizando-se, fazendo experiências — diz ele, que só teve algumas passagens pelo vídeo quando foi correspondente da Rádio Bandeirantes em Paris, na década passada, e colaborou para a TV do mesmo grupo. — É entrevista, coisa que faço há muitos anos. Vou ter humildade, me espelhar nos outros apresentadores do “Roda viva” e tentar me virar. Ainda não há entrevistados confirmados, mas Conti quer nomes que tenham projeção, no mínimo, nacional, “gente que faz o Brasil, pensa o Brasil”. E ele ressalta o fato de o programa ter mais de uma hora de duração, com apenas três intervalos. — Em termos de TV, é um programa longo, permite uma reflexão — diz. Conti diz que não aceitaria a proposta se a “Piauí” já não estivesse completando cinco anos e com um perfil consolidado. A edição de agosto, que foi decisiva para a demissão de Nelson Jobim do Ministério da Defesa, foi o recorde de tiragem: 58 mil mais 15 mil extras. As memórias da prisão do economista Persio Arida e o perfil do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, em números recentes, também atraíram novos leitores. Mesmo assim, a publicação ainda não dá lucro, admite o jornalista. Ele também vem dedicando quase todas as noites à tradução de “Em busca do tempo perdido”, de Marcel Proust. A Companhia das Letras quer publicar o primeiro dos sete volumes em 2012. — É um trabalho difícil, mas para mim, que sou dispersivo, é bom. O Proust me dá um norte, uma âncora — diz. 4 O ESTADO DE S. PAULO – Entre desenho e Espinosa A Alegria se inspira na animação de Miyazaki e na obra do filósofo Luiz Carlos Merten (19/8/2011) Felipe Bragança embarca no domingo para Buenos Aires, onde vai participar, com Marina Meliande, de um debate com o crítico de Clarín, um dos principais jornais (o maior?) do país, sobre A Alegria. Durante quatro finais de semana, o filme terá exibições na capital da Argentina. É um avanço. No recente Festival de Gramado, diretores da Argentina, do Chile e de outras cinematografias latinoamericanas queixaram-se de que o cinema brasileiro, com raras exceções - Cidade de Deus, Tropa de Elite (1 e 2) -, quase nunca circula em seus países. A Alegria estreia hoje em São Paulo, depois de percorrer o circuito dos festivais. Cannes, Roterdã e São Francisco foram alguns no exterior, Tiradentes, no Brasil. Vários elementos poderão sugerir que Bragança e Marina estão impregnados pelas experiências de Apichatpong Weerasethakul. O rio, a floresta, seres estranhos e movimentos de câmera ao som de drone music, tudo parece conectar A Alegria com Tio Boonmee, ou Mal dos Trópicos. Bragança, numa entrevista por telefone, diz que cada um é livre para fazer as conexões que quiser, mas ressalta - o jardim interno da casa, que lembra as florestas do autor tailandês, já estava num de seus curtas, bem antes que ele ouvisse falar de "Joe", como Api é chamado. A própria casa pertence à sua família e é ali que ele festeja seus aniversários, até hoje. O caso é tão bizarro que merece ser contado. Bragança havia combinado um horário para a entrevista. Na hora, o repórter liga e dá na caixa postal. Logo, a assessora de imprensa liga para dar um outro número. À espera do telefonema, o diretor resolveu dar uma "descidinha". Uma dupla numa bicicleta roubou seu celular. Imagens da vida cotidiana no Rio. O filme nasceu, como projeto, do desejo de Bragança de falar da cidade. Ele escreve o roteiro, Marina é sua interlocutora privilegiada. Os dois filmam juntos e, depois, ela faz a montagem (mas ele fica palpitando). Falar sobre a cidade, mas numa chave pouco banal. Os elementos cotidianos são subvertidos pelo fantástico. O filme nasceu de uma mistura que pode parecer extravagante - do desejo de conciliar a animação de Miyazaki e a filosofia de Espinosa. Não são muitos os diretores capazes de fazer essa ponte (e a sustentação oral de seus objetivos). Os jovens de A Alegria conseguem. O filme é sobre essa garota exasperada porque não consegue mais ouvir falar do fim do mundo. Seu primo leva um tiro na Baixada Fluminense e some. Aparece um misterioso visitante - quem é? É, no mínimo, curioso que A Alegria, por conta das idiossincrasias do mercado, esteja estreando no mesmo dia que Onde Está a Felicidade?, do casal Carlos Alberto Riccelli/ Bruna Lombardi. Alegria e felicidade parecem estados de espírito próximos, senão similares, mas não existem filmes mais diferentes. A Alegria fala de juventude - e também das relações entre pai e filha -, de mistérios. Por todos os lugares em que têm passado, Bragança e Marina sentem que os jovens são mais atraídos pelo clima do filme. O público mais velho muitas vezes fica desconcertado, mas participa do debate, sempre que ele se apresenta. O que mais perturba é a própria natureza dos personagens. Os jovens são muitas vezes confrontados com a violência - como o diretor, quando teve seu celular furtado. Na ficção, eles ficam dando voltas, impotentes para enfrentar/resolver a complexidade do mundo ao redor. Nada a ver com a urgência de um Bróder, de Jeferson De, por exemplo. A pegada de Bragança e Marina é mais poética. No Brasil - e em Tiradentes, o festival, por excelência, do cinema de invenção -, a conexão de A Alegria com Apichatpong Weerasethakul foi muito comentada. Em Cannes, Bragança admite que se surpreendeu com outras conexões que foram feitas - e nas quais ele nem havia pensado. O cinema brasileiro dos anos 1970, um tanto de Júlio Bressane, tudo bem, mas o cinema português 5 contemporâneo? Pois o que os críticos franceses viram foi um fantástico próximo ao de Manoel de Oliveira, que naquele ano, apresentava O Estranho Caso de Angélica, e Miguel Gomes, de Aquele Querido Mês de Agosto. Apesar dos jovens, o elenco é dominado pelos veteranos - e Maria Gladys, mais até do que Márcio Vito, também muito bom, humaniza cada cena em que aparece. "Tivemos muita sorte de contar com esses atores extraordinários", diz Bragança. FOLHA DE S. PAULO - Mostras e novo livro lembram 30 anos da morte de Glauber Ciclos de filmes se espalham pelo mundo; Nelson Motta prepara biografia sobre a juventude do cineasta Acervo de 30 mil documentos foi transferido para a Cinemateca, em SP, que faz sessão com família LÚCIA VALENTIM RODRIGUES (22/8/2011) Da Espanha à Argentina, da Holanda ao Japão, passando por Nova York e voltando ao Brasil, as homenagens dos 30 anos de morte de Glauber Rocha se espalham pelo mundo. Hoje completam-se 30 anos da morte do mestre do cinema novo, em decorrência de septicemia, no Rio. Os eventos passam pelo aval do Tempo Glauber, instituição carioca administrada pela família e responsável por preservar e difundir sua obra. "Glauber virou um ícone pop", diz Paloma Rocha, filha que dirige o órgão. Ela diz que as celebrações só não são mais felizes porque foi cancelado, sem grandes explicações, o convênio com o governo que repassaria uma verba de R$ 200 mil. O acordo foi assinado em dezembro e suspenso em junho. Paloma encaminhou um pedido para reavaliação, que ainda está em tramitação. Com disso, diz, teve de gastar parte do espólio proveniente da venda do acervo de Glauber para o Ministério da Cultura e contrair uma dívida de R$ 200 mil para fazer a manutenção do espaço. Demitiu seis empregados. Hoje o Tempo Glauber funciona com sete pessoas. "Gostaria que tivéssemos uma estabilidade mínima", sugere Paloma, de Brasília, onde estava para evento na UnB. Até o começo deste mês, 30 mil documentos sobre o cineasta estavam no Tempo Glauber para digitalização. Agora, foram para a Cinemateca, em São Paulo, onde já estava alocado material doado pelo próprio diretor. Para marcar a transferência e a efeméride, "O Leão de Sete Cabeças" (1971) será exibido em sessão com presença de Paloma e dos responsáveis pela cópia restaurada. Na televisão, o Canal Brasil exibe no próximo sábado "Abry", sobre a mãe de Glauber, e "Diário de Sintra", com fragmentos em super-8 do último ano de vida dele. A TV Senado programou um ciclo de filmes que vai até domingo. Amanhã, às 14h, o Senado promove solenidade com a presença de três gerações: a mãe, Lúcia, a filha Paloma e a neta Sara. Em outubro, sai o livro "Primavera do Dragão", de Nelson Motta. Ele, que conheceu o cineasta numa première do emblemático "Deus e o Diabo na Terra do Sol" (1963), volta no tempo para contar a juventude de Glauber. "Adoro histórias de artistas quando jovens. Este é um romance de formação", afirma, saudoso: "Já não se fazem glauberes como antes". 6 CORREIO BRAZILIENSE - Lenda urbana Grupo de roqueiros brasilienses lança o filme O cavaleiro do além, ficção baseada em história ocorrida no Entorno do DF, e pensa transformá-lo em uma série Yale Gontijo (23/8/2011) Quantos de nós já não ouviram falar de uma história com toques surreais que dariam uma ficção? Sem experiência em direção cinematográfica, três profissionais do rock da cidade resolveram transformar uma delas, ocorrida no Entorno do Distrito Federal, num filme. Loro Jones (ex-guitarrista do Capital Inicial), Magu Cartabranca (tecladista da banda Sepultura, de Brasília) e Rogério Aguas assinam o roteiro, a direção e inúmeras outras funções do curta-metragem de baixo orçamento O cavaleiro do além. O protagonista da fita rodada no Entorno não é nenhum herói. “Um homem estava atacando e violentando mulheres numa cidade do Entorno. Ele escolhia as vítimas na saída da missa. A partir de um certo momento, as pessoas começaram a duvidar da existência do criminoso e o caso virou uma espécie de lenda urbana”, explica Rogério Aguas, um dos diretores, sem poder entregar o município em que a história real se passou por conta de represálias. O ator que vive o papel título é Ednaldo Dunga de Jesus. Outros personagens são o pastor (Alonso Martins) e a beata (Tereza Bernardino). Isso sem contar os próprios diretores, que também estão na frente das câmeras. Os três já trabalham juntos há anos. Eles produziram o CD Rock solidário, cuja venda é revertida para projetos de caridade. Porém, a estreia na direção cinematográfica envolveu muita conversa. Às vezes, até alguma boa dose de discussão. “O trabalho foi do jeito que você está vendo. Nem sempre a gente concordava com tudo. Mas o importante é dizer que a gente se divertiu muito”, descreve Cartabranca. Os realizadores cobriram do próprio bolso os custos, que alcançaram o valor de R$ 10 mil. Foi necessário uma semana fazendo os ajustes da gravação que seria empreendida em duas noites. O filme transita entre gêneros do cinema como o suspense, a comédia e o faroeste. Assim, como na vida real, a discussão gira em torno da existência real ou não do agressor. Inspirada nos filmes do diretor mexicano Alejandro González Iñarritu, uma sequência eleva a mesma discussão a nível global. “Nós chamamos o Murilo Lima (outro ex-integrante do Capital) para uma cena gravada no Hotel Nacional quando o tema é discutido”, adianta Aguas. O infinito é o limite para esse trio. “A ideia é transformar o cavaleiro numa série. A nossa audiência na cidade em que o filme foi rodado está exigindo que a gente já faça outro filme”, antecipou Cartabranca. “Esse filme também será o pontapé inicial de um longa-metragem”, revelou Aguas sobre o projeto de O contrato. Para Jones, é a chance de autonomia artística. “No Capital, eu fiz muito videoclipe. Achava horroroso esse negócio de usar um bando de pancake na cara e ficar obedecendo tudo que o diretor mandava fazer. A gravadora tinha muito controle sobre o trabalho. Era muito chato. Eu faço o que eu quero. Faço porque me dá prazer”, resume. O som captado direto na câmera e a falta de aparatos de iluminação deixam a produção com certo ar de precariedade. A trilha sonora é original e foi composta pelos próprios diretores. Leva elementos de blues e rock and roll. A fita deverá ser exibida na Mostra Brasília do 44º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro em setembro. Quem são os diretores? Loro Jones, 50 anos Foi guitarrista da banda Capital Inicial e um dos pioneiros do rock em Brasília nos anos 1980. Atualmente, é produtor musical Rogério Aguas, 43 anos Trabalha em cinema há mais de 20 anos. É um dos organizadores do CD Rock solidário, com participações de Murilo Lima, Márcio Baldone, Loro Jones e Carmem e Giuliano Manfredini 7 Magu Cartabranca, 52 anos Tecladista e vocalista da banda Sepultura (de Brasília). É também jornalista e apresentador do programa O libertário, transmitido pelo Canal 8 da Net ISTO É - Senna versus Dzi croquettes Dois documentários sobre ícones brasileiros aceleram na corrida rumo ao Oscar nessa categoria em ascensão Marcos Diego Nogueira (24/8/2011) Foi dada a largada da “corrente pra frente” e desta vez não por brasileiros mas pela imprensa americana: com críticas positivas, o documentário “Senna”, sobre o piloto brasileiro morto em 1994, vem sendo apontado como um dos favoritos ao Oscar desde a sua estreia nos EUA, na semana passada. Coincidência ou não, um filme brasileiro quer tentar uma vaga na mesma categoria e não está medindo esforços. Trata-se de “Dzi Croquettes”, a mais premiada produção do gênero até hoje no País, registro da trajetória da irreverente trupe de teatro e dança que enfrentou a ditadura. Pode parecer uma disputa injusta, mas, em comum, as duas produções precisam de gasolina. E muito lobby. Produção inglesa, “Senna” sai na frente. Conta com o suporte da Producers Distribution Agency, que no ano passado levou o documentário “Exit Through the Gift Shop”, sobre o artista inglês Banksy, a uma bilheteria de US$ 3 milhões nos EUA e à indicação nessa mesma categoria. Já “Dzi Croquettes” mantém a independência do projeto iniciado há dois anos. Não contou com patrocínio, apenas com a coprodução do Canal Brasil. Seus diretores, Raphael Alvarez e Tatiana Issa, correm contra o tempo para arrecadar US$ 23 mil, que é o custo mínimo para lançar o filme nos EUA, pré-requisito para ser selecionado. A exibição do longa em três sessões diárias em Nova York e Los Angeles pelo período de uma semana inclui-se no chamado Oscar Qualifying Package, um pacote de qualificação para o Oscar. “Estamos usando os serviços de um site, que recebe doações de qualquer valor em troca de suvenires do filme”, diz Tatiana. Faltam ainda US$ 13 mil. O cineasta britânico Asif Kapadia, diretor de “Senna”, não terá de fazer esforços no orçamento, já que seu filme bateu o recorde de bilheteria para documentários na Grã-Bretanha. A produção vem sendo novamente elogiada por focar a luta de Senna contra os movimentos políticos na Fórmula 1, tema quente hoje em Hollywood, que prepara dois blockbusters centrados em campões das pistas. O GLOBO - Em nome do pai André Miranda (24/8/2011) Numa viagem ao Chile, a diretora Flávia Castro visita a casa para onde seus pais se mudaram, em 1972, fugidos da ditadura militar. Seu objetivo era procurar histórias sobre Celso Afonso Gay de Castro, seu pai, morto em 1984, aos 41 anos. Os donos se recordam que alugaram a propriedade para brasileiros, mas não lembram detalhes. Até que um deles pergunta: “Ele era uma pessoa importante?” Flávia diz rapidamente, meio por instinto, meio com consciência: “Para mim, sim.” A cena faz parte do documentário “Diário de uma busca”, o primeiro 8 longa-metragem de Flávia, que tem pré-estreia para convidados hoje e estreia no Rio em circuito comercial na sexta-feira. O filme é o relato de uma filha atrás da memória do pai, de importância óbvia, que morreu em circunstâncias misteriosas em Porto Alegre, quando ela tinha 19 anos, mas que sobreviveu em suas lembranças. O resultado, porém, ultrapassou o tom pessoal que o motivou: “Diário de uma busca” foi o vencedor, em 2010, dos prêmios de melhor documentário dos festivais do Rio e de Biarritz. Além disso, o filme está há dez semanas em cartaz em Paris e já foi exibido em onze festivais no Brasil e no mundo. — Eu sempre escrevi, gosto de escrever. Passei a vida inteira escrevendo diários, contando esta história da minha família — conta a diretora. — Então, certa vez, eu vi o “No sex last night”, da Sophie Calle, e me dei conta de que era possível fazer um filme com situações pessoais. O que diferencia meu documentário é um ponto de vista que ainda não foi utilizado no cinema brasileiro, o dos filhos dos militantes. Os pais de Flávia — a mãe, viva e bastante presente no documentário, é Sandra Macedo — se casaram um mês após o golpe militar de 1964. Os dois eram membros de partidos comunistas de Porto Alegre e participavam de reuniões contra o regime militar. Anos depois, Celso foi preso pelo Dops e torturado. Para evitar novas prisões, então, deixou os filhos — Flávia tem um irmão mais novo, João Paulo Castro, o Joca — com seus tios e partiu junto com Sandra para o Chile, seguindo os passos de centenas de refugiados brasileiros. As crianças viajaram depois. Também como muitos refugiados, a família teve que deixar o Chile após o golpe contra o presidente Salvador Allende, em 1973, e foi para o exílio na França. Celso e Sandra terminaram se separando, e ele acabou na Venezuela, onde se casou de novo e teve uma filha, Maria, que conviveu com o pai apenas até os 2 anos e meio de idade. Com a anistia do governo brasileiro, em 1979, todos retornaram ao Brasil, sendo que Celso já estava novamente divorciado. O fato marcante para a história de Flávia, e que certamente foi peça fundamental para sua motivação em realizar seu documentário, ocorreu em Porto Alegre, em 4 de outubro de 1984. Acompanhado de um amigo, Celso, que trabalhava parte como jornalista e parte como assessor parlamentar, entrou no apartamento de um cidadão alemão, ex-cônsul do Paraguai. Celso e o amigo morreram, e o alemão foi baleado. A versão das autoridades foi de que os dois invadiram o apartamento para assaltar, acabaram cercados pela polícia e se suicidaram. O caso foi noticiado nos jornais e veio a se descobrir que o alemão havia sido um agente nazista, inclusive com fardas e documentos guardados em casa. — Meu filme é muito mais sobre a vida do que sobre a morte. Ele refaz uma trajetória de vida, é um filme sobre uma família, uma experiência, uma infância — diz Flávia. — É curioso que algumas pessoas, depois de assistirem ao documentário, me procuram para contar suas perdas. São histórias que não têm muito a ver com a minha, mas elas sentem uma proximidade. O projeto de “Diário de uma busca” começou a sair do papel em 2002. O primeiro interlocutor de Flávia foi seu irmão Joca, que surge em vários momentos do documentário debatendo com a diretora as motivações de se contar a história e também auxiliando-a na busca pela memória paterna. Num desses, ele fala: “O filme é teu, a história é tua, a linguagem é tua, o olhar é todo teu. Sinto que você quer que eu compartilhe contigo essa história, mas essa não é a história que eu faria.” — Em todos os debates sobre o filme, a primeira pergunta que as pessoas fazem é se o Joca gostou — brinca Flávia. — É porque ele marca muito uma posição. Ele é antropólogo, tem uma relação diferente com esta história. Mas pensamos o projeto juntos, conversamos bastante durante todo o tempo. O resto da família também foi acompanhando e se acostumando aos poucos com a ideia. Minha avó paterna e minha mãe primeiro se perguntavam qual era a razão para se fazer o filme. Mas, depois, eu me lembro que perguntei para minha mãe se ela gostaria de assistir a um corte maior do documentário, antes que ele ficasse pronto. Ela disse que não. Disse que o filme era meu e só veria depois. “Diário de uma busca” se alterna entre viagens da família para recordar o passado, leituras das cartas deixadas pelo pai e entrevistas com personagens da época, muitos deles questionando as alegações para a morte. Flávia entrevista policiais, jornalistas, legistas, amigos e parentes. Descobre situações misteriosas em torno do caso, como o sumiço de documentos e ordens para que os jornais parassem de cobrir o crime. E, de certa forma, ela também entrevista a si mesma buscando a imagem do pai que ficou no passado. — Não é que eu não me conformei com sua morte, mas eu queria ir atrás da verdade — diz ela. — Escrevi o roteiro antes. Eu sabia que queria um documentário com planos fixos 9 e narração em off sobre a infância, e planos em movimento para a leitura das cartas. Eu só não sabia o que iria encontrar na investigação sobre sua morte. Meu desejo era ter uma estrutura dramatúrgica que se aproximasse de um filme de ficção. Talvez por inspiração, enquanto trabalhava em seu documentário Flávia escreveu outro roteiro, desta vez de uma ficção propriamente dita. “A memória é um músculo da imaginação”, ainda em préprodução, será sobre um adolescente refletindo acerca da vida. Não será autobiográfico, mas certamente trará o grande tema que persegue Flávia. Será, sim, uma nova busca pela memória. ■ TEATRO E DANÇA FOLHA DE S. PAULO - Ópera carnavalesca de Zé Celso honra tradição de Oswald de Andrade "Macumba Antropófaga" alterna citações de manifesto modernista com derivações de genial teatralidade LUIZ FERNANDO RAMOS CRÍTICO DA FOLHA (18/8/2011) O teatro musical brasileiro. "Macumba Antropófaga", do Oficina, é uma ópera carnavalesca que honra a tradição de seu inspirador, Oswald de Andrade, como poesia cênica de exportação. O "Manifesto Antropófago", de Oswald de Andrade (1890-1954), escrito em 1928, é um texto curto. A partir dele José Celso Martinez Corrêa criou uma extensa dramaturgia, toda armada em versos, quase sempre musicados, remetendo às frases do manifesto direta ou lateralmente. Uma novidade na trajetória recente do Teatro Oficina é a ocupação confortável do seu terreno circundante, pertencente a Silvio Santos. Diante da proposta do empresário, de o Estado brasileiro trocar um terreno seu por aquele, o lugar, antes disputado belicosamente, tornou-se espaço de encenação, e o alvo da ação referida no título virou a presidente Dilma Rousseff. É nesse sonhado ambiente que, depois de uma caminhada/prólogo até o vizinho TBC (Teatro Brasileiro de Comédia) para evocar Cacilda Becker, surgem sob uma tenda os personagens de Oswald e Tarsila do Amaral bebendo absinto e comendo rãs. Será dali que o sóbrio Oswald de Marcelo Drummond partirá para, já dentro do teatro, despojar-se da vida burguesa e propor sua revolução cultural. TEMAS DO MOMENTO A estrutura narrativa dá conta maravilhosamente da primeira metade do espetáculo, alternando citações do manifesto, literais e cantadas, com derivações oportunas de genial teatralidade. Em diálogo com a tradição oswaldiana do poema piada, e por certo emulando a tradição da revista, Zé Celso não cessa de reverberar assuntos locais e internacionais do momento, que vão se alternando com as falas de Oswald. Essa variação de planos não se sustenta até o fim, principalmente porque a estrutura repetitiva das cenas, sempre cumprindo ciclos que vão do confronto entre o desregramento e a ordem até a vitória esmagadora de bons desregrados contra maus repressores, não ajuda. Ao final, há uma exaustão mútua de atuadores e espectadores, ainda que solidários na satisfação pelo realizado. 10 Como sempre acontece nas encenações do Oficina, há o saldo positivo do coro, que se entrega plenamente e alcança milagres. Ocorre que, quando exaurido, sua pretendida sensualidade reverte no oposto. O gozo vira obrigação e o que era generoso empenho e intenção libertária revela-se submissa alienação. O mesmo ocorre com o homenageado. Se Oswald de Andrade foi controverso, a versão que Zé Celso apresenta de seu texto é didática e aponta uma leitura necessária. Talvez a meta de fazer de seu objeto de desejo -o território alheio- a razão de ser do seu teatro obrigue a esse estreitamento programático. Para além dessas contradições, trata-se de um belo e originalíssimo musical. O ESTADO DE S. PAULO - Matrimônio inspirado no Circo Ubiratan Brasil (23/8/2011) A obra teatral de Ariano Suassuna sempre foi alvo de afagos e elogios - com exceção de O Casamento Suspeitoso, cuja nova montagem estreia na quinta-feira, no Teatro do Sesi. "De todas as que montei, esta foi a mais atacada", comenta Suassuna no prefácio da edição em livro da peça, lançada pela José Olympio. "Disseram que eu estava repetindo tipos e situações já usados no Auto da Compadecida e que empregara, nesta comédia, mais do que na primeira, meios vulgares e grosseiros de comicidade, além de criar personagens sem sentido." Tamanha resistência não intimidou o diretor Sérgio Ferrara, responsável pela nova montagem. "É uma dramaturgia difícil, ao contrário do que se pensa", comenta. "Como os personagens são tipos, a plateia não vai simpatizar se os atores não humanizarem suas interpretações." Por conta disso, Ferrara - que já montou clássicos tanto nacionais (Barrela) como estrangeiros (Mercador de Veneza) - apostou em um tom circense, que ameniza a farsa e garante uma cumplicidade mais imediata do público. Escrita em 1957 e ambientada na pequena Taperoá, no interior da Paraíba, O Casamento Suspeitoso mostra as armações que antecedem o matrimônio entre Geraldo (Joaz Campos) e Lúcia Renata (Suzana Alves). Ele é filho de Dona Guida (Bete Dorgam), mulher que comanda a cidade na base do grito, enquanto ela não passa de uma interesseira, de olho em uma grande herança que o futuro marido está para receber. Lúcia conta com o apoio da mãe Susana (Nani de Oliveira) e de seu amante Roberto Flávio (Nicolas Trevijano). Os empregados da família, Cancão (Marco Antônio Pâmio) e Gaspar (Rogério Britto), também se envolvem na história para tirar vantagem da situação, enganando tanto o Frei Roque como o Juiz Nunes, ambos interpretados pelo veterano Abrahão Farc. Enfim, instala-se a conhecida comédia de erros com um sotaque do romanceiro popular nordestino. Ou, como diz Suassuna em seu prefácio, uma peça que segue a "tradição do teatro grego e romano, do elisabetano, do espanhol e francês clássicos, do goldoniano, do alemão oitocentista, enfim, do teatro que considero o grande teatro e que se opõe ao contemporâneo, "o teatro de ruína", expressão que subscrevo integralmente". Para conseguir tal efeito, Ferrara buscou acentuar a malandragem que permeia cidades pequenas, aquela que é maliciosa e ingênua, ao mesmo tempo. "Não se trata de uma montagem realista, mas de uma comédia sem caricatura - o importante é o signo, não o exagero." Foi o que norteou especialmente o trabalho de Pâmio e Britto, cujos personagens se assemelham a João Grilo e Chicó, do Auto da Compadecida. No equilíbrio de espertezas (enquanto Cancão é o malandro, Gaspar passa-se por ingênuo), os atores encontraram inspiração em outra dupla famosa. "Depois de uma observação da Bete Dorgam, percebemos que nossos personagens se parecem com Oscarito e Grande Otelo", conta Pâmio. "Foi a chave ideal para criarmos nossa parceria em cena." Habituado a papéis marcados por riqueza dramática (encenou, por exemplo, o belo monólogo Mediano), Marco Antônio Pâmio surpreende no cômico, criando um personagem em que a linguagem corporal é tão importante como a voz. Também feliz em sua caracterização está Suzana Alves, ainda 11 conhecida como Tiazinha: como Lúcia Renata, ela alterna com precisão ingenuidade e astúcia, fazendo o arco perfeito da moça que só pensa em se casar por interesse. "Ela tem experiência em teatro e relevou um ótimo timing para a comédia", comenta Ferrara, que pediu ao elenco controlar o sotaque nordestino, a fim de evitar a caricatura. O mesmo cuidado se estendeu ao cenário e figurinos. Concebidos por J.C. Serroni, ambos apostam no tom circense inspirado pelo diretor. "Como o casamento é mote da peça, criamos um arco que faz a moldura no palco com imagens de santos casamenteiros", conta ele, que também elaborou uma cortina formada pelo mesmo tecido dos véus. Já os figurinos trazem as características da vestimenta do interior nordestino. A trilha sonora e também a sonoplastia, que reforça especialmente a comédia, são executadas ao vivo, por João Paulo Soran e Breno Amparo. Para completar a trupe circense, Sonia Maria e José Rosa formam uma espécie de coro, participando do bando que tenta aplicar o golpe em Geraldo. "Nossa intenção é trazer novamente o teatro popular que marcou o início da sala do Sesi", diz Ferrara. O ESTADO DE S. PAULO - Corpos que tiranizam os olhares Helena Katz (23/8/2011) Mesmo sabendo, não é sempre que nos lembramos que o ponto de onde se avista o espetáculo faz toda a diferença no que dele se percebe. Assistir Lugar do Outro é viver no corpo essa experiência de forma muito clara. Acomodada em oito plataformas móveis, cada qual com quatro assentos, a plateia vai sendo deslocada pelo espaço vazio do quarto subsolo do Sesc Pinheiros, onde a Cia. Damas em Trânsito e os Bucaneiros apresenta, até 14 de setembro, seu novo espetáculo, às terças e quartas, às 21 horas. Trata-se de uma experiência oferecida a somente 32 espectadores por noite. Nela, a reflexão sobre o lugar que o outro ocupa se instaura já no momento em que, ao sentar-se, você deixa de ser plateia anônima, e torna-se parte de um grupo. A você e seus companheiros de plataforma serão ofertadas as mesmas oportunidades e as mesmas perdas na observação do que vai se passar. Somos "depositados" por um tempo em um lugar, e depois empurrados para lá e para cá, em um roteiro que vai armando e desmanchando formas distintas de espacialidades, mas sem mexer na relação palcoplateia, que permanece lá, mesmo não existindo um palco formal. A plateia passa a fazer parte, mas somente como parede móvel a delimitar as formas que o espaço vai tomando. Ao contrato de observador de fora que a plateia geralmente estabelece nos teatros, aqui soma-se um outro traço, o da passividade: nós sentados e sendo conduzidos para onde não escolhemos, em um roteiro já determinado do que e de como vou ver. A mobilidade imposta às plataformas-riquixás edita o olhar de seus "passageiros", que se tornam corpos-câmeras, enquadrando a dança que se oferece. Uma desconfortável relação de poder se escancara: vestidos de preto, como os manipuladores de teatro de bonecos ou de sombras, trabalham duro empurrando os pesados "riquixás", aparentemente submetidos a essa função. Todavia, o que fazem em nós, tiraniza nossa percepção. Quem escraviza quem? Em Lugar do Outro, a companhia não abandona seu interesse em continuar a explorar a relação corpo-arquitetura-som a que chama de "dança de ocupação", pois ocorre em espaços abertos. Em 2008, por exemplo, com Puntear, transformou muretas, jardins e escadas da Casa das Rosas em cenário. Todavia aqui, o foco se adensa em um ponto específico: pergunta sobre a possibilidade do viver isoladamente, e vai montando diferentes tamanhos de distâncias entre os 32 da plateia, entre cada um deles, entre nós e a obra. Uníssono. Enquanto cada qual está sozinho, faz algo singular, mas quando os quatro intérpretes se reúnem, transformam-se em um uníssono de uma mesma coreografia. Nesse momento, o jeito próprio de dançar se atenua, como se não fosse possível mantê-lo quando se está junto, ecoando, aliás, o uníssono dos conjuntos em que a plateia foi transformada. Não surge nenhum traço da 12 multidão, aquele tipo de agrupamento estudado, entre outros, pela dupla Antonio Negri-Michael Hardt, que publicou, em 2004, um livro sobre o assunto. A companhia nasceu em 2006, dentro do Estúdio Nova Dança, o endereço, na cidade de São Paulo, da geração que descobriu, nos anos 1990, a improvisação como possibilidade de dramaturgia para a dança. Como uma das suas representantes, carrega traços da deficiência estrutural desse segmento, que é a falta de entendimento sobre o que seria o rigor artístico necessário para a sua produção. No caso do Lugar do Outro, o elemento mais vulnerável está na escolha dos materiais que dançam. O elenco dança de forma competente, e com uma sintonia segura, indispensável para a linguagem da improvisação que emprega. A questão não está em como dançam, mas no que dançam. Dirigidos por Alex Ratton Sanchez com clareza e pertinência, os quatro intérpretes tocam instrumentos, fazendo parte da ótima trilha de Gregory Slivar - lotada de rastros, sobretudo de Smetak (1913-1984), músico suíço que se mudou para o Brasil em 1937, e foi transformado pelos tropicalistas em uma referência. Trata-se de uma soma de talentos que demonstra poder ainda bem mais do que o que apresenta agora. E o comprometimento de todos eles é o fiador de que muito em breve, estarão no lugar de destaque que já demonstram merecer. BRAVO – Nossa aposta Roberta Estrela D'Alva A atriz de 33 anos, que o diretor Antunes Filho define como "absolutamente extraordinária", se destaca na França durante a Copa do Mundo de poesia falada Por André Toso (Agosto/2011) Há cinco anos, nem mesmo Roberta Estrela D'Alva sabia o significado de poetry slam, competição em que poetas recitam versos para um júri. Desde o dia 4 de junho, porém, a atriz paulista é uma das principais representantes da modalidade tanto no Brasil como no exterior. Ela conquistou em Paris o terceiro lugar num torneio que reuniu concorrentes de 15 países, a 8a Copa do Mundo de Slam. Chegou à França como zebra, já que os brasileiros não têm nenhuma tradição em disputas do gênero, mas acabou seduzindo a torcida e logo passou a figurar entre os favoritos. No confronto derradeiro, só pontuou menos que os canadenses Chris Tsé, segundo colocado, e David Goudreault, o campeão. O resultado impressiona ainda mais quando se considera que Roberta apresentou-se em português, enquanto os outros finalistas falavam inglês ou francês, idiomas compreensíveis pelos jurados. Legendas exibidas no fundo do palco traduziam as poesias da atriz. Antes de se destacar na Europa, a intérprete de 33 anos já despertava o interesse de um mito do teatro nacional, Antunes Filho. "Assim que a vi pela primeira vez em ação, fiquei hipnotizado. Ela é absolutamente extraordinária e intensa, um gênio capaz de declamar poemas com todo o corpo", exalta o diretor, que não costuma distribuir elogios. Nascida em Diadema, Roberta trocou o ABC paulista pela capital do estado para cursar artes cênicas na Universidade de São Paulo. Ainda estudante, participou da fundação do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, coletivo que estimula o diálogo entre o teatro épico e o hip-hop. Depois, em 2004, ajudou a implantar a Frente 3 de Fevereiro, grupo que pesquisa e combate o racismo. A militância e trabalho de atriz levaram-na a descobrir documentários estrangeiros que retratam o poetry slam, criado nos Estados Unidos durante a década de 1980 pelo poeta Marc Smith. 13 Para se aprofundar no assunto, viajou a Nova York e presenciou alguns duelos. As regras do jogo exigem que os participantes declamem poemas de si com no máximo três minutos de e não se utilizem de trilha sonora e figurino. Devem recorrer apen expressão corporal. "A nota depende do uanto cada jurado se emociona com a performance. Não é uma simples avaliação da melhor poesia", explica a atriz. Quando resolveu encarar a Copa do Mundo, Roberta contatou os organizadores franceses, que a aceitaram após conhecer a Zona Autônoma da Palavra (ZAP!). O espaço paulistano, idealizado pela intérprete e pelo Núcleo Bartolomeu em 2008, agrega praticantes do poetry slam no Brasil. Lá a atriz atua como mestre de cerimônias. As disputas ocorrem toda segunda quinta-feira de cada mês. Qualquer pessoa pode participar. O vencedor ganha livros, DVDs e outros prêmios culturais. "Mas o que importa mesmo é a celebração, e não a competição", diz Roberta, que está terminando um longa sobre poetry slam com a documentarista Tatiana Lohmman. ARTES PLÁSTICAS O GLOBO - Dois é demais De ‘office boys’ a artistas consagrados, a trajetória de sucesso da dupla osgemeos Gilberto Scofield Jr. e Márcia Abos (21/08/2011) No ateliê-oficina que possuem no Cambuci, bairro de classe média baixa na zona central de São Paulo, os artistas plásticos e irmãos gêmeos idênticos Otávio e Gustavo Pandolfo, de 37 anos — conhecidos pela assinatura osgemeos — rabiscam furiosamente em cadernos e revistas enquanto falam. Passa das 20h30m de uma quarta-feira, única brecha na agenda dos artistas para a conversa, que flui tranquila e animada, apesar do horário. É difícil achar um tempo para falar com os dois. Muitas das imagens de seus trabalhos publicadas nas próximas páginas vieram por email entre uma e outra reunião ou viagem de trabalho ao longo da semana. As fotos dos dois foram feitas às 13h de um sábado. E a maior parte dos futuros trabalhos não podia ser mostrada porque fazia parte de alguma exibição que ainda está por vir, e eles tentam manter segredo. Não são poucos. Na próxima sextafeira, por exemplo, quem for à Estação da Leopoldina para o festival Back2Black vai mergulhar num ambiente idealizado e construído por osgemeos e pelo cenógrafo e artista plástico Sergio Marimba. A dupla faz mistério sobre o trabalho, mas avisa que o público vai se surpreender: trata-se de uma ambientação interativa, capaz de levar o público para dentro do universo paralelo onde vive a imaginação destes artistas. É também a primeira vez que osgemeos unem música — que sempre embalou seu processo criativo — a instalações, esculturas e pinturas. Eles são responsáveis pela direção criativa do festival e tiveram voz ativa na escolha do line up, quase uma volta às origens para quem começou na cultura hip hop, dançando break nas ruas de São Paulo nos anos 80, antes de descobrir os muros. Mês que vem, osgemeos expõem em Vilnius, na Lituânia, numa parceria inédita com a mãe, a bordadeira Margarida Kanciukaitis Pandolfo, de 68 anos, descendente de lituanos. Ela irá acrescentar ainda mais detalhes, com seus bordados, às intrincadas tramas que os irmãos costumam criar nas roupas e adereços de seus inconfundíveis personagens amarelos. Em outubro, os irmãos fazem uma exibição de trabalhos inéditos no Museu Vale, em Vitória, no Espírito Santo. Isso sem falar nas obras que produzem sem qualquer propósito específico, apenas para dar vazão aos impulsos criativos que parecem não parar de brotar daquelas cabeças. 14 — Na nossa vida, tudo aconteceu na hora que tinha de acontecer. A essência é que a gente sempre acreditou no que faz — diz Gustavo. — Sempre soubemos que a melhor forma de se comunicar com o mundo externo era através do desenho, da arte. Mesmo com a família, os amigos, com todo mundo: a gente preferia desenhar a conversar. A disputada agenda evidencia não apenas a trajetória bem-sucedida de uma dupla de artistas de rua que conseguiu transportar suas criações da paisagem urbana e marginal de São Paulo para o cenário mainstream de galerias, museus e até castelos ao redor do mundo e no Brasil. Mais que isso. Ainda que, de vez em quando, continuem a grafitar pelas ruas da capital paulista, osgemeos estão entre os mais importantes e influentes artistas contemporâneos do país, uma unanimidade de crítica e de público cujos trabalhos podem ser apreciados de graça num muro da Avenida 23 de Maio, em São Paulo, ou comprados na galeria paulistana Fortes Vilaça por US$ 57 mil (telas de 2m de altura por 1,6m de largura). Desde que se entre na fila, aliás, porque não há telas disponíveis. — Eles têm menos tempo de estúdio do que eu gostaria — diz, rindo, a galerista Marcia Fortes, dona da Fortes Vilaça e representante dos artistas no Brasil. Mas osgemeos não ligam para isso e fazem questão de colaborar em projetos em que o retorno financeiro vale menos do que o desafio da criação. — Eles sabem que nem tudo é para vender — diz o artista plástico Vik Muniz, fã confesso da dupla, sobre a importância da liberdade e do prazer no trabalho criativo. Dois desses desafios, inclusive, figuram na lista dos dez melhores trabalhos de arte de rua do mundo, segundo o jornal inglês “The Guardian”, numa lista publicada há duas semanas. São os únicos artistas a aparecerem duas vezes, ao lado de feras da arte de rua como o inglês Banksy, o americano Keith Haring e o espanhol Sam3. Nas fotos, escolhidas pelo designer e escritor Tristan Manco, figuram o castelo histórico de Kelburn, em Ayrshire, na Escócia, uma propriedade do século XIII grafitada em 30 dias por osgemeos e pelos artistas brasileiros Nina Pandolfo (mulher de Otávio) e Nunca, em 2007. Outro é a intervenção feita em dez dias por eles e o artista italiano Blu num prédio abandonado da Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa, no ano passado. — Tudo depende, mas nestes casos, com uma escala dessas, o desafio foi mesmo o grande tesão — diz Otávio. Nas quase duas horas de conversa em seu ateliê — uma caótica mistura de oficina mecânica, estúdio de arte, barracão de escola de samba e depósito de brinquedos, esculturas e quadros (chama a atenção o quadrinho “I love vandalism”, pregado na parede) —, Gustavo e Otávio não pararam um minuto sequer de desenhar. Ora rabiscam com esferográfica num caderno esboços de figuras humanas, contornos de bichos, coisas penduradas no ar, frases soltas. São centenas de caderninhos acumulados até hoje desde que eram pequenos, uma formidável fonte de inspiração e teste para os trabalhos definitivos. Outras vezes, interferem com canetas do tipo pilot em revistas velhas, brincando com letras como nos grafites de rua. O que não significa que não estejam prestando atenção. A conversa segue normalmente entre um desenho e outro. — Quando vamos a um restaurante que tem nas mesas aquelas toalhas de papel, Otávio sempre pede uma caneta e desenha durante todo o jantar. Nunca esqueço de levar canetas na bolsa — conta Nina, lembrando, entre risos, da pergunta da sobrinha de 14 anos do casal, ao observar o hábito do tio de desenhar sem parar: “Tio, você tem TOC?” — A gente está cada vez mais dentro do nosso universo de criação. Estamos cada vez explicando menos. Está tudo muito ali. É difícil hoje em dia se rotular — diz Gustavo, o mais falante da dupla, enquanto desenha. — E o que é que a gente faz? É arte contemporânea? Está certo que a gente não chama de grafite o que faz numa galeria. Ou street art. É um trabalho de arte que está sendo exposto, só isso. Mas as pessoas precisam de rótulos, precisam enquadrar aquilo. Então rotulem como quiserem, porque 15 nosso papel é continuar produzindo. É conceitual? É contemporâneo? É um pouco de tudo — completa Otávio, o mais cerebral, enquanto desenha. Gustavo e Otávio trocam de cadernos e revistas sem sequer se olhar. Não dizem o que o outro vai fazer, por onde ir, que desenho terminar. Um simplesmente continua desenhando onde o outro parou e, aos poucos, as imagens, frases, letras, formas vão surgindo. A prática ajuda os artistas a criar uma mítica a respeito deles mesmos. Dizem que conversam por telepatia e que, mesmo quando não estão perto um do outro, “estão sempre juntos”. Juram que vivem num mundo paralelo próprio. — Eles sempre foram assim, desde que começaram a desenhar, ainda aos 4, 5 anos — lembra a mãe, Margarida. Toda a família, aliás, foi uma inspiração e um apoio na carreira da dupla, que começou ainda na infância no Cambuci. Margarida, ela mesma uma artista frustrada, decidiu amparar os sonhos dos filhos de uma maneira que seus pais, muito pobres, não puderam fazer por ela. — Sempre que o dinheiro dava, trazia alguma coisa para eles experimentarem: canetas diferentes, papéis com novas texturas, tintas especiais — conta ela. — Quando eles cresceram, depois do curso técnico de desenho no Ensino Médio, passaram a frequentar a cena hip hop na estação do metrô de São Bento e a gente ficava um pouco preocupado. No início não entendia aquilo como arte. Depois, vi que eles faziam uma arte de rua que enchia os olhos, embelezava a cidade e demonstrava todo o talento que tinham — conta o pai Walter Pandolfo, 72 anos. — É um orgulho. O irmão mais velho, Arnaldo, de 48 anos, um desenhista técnico que trabalhou por 15 anos com design de vidros, passou de fonte de inspiração dos irmãos mais novos para colaborador. Hoje, contribui projetando a maioria das instalações e esculturas dos gêmeos. — Às vezes, eu digo: “Vocês querem fazer um escultura do personagem de vocês, mas com essas canelas finas e esse cabeção, a escultura não vai se sustentar” — diz Arnaldo, às gargalhadas. — Há quatro anos, decidi ajudar os dois cuidando da parte administrativa do trabalho e deixando-os usarem o tempo somente com o processo criativo — diz a irmã, a administradora de empresas Adriana, de 45 anos, anjo da guarda financeiro da dupla. Otávio e Gustavo desenham, pintam, constroem brinquedos (embriões do que são hoje esculturas e instalações) desde muito pequenos. Na pré-adolescência, descobriram os muros com a ajuda da cultura hip hop, como um meio de falar ao mundo. Mas desde sempre sabiam que queriam viver de arte. Em 1997, Otávio abandonou o emprego de office boy num banco. Gustavo fez o mesmo. Passaram três anos juntos, quase reclusos, criando sem parar na busca de uma identidade própria. O esforço valeu e, em 2005, eles foram convidados pelo influente galerista americano Jeffrey Deitch para expor em Nova York. Um ano depois, conquistaram o Brasil com a mostra recordista de público na Fortes Vilaça. — Quando fui a essa exposição, fiquei morrendo de inveja. Tinha fila na porta, gente de todo tipo. Mas a maior sacada é que, mesmo tendo uma identidade muito clara, ela não limita seu desenvolvimento artístico — avalia Vik Muniz. 16 A carreira evoluiu para trabalhos periódicos no exterior (já expuseram em países de todos os continentes, menos na África) e no Brasil, encomendas especiais (fizeram um quadro para o produtor e vocalista do Black Eyed Peas, will.i.am., e o jogador Ronaldo tem várias telas), a criação de identidade visual para filmes e até lançamentos de carros. — O bom do Brasil é que ainda dá para fazer muita coisa por aqui — diz Gustavo. — Quando você vai para fora é que percebe isso melhor — completa Otávio. Os dois trocam os cadernos. E continuam a desenhar loucamente. ISTO É - Associações orgânicas Cem anos de arte brasileira na Coleção Itaú em Exposição, na qual as obras são relacionadas mais por conceitos do que por cronologia Nina Gazire (24/8/2011) Grande parte das coleções de arte de bancos brasileiros teve início na década de 1960, voltando-se para a aquisição de obras produzidas em períodos precedentes, em geral a pintura modernista de 1920 a 1940. Mas à medida que a arte brasileira avançava na produção de novas linguagens, essa jovem produção passou também a integrar o programa de aquisições dessas instituições. Na exposição “1911 – 2011: Arte Brasileira e Depois, na Coleção Itaú”, em cartaz em Belo Horizonte, é possível fazer um percurso por cem anos da arte feita no Brasil. Embora a coleção ostente grandes nomes do Modernismo, como Lasar Segall e Cícero Dias, o diferencial da curadoria “Paraíso”, de Albano Afonso de Teixeira Coelho – responsável pela coleção e também curador coordenador do Museu de Arte de São Paulo – está na ausência de um historicismo. Na mostra, que tem projeto cenográfico de Daniela Thomas e Felipe Tassara, a arte contemporânea e a arte modernista estão dispostas lado a lado, a partir de uma proposta que “aproxima as obras umas das outras por meio de uma associação orgânica”, como explica Teixeira Coelho. O curador trabalhou sobre um recorte de 170 obras, agrupando-as em seis eixos temáticos. Em “Na linha da ideia”, estão reunidas obras que questionam a funcionalidade e a finalidade da arte e se alinham às propostas feitas pela arte conceitual da década de 1960. Um exemplo é a série de cartões produzida por Amélia Toledo, que fazia parte da publicação “On-Off”, de 1973, – criada com o artista Julio Plaza – e dava instruções didáticas para a realização de intervenções artísticas. Também integram este eixo temático a série “Paraíso”, fotografias que reproduzem obras de artes perfuradas, feitas por Albano Afonso entre 2001 e 2005, e “Campo de energia”, objeto feito de metais oxidantes por Antonio Dias em 1991. “Estas obras são feitas em momentos distintos, mas todas possuem um forte caráter conceitual. Mas cada uma trabalha o conceitual de maneira diferente”, enfatiza o curador. Para além da diversidade da coleção, outro fator importante do projeto está na itinerância. Desde 2006, a coleção do Itaú tem sido mostrada em diferentes exposições, mas sempre em São Paulo. O projeto de itinerância foi retomado no ano passado com a exposição “Brasiliana Itaú”, que viajou pelo 17 Brasil. A presente mostra “1911-2011 Arte Brasileira e Depois, na Coleção Itaú” deixa Belo Horizonte no mês de setembro e chega ao Rio de Janeiro em outubro. Em 2012, a coleção viajará pela primeira vez ao Exterior e será apresentada em Buenos Aires. O GLOBO - Altos sentidos Carlito Carvalhosa inaugura hoje, no MoMA, a instalação ‘A soma dos dias’, fazendo do átrio do museu uma experiência sensorial Fernanda Godoy (24/8/2011) Quando o pano diáfano que forma as espirais da obra “A soma dos dias” escorrega suavemente da altura de 19 metros do átrio do MoMA (Museum of Modern Art), as equipes do museu e do artista plástico Carlito Carvalhosa extravasam a alegria e o alívio em aplausos, gritos, abraços. Circulando sem parar pelo novo espaço que acaba de criar em um dos museus mais importantes do mundo, Carvalhosa transborda emoção e expectativa diante da abertura ao público de Nova York, hoje. — É maravilhoso expor aqui, é um museu incrível. Tenho uma curiosidade enorme de ver qual vai ser a reação do público. Mas a arte é uma coisa para a vida toda, vou continuar fazendo muitas outras coisas em outros lugares. Não existe uma sensação de “agora cheguei lá” — diz o artista, logo após o “parto” de sua obra no MoMA, induzido com perícia por integrantes de sua equipe, do alto de um guindaste, na tarde de domingo. Mas a verdade é que o paulistano de 49 anos, que despontou na década de 1990 e vive no Rio desde 2002, dividindo-se entre a casa no Jardim Botânico e o ateliê em São Cristóvão, chegou realmente aonde poucos na arte contemporânea chegam. Formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Carvalhosa estudou gravura com Sergio Fingermann, aparecendo no cenário artístico nos anos 1980, com o grupo Casa 7, no qual também estavam, entre outros, Fábio Miguez e Nuno Ramos — como eles, fazia pinturas de grandes dimensões, que aos poucos cederam espaço a esculturas e, agora, instalações, como “A soma dos dias”, exposta na Pinacoteca do Estado de São Paulo, no ano passado. A OBRA, erguida a 19 metros de altura, no MoMA: duas espirais de tecido translúcido formam um labirinto onde o som ambiente se acumula ao longo dos dias Foi lá que ele cativou uma delegação de visitantes do MoMA, organizada pelo curador de América Latina da instituição, Luis Pérez-Oramas, e integrada pelo diretor do museu, Glenn D. Lowry. O grupo havia ido à Pinacoteca ver a retrospectiva de Antonio Dias, mas acabou conquistado pela obra de Carvalhosa. Ali mesmo surgiu a ideia de levá-la para o átrio do museu novaiorquino, um privilegiado lugar de passagem para quem visita a coleção permanente e as exposições temporárias, onde ela ficará exposta até 14 de novembro. 18 — Foi amor à primeira vista para todos. Ficamos fascinados com a peça. Uma sorte, porque é uma obra difícil de descrever com palavras ou mesmo fotografias, é preciso ter a experiência. É assim com a arte verdadeiramente participativa — diz Pérez-Oramas, também curador da Bienal de São Paulo de 2012. Concertos ‘invisíveis’ de Philip Glass A obra de Carlito Carvalhosa, duas espirais de tecido branco levíssimo (todo o pano da montagem pesa apenas 40 quilos) e translúcido, interconectadas, que formam um labirinto por onde o visitante se perde em um mundo etéreo, tem um sistema de captação do som ambiente que vai se acumulando e modificando com a soma dos dias, daí o nome. — A gravação vai se sobrepondo dia a dia, como uma construção sonora. As coisas mais recentes vão apagando as mais antigas, como na memória — explica Carvalhosa. Como aconteceu em São Paulo, o trabalho terá a participação do pianista e compositor Philip Glass, que fará concertos dentro do espaço de “A soma dos dias”, brincando com a ideia de invisibilidade, já que o público não o vê tocar, apenas ouve. Os concertos de Glass e de outros músicos ocorrerão entre setembro e novembro, sem divulgação prévia de horários. O anúncio será feito apenas no dia do show, por meio da conta do MoMA no Twitter. — “A soma dos dias” é um trabalho que tem muitos sentidos e que depende muito de quem o visita. O que esta obra faz é criar uma outra experiência de um lugar já conhecido — diz Carvalhosa. O diretor da Pinacoteca, Marcelo Araújo, conta que a escolha da obra de Carvalhosa, que teve a curadoria de Ivo Mesquita, é um resultado estimulante também para o museu brasileiro. — É um êxito constatado, é a mesma peça que esteve na Pinacoteca, agora no MoMA, um museu que é referência. A produção brasileira de artes visuais está ganhando visibilidade, temos notado um interesse significativo de instituições dos EUA e da Europa — afirma Araújo, que está trabalhando em parceria com a Tate Modern, de Londres, para uma exposição da obra de Mira Schendel em 2014. Pérez-Oramas aponta a própria criação do cargo de curador de arte latino-americana, em 2006, como evidência do interesse da instituição em avançar na sua tradição, que já incluiu retrospectivas das obras de Candido Portinari e Roberto Burle Marx, entre outros. Para 2014, ele trabalha na preparação de uma grande mostra de Lygia Clark. — Do ponto de vista do MoMA, a decisão de reforçar a relação é muito clara. Há uma abertura muito grande para a arte brasileira e da América Latina, isso está no DNA do Mo- MA. Mas é certo que as instituições dos EUA entenderam que houve um esgotamento de seu cânone, que era hora de renovar. Carvalhosa reconhece que o momento de valorização das artes visuais brasileiras no cenário internacional o ajudou a chegar ao Mo- MA, mas não arrisca palpites sobre para onde ou como serão seus próximos passos no exterior. Ele ainda tem uma exposição marcada para este ano na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, e uma mostra na nova sede do MAC (Museu de Arte Contemporânea) de São Paulo, no prédio de Oscar Niemeyer que vinha sendo ocupado pelo Detran. — Estou entusiasmado com a ideia de que este trabalho vai ser visto por muita gente, por todo tipo de gente, aqui em Nova York. É para isso que a gente faz arte. Em termos de carreira, é difícil saber o que vai acontecer. Um Brasil complexo Com a visão dupla de quem trabalha para o MoMA e para a Bienal de São Paulo e um conhecimento profundo da arte e da sociedade brasileiras, Pérez-Oramas enxerga uma realidade mais rica do que a do celebrado modernismo dos anos 1950: 19 — O que estamos vendo no Brasil é o resultado de uma sociedade muito complexa, que conseguiu, felizmente, multiplicar seus mecanismos de comunicação consigo mesma, graças à transparência trazida pela volta da democracia. Os últimos 16 anos de governo potencializaram uma enorme força cultural, que se expressa com muitos estilos de linguagem, com muita diversidade. Em termos institucionais, o avanço é nítido. Tanto Marcelo Araújo como Luis Pérez- Oramas relatam uma relação mais simétrica, mais equilibrada, com projetos de parceria entre instituições da América Latina e dos EUA ou da Europa. — As instituições culturais dos países latino- americanos, sobretudo aqueles em que se estabeleceram regimes abertos, inteligentes e democráticos, amadureceram, encontraram uma solidez que não tinham antes — diz o venezuelano Pérez-Oramas. MÚSICA O ESTADO DE S. PAULO - Múltiplo indivisível Zé Miguel Wisnik lança quarto CD da carreira e faz nova trilha para o Grupo Corpo Lucas Nobile (18/08/2011) - Polivalência nunca foi um defeito, mas ainda há quem insista em defender que uma pessoa é incapaz de atuar em diversos campos com extrema excelência. Aos 62 anos - mesmo sem precisar provar mais nada a ninguém -, Zé Miguel Wisnik mostra novamente seus múltiplos talentos, assinando a trilha de Sem Mim, novo espetáculo do Grupo Corpo, e lançando o quarto disco de sua carreira. Produzido por Alê Siqueira, o álbum duplo tem logo em seu título, Indivisível, uma brincadeira com a característica de polivalente de Wisnik. Sujeito vasto, ubíquo, ele é um só, mas tem todo o direito de exercer com maestria os papéis de compositor, letrista, pianista, ensaísta, autor de trilhas para teatro e dança e escritor dos respeitados livros O Som e o Sentido (1989) e Veneno Remédio: O Futebol e o Brasil (2008). Na divisão dos dois discos de Indivisível - com belo projeto gráfico assinado por Elaine Ramos -, um deles tem doze faixas com arranjos mais violonísticos. Já o outro conta com treze temas cujo clima é ditado pelo piano. No primeiro, com o violão de Arthur Nestrovski em todas as faixas, além de musicar poemas de Fernando Pessoa (Tenho Dó das Estrelas), Carlos Drummond de Andrade (Anoitecer), Ludwig Rellstab (com adaptação de Nestrovski), de letrar Serenata, de Franz Schubert, e de fazer uma versão para tema de Henri Salvador e M. Modo (Eu Vi), Wisnik assina parcerias com nomes que dispensam apresentações. Chico Buarque, que participa do disco cantando Embebedado; Jorge Mautner, em Tempo Sem Tempo; Ana Tatit e Zé Tatit, na anti-homofóbica Eva e Adão ou Marchinha da Família; Vadim Nikitin, no samba Sem Fundos; e Nestrovski, em Acalanto. "Foi um disco surgido por encontros. Não só em relação às parcerias, mas também sobre o amadurecimento da interpretação das canções. O Sergio Reze (bateria e percussão) mora aqui na rua de cima. Tem uma sala de ensaios muito boa na casa dele e não teve aquela coisa de os músicos chegarem no estúdio, aprenderem a música na hora para gravar. As músicas atingiram uma certa maturidade para serem gravadas", conta Wisnik, que também gravou temas de autoria só sua, como o grande destaque do disco, o samba Errei com Você, A Serpente, Presente e Sócrates Brasileiro, em homenagem ao ex-craque, sendo uma das faixas que contam com o violão de 7 cordas de Swami Junior. No outro disco, desenhado pelo piano, destaque para as parcerias de Wisnik com Guinga (Ilusão Real e Canção Necessária, esta uma "resposta" a Canção Desnecessária, de Guinga com Mauro Aguiar), Alice Ruiz (Dois em Um), Luiz Tatit (Tristeza do Zé), o próprio Mauro Aguiar (Nossa Canção) 20 e Marcelo Jeneci (O Primeiro Fole e Feito Pra Acabar, que batiza o primeiro disco do pianista e acordeonista). Questionado sobre o fato de gravar em sua voz temas seus anteriormente gravados por nomes como Maria Bethânia (Cacilda), Gal Costa (Embebedado), Elza Soares e Zélia Duncan (Presente) e Mônica Salmaso (Mortal Loucura), Wisnik responde: "Eu sempre aprendo muito quando vejo grandes intérpretes gravando no estúdio, sempre absorvo algo de bom. Como compositor, quando eu gravo as minhas músicas é um depoimento meu que está ali". Trilha do Corpo. Não menos digna de nota é a trilha de Wisnik para o novo espetáculo do Grupo Corpo, Sem Mim. Ao lado de Carlos Núñez, com extenso trabalho de pesquisa, o compositor teve como ponto de partida canções de Martín Codax, do século 13. "Tínhamos a intenção de trabalhar sobre essas canções em uma faixa de 15 minutos para o disco do Carlos Núñez, Alborada do Brasil, mas ela acabou ficando de fora do álbum. No fim das contas, a ideia se desenvolveu em 50 minutos para a trilha do espetáculo", diz Wisnik. O ESTADO DE S. PAULO - As horas cariocas de Thaís Cantora mostra o repertório de seu segundo disco, ôÔÔôôÔôÔ Roberta Pennafort (18/08/2011) - Thaís Gulin não merece o aposto maldoso e reducionista de "a namorada de Chico Buarque". Quem conhece sua voz e seu cabelo cor de abóbora só pelo recente CD de Chico ou das revistas e sites de fofoca pode até cair nessa. Mas os que dão mais atenção a seus dois bons CDs do que aos rumos de seu relacionamento amoroso sabem de seus méritos, e a veem como uma interessante novidade que o século 21 trouxe à MPB. Esta noite, o público paulistano, que não a recebe desde 2008, pode conferir a performance da cantora curitibana carioca no Tom Jazz. O repertório intercala músicas dos dois trabalhos, o primeiro, de 2007, com seu nome, e o segundo, ôÔÔôôÔôÔ, que saiu recentemente. Chico (Se Eu Soubesse), Tom Zé (Ali Sim, Alice) e Adriana Calcanhotto (Encantada) deram a ela músicas inéditas, vestidas no CD por arranjos que se utilizam das cordas de violões, baixo, banjo, cavaco, viola, guitarra, cello e harpa, e mais sopros, piano, percussão e programações. As duas primeiras foram apresentadas no show de estreia no Teatro Rival, no Rio, há duas semanas, assim como Horas Cariocas e ôÔÔôôÔôÔ, composições próprias, Água, hit de Kassin, e Cinema Americano, de Rodrigo Bittencourt, e devem se repetir no Tom Jazz. Foi uma noite tumultuada, tanto por um microfone que insistia em não colaborar como pelo frisson causado pela presença sorridente de Chico. "Onde ele vai tem fotógrafo mesmo", diz Thaís, que não vê por que falar explicitamente sobre o amor dos dois, que se revela nos CDs deles - os lararás lararis de Se Eu Soubesse têm duas versões, com as duas vozes. "Não tem muito mistério nem o que falar. Tem um lado estranho de já se ter um primeiro disco, críticas ótimas, e de repente as pessoas ficarem falando do trabalho por outro caminho. Isso confunde o público. Mas não vou gastar minha energia. Procuro pensar em fazer música." Sonoridade. A energia tem sido direcionada para traduzir a rica sonoridade do CD no palco, onde Thaís, jeito de menina sapeca e voz com personalidade, é acompanhada de Frado e Alexandre Prol (violões/guitarras), Chiquinho Chagas (teclados e acordeom), Thiago Silva (bateria/percussão), Lancaster Lopes (baixo) e Marlon Sette (trombone). ôÔÔôôÔôÔ tem muito de sua vivência carioca. Ela veio para a cidade há oito anos, com 23, sem conhecer ninguém. Queria continuar fazendo teatro e buscando seu som, ser mais livre. Fez seus CDs com calma, "nenhum compromisso", compondo sozinha, pelas madrugadas, e com parceiros (Kassin/Ana Carolina, Moreno Veloso). De estandarte nas mãos, cravado na Praia do Arpoador na capa do CD, ela entra no universo do samba do Rio já na abertura, a faixa-título, na qual promete acabar com o desfile da escola de samba com sua falta de jeito. 21 "Falo do samba e canto com esse olhar distante, estrangeiro, como uma mistura que não se mistura." ESTADO DE MINAS - Cidadão do mundo Kiko Ferreira (18/8/2011) O cantor, compositor e violonista mineiro Rafael Dias tem carisma, experiência de palco e, agora, chega ao primeiro disco oficial. Hoje com 26 anos e 11 de carreira, o músico começou a tocar em bares, passou pelo Manifesto Primeiro Passo e fez sua primeira participação em disco no CD Identidades, produzido por Chico Amaral em 2006. Dois anos depois, foi um dos selecionados na primeira edição do projeto Vozes do Morro, que busca talentos nas vilas, favelas e periferias de Belo Horizonte . Rafael veio do Alto Vera Cruz e se destacou entre os outros concorrentes pela agilidade do violão, a voz agradável e a poesia simples e direta da música 22 de fevereiro. Em 2009, foi para Londres estudar línguas e investir na carreira. Lá, formou o trio Live Brazil, com o baixista e engenheiro de áudio NSherif, de Angola, e o baterista moçambicano Elias Manolios, estudante de música da Salford University. No ano passado, voltou ao Brasil e começou a gravar este Identity, de oito faixas, que reflete a temporada internacional. A sonoridade do CD mescla sons latinos, africanos, americanos, europeus e brasileiros, numa mistura com apelo universal. O drama dos imigrantes ilegais surge já na primeira faixa, No one is illegal, um samba funk com virada de reggae que inclui uma boa participação do rapper brasileiro Lil’ Dawg, que vive em Nova York. Com pegada disco, Maria lembra a sonoridade de final dos anos 1970, e tem apelo para pista. A veia mais latina está em La luna, com Cubanito, com levada que lembra o chicano Carlos Santana, reforçada com o timbre da guitarra de Luiz Peixoto. Já Te-te-te é samba rock parente de Jorge Benjor. Rafael Dias mostra a força da nova geração de músicos mineiros O álbum caminha para o final com o samba Me and you, no qual o suingue mineiro fica mais evidente; faz uma parada romântica na charmosa I believed in you e faz conexão mais explícita com a África em Cativeiro, com citação de Humbiumbi, que os brasileiros conhecem pela adaptação do angolano Filipe Mukenga, e na releitura de Djavan. A última faixa é a cinematográfica Capoeira, que parece trilha sonora de filme sobre capoeira. Cotação: Bom O ESTADO DE S. PAULO - Batuque das Gerais Cena mineira com base no samba começa a ganhar mais projeção para fora do Estado Lauro Lisboa Garcia (20/8/2011) Os shows dos representantes do novo samba mineiro tiveram grande repercussão na série de shows do programa Conexão Vivo em Salvador, na semana passada. Dois deles - o cantor, violonista e compositor Gustavo Maguá e o violonista de 7 cordas, compositor, produtor e arranjador Thiago Delegado - acabam de lançar robustos álbuns de estreia e confirmam que tanto o samba como a música instrumental mineira ligada a esse gênero estão em alta. 22 Além deles, a superbanda Senta a Pua! e o coletivo Samba do Compositor - projeto de Miguel dos Anjos, Mestre Jonas e Dudu Nicácio (do Dois no Samba) - protagonizaram alguns dos melhores shows do evento. Trocando impressões, eles representam uma cena que se fortalece em Minas (onde naturalmente o samba sempre existiu de alguma forma) e começa a se projetar para fora do Estado. Mestre Jonas é um dos nomes de ponta dessa cena. Violonista, cantor de voz potente e compositor gravado por diversos intérpretes, ele também criou o projeto Samba na Madrugada em Belo Horizonte. Sua música tem forte ligação com a religiosidade e a cultura mineira de matriz africana, como mostrou no ótimo CD de estreia, Sambêro, lançado em 2010. Jonas, Maguá e Delegado vêm de escolas musicais diferentes, produzem os próprios trabalhos mas não se encaixam no perfil clássico do sambista. Eles expandem essa música que tem base no samba, mas difere da tradição, seja com influência de rock, choro, ijexá, gafieira ou das harmonias mineiras. Parceria. Gustavo Maguá e Thiago Delegado durante show na Bahia A receita conquistou os baianos que vibraram com os shows. Banda que está na ativa desde 2007 em Belo Horizonte, a Senta a Pua! sacudiu o público com seu suingue de gafieira, choro e sambajazz instrumental, com cordas, percussão e metais. Quando Elza Soares entrou para cantar com eles clássicos como Malandro (Jorge Aragão/Jotabê), Se Acaso Você Chegasse (Lupicínio Rodrigues) e O Neguinho e a Senhorita (Noel Rosa de Oliveira/Abelardo Silva) o bicho pegou. Foi antológico. Igual quando a baiana Mariene de Castro se juntou à roda do Samba do Compositor. Cantor versátil e carismático, de voz calorosa e bem projetada, Maguá, como ele mesmo diz, "é só alegria". No show, incrementou sua suingueira com colaboração marcante do paulista Marco Mattoli, do Clube do Balanço. No CD Vol. 1, gravado com apoio da Conexão Vivo, Maguá buscou a sonoridade dos anos 1970. Suas influências vêm desde o sambalanço de Jorge Ben e Wilson Simonal, a baianidade de Gilberto Gil e Caetano Veloso, o samba de João Nogueira, até a "malandragem diferente" de Zeca Pagodinho e Seu Jorge, gafieira e pagode. Assinando canções com vários parceiros - Thiago Dibeto, Paulinho Motta, Renegado, Ricardo Acácio -, Maguá também traz novidades de Oleives, Rai Medrado, Vitor Santana e Celso Viáfora. Violonista desde a adolescência, ele começou a cantar há cinco anos em Belo Horizonte. Como compositor diz que sempre trabalha com bom humor, como uma espécie de cronista do cotidiano, na melhor tradição do samba. "Não vejo a coisa pura, clássica do samba em Minas, no meu caso menos ainda, com influência do rock e outros gêneros. Mas o que amarra mesmo minhas composições é o samba." Habilidoso e versátil, Thiago Delegado tocou com Maguá e com o Samba do Compositor em Salvador e trabalha com uma penca de artistas em Minas. Seu primeiro trabalho solo, Serra do Curral, quase todo instrumental, é uma mistura de suas influências - samba, choro e bossa - e também uma congregação com seus conterrâneos. Juarez Moreira, uma de suas influências, é um de seus convidados. O outro é o carioca Edu Krieger, parceiro na faixa-título, a única com letra e vocal. Delegado começou a tocar piano ainda criança e passou para o violão aos 12 anos, tendo João Gilberto como referência inicial, depois Baden Powell, Raphael Rabello e Dino 7 Cordas. Tornou-se profissional aos 22, tocando na noite MPB, samba e choros elaborados. Coletivo. "O disco veio de um processo natural, de encontros com pessoas que me ajudaram a desenvolver um projeto pessoal", diz Delegado. Tocando em trio, com quarteto e bandas maiores, 23 com "o negócio de improvisar" ele diz que abriu mais a cabeça para o universo da música mineira, presente no CD. O músico considera Serra do Curral um trabalho coletivo, que representa bem sua geração de instrumentistas mineiros, como Flávio Henrique, Sérgio Danilo, Rafael Martini, Pedro Trigo, Warley Henrique, Aloízio Horta, Juliana Perdigão, Cléber Alves e vários outros. "Como estou no meio desse furacão em Minas, quis reunir a turma toda." Integrante da banda da cantora Aline Calixto - outra voz de grande expressão nessa cena mineira -, ele deixa sua marca, tanto pela sonoridade de seu instrumento como na produção de uma série de outros artistas, caminhando para ser uma espécie de Paulão 7 Cordas das Gerais. É um nome a se prestar atenção. CORREIO BRAZILIENSE - Virtuose que virou compositor O violonista gaúcho Yamandu Costa realiza show na Sala Villa-Lobos para o lançamento do CD Mafuá, gravado na Alemanha Irlam Rocha Lima (22/8/2011) Ao participar de um festival no sul da Alemanha, em 2005, Yamandu Costa foi ouvido pelo produtor Peter Finger, que estava na plateia e ficou impressionado com as qualidades do instrumentista brasileiro. “Tudo naquele jovem violonista parecia estar em perfeita sintonia: técnica, musicalidade, ritmo, humor e uma exuberante alegria ao tocar”, elogia Finger. Entusiasmado, ele quis ver Yamandu em ação por mais tempo. Então o convidou para gravar um CD no estúdio montado em sua casa, na cidade de Osnabrueck. Por já ter assumido outros compromissos, o músico gaúcho demorou para aceitar o convite. Isso ocorreu em 2007, quando voltou à Alemanha. “Finger tinha em casa um complexo de gravadora, anfiteatro e loja de música, onde realizava concertos e gravava CDs”, revela o violonista. “Tudo era voltado para a sonoridade e a acústica do violão, desde a arquitetura da casa até os mínimos detalhes do estúdio”, acrescenta. Resultado: gravou Mafuá, o que viria a ser seu primeiro álbum solo, e superou as expectativas de Finger, não apenas por captar cada nuance da admirável execução, como também por revelar um ótimo compositor por trás do violão. Lançado inicialmente na Europa, o disco saiu recentemente no Brasil, distribuído pela gravadora Biscoito Fino. Hoje, às 20h, na Sala Villa-Lobos do Teatro Nacional, o brasiliense poderá ouvir o violonista tocar as músicas desse trabalho, em show com entrada franca. “Das 13 faixas gravadas, 10 são composições minhas. Algumas estavam guardadas e outras foram feitas próximo à gravação. Abro o repertório com El negro del blanco, que fiz com Paulo Moura e deu título ao álbum que gravamos juntos”, conta. Repertório De autoria de Yamandu são, também, Elodie, Samba pro Rafa, Bachbaridade, Bostemporânea, Caminho de luz, Zamba zuerta e Tipo bicho. “Elodie fiz para minha mulher (Elodie Boundy), que também é musicista e foi coprodutora do Mafuá. O tema que dá nome ao CD é de autoria de Armandinho Neves; e Zezé Gomes assina Quem é você; enquanto Lalão é de um compositor com o mesmo nome.” Yamandu vê Mafuá como um disco emblemático, por ser o primeiro solo e pela possibilidade de mostrar o seu trabalho de compositor. “Eu vinha trabalhando há algum tempo nestes temas, mas ainda relutava em gravar coisas compostas por mim. Mas aí senti que já tinha amadurecido e quis gravá-los. Então foi como romper o cordão umbilical.” Som brasiliense Antes de Yamandu, quem for à Villa-Lobos poderá apreciar o som de músicos brasilienses. O violonista Jaime Ernest Dias e o bandolinista Dudu Maia farão apresentação de meia hora, cada. Jaime, acompanhado por Hamilton Pineiro (contrabaixo), José Cabrera (teclado) e Rafael dos Santos 24 (percussão) e tendo como convidada especial a violinista Liliana Gayoso, mostrará composições próprias como Pintando o sete e Choro de Liliana. “Vamos fazer, também, os clássicos do choro Rosa (Pixinguinha) e Santa Morena (Jacob do Bandolim)”, adianta o violonista. Dudu Maia levará temas instrumentais de sua autoria, entre os quais Inciso, Liberta coronha e Não tem coré coré. “Incluímos no repertório alguns standards de choro, entre os quais Brejeiro (Ernesto Nazareth), Um a zero (Pixinguinha) e Noites cariocas (Jacob do Bandolim)”, anuncia o bandolinista. Ele terá a companhia do grupo Aquattro, formado por Fernando César (violão sete cordas), Pedro Vasconcellos (cavaquinho) e Valério Xavier (pandeiro). ISTO É - Sertanhol O sucesso "Chora, Me Liga", da dupla João Bosco & Vinícius, vira mania na América Latina, ganha versão em espanhol e inaugura um novo gênero Ivan Claudio (24/8/2011) A música “Chora, Me Liga”, que há dois anos anima as baladas sertanejas no Brasil, está se tornando um fenômeno também na América Latina. Vertida para o espanhol com o título “Llora, Me Llama”, a canção da dupla João Bosco & Vinícius pode ser ouvida na voz de, pelo menos, duas dezenas de bandas estrangeiras. Foi gravada por artistas colombianos, peruanos, venezuelanos e, claro, argentinos – em Buenos Aires, a canção é uma mania que sobreviveu ao fim do verão e aquece o frio inverno portenho. É ouvida em rádios, lojas, bares e, especialmente, nas pistas de dança. Caiu tanto no gosto popular que passou a ser usada pelas torcidas dos grandes times como grito de guerra – o tom romântico, obviamente, foi trocado por agressões verbais ao torcedor adversário. O primeiro time a usá-la foi o Newell’s Old Boys, logo seguido pelo River Plate. Não se tem notícia se o Boca Juniors aderiu à febre, mas o YouTube traz um clipe do hit, dedicado ao time do coração de Maradona. João Bosco, que se refere a si mesmo como “o japonês” da dupla, diz que ficou sabendo do fenômeno justamente pelo futebol. Ao visitar o blog do jogador argentino Sergio Aguero, do Manchester City, ele leu com surpresa – e alegria – que a música era a preferida do atacante. “A partir daí, sempre recebíamos da Argentina emails de amigos com filmes de celular mostrando pessoas cantando o nosso refrão”, diz. Nem João Bosco nem Vinicíus foram conferir o fenômeno in loco: não sobra tempo na agenda de 25 shows por mês, fechada até o ano que vem. Por isso, não puderam também aceitar os inúmeros convites para se apresentar no país. Eles pretendem, contudo, tirar “uns três ou quatro dias de folga” para visitar as rádios locais: “Não conseguimos dar conta da demanda de apresentações no Brasil. Nosso foco ainda está aqui”, afirma João Bosco. Mesmo com a crise fonográfica, o mercado latino ainda representa uma mina de ouro para os artistas, mas, ultimamente, raros nomes nacionais têm conseguido furar o bloqueio do idioma antes conseguido por gente como Roberto Carlos e Caetano Veloso. Há dois anos, a dupla Victor & Leo lançou um CD e um DVD em espanhol, “Nada es Normal”, e no início do ano o cantor Luan Santana estrelou um comercial de tevê em Buenos Aires. Tudo leva a crer que, com o câmbio favorável e a grande afluência de brasileiros à cidade, a onda do sertanejo universitário tenha ido na bagagem. Redes de fast-food portenhas servem sua versão da feijoada, e os difíceis cortes de carne argentinos já trazem tradução para o português. Nos outlets apinhados de brasileiros sempre se ouvem Bruno & Marrone e outras duplas de sucesso. Nada, contudo, que se iguale ao estouro de “Chora, Me Liga”. João Bosco, que está preparando com Vinícius a versão em espanhol dessa música e de outros sucessos, dá uma pista para se entender a mania. Ele lembra que o estilo de sua dupla traz elementos dos ritmos do Sul, como o chamamé, originário do norte da Argentina, e a polca paraguaia, gêneros musicais muito comuns em Mato Grosso do Sul, Estado onde nasceram e cresceram, que faz fronteira com o Paraguai. De fato, estudiosos da música sertaneja detectam em sua formação esses dois estilos sonoros. E também da guarânia – a dupla Cascatinha e Inhanha, por exemplo, gravou “Índia”, mais tarde recuperado pelo tropicalismo, via Gal Costa. Trata-se, portanto, de uma estrada de mão dupla: o nosso sertanejo foi influenciado pelo som dos países fronteiriços e, agora, devolve o resultado 25 deglutido e transformado. Outra fonte de inspiração para os rapazes de bota e camisa xadrez é a canção romântica mexicana, mais precisamente, o cantor Cristian Castro, cujas baladas derramadas integram o repertório de runo & Marrone, Marlon & Maicon, Guilherme & Santiago e das extintas duplas Rick & Renner e Edson & Hudson. O que estaríamos assistindo, então, seria ao surgimento de um novo estilo: o sertanhol. FOLHA DE S. PAULO - Zélia Duncan faz 30 anos de carreira com Tatit e Itamar Cantora estreia espetáculo baseado na obra do primeiro e prepara disco com canções do segundo Em cartaz a partir do dia 3, "Tô Tatiando" usa personagens das canções de Tatit para criar roteiro teatral MARCUS PRETO DE SÃO PAULO (24/8/2011) Zélia Duncan nasceu em Niterói (RJ), mas morava em Brasília quando começou a cantar, em 1981. Tinha 16 anos e vivia ali desde os seis. Nesse período, ouvia os discos "estranhos" do irmão mais velho: os recém-lançados álbuns de estreia de Itamar Assumpção, de Arrigo Barnabé, do grupo Rumo. Matava aula para tocar violão com Cássia Eller. Quando não estavam cantando, as duas iam passar as tardes garimpando as novidades na loja Jegue Elétrico, especializada em música independente. Ali, complementavam a discoteca apresentada pelo irmão de Zélia com outros álbuns que acabavam de ser lançados. Na lista, os das cantoras Eliete Negreiros, Cida Moreira e de outros nomes ligados à vanguarda paulistana, então em evidência. É nesse passado que Zélia se debruça agora, quando comemora 30 anos de carreira. Com lançamento previsto para o começo do ano que vem, a cantora prepara seu já esperado álbum dedicado às canções de Itamar. Ela é, afinal, o principal elo entre o obscuro repertório do compositor paulista e o grande público das trilhas de novela e da programação das rádios. O disco deve contar com muito material inédito de Itamar -inclusive canções que ele escreveu pouco antes de morrer, em 2003, especificamente para a voz de Zélia. Antes disso tudo, no entanto, a cantora prepara o espetáculo "Tô Tatiando", criado a partir do repertório de Luiz Tatit, outro artista ligado à vanguarda paulistana. E, pela primeira vez nesses 30 anos, ela atua menos como cantora e mais como atriz. "A gente está encenando as músicas dele", ela diz, enfatizando a palavra "encenando". "Não é show, mas é música. É uma brincadeira com as personagens que existem naquelas canções." Sim, haverá dois músicos no palco, que vão se revezar entre violões, guitarras e sopros. Mas o foco é mesmo a interpretação, a cena. Para tanto, Zélia convidou a atriz Regina Braga para dirigir e ajudar na concepção -o que inclui amarrar as tais personagens das letras de Tatit. Há um mês, as duas estão "internadas" em uma sala de ensaios no Alto da Lapa. Cofundador do grupo Rumo, Tatit tornou-se, há três décadas, mestre em compor nas linhas de fronteira entre o canto e a fala -tanto musical quanto poeticamente. "Estou gostando de comemorar meus 30 anos nesse território", diz Zélia. "Como a antidiva, a anticantora. Comemorar com o anticanto." Segundo instruções que vem recebendo de Regina, ela não precisa "soltar a voz". Não precisa nem ser afinada. "Aqui é teatro, aqui ela pode tudo", diz a diretora. 26 LIVROS E LITERATURA CORREIO BRAZILIENSE – Fome de palavras Escritor piauiense radicado em Brasília há mais de 30 anos, Menezes y Morais lança décimo primeiro livro: um romance de ideias ambientado na capital federal. Felipe Moraes O escritor detalha o livro A íris do olho da noite: personagens reais e também com a cara de Brasília (18/8/2011) Desde adolescente, Menezes y Morais senta-se em frente à mesa de trabalho e só sai dali quando consegue se libertar dos pensamentos que antes ocupavam a sua mente. Quando firma os pés no chão e levanta-se da cadeira, é inevitável, ele reclama de dor, as costas estão moídas. Sua mãe, Isabel Menezes de Morais, costumava gritar para ele: “Vem comer, meu filho!”. Hoje, não é mais assim. Mas a produção ainda é obstinada, esfomeada: de 20 livros inéditos, já publicou 11. O mais recente é o romance A íris do olho da noite (Thesaurus), que ele lança hoje, às 19h, no restaurante Carpe Diem. Mais chegado à poesia, Morais diz que a ficção o consome durante várias estações. “Passo de dois a quatro anos em processo de gestação. Quando não tem mais como correr daquilo, faço um espelho dos personagens, me sento diante do computador e só Deus sabe”, explica. Dos nove volumes restantes, ele ainda guarda um romance, uma novela, um livro de contos, um de ensaios de história e uma coletânea de entrevistas (com Cora Coralina, Jorge Amado e outros autores). O resto é poesia. “Me considero essencialmente poeta. Mas isso não quer dizer que, aqui, eu seja um poeta de férias escrevendo um livro. São métodos diferentes”, delineia. No caso de A íris, o processo começou ainda no século passado e só terminou em 2006. De lá para cá, veio “apertando parafusos, melhorando a linguagem”. O cuidado do escritor, natural de Altos, no Piauí, foi em criar uma escrita com a cara de Brasília. A história concentra conflitos e discussões em torno de um casal liberal: um economista e uma professora, formados na UnB, e pais de dois filhos pré-adolescentes. A malha narrativa, adianta Morais, não cede ao melodrama. “Não cai no sentimentalismo ou na tragédia. É um romance de ideias, psicológico, e com um pouco de história real”, classifica. De carne e osso Em meio aos conflitos, discussões e encontros, aparecem personagens reais da cidade: o poeta Cassiano Nunes e o compositor Renato Matos, por exemplo. Morais segue a trilha deixada por Dante Alighieri na Divina comédia. “Pessoas que Dante não gostava foram colocadas no purgatório ou no inferno”, diverte-se. “Essa técnica foi retomada por Balzac e Jorge Amado. Na minha visão, é uma sacudida no leitor. E faz com que ele pense: ‘É ficção ou realidade?’”, continua. Formado em jornalismo, Morais aprendeu a amar a literatura por incentivo da mãe, que o alfabetizou com livros de cordel. Na rede instalada na varanda de casa, o menino gostava de se espreguiçar para trás e ficar de cabeça para baixo, enquanto ouvia as frases saindo da boca da mãe. Pai de seis filhos — um já falecido — e avô de três netos, ele vê a literatura local como madura e com identidade própria. “Temos muita gente produzindo coisas boas no teatro, na literatura, no cinema e na música. Brasília já tem uma dicção própria em todas essas áreas”, acredita. E trata a escrita como uma atividade ao mesmo tempo egoísta e generosa. “É um ato solitário e radicalmente solidário”, diz. 27 O ESTADO DE S. PAULO - Pobres agentes secretos cubanos Morando em kitchenettes, dando aulas de salsa e infiltrando-se entre os anticastristas de Miami, eles são personagens de Fernando Morais Antonio Gonçalves Filho (19/8/2011) A história dos agentes secretos infiltrados por Cuba nas organizações anticastristas renderia um bom filme de espionagem. Nada parecido com as superproduções de James Bond, até mesmo porque os espiões caribenhos vivem na penúria quando desembarcam na Flórida, o paraíso dos dissidentes cubanos. Obrigados a esconder a identidade, esquecer parentes e aceitar os piores empregos para não levantar suspeitas entre anticastristas de organizações sediadas na Flórida, alguns desses agentes acabaram atrás das grades. O repórter e escritor Fernando Morais, autor da biografia da militante comunista Olga Benário, entrevistou tanto espiões cubanos presos nos EUA (René Gonzales) como mercenários que praticaram ataques terroristas em Cuba, explodindo bombas em hotéis de luxo para prejudicar o turismo na ilha de Fidel, hoje uma das principais atividades econômicas cubanas após o colapso da ex-URSS. Essa história é contada no livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria, já nas livrarias. O autor. Cuba enfrenta hoje, segundo Morais, organizações criminosas que querem acabar com o turismo na ilha, praticando sequestros e atentados É provável que ela não renda um filme charmoso como os da série dedicada ao agente 007, mas o produtor Rodrigo Teixeira, que comprou os direitos do livro, anteviu o potencial de histórias como a da Operação Peter Pan, planejada pela CIA em 1960, que levou 14 mil crianças cubanas para os EUA, e de personagens malucos como o mercenário salvadorenho Raúl Ernesto Cruz León. Condenado à morte, ele teve a pena convertida para 30 anos de cadeia por ter explodido bombas em hotéis de Paulo Liebert/AE Havana. Num deles, os estilhaços de um cinzeiro de metal atingiram a garganta de um turista italiano de 32 anos, matando-o na hora. Além do aloprado Cruz León, que adotou como herói Sylvester Stallone, Morais conta a história de chefões das organizações anticastristas que financiam o terrorismo contra Cuba e de dissidentes célebres que moram em Miami. Um deles é o folclórico Rodolfo "El Jefe" Frómeta, sempre visto em trajes militares. Outro é o escritor Norberto Fuentes, que considera a comunidade cubana de Miami simplesmente desprezível - embora influente, pois 57% de seus integrantes apoiam uma ação militar americana contra Cuba. As ações de grupos anticastristas sediados nos EUA não se restringem, segundo seu livro, a manifestos contra Fidel, mas incluem voos clandestinos de dissidentes para espalhar o terror na ilha. A resposta de Cuba é enviar agentes para se infiltrar nesses grupos. Essa é uma nova "guerra fria"? É a guerra fria estrebuchando, pois não existe mais a União Soviética. Historicamente, ela terminou no dia em que Gorbachev entregou o poder para Ieltsin. A guerra fria ficou localizada num pedacinho do planeta, numa distância que vai daqui a Piracicaba, 160 quilômetros entre Havana e Key West. É uma coisa retrô num mundo em que o Vietnã fabrica motores Porsche e a China vira uma potência capitalista. Um dos maiores financiadores dos grupos radicais da Flórida é primo de primeiro grau do filho de Fidel. Isso faz lembrar um pouco a história dos Capuleto e Montecchio, uma tragédia shakespeariana em pleno Caribe. Por que, então, Cuba incomoda tanto os EUA? Não lembra também aquela história do filme O Rato Que Ruge? 28 A verdade é que Cuba não representa uma ameaça. Os EUA gastam por dia com a defesa o que Cuba gasta numa década. E por que, então, o governo americano embarca nessa onda de agressões dos grupos radicais de Miami? Por causa da importância da Flórida para as eleições. Não há candidato a presidente, seja democrata ou republicano, que não vá fazer o beija-mão na Little Havana, tomar a bênção dos chefões. Mas seria uma injustiça dizer que todos são iguais em Miami. Então, escrevi um capítulo em que falo das três Cubas diferentes lá existentes. Numa enquete que mediu o grau de animosidade da população da cidade com a Revolução Cubana, segundo seu livro, mais de 50% da comunidade cubana defendeu um ataque militar dos EUA para derrubar o governo cubano. Como é isso? Foram 57% que defenderam uma ação armada, seja do governo americano, seja dos dissidentes existentes em Cuba. Em 1994, ano do ressurgimento dos balseiros, o governo cubano decidiu não reprimir as fugas, que se tornaram cada vez mais numerosas. O novo êxodo não poderia ter colocado em risco a estabilidade política do regime cubano? Foi uma decisão muito emocional de Cuba. Isso aconteceu 14 anos depois do êxodo de Mariel, quando saíram de Cuba 130 mil pessoas (o país tem pouco mais de 11 milhões de habitantes). Clinton não teve alternativa, assinando um acordo que hoje permite a entrada de 20 mil cubanos por ano nos EUA. Uma coisa curiosa é que os EUA, no acordo, pedem a Cuba para reprimir coercitivamente a saída de balseiros, porque Mariel se converteu num problema para os americanos, uma vez que, na época, saíram 40 mil delinquentes e criminosos comuns, além de condenados por latrocínio. E a CIA tinha uma preocupação adicional: os agentes de inteligência infiltrados entre os que deixaram a ilha. Com a descoberta de que René González era um agente infiltrado por Havana para investigar organizações anticastristas nos EUA, ficou claro que a rede de informantes formada logo após o esfacelamento da União Soviética tinha a aprovação de Fidel e seu irmão Raúl Castro. Conhecer as atividades desses grupos impede, de fato, ataques contra Cuba? Um fato curioso: divulgada a notícia do esfacelamento da URSS, um navio da Alemanha Oriental que deveria entregar leite a Cuba deu meia volta imediatamente, como um burocrata jogando a caneta às 6 da tarde. Cuba, para economizar energia, desligou aparelhos de ar-condicionado e desviou para a produção agrícola a pouca gasolina que existia, obrigando o país a trocar açúcar por bicicletas chinesas. Você pode imaginar o desespero. Foi um período dificíl também do ponto de vista político, porque o setor de serviços sempre foi o calcanhar de aquiles de Cuba, que precisa salvar sua economia pelo turismo. Com o fim da URSS, os atentados foram dirigidos à indústria turística - e não há nada que espante mais o turista que uma bomba, o que justifica a infiltração de agentes nas organizações anticastristas. Um personagem tragicômico do livro é o salvadorenho Raul Ernesto Cruz León, contratado pelo anticastrista Cruz Abarca, o Barrigão, para explodir hotéis. Como é esse mercenário? Ele não estava nem muito interessado no dinheiro, mas indo atrás da fantasia de virar Sylvester Stallone e conquistar Sharon Stone. Pagava-se US$ 1.500 por bomba e o sujeito ainda corria o risco de ser morto, ir para o paredão. Salvo um ou outro caso, é gente que faz isso não por ideologia, mas por desequilíbrio. Mas, no caso dos agentes enviados por Cuba aos EUA, todos eles eram preparados, como você mostra, ao contar a história da Rede Vespa, grupo de 12 homens e 2 mulheres que se infiltrou nos EUA para espionar as organizações anticastristas... Sim, todos tinham cursos acadêmicos, salvo o René González, que se formou em economia na cadeia. Ele é um dos três cidadãos americanos do grupo. Um deles foi beneficiado por delação premiada e dois estão na cadeia, René e Tony Guerrero, formado em engenharia espacial na Ucrânia, que, para sobreviver, deu aulas de salsa para gays em Key West. 29 O que move essas pessoas, o nacionalismo? Como é que o agente infiltrado Tony Guerrero, aconselhado pelo governo cubano a não ter filhos com sua mulher Maggie, para não prejudicar sua atividade, aceita essa intervenção em sua vida privada? É curioso, porque parece um pai falando com o filho de 15 anos , mas é o que acontece, de fato. É isso, é o nacionalismo que move essas pessoas. Mas esse credo ideológico não sofreu abalos entre os cubanos? Dos dois lados vem diminuindo, tanto no cubano como na Flórida, digo, a geração mais nova, mais interessada em salsa e diversão do que em bombas, embora existam 41 organizações anticastristas em Miami. Em Cuba há muito menos radicalismo entre jovens do que entre os velhos. Surpreende o fato de Cuba gastar uma miséria para manter agentes infiltrados, algo em torno de US$ 200 mil por ano, segundo seu livro... Pois é, esses agentes moravam em kitchenettes de estudantes. O Gerardo (Hernández Nordelo, conhecido pela alcunha de Manuel Viramóntez), que era o chefe do grupo, ia para o Miami Herald vender cartoons por US$ 100. O Roque (Juan Pablo Roque, agente infiltrado, quase um sósia de Richard Gere), um coronel piloto de caças, virou motorista de caminhão e personal trainer. É o oposto do que a gente vê nos filmes de James Bond. Eles viviam na pindaíba. VEJA - A valentia da burocrata Mulher de Guimarães Rosa, Aracy de Carvalho salvou centenas de judeus do nazismo, mas manteve ern sigilo os detalhes de seu feito — que uma nova obra traz à luz Luis Guilherme Barrucho (24/8/2011) De 1936 a 1941. período que antecedeu a fase mais sinistra da II Guerra Mundial, o Brasil recebeu levas de judeus alemães que fugiam do terror perpetrado por Adolf Hitler. Dando guarida a esse fluxo migratório estava Aracy de Carvalho — personagem por muito tempo lembrada apenas como a segunda mulher do diplomata e escritor João Guimarães Rosa (1908-1967). o autor de Grande Senão: Veredas. Chefe da seção de passaportes do consulado brasileiro em Hamburgo, ela desafiou o antissemitismo encampado nos bastidores do governo de Getúlio Vargas e facilitou a concessão de centenas de vistos para judeus. No mesmo período conheceu Rosa, cônsul adjunto, com quem passou a compartilhar a cama e a indignação com a crueldade do nazismo. Só quatro décadas depois, em 1982, Aracy seria laureada com a mais alta honraria para os não judeus que se arriscaram para proteger vítimas do Holocausto - foi declarada "Justa entre as Nações" pelo governo de Israel. O casal manteve na sombra esse capítulo de sua vida - que o livro Justa — Aracy de Carvalho e o Resgate de Judeus: Trocando a Alemanha Nazista pelo Brasil trata de iluminar. Mesclando fatos da biografia da mulher de Rosa com relatos dos refugiados a quem ela ajudou, a historiadora brasileira Mônica Raisa Schpun, da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da França, distingue a realidade do mito em torno do ativismo secreto de Aracy e fornece a exata dimensão de seu heroísmo. A obra retrata uma mulher destemida, capaz de embarcar sozinha com o filho de 5 anos em um navio rumo à Alemanha e de amargar privações até se firmar no consulado. Poliglota e culta, no Brasil ela era vítima do estigma que então marcava as mulheres separadas. Na Alemanha, terra de sua mãe, chegou a viver de favores. "Aqui não temos nada, a roupa da cama está rasgando, vai ser difícil arranjar-nos até a senhora trazer roupas", escreveu à mãe em 1937. Enquanto Aracy se adaptava ao país, assistiu à expulsão dos judeus do funcionalismo público, testemunhou seu banimento das escolas e universidades e os viu perder seus direitos e propriedades (o extermínio em massa só começaria em 1941, dois anos depois de iniciada a guerra). Nessa mesma época, o governo Vargas restringiu a entrada de judeus no Brasil, por meio de circulares secretas nas quais eles eram referidos como "essa espécie". Responsável pela concessão de vistos em Hamburgo, Aracy passou a omitir dos superiores qualquer informação que identificasse um requerente como judeu. Como havia cotas para certas ocupações, fazia com que um comerciante figurasse nos papéis como agricultor ou turista, se necessário. E liberava tudo em prazos recordes. 30 "Ela corria sérios riscos. Se fosse descoberta, poderia ser demitida e entregue às forcas nazistas", diz Mônica Schpun. Da mesma forma que não mencionava nas cartas à mãe o que fazia, mesmo depois de finda a guerra Aracy evitou falar sobre o assunto. Em uma de suas poucas declarações a respeito, nos anos 80. disse: "Nunca tive medo. Quem tinha medo era o Joãozinho. Mas ele não se metia e me deixava ir fazendo". Seu silêncio alimentou mitos como o de que abrigava perseguidos em sua casa e os ajudava na fuga. Nada disso é confirmado em Justa. O livro afirma, no entanto, que os judeus já escolhiam o Brasil como destino por saber que no consulado havia uma funcionária que facilitava vistos. Em algumas ocasiões, estabeleceu-se um vínculo afetivo entre a burocrata e os refugiados. Ela se manteve amiga do casal Margareih e Hugo Levy até o fim da vida. A Hugo, que era membro de uma associação sionista, Aracy de fato ofereceu acolhida em sua casa em Hamburgo. Seu ímpeto de ajudar perseguidos políticos voltou a se manifestar durante a ditadura militar no Brasil: ela chegou a esconder o cantor Geraldo Vandré, autor do hino esquerdista Pra Não Dizer que Não Falei das Flores. "Minha mãe se emocionava com o desespero dos que eram forçados a deixar para trás casas e pertences", diz se filho, Eduardo Tess, hoje com 82 anos. Rosa e Aracy (ou Ara, como ele a chamava) viram de perto o recrudescimento do nazismo durante a guerra. Nos seus últimos anos lá, já era proibido emitir vistos a judeus, cujo destino eram os campos de concentração. Em uma anotação de 1941 em seus diários, o escritor registrou: "Passeei de automóvel com Ara. Até crianças de 4 anos com o distintivo amarelo, infamante!". Quando teve de sair da Alemanha, em 1942 — o Brasil afinal se bandeará para o lado dos aliados —. o casal foi mantido por 100 dias num hotel, em poder da Gestapo, até se estabelecer a troca de diplomatas entre os dois países em guerra. Casados em 1948, permaneceriam juntos até a morte do escritor. Rosa dedicou a Aracy sua obra maior. Grande Senão: Veredas. E foi para ela também que deixou os direitos autorais do livro como herança. Aracy morreu em março deste ano. aos 102 anos. Seu nome fica para sempre associado a uma obra-prima da literatura e a um exemplo universal de solidariedade. • O ESTADO DE S. PAULO - Obra de João Almino é premiada em Passo Fundo Raquel Cozer Passo Fundo (24/8/2011) Ainda se ambientando a Madri, depois de três anos e meio como cônsul-geral em Chicago, o diplomata João Almino trocou nesta semana os 40ºC da cidade espanhola por dias gélidos em Passo Fundo( RS),onde foi anunciada, anteontem à noite, sua vitória no 7º Prêmio Zaffari & Bourbon de Literatura, pelo romance Cidade Livre (Record). Quinto livro de uma série que tem Brasília como pano de fundo, Cidade Livre seguiu uma tradição das obras anteriores do autor ao superar 227 outros romances na escolha do júri – dos cinco títulos de Almino que envolvem a capital federal, apenas o segundo, Samba Enredo (1994), não recebeu nenhuma honraria importante no País. Mas o Zaffari & Bourbon, como lembra, oferece hoje ao vencedor “o maior prêmio brasileiro não estatal”, R$ 150 mil. “Fico contente sobretudo porque estou em boa companhia. Aqueles que foram previamente premiados são todos bons escritores”, diz, sobre nomes como Mia Couto e Cristovão Tezza. “Isso sem falar na minha concorrência nesta edição. Havia lido vários dos dez antes mesmo de serem finalistas, era muita coisa boa”, comentou ontem pela manhã, durante entrevista coletiva na 14ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, o diplomata, reconhecido pelo apoio que dá à causa da literatura brasileira no exterior. Assim como na ficção, Almino tem várias passagens por Brasília – viveu na cidade por um período antes de cursar o Instituto Rio Branco e, depois, nas funções de diplomata. Descobriu no local uma cidade que serve também como metáfora. “Não é só uma cidade, é um projeto que acompanha toda a história do Brasil independente,associada a esse sonho de modernização.” Nascido na cidade norte-riograndense de Mossoró em 1950, dez anos antes da fundação de sua cidade-personagem, Almino disse que via desde o começo dois caminhos possíveis para sua ficção.A 31 primeira era o regionalista, desde sempre alimentada pelas várias temporadas que passou no sertão do Ceará e pela leitura privilegiada que pôde fazer de romances como os de Graciliano Ramos na pequena biblioteca de seu pai. Mas sentiu que a segunda permitiria maio inovação. “A ideia de tratar de Brasília coincidiu com o momento em que havia uma mudança política importante no Brasil. Achava que a literatura tinha que tomar um rumo novo. Não podia ser aquela literatura altamente engajada do ponto de vista da crítica e do regime militar. Precisava de um horizonte novo, e Brasília era um espaço vazio naquele momento”, conta, sobre o caminho que o levou a Idéias para Onde Passar o Fim do Mundo, de 1987, e às obras subsequentes. Almino buscou em todas as obras um diálogo, não necessariamente central, com os novos meios de comunicação, mas é em Cidade Livre que essa característica se manifesta de forma mais clara. Embora o romance aborde, como os outros, o período de formação da cidade, para escrevê-lo o autor recorreu a uma linguagem de blog, ferramenta de publicação usada pelo narrador na história como instrumento para colher informações para o livro que pretende criar. Ligado (“mas não muito”) na internet e em redes sociais, chegou a criar um blog durante a feitura da narrativa para se inteirar de suas possibilidades. Já a tecnologia do livro digital, um dos temas da Jornada de Passo Fundo, é parte indissociável de sua vida. “Antigamente eu viajava com uma sacola de livros grandes, muito pesados. Hoje coloco tudo dentro do Kindle e é suficiente para uma viagem inteira”, diz. E viagens são uma constante na vida e na obra de Almino. Nômade por gosto e por profissão, o escritor e diplomata inclusive fez das viagens elementos importantes de seu quinteto de Brasília, que em alguns casos torna-se apenas ponto de passagem de personagens em deslocamento. E serão elas, também, o mote do livro que ele agora escreve. Neste caso, diz ele, o protagonista “já saiu, começa viajando”. ARQUITETURA E DESIGN CORREIO BRAZILIENSE - A fé segundo Oscar Niemeyer Aos 103 anos e lúcido, arquiteto lança no Rio de Janeiro um livro que tem entre os destaques os monumentos religiosos projetados por ele. Apesar de ser ateu, o mestre é referência na concepção de templos Thalita Lins (23/8/2011) O arquiteto Oscar Niemeyer é uma daquelas personalidades que não misturam as convicções pessoais com os compromissos de trabalho. Ateu, ele é autor de dezenas de projetos que incluem catedrais, igrejas e capelas construídas em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e até no exterior, em países como Argélia e Alemanha. Somente na capital da República, o carioca de Laranjeiras projetou sete monumentos: Capela Nossa Senhora da Alvorada, Igreja Nossa Senhora de Fátima, Capela do Palácio do Jaburu, Igreja Apostólica Ortodoxa Antioquino de Brasília, Catedral Santa Maria dos Militares Rainha da Paz, Capela do Anexo IV da Câmara dos Deputados e Catedral Metropolitana de Brasília. Esta última é famosa no mundo inteiro e tornou-se um dos cartões-postais da cidade e do Brasil. As sete belezas do maior nome da arquitetura brasileira estarão presentes no livro As igrejas de Oscar Niemeyer com outras criações de mesma magnitude, entre elas composições que não chegaram a sair dos croquis. O lançamento da publicação está marcado para hoje, na Galeria Anna Maria Niemeyer, no Rio de Janeiro. O livro reúne imagens em cores das construções, projeções, esboços e relatos da vida do arquiteto expostos por ele mesmo. Na obra, Oscar Niemeyer conta, aos 103 anos de idade, como aceitou dar vida a edificações voltadas para cultos sagrados. Além do livro, também será lançada a décima edição da revista Nosso Caminho. Desta vez, o trabalho presta uma homenagem ao arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé. Respeitado profissional, Lelé trabalhou com Niemeyer em Brasília, onde desenvolveu produtos construídos com materiais prémoldados. A edição conta ainda com a divulgação da parceria de Niemeyer com o mineiro Gustavo Pena, batizado de Encontro das águas. 32 Em entrevista ao Correio, Niemeyer destacou a sua intenção ao publicar um livro contendo apenas criações arquitetônicas religiosas, falou sobre os comentários de ser o ateu mais religioso do Brasil e adiantou quais serão seus próximos trabalhos (leia Seis perguntas para). Originalidade Para o professor do Departamento de Arquitetura da Universidade de Brasília (UnB) José Carlos Coutinho, o título do livro de Niemeyer, por si só, já é surpreendente. “A surpresa é que, mesmo sendo ateu, comunista e materialista, ele ainda assim é pai de vários monumentos dotados de espiritualidade. Sinal de que a própria Igreja se rende ao que ele projeta. Niemeyer é um criador autêntico e ele se orgulha dessa originalidade”, acredita o docente. Fernando Andrade, na Catedral: "Os traços são marcantes, não tem como errar ao dizer de quem é a obra" O traço de Niemeyer também impressiona quem não é especialista em arquitetura. “Não sei explicar como ele consegue fazer obras voltadas à religião. Só pode ser uma coisa divina. Tudo que ele desenhou tem um sentimento dele”, acredita a auxiliar de serviços gerais Thaís Miranda Jesus, 30 anos. Moradora da Ceilândia, ela costuma frequentar a Catedral Santa Maria dos Militares (Rainha da Paz), no Eixo Monumental. “Assim como ele (Oscar), eu não tenho religião, mas quando entro aqui, sinto paz”, resume. Assim como Thaís, a vendedora Josyleide Pereira Santos, 39 anos, diz sentir-se em casa quando entra na Igreja Nossa Senhora de Fátima, mais conhecida como Igrejinha, construída na 307/308 Sul. “Não há diferença alguma se ela foi feita por um religioso ou um descrente em religião. O que importa é que a igreja traz uma sensação de tranquilidade, foi muito benfeita e tem um certo requinte. Eu acho que ela tem um design diferente”, descreveu a moradora de Sobradinho. Desenhado por Niemeyer, o espaço ganhou formas que, de longe, já identificam a autoria da obra. “Os traços dele são marcantes, não tem como errar ao dizer de quem é a obra”, afirma o auxiliar administrativo Fernando Andrade, 27 anos. O ESTADO DE S. PAULO - Obra de Arte Total na Casa de Vidro Camila Molina (24/8/2011) Estrela da arquitetura mundial, o holandês Rem Koolhaas visitou anteontem a Casa de Vidro de Lina Bo Bardi pela primeira vez. Estava com tanto frio que ficou por pouco tempo na sexagenária residência da arquiteta ítalo-brasileira, uma construção suspensa e transparente entre árvores do bairro do Morumbi. “É interessante que Lina Bo Bardi tenha descoberto a conexão entre folclore e a modernidade, combinação que acredito não ter visto em nenhum outro lugar”, diz Koolhaas ao Estado, referindo- se às tantas peças de arte popular que fazem parte da coleção da arquiteta, morta em 1992, e que decoram a casa. Mas a visita do holandês tinha um propósito específico – ele e cerca de outros 30 criadores vão participar de exposição, em 2012,na Casa de Vidro de Lina, um projeto internacional com curadoria do suíço Hans Ulrich Obrist. Obrist também é uma estrela, está entre os curadores mais influentes do mundo da arte.Tanto ele quanto Koolhaas realizam amanhã, às 11 horas, uma palestra no teatro do Sesc Pompeia (Rua Clélia, 93, tel. 38717700), onde apresentarão para o público, ao lado da designer Petra Blaisse, o projeto da mostra na Casa de Vidro do Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, marcada para ocorrer entre setembro de 2012 e janeiro de 2013. Em processo inicial, a lista dos participantes, nacionais e estrangeiros, ainda não 33 está fechada, mas o curador vai anunciar alguns nomes – entre eles o do artista Cildo Meireles e do arquiteto inglês Norman Foster. “Comecei a ser curador por causa da minha cozinha”, diz Hans Ulrich Obrist. Ele se refere à exposição que organizou na cozinha de sua casa, quando tinha 23 anos, e da qual participaram a dupla suíça Fischli & Weiss e o francês Christian Boltanski. “Foi uma experiência fundamental, algo que nunca quis perder, por causa da intimidade, do tipo de arte produzida numa escala completamente diferente do museu”, continua o curador. “No século 20, os museus acabaram ficando cada vez maiores, como shopping centers, e essa condição da escala humana acabou correndo o risco de desaparecer”, diz Obrist. “A escala doméstica”, completa Koolhaas. “Por um momento na história da arte,é assustador que a escala humana possa desaparecer, mas acho que isso não ocorrerá como um todo e por isso participo de um projeto como esse (d aexposição na Casa de Vidro)”, completa o arquiteto holandês, vencedor, em 2000, do prêmio Pritzker, e homenageado no ano passado com o Leão de Ouro da 12.ª Bienal de Arquitetura de Veneza, autor da tese de “enclosed city”, a ideia central de projetos que ampliam o espaço público e minimizam o privado. A exposição na Casa de Vidro em São Paulo tem como conceito o trabalho de intervenção artística– e multidisciplinar – na escala íntima e sutil com a residência e sua história e com a obra de sua criadora. “O projeto é sobre a casa, mas os artistas terão completa liberdade para usar o espaço externo com suas árvores, o belo estúdio que há no piso inferior, o arquivo de Lina, com seus desenhos, sua coleção de arte”,conta. “É sobre a ideia de a exposição ser uma casa e de a casa ser uma exposição”,afirma Obrist,que faz referência ao conceito de obra de arte total (gesamtkunstwerk) na residência,a “reconfiguração temporária” da Casa de Vidro com os trabalhos dos artistas. O curador á organizou, por exemplo, projetos anteriores na Huerta de San Vicente, casa do poeta Federico García Lorca na Espanha, e na Nietzsche Haus, na Suíça. “Há alguns anos estou interessado em Lina Bo Bardi, existe um fascínio por ela”, conta Hans Ulrich Obrist, que conheceu primeiramente, em 2000, o SESC Pompéia projetado pela arquiteta e esteve na Casa de Vidro no ano passado. “Um dos motivos da escolha de Lina para esse projeto foi a invenção dos extintos cavaletes (de vidro) para o Masp, com os quais se podia olhar a obra de arte de uma maneira diferente. Também podemos ver aqui na casa a ideia de uma gravidade desafiadora.” O projeto é realizado pela produtora espanhola Isabela Mora em colaboração com o Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Além de futura inscrição na Lei Rouanet, um comitê de apoio privado foi criado com colecionadores brasileiros e estrangeiros (entre eles,o Instituto Inhotim). A exposição ainda vai abranger a edição de livro e filme, dirigido por Gustavo Moura. 34 QUADRINHOS CORREIO BRAZILIENSE - Metrópole em claro e escuro Felipe Moraes (23/8/2011) A capital paulista ganha, em dois lançamentos editoriais, os contornos de uma narrativa gráfica em preto e branco e de uma prosa que colore a periferia de uma sensibilidade que não se vê nos noticiários. São reproduções calorosas de uma cidade que é, ao mesmo tempo, referência de progresso e abismo de desigualdades sociais. O quadrinista Marcelo d’Salete, da Zona Leste, e o poeta e escritor Sérgio Vaz, Zona Sul, cada um a seu modo, reproduzem faces e becos de São Paulo com um olhar de dentro: parecem descrever seus próprios vizinhos, resgatar lembranças ou até registrar as impressões de uma experiência diariamente intensa. A graphic novel Encruzilhada (Barba Negra/Leya) e a coletânea de textos Literatura, pão e poesia (Global) são como flagrantes da vida urbana. E do que ela tem de belo e doloroso. Marcelo d’Salete foi criado em São Mateus e, quando adolescente, trabalhou como office boy no centro. “Quando comecei a trabalhar com ilustração e design, acabei circulando muito pela Vila Maria, depois, regiões próximas de Tiradentes. De certa forma, as histórias do livro têm a ver com essa trajetória e com que venho vendo e conhecendo tanto de quadrinhos quanto de São Paulo mais recentemente”, conta o desenhista, que chegou a morar em Brasília no ano passado. Mas uma nova oportunidade de emprego o levou de volta para o Butantã, Zona Oeste. Os quadros de Encruzilhada economizam nos diálogos — uma herança que vem da paixão pelo cinema de Takeshi Kitano e Alfred Hitchcock— e preenchem os espaços vazios com borrões sombreados, nebulosos: os personagens humanos compõem a paisagem de prédios pálidos, anúncios publicitários e pichações. “Quis representar as coisas da forma como as vejo”, delimita. Atento aos detalhes, d’Salete modificou a sua observação: se antes via e rascunhava simples esboços, hoje capta imagens com uma câmera fotográfica. “É mais para a construção visual da história. Para o roteiro, parto de conversas com colegas, familiares, e histórias que me chamam a atenção”, revela. Numa delas, Brother, sobre irmãs que vendem DVDs piratas na calçada, a inspiração veio de uma cena que ele viu com os próprios olhos. Em outras, a existência de moradores de rua excluídos e de pessoas comuns é traçada pelo entrelaçamento com a imaginação. Do bairro Sérgio Vaz não acredita em arte pela arte. “Só sou bom escritor se falo da minha aldeia. Sou extremamente engajado e descaradamente panfletário”, ele diz. As crônicas e contos de Literatura, pão e poesia são novidade para ele, mais familiarizado com os versos. Mas o conteúdo ainda é um estrato específico de onde ele vive, em Taboão da Serra, grande São Paulo. “Sou um cara da periferia, um cara que sempre quis que o bairro fosse um lugar bacana para se viver. Quero escrever contra o racismo, a violência policial, quero falar que os pobres também beijam na boca. Acho que sou um psicólogo das coisas. Quero decifrar o boteco e por que ele está cheio às 10h da manhã, para ver se é porque está cheio de pessoas desempregadas”, acrescenta. 35 A atitude cidadã é aferrada à comunidade: ele escreve pensando sempre na sua “quebrada”. E não reclama se disserem que tem “vista curta”. “Não consigo imaginar um cara na Inglaterra lendo e entendendo. Mas, como as coisas estão lá hoje em dia, é bem capaz que ele entenda!”, brinca. E reitera: “Não sei como atingir outras pessoas. Falo de vizinhos, gente da rua de baixo, da rua de cima”. Esses sujeitos vivos, tão próximos a Vaz — quem sabe frequentadores do sarau da Cooperativa Cultural da Periferia (Cooperifa), criada por ele na Zona Sul —, amplificam uma expressão cultural que a crueldade das ruas costuma abafar. Mas que grita e vibra nos parágrafos ágeis de Vaz. MODA BRAVO - Yes! Nós já não temos banana (Agosto/2011) Finalmente, o circuito internacional reconhece uma moda brasileira que explora elementos da nossa cultura sem clichés. Três estilistas têm mérito nisso: Ronaldo Fraga, André Lima e Lino Villaventura A cultura brasileira nunca esteve tão presente entre estilistas do país que vêm se destacando no exterior. Mas aqui é preciso pensar em "cultura brasileira" para além das praias do Rio de Janeiro, do Carnaval na Sapucaí, do futebol e da Amazónia. Não que esses clichés que tanto nos definem lá fora sejam ignorados pelos atuais expoentes da moda nacional. Ronaldo Fraga, Lino Villaventura e André Lima não brigam com a ideia consolidada de Brasil - só a apresentam de outra forma. Eles continuam explorando conceitos como o tropicalismo e a sensualidade, por exemplo, porém ampliam sua interpretação. Trocam o aclamado litoral pelo interior. No lugar do discurso sobre a biodiversidade das florestas, vão atrás das histórias de mitologia passadas de geração a geração. Ao tomar o samba como referência, elegem as canções mais tristes de Lupicínio Rodrigues e Nara Leão, em vez da euforia de um samba-enredo. E assim conquistam um espaço inédito nas passarelas internacionais. Sim, porque no fim do século 19, a aristocracia rural do país simplesmente importava as roupas de Paris e por isso vivia em um desconforto considerável, com vestimentas pesadas e muitas camadas de tecido debaixo do tórrido sol carioca. Mais tarde, quando começamos a produzir moda no Brasil, o que fazíamos era usar como padrão o que estava em alta na Europa. E foi fácil se valer dessa postura por causa de um dado geográfico: o fato de ficarmos no hemisfério oposto ao das ditas nações desenvolvidas. Grosso modo, conquistaram fama por aqui os estilistas que, durante o nosso verão, enfrentavam os invernos europeu e norte-americano em busca de orientação para o que iriam propor nas lojas seis meses depois. E, no meio do ano, naturalmente, espiavam como os estrangeiros se vestiam no calor. O mercado brasileiro - e a crítica - valorizava as tendências previamente "aprovadas" em Paris e Nova York. Foi assim que trabalharam profissionais de renome, como o paraense Dener Pamplona de Abreu (1937-1978) e o paulista Clodovil Hernandes (1937-2009). A maioria de seus modelos não era desenhada para o corpo mais volumoso da mulher brasileira e para o clima dos trópicos. Eles abusavam dos cortes secos e de veludos e lãs. A partir dos anos 2000, o uso das vitrines do exterior como uma espécie de cartilha virou um recurso mais sofisticado, digamos assim. Nossos estilistas dominaram de tal forma a linguagem cosmopolita que muitos deles passaram a trabalhar para algumas das principais grifes estrangeiras. É o caso do mineiro Francisco Costa, desde 2002 à frente da direção criativa da nova-iorquina Calvin Klein. Outros acabaram ocupando lá fora um espaço bastante condizente com a força de atuação que desfrutam no país. Em 2003, o paulistano Carlos Miele abriu a primeira loja com seu nome em Nova York. Miele ainda desfila na Semana de Moda de Nova York desde 2002 e integra o Conselho de Designers de Moda da América, instituição que reúne estrelas da ordem de Carolina Herrera, Marc Jacobs e Tom Ford. Em 2007, foi a vez do também paulistano Alexandre Herchcovitch a inaugurar a sua filial em Tóquio. Herchcovitch realizou em 1998 seu primeiro desfile no exterior, na embaixada brasileira em Londres. Em 2000, estreou na Semana de Prêt-à-Porter de Paris e, quatro anos depois, figurava na lista da Semana de Moda de Nova York. Para confirmar essa sua afinidade com os padrões internacionais, duas pecas em látex assinadas por ele fazem parte do acervo do museu Metropolitan, de Nova York. A moda também cresceu no Brasil com a ampliação das faculdades especializadas - há hoje mais de 130 cursos de graduação no setor - e com o aperfeiçoamento das semanas de desfiles, como a São Paulo Fashion Week e a Fashion Rio, que atualmente atraem críticos de prestígio de Paris e Milão e são notícia no mundo todo. 36 BARQUINHOS DE PAPEL Agora, pode-se dizer que vivemos um terceiro momento no país: estilistas têm se destacado tanto aqui quanto no exterior justamente por acrescentar elementos da cultura brasileira em seu repertório. Eles, no entanto, aumentam o entendimento dos clichês de Brasil ao ir muito além das imagens esperadas, como a da mulher sensual, a do Maracanã lotado e a das escolas de samba. Ao mesmo tempo, não deixam de usar referências que permitem que os estrangeiros identifiquem o país em suas. "Ronaldo Fraga, Lino Villaventura e André Lima, três expoentes da moda atual, abusam das cores e dos grafismos, que são características muito presentes em nosso repertório. Aliás, cores e grafismos são dados também das nossas artes visuais e do design", diz o historiador João Braga, que junto com o jornalista Luís André do Prado acaba de lançar o livro História da Moda no Brasil (Pyxis Editorial, págs., R$ 120). Ao mesmo tempo, o mineiro Ronaldo Fraga, por exemplo, idealiza peças que representam muito bem toda a herança barroca. Ele faz roupas pensando também em cenários, sons, coreografias. Sob seu comando, os modelos transformam-se em personagens de uma peça de teatro. Esqueça portanto o simples caminhar por uma passarela neutra. A memorável coleção de verão 2008, baseada nas várias facetas da cantora capixaba Nara Leão e intitulada Lindonéia, por exemplo, foi mostrada com o caminho tomado por centenas de barquinhos de papel. Uma ideia singela e de um efeito para lá de poético. Além de remeter diretamente a uma brincadeira de dobradura comum no Brasil. Claro. Com passagem por escolas de Nova York e Londres, é no entanto de Passira, município em Pernambuco, e de Pirapora, em Minas Gerais, que Ronaldo tira grande parte de sua inspiração. No vilarejo pernambucano, o estilista mantém relações de parceria com bordadeiras, que inclusive vêem seu nome impresso na etiqueta de cada peça de roupa que costuram. O uso de bordados e rendas ajuda a reforçar uma postura importante para Ronaldo. Em vez de exaltar as curvas femininas, como seria talvez natural para um estilista brasileiro, ele é avesso a qualquer coisa que lembre esse clima mais liberal da praia: "Nunca espere um decote do Ronaldo. O pudor sempre percorre suas coleções", diz João Braga. Com um tom lúdico, o estilista também recorre bastante ao universo da música: as composições dor de cotovelo de Lupicínio Rodrigues viraram a coleção Quantas Noites Não Durmo, do inverno 2004, com vestidos de brocados e florais sobre algodão da Paraíba. Mas aqui é bom lembrar: o samba que escolhe não é o da bateria das escolas do Rio, e sim a melancolia do mestre gaúcho. BETHÂNIA E O CURUPIRA Outro estilista que tem conquistado cada vez mais reconhecimento no exterior com uma arte que amplia os clichês da cultura nacional é André Lima. "Não gosto de um feminino docinho. Prefiro as mulheres com um instinto mais animal", diz o estilista paraense. Com uma obra que inclui muitos vestidos longos estampados, de seda ou tricô, André cria peças para mulheres sedutoras. Mas não se engane. Ele também não cai na ideia da sensualidade por si só. Suas referências são as cantoras Maria Bethânia e Clara Nunes, que ele chama de "musas" e que não se consagraram exatamente pela beleza física. Elas têm mais a ver com uma personalidade forte e é para mulheres assim que André trabalha. Não à toa as pessoas dizem que não é qualquer uma que veste um modelo seu. Para isso, é preciso ter certa atitude. Muito dessa sua visão deve ter vindo da infância no casarão colonial em Belém. Herdado do avô materno, era dominado por dez mulheres: a mãe, professora de português e matemática, a avó costureira, três tias também professoras, duas irmãs e três empregadas. Ele lembra que as dez, com temperamentos distintos, faziam da casa uma espécie de novela mexicana e que cada uma tinha um jeito próprio de se vestir. Com muita estampa. A estamparia é um ponto alto na produção de outro estilista fundamental para a moda brasileira atual: Lino Villaventura. Nascido também em Belém do Pará, Lino toma a Amazônia como principal inspiração. Mas, de novo, o estilista não fala da exuberância da floresta. Escolhe tratar das lendas e dos mitos dos povos da região e assim suas criações assumem um tom surrealista. São de lá histórias como a docurupira, guardião da mata que se apresenta na forma de menino com os cabelos vermelhos e os pés virados para trás, ou a do boto, que vive nos rios da Amazônia e durante a noite se transforma em um belo rapaz. Os críticos costumam dizer que, diante das peças de Lino, tem-se a sensação de terem entrado em um sonho: "A explicação para as minhas criações limita o que se vê, já que a inspiração não é palpável. Ela é intuída, como uma obra de arte", diz o estilista. Com um corte exótico e roupas muitas vezes feitas a mão, Lino também explora bastante o universo das artes 37 plásticas em seu trabalho. Os bichos da artista mineira Lygia Clark (1920-1988) estão em saias de palha de buriti, e as pinturas sobre o Brasil do alemão Johann Moritz Rugendas (1802-1858) são lembradas com o uso de plumas indígenas e joias feitas de semente. "Quando comecei, não existia moda autoral neste país. Modestamente, esse mérito é meu", diz Lino. Precursor ou não, a moda brasileira pede mais Villaventuras, Fragas e Limas. E tudo indica que eles virão. Como conclui Ronaldo Fraga: "O brasileiro está no momento certo de trilhar sua autonomia na moda porque nunca houve uma época com tanta autoestima no país. Mas acho que o termo não é a busca de uma identidade nacional, e sim de sua apropriação". OUTROS CORREIO BRAZILIENSE - Mitos indígenas (20/8/2011) Instalação em formato de cobra com mais de 100 metros feita de bambus, fotos, vídeos, peças de artesanato e outros objetos revelam séculos da cultura de várias etnias brasileiras Para completar um passeio completo pela exposição Séculos indígenas é preciso percorrer 110 metros de extensão. É o tamanho da cobra feita com bambus trançados que ocupa os corredores em espiral do Memorial dos Povos Indígenas desde 9 de agosto. A sensação é a de entrar num túnel histórico com passagens pela cultura indígena brasileira. O projeto da enorme serpente foi feito por arquitetos especializados em bioestruturas e executado por quase 30 profissionais, incluindo artistas plásticos e designers. Todo O Memorial dos Povos Indígenas sedia até 10 de outubro a exposição, que o processo foi supervisionado por conta com trabalhos de Darcy Ribeiro e dos irmãos Villas-Bôas, entre representantes das tribos e levou outros. apenas três semanas para ficar pronto. “Em algumas etnias existe o mito da cobra gigante, que veio do outro lado do mundo e aportou no Brasil. É uma história sobre a chegada dos europeus”, registra Rosane Kaigang, funcionária da fundação que dá nome à exposição, da etnia kaigang. Na cabeça da cobra estão expostas peças de artesanato procedentes do acervo do próprio Memorial, da Fundação Darcy Ribeiro e do projeto Séculos Indígenas do Brasil. Além de fotografias mostrando o trabalho de indigenistas, como os irmãos Villas-Bôas e o antropólogo Darcy Ribeiro, estão expostas fotos de Paulo Metz, João Ripper e Piotr Jaxa. No meio do passeio, um tronco simboliza o ritual do Quarup (em homenagem aos mortos e realizado anualmente pelas comunidades do Parque do Xingu, no Mato Grosso). Caixas de som emitem vozes de líderes indígenas que foram assassinados. O visitante pode se sentar no centro e meditar. Um passo adiante, dentro de um oca de palha trançada e apelidada carinhosamente de coco, é exibido de forma intermitente um vídeo que mistura animação e documentário, baseado no romance Maíra (1976), de Darcy Ribeiro. “A história conta o mito de criação do mundo. É uma maneira de mostrar a nossa cosmovisão para os outros povos”, acredita Rosane. O quadro de 15 monitores trabalhando na exposição é composto por indígenas e não indígenas. São representantes das etnias patamona, tukano, kamayurá, tupiniquim, dessana, apurinã, mudoruku, baré e aticum.. Samantha Ro’otsitsina Juruna, 25 anos, filha do falecido líder xavante e deputado federal Mário Juruna, é aluna do mestrado em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília e está trabalhando como uma das mediadoras da exposição. “Eu conheci muita coisa de outras etnias. Acho que é justamente esta a função da mostra: mudar a visão das pessoas em relação aos indígenas”, 38 explica. Para trabalharem na exposição, os monitores fizeram cursos e visitas a museus e centros culturais, como o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), de Brasília. A partir de setembro, a segunda fase da mostra contará com visitas agendadas de escolas do Distrito Federal. Para que a relação com os alunos em sala de aula com as etnias indígenas fosse modificada, professores da Secretaria de Educação fizeram cursos desde o ano passado. A exposição fica em cartaz até 10 de outubro no Memorial dos Povos Indígenas. Existem propostas de itinerância em instituições do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O GLOBO - O pensador das periferias na era digital Marcus Vinícius Faustini, que criou editais de funk e ‘lan house’, mostrará ‘passinho do menor’ para Pierre Lévy na sexta-feira Luiz Fernando Vianna (23/8/2011) Nos anos 1990, Marcus Vinícius Faustini era um jovem diretor de teatro que montava peças sobre a realidade social brasileira. Hoje, prestes a completar 40 anos e no centro de vários projetos, ele aplica o que aprendeu no teatro para mudar essa realidade. Com uma maturidade que surpreende quem o conheceu na década passada, Faustini é um artista/pensador do que pode haver de mais interessante na era digital, trocando o fetiche consumista da tecnologia pelo uso dela por moradores de periferias — palavra que adota com significado geográfico e econômico. — Estamos vivendo de novo algo que a Tropicália fez: inventar um modo de dizer como é a cultura brasileira. Esse movimento que vem das periferias é tão potente quanto a Tropicália, embora mais diluído e com atores que não são tão próximos dos jornalistas — diz. Nascido em Duque de Caxias e crescido em Santa Cruz, Faustini foi até Papai Noel de supermercado para sobreviver, e a primeira vez que teve a carteira assinada foi como contínuo do Banco do Brasil. Salvou-se, segundo diz, pelo “discurso”: Marx, literatura e as peças que lia na Escola de Teatro Martins Pena. — Eu pensava: “Sou pobre, feio e moro longe. Então, tenho que ler uma peça por dia.” Isso me deu uma formação, organizou uma história da cultura brasileira na minha cabeça. Mas é preciso dar uma viradinha nessa história — diz. ‘Pobre é invenção’ A virada começou nos anos 1990, quando, segundo ele, iniciativas como AfroReggae e Nós do Morro sinalizaram que as periferias não queriam ser representadas pela classe média, mas criar suas próprias representações. — O pobre é a maior invenção da cultura brasileira. Ele já foi o homem tosco, agrário; o que vem para a cidade e se deslumbra; o marginal, o revolucionário... Um esquema de representações sempre em busca da identidade, não da subjetividade — afirma. Sua nova maneira de ver a arte se consolidou a partir de “Carnaval, bexiga, funk e sombrinha”, documentário rodado em 2005 sobre os grupos de Clóvis (ou bate-bolas). — Fui Clóvis e via a alta complexidade daquela operação. Mas, para a academia, o Clóvis é o folião, o folclórico, o ingênuo; e a imprensa o vê como violento. Pensei: “Isso é performance. Esses caras saindo de uma garagem e um monte de gente olhando é arte contemporânea. Só não é lento” — conta ele, com ironia. 39 A conclusão se desdobrou em outra: fenômenos de periferia estigmatizados por supostas ligações com tráfico e violência devem disputar as verbas de arte contemporânea. A ideia chegou a seu melhor momento neste mês, quando Faustini — agora superintendente de Cultura e Sociedade a convite da secretária estadual de Cultura, Adriana Rattes — lançou os editais do funk e da lan house. Ele fará caravanas em setembro para atrair inscrições. Na próxima sexta-feira, no auditório da Petrobras no edifício Torre Almirante, Faustini participará, ao lado de Pierre Lévy, da mesa “Cibercultura e transformação social”, na qual exibirá para o pensador francês vídeos com o “passinho do menor”. Encontráveis no YouTube, são danças feitas por jovens de periferia em seus bairros ao som de funk — sem qualquer apologia ao sexo e à violência. — Se estivessem só dançando na rua, seria um fato da vida. Mas, ao botarem uma câmera, isso tem uma potência estética. O upload dá uma nova dimensão. Aquilo tem kuduro, frevo, funk, também é intervenção urbana. E daqui para a frente será assim: muitos vão produzir cultura, não só os artistas extraordinários. A gente vive a era da reprodutibilidade do autor — diz. Todas as suas ações são voltadas contra uma visão paternalista dos pobres (“Favela é potência, não carência”) e a favor do uso de meios artísticos e tecnológicos para que as pessoas falem de si e tracem seus destinos. Por meio de conceitos seus como “mapas”, “inventários” e “monstros”, ele criou seu livro “Guia afetivo da periferia” — que vai virar filme e quadrinhos — e faz oficinas como as do projeto Agência de Redes para a Juventude, que está selecionando 30 jovens para “desincubarem” suas ideias com R$ 30 mil cada — verba da Petrobras. — É a cultura como disparador de ações na vida. O pobre esteve tão fora dos meios de produção subjetivos que pôs o nome de seu filho de John Lennon da Silva. Amanhã, Faustini inicia com Heloisa Buarque de Hollanda as “Gôndolas do teleférico”, entrevistas transmitidas do teleférico do Complexo do Alemão pelo site www.apalpe.word press.com. 40
Download