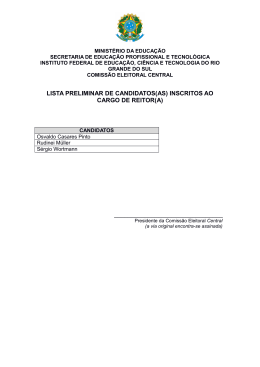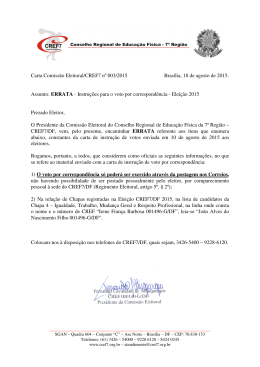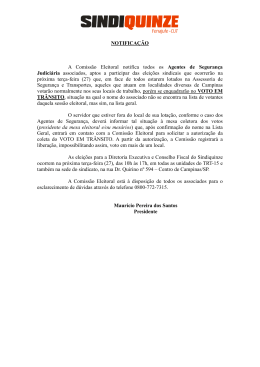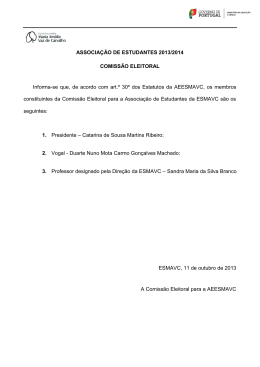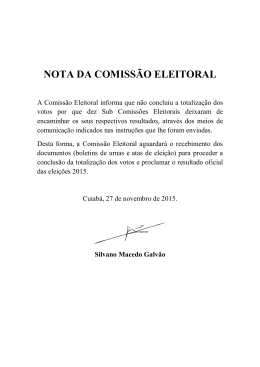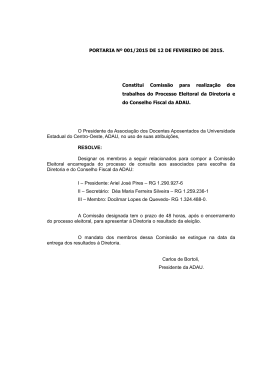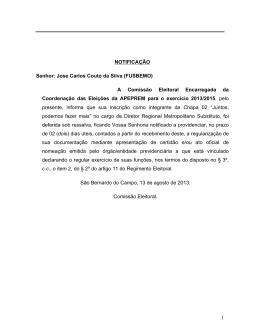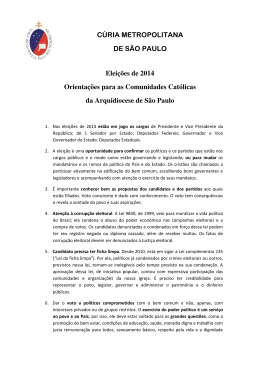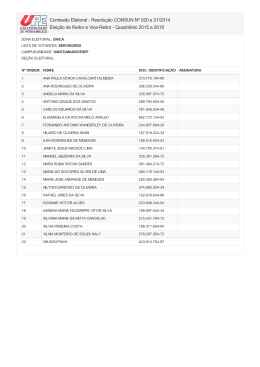Número 11 – fevereiro de 2002 – Salvador – Bahia – Brasil DISCURSO DE POSSE COMO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Min. Nelson Jobim Ministro do Supremo Tribunal Federal. Presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Ex-Ministro de Estado da Justiça e Deputado Federal. Professor Adjunto da Fundação Universidade de Brasília (UnB) Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Marco Aurélio. ............................. Minhas Senhoras e meus Senhores. Cabe-me encerrar esta sessão, lembrando que o processo eleitoral brasileiro sempre conheceu e girou em torno de três grandes núcleos, três grandes preocupações ou três grandes problemas. O primeiro deles é a definição da cidadania. Ou seja, quem deve votar e quem pode ser votado. A experiência brasileira – e o eminente Ministro Walter da Costa Porto é um especialista nesse tema – se iniciou em 1821. O primeiro aspecto - quem deve votar - teve oscilações. Foi um ir e vir. Iniciamos com os maiores de 21 anos - em 1821 - até chegarmos em 1988: 16 e 18 anos. O voto feminino, que ampliou a cidadania, só se consolidou efetivamente com a Revolução de 30, em 1932. Os analfabetos votaram até 1881, quando o Conselheiro Saraiva introduziu aquilo que José Bonifácio Moço chamou de "censo literário". A lei Saraiva proibiu o voto ao analfabeto. Só em 1985, os analfabetos retomaram a cidadania política - poder votar. Tivemos, progressivamente, um crescendo de participação eleitoral brasileira. Em 1960 - eleição de Jânio Quadros - 22,2% da população votava. Em 1986 - eleição da Assembléia Nacional Constituinte -, 49,9%. E chegamos no ano 2000: 64,73% da população. O Brasil, hoje, na relação população/eleitorado, é, seguramente, um dos países que tem maior participação eleitoral. Parece que resolvemos bem a questão da definição da cidadania. Aqueles que podem e devem votar. Não acredito que em questões eleitorais e problemas político-eleitorais haja verdades absolutas. Aos temas não permitem a discussão estritamente acadêmica. É a realidade, com sua história, que se impõe. Leva-se em conta, com os pés fincados na história, a realidade política, social e econômica do país. A partir daí emergem as soluções adequadas àquele momento histórico. Lembrem-se, por exemplo, da discussão que se travou e se trava agora sobre coligações partidárias. Em 1987 e 1988, as coligações partidárias eram tidas como absolutamente necessárias. Estávamos saindo do bipartidarismo imposto pelo governo militar. As facções políticas estavam todas sob dois grandes guarda-chuvas: Arena e MDB. Com o surgimento das novas legendas partidárias, era rigorosamente necessária a coligação partidária, em especial a proporcional. Tudo para assegurar a consolidação e a formação de novas tendências e correntes. Isto já não é o que se discute hoje. 2 Neste ano de 2001, fala-se em coligações proporcionais como um mal. Elas determinam uma pulverização minoritária e, muitas vezes, inexpressiva, na formação da vontade parlamentar. O Senado e a Câmara pulverizam-se. Atingem a formação de uma unidade e vontade de governo. Isso mostra que as soluções políticas e, principalmente, a regulação política do processo eleitoral dependem de uma clara visão de futuro. Mas, visão agarrada e fincada na realidade concreta do que se passa e do que se faz. Não daquilo que poderia ter sido feito e não se fez. Exatamente por isso achamos que, na definição da cidadania quanto àquele que deve votar, avançamos. Discutir-se-á o voto obrigatório. Não se vai discutir a partir da concepção acadêmica de ser bom ou mau. Discutir-se-á, isto sim, de acordo com o que temos e o que podemos fazer. Nada mais. É a conveniência da solução, porque o compromisso é com o conseqüência. Nada de fundamentalismos. Estes, no mais das vezes, são meras manifestações de "marcar posição", sem compromisso real com avanços. Por outro lado, na definição da cidadania, há também a questão de quem pode ser votado. O grande e difícil tema das inelegibilidades. Aqueles que passaram pelo parlamento e pela atividade política sabem muito bem que, na questão das inelegibilidades, há dois grandes pontos. A preservação efetiva da realidade e verdade eleitoral. Excluem-se do processo eleitoral aqueles que, pelas posições que desfrutam na máquina do Estado, podem manipular a formação da vontade do eleitor e, mesmo, o resultado. Podem produzir vantagens externas ao processo. 3 Mas sabemos, perfeitamente, que no evoluir das inelegibilidades se introduziu, aqui e acolá, uma restrição política importante. A exclusão de certos atores da disputa eleitoral. Tudo porque, naquele momento, são fortes. Reduz-se, assim, o ambiente da disputa eleitoral. Isso tem que ser posto sobre a mesa e, também, examinado com lucidez política e jurídica. O segundo eixo ou preocupação fundamental, mencionada pelo eminente Procurador-Geral, refere-se à representação das minorias. Tivemos longa experiência. Começamos, em 1821, com um sistema majoritário de voto indireto. Passamos, em 1855, para os distritos eleitorais e o voto uninominal. Em 1881, chegamos ao voto direto, com a Lei Saraiva. Substitui-se o voto indireto e, lá, já se falava em quociente eleitoral. Em 1890, para a Assembléia Constituinte Republicana, e numa manobra dos republicanos para conseguirem a maioria, instituiu-se a lista de partidos e abandonou-se o voto uninominal. Em 1891, voltou-se ao voto uninominal. E, por fim, em 1892, chegamos ao sistema proporcional de voto uninominal. Hoje, discutimos o fortalecimento dos partidos, dentro de um sistema eleitoral em que há, claramente, a dependência dos partidos aos candidatos, e não dos candidatos aos partidos. Todos sabem e o eminente Senador Pedro Simon conhece isto de longa experiência. A grande necessidade de uma lucidez eleitoral na escolha dos candidatos dos partidos. Os partidos, para obterem vagas na Câmara dos Deputados, nas eleições proporcionais, precisam de um maior número de votos. Os votos são dados aos candidatos. São os candidatos, individualmente, que produzem os votos. Não os partidos. 4 Daí por que, para uma consistência eleitoral da legenda partidária, os partidos buscam candidatos que produzam votos. Os candidatos de corporações, que possam catalisar para si e para o partido votos de seus grupos de interesses. Para, através do representante desse grupo, manter e aprofundar privilégios. Candidatos de mídia, que tenham acesso direto com o eleitor. Saem os partidos atrás desses personagens, exatamente porque precisam dos votos que eles, individualmente, possam produzir. Quando o Brasil era o grande campeão do futebol, quantos candidatos de mídia, vinculados à crônica esportiva, emergiram em diversos partidos? Quantos candidatos, após os desastres em termos de vitórias futebolísticas, começaram a ser buscados nos programas de segurança pública de rádio e televisão e nos programas assistencialistas? Os partidos descobriram, na década de 80, personagens com possibilidades eleitorais que, hoje, se consolidam em partido político. Naquele momento eram buscados porque produziam votos. Tinham tribuna. Tinham capilaridade. Tinham ouvintes. Foi quando surgiu, na década de 80, a busca aos pastores evangélicos como candidatos. Os candidatos regionais, para buscarem verbas orçamentárias às suas regiões. Todo esse sistema leva a uma dependência dos partidos aos próprios candidatos. É a forma do cálculo do quociente eleitoral e do quociente partidário. E tudo isso leva a mais. O candidato passa a ser o dono do eleitorado, o dono do voto. Daí por que circulam de partido em partido. Levam consigo os seus eleitores. 5 Os Senhores acreditam que o representante de uma corporação militar estadual é eleito porque está em específico partido? Ou, a sua eleição decorre da concentração de votos da própria corporação? E, nesse sistema, a quem esse candidato tem que ser leal? Ao partido, que lhe deu legenda? Ou, ao eleitor, que lhe deu o voto? A fidelidade é devida a quem, eminente presidente da Câmara dos Deputado? Ao partido ou ao eleitor? É necessária à discussão. Qual o valor a ser preservado. Se, o fortalecimento é de partido, teremos um preço a pagar. É, exatamente, o esboroamento de um sistema de representação em que o partido é, nada mais, nada menos, do que o salvo-conduto de passagem ao processo eleitoral. Isso é tema de extraordinária relevância. A governabilidade e possibilidade de compromissos nacionais dele dependem. Tema nacional, nesse sistema, é assunto eleitoralmente secundário. Refiro-me às eleições proporcionais. E mais. Durante o processo eleitoral, quem pode derrotar o candidato é o outro candidato do próprio partido. Tudo porque é ele que pode excluir o outro do conjunto dos mais votados para efeito do preenchimento das vagas conquistadas pela legenda. Tive experiência pessoal sobre isso. Os adversários reais, na disputa eleitoral, não eram os candidatos do Partido dos Trabalhadores ou os candidatos do Partido Democrata Trabalhista. Eram os candidatos do meu partido. Eles é que poderiam me derrotar. 6 Bastaria conquistar mais votos do que eu na composição da legenda e no resultado final da conquista de vagas. A disputa é interna. Terminada a eleição, os ódios e ressentimentos da campanha passam a pautar as condutas. Haverá nova eleição. Tudo se repetirá. Abraço o integrante do outro partido e lhe faço confidências. Desconfio, tenho reservas e, muitas vezes, engano o companheiro de legenda. A dissimulação passa a ser a regra. Isso tudo preside o debate interno, quer na campanha eleitoral, quer na conquista de diretórios municipais e regional. Tudo isso leva a um individualismo de sobrevivência. E o velho Tancredo Neves dizia, claramente, que a primeira regra do político é a sobrevivência. Se o sistema impõe essa conduta é ela adequada ao sistema. Logo, não se cobre de quem deseja e tem que sobreviver que não tenha uma conduta ajustada à sobrevivência. Quer conduta diversa é falar fora do mundo. É não ter a noção real do que se passa. Pautar comportamentos a partir de critérios e princípios que conduzam à derrota é pedir o absurdo. É pedir a conquista do equívoco. O último eixo do grande problema e que está grandemente vinculado à Justiça Eleitoral é a verdade eleitoral. Que o voto votado seja o voto apurado. Que o voto seja, também, conseqüência de uma formação livre da vontade do eleitor. A formação da vontade do eleitor desemboca na campanha eleitoral, para a qual foi a Justiça Eleitoral erigida corregedora. 7 Fiscal dos abusos do poder econômico, dos abusos do poder político e, inclusive, na figura nova da captação de sufrágio. E a campanha eleitoral está vinculada exatamente ao debate político para a formação da vontade do eleitor. As distorções que aí se introduzem produzem a distorção da vontade do eleitor. Este tema é de extraordinária dificuldade, não só para a Justiça Eleitoral como também para o legislador. O eminente Presidente da Câmara de Deputados e os eminentes Deputados Federais e Senadores aqui presentes sabem muito bem que o preço que se paga em Câmaras parlamentares de alta representatividade é exatamente a clareza e precisão técnica da norma. Quanto mais impreciso e ambíguo o texto legal, mais votos se consegue. Mais possibilidade de aprovação. Quanto mais nítido, lúcido, claro e preciso o texto de lei, menos possibilidade de aprovação em parlamentos não hegemônicos. Portanto, a ambigüidade, Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, é o preço para se obter a aprovação. No momento em que essa ambigüidade opera no direito privado não há problemas, resolve-se. Quando se entra no Direito Eleitoral a coisa muda. Transfere o Congresso Nacional para a cabeça do juiz a possibilidade de completar o conteúdo da norma numa situação extraordinariamente complicada. Vamos completar o conteúdo da norma na interpretação depois do jogo jogado. Depois da urna aberta e do voto apurado. Depois de alguém ter conquistado 70% do eleitorado. E isto, Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, é fundamental para a compreensão da responsabilidade que tem esta Casa. No julgamento de questão de direito privado comum, o Juiz tem compromisso e obrigação estrita com a lei. Sua decisão não transcende a relação privada. 8 Mas, a Justiça eleitoral tem, com a lei, compromissos com as conseqüências de suas decisões. A Justiça eleitoral não é só jurisdicional. É, também, uma agência de produção de eleições. Quando se casam as funções jurisdicional e administrativa de eleições, cria-se um problema, tudo porque temos responsabilidade pela pacificação dos conflitos decorrente do embate eleitoral. Não se pode, também trabalhar no sentido de uma interpretação que venha, ao fim e ao cabo, desmentir aquilo que o próprio eleitor decidiu. A legislação eleitoral necessita de maior precisão. Tudo para reduzir substancialmente a discrição, próxima ao arbítrio, de decisões tomadas depois do jogo jogado, depois da urna apurada, depois da festa realizada. Esse tema é para nós, Sr. Presidente, de extraordinária preocupação. Não é só a formação da vontade do eleitor nosso tema. Há o problema da captação e apuração do voto, transferido à Justiça Eleitoral basicamente em 1932. Longa experiência de fraudes vem desde 1821. Por obra e trabalho insistente, obstinado, dos Ministros Néri da Silveira, Carlos Velloso e Marco Aurélio, chegamos ao ano 2000 com eleições informatizadas em todos o país. Os espaços da fraude, no ato de apurar o voto e no ato de votar, se reduziram ou, mesmo, desapareceram – o "voto de carteirinha", o "voto marmita" e o "voto cartolina" que o Rio Grande do Sul conheceu na década de 30. A urna eletrônica desbaratou as técnicas do passado. Se isso é verdade, há que ter presente que toda solução dada a problema antigo acarreta novos problemas. E, felizmente, é bom que assim seja. Se solucionássemos todos os problemas e tivéssemos tudo resolvido, não precisaríamos estar nesta sessão – e muitos gostariam de não estar –, porque não haveria problema a resolver. Como existem os problemas, existimos nós. Nós nos explicamos e nos justificamos pela existência dos problemas. 9 Criado e solvido o problema das fraudes que decorriam da eleição tradicional, surge um novo problema conhecido por todos, que diz respeito à digitação na urna e à segurança que se tenha quanto a que o voto digitado tenha sido o voto contabilizado. Lembrem-se - permitam-me a lembrança - quando surgiram as máquinas de somar com fita? O que fazíamos? Encerrada operação, arrancávamos a fita e passávamos a checar as parcelas para verificar se as digitamos de forma correta. Todavia, não conferíamos a soma, porque acreditávamos no resultado. A desconfiança se restringia ao lançamento das parcelas. Quando surgiu a máquina de somar digital, sem fita e sem registro do lançamento de parcelas, o que fazíamos? Somávamos duas vezes. Não colocávamos em questão o resultado da soma. A preocupação era com as parcelas lançadas. Respeitadas as proporções, é o mesmo o que se passa com a urna eletrônica. Não se pode pretender dar soluções a essas dúvidas pelo rompimento com o paradigma, ou seja, retroceder. Precisamos de toda transparência e segurança, e o Tribunal o fará, como determinado estavam os ministros presidentes e membros anteriores. Ninguém deve acreditar na urna eletrônica porque o Tribunal Superior Eleitoral é sério. Deve acreditar na urna eletrônica pelas suas condições de seriedade interna, e não depender da credibilidade de outrem. É fundamental compreender o processo. Ter transparência. Criar mecanismos de segurança e transparência para os três momentos do processo: antes, durante e depois da eleição. Fazer, também, com que esta urna passe a conviver com todos nós. Para podermos ter a alegria de ver, quem sabe, o Ministro Ilmar Galvão presidindo uma eleição com urna eletrônica do Flamengo. 10 Por que não? Fazer com que as pessoas comecem a conviver com este instrumento democrático. Assim vê o Tribunal. Quase não houve demandas emergentes da eleição de 2000. Apenas residuais. Os problemas são os mesmos: impugnação de registro de candidatura, inelegibilidade etc. Creio que avançamos, e o Tribunal vai caminhar para isso. Estimamos um total de 114 milhões 763 mil eleitores para as eleições de 2002. Eleições gerais, com seis votos: um para deputado estadual, um para deputado federal, dois para senadores, um para governador de estado e um para presidente da República. O Tribunal se prepara para essa eleição. Cabe-me lembrar, por último, a satisfação de termos José Paulo Pertence na vice-presidência do Tribunal. José Paulo de longos debates, desde o tempo das discussões na OAB, desde o tempo de eu deputado e ele Procurador-Geral da República e, agora, no Supremo Tribunal. José Paulo é conhecido. Não há o que se dizer de José Paulo. José Paulo é debate. É ardente debate. Uma retórica clássica no enfrentamento do tema: quem se descuida não sabe onde vai parar o argumento, tem que prestar atenção. Maurício, para mim, é a disponibilidade brutal. De Maurício herdo as coisas que ele queria fazer, preparou para fazer e não fez. No Ministério da Justiça, Maurício não conseguiu levar ao cabo a sua inicial disposição de resolver as questões relativas aos desaparecidos políticos. Maurício produziu catarse. 11 Preparou o ambiente. Teve problemas políticos e não pode fazer. E aí chegamos - José Gregório e eu. O caminho estava aberto, o problema colocado. As coisas estavam prontas. Herdamos a possibilidade de caminhar e avançar no tempo. Várias ações no Ministério da Justiça foram realizadas no período em que assumimos e lá estivemos, por quê? Porque Maurício tinha plantado. Sabemos claramente que, em questões políticas, não se pode tentar resolver as coisas antes de se abrir espaço para a catarse. E Maurício fez toda a catarse – os debates, os ódios derramados. Depois, quando assumimos, não havia mais o que chorar, porque já haviam chorado. Não havia mais o gritar, porque já haviam gritado. Se não se deixa gritar, se não se deixa chorar, não se faz absolutamente nada. Há os momentos para isso. É como dizia o velho Ulisses: "Devagar, porque em política até a raiva é combinada, mas precisa haver o momento da raiva, porque se não houver, não se votará nunca coisa alguma". Maurício, agradeço a possibilidade de ter herdado as tuas condutas e ações no Ministério da Justiça e também aqui, no Tribunal Superior Eleitoral. Vossa Excelência que tem uma extraordinária ansiedade de soluções. Vossa Excelência, que não gosta, absolutamente, dos prolegômenos. O Ministro Fernando Neves que o diga. Há sempre a cobrança de rapidez: "vamos terminar", "vamos julgar", "vamos às conseqüências". É o velho Maurício. O velho Maurício que vinha da OAB e que era imbatível nas eleições do Distrito Federal 12 O Ministro Sepúlveda Pertence bem o sabe. Maurício, todos nós te agradecemos, te abraçamos, todos te queremos bem. Um beijo na testa. Muito obrigado a todos os senhores. (Discurso de improviso, proferido em 11.06.01,revisado pelo orador) Referência Bibliográfica (ABNT: NBR-6023/2000): JOBIM, Nelson. Discurso de posse como Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de Atualização Jurídica, nº. 11, fevereiro, 2002. Disponível na Internet: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em: xx de xxxxxxxx de xxxx (substituir x por dados da data de acesso ao site). Publicação Impressa: Informação não disponível. 13
Download