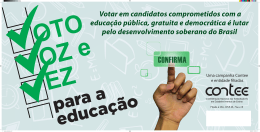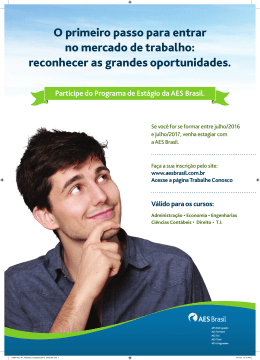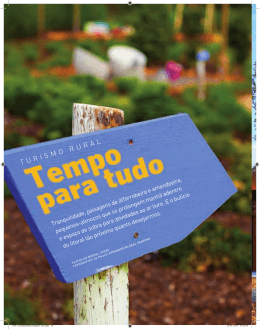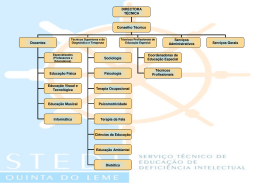coloridas_40.indd 1 2/6/2011 19:04:17 www.revistaterapiamanual.com.br Acesse e cadastre-se para receber a nossa newsletter coloridas_40.indd 2 2/6/2011 19:04:21 CURSOS EM DESTAQUE coloridas_40.indd 3 Acupuntura Craniana Chinesa Ginecologia e Obstetrícia na Medicina Tradicional Chinesa Ft. Dra. Ana Marta Biesek Regis MTC Dr. Claudio Lopes / Dra. Maria Luisa Mendes Administração para Fisioterapeutas Prof. Neto Andreghetto Conceito Maitland - Coluna Ft. Esp. Carlos Roberto Mó Avaliação do Risco Biomecânico em Ergonomia Ventilação Mecânica Básica Prof. Dr. Marco Antonio Alves de Moraes Prof. Ft. George Jerre Vieira Sarmento 2/6/2011 19:04:37 Fisioterapia esportiva Gabriel Basto Fernandes Fisioterapeuta da equipe de Remo do C.R. Vasco da Gama Membro da Associação Brasileira de Crochetagem Instrutor Internacional 3B Scientific Tape Terapia em movimento Bandagem Elástica Terapêutica O esporte de alto rendimento evoluiu muito na última década, se tornando cada vez mais competitivo e exigindo mais dos atletas. Isto levou a um aumento do número de lesões. A fisioterapia esportiva também evoluiu para acompanhar as necessidaes dos atletas, prevenindo as lesões decorrentes do gestual desportivo. 3B Scientific Tape é uma bandagem elástica terapêutica, a mais utilizada no Brasil, como auxiliar no tratamento de lesões. Ausente de medicamentos e não limitando o movimento do atleta, podendo ser utilizada durante exercícios, inclusive na água. A 3B Scientific Tape atua estimulando a pele enviando estímulos para o músculo. Promove um levantamento superficial na pele, reduzindo a pressão nos vasos linfáticos, melhorando a eficiência e permitindo uma melhor contração muscular. Essa redução da pressão auxilia a retirada dos receptores químicos locais, reduzindo a dor, podendo até ser sentido um aumento da circulação na região onde está posicionada a bandagem. BANDAGEM ELÁSTICA TERAPÊUTICA O quadríceps é o músculo mais exigido durante uma prova de remo, a fadiga desse músculo é limitante, impedindo a realização de uma prova linear ou crescente. O 3B Scientific Tape foi colocado no primeiro dia da seletiva e teve duração durante os 3 dias de provas. O resultado foi melhor que o esperado, obtendo uma ótima performance dos atletas durante os 3 dias de competição. Abaixo alguns depoimentos dos atletas que utilizaram a bandagem durante a seletiva nacional de remo. Depoimentos: "Já havia feito o uso da bandagem 3B Tape e novamente o resultado não foi diferente, uma melhor performance e uma recuperação bem melhor." Marcos Oscar remador do C.R. Vasco da Gama "Nesta nova experiência com a 3B Tape, dar maior suporte ao quadríceps, retardar a fadiga muscular e melhorar a performance durante o tiro na máquina, o meu parecer é que objetivo foi atingido, chegando ao final da avaliação com a sensação de fadiga bem reduzida." SOFTWARE PARA TREINAMENTO João Hildebrando remador do C.R. Vasco da Gama Através de técnicas de aplicação específicas, é possível melhorar a performance muscular, retardando a fadiga muscular e reduzindo a dor associada a sobrecarga muscular (a dor de origem tardia, que aparece e se mantém nos dias consecutivos ao esforço), muito útil para atletas de resistência como remadores, corredores de longa distância, ciclistas, nadadores e etc. Após vários testes, foi realizado um trabalho num grupo de remadores objetivando a performance muscular do quadríceps, durante a seletiva nacional para compor a seleção brasileira de remo. coloridas_40.indd 4 "Faz algum tempo que utilizo a bandagem para auxiliar na estabilização da escápula e melhorar a função do movimento durante o treino, o resultado sempre foi satisfatório, mas dessa vez me surpreendi com o resultado. Nunca imaginei que uma fita adesiva pudesse retardar a fadiga muscular e ajudar a recuperar as fibras musculares. Senti o quadríceps bem firme, me dando maior segurança na remada." Tiago Ribeiro Braga remador do C.R. Vasco da Gama 3B MUSCLEtrainer™ Todos os músculos em um piscar de olhos! TELEVENDAS (11) 2307-0029 [email protected] 2/6/2011 19:04:40 Ter. Man. 2010 Nov-Dez 8(40) ISSN 1677-5937 SUMÁRIO Editorial..........................................................................................................................................................................................................................................477 Artigos Originais The strategies to control complex movements using proprioceptive information can be generalized to different spatial orientations. Estratégias para controlar movimentos complexos usando informação proprioceptiva podem ser generalizadas para diferentes orientações espaciais. ................................................................................................................................................................................................ 478 Nádia Fernanda Marconi, Valdeci Carlos Dionísio, Irlei dos Santos, Gil Lúcio Almeida. Biomecânica aplicada ao voleibol: análise do complexo do ombro e implicações para avaliação e desempenho. Applied biomechanics of volleyball: analysis of the shoulder complex and implications to assessment and performance.................... 483 Lucas R. Nascimento, Natália F. Neto Bittencourt, Renan A. Resende, Luci F. Teixeira-Salmela, Sérgio T. Fonseca. Achados anatômicos do complexo articular lateral do tornozelo: Implicações nas dores crônicas e considerações para as mobilizações da fíbula. Anatomical analysis of articular lateral complex of ankle: implications at chronic pain and considerations for fibula’s mobilization. ... 491 Julio Guilherme Silva, Reny de Souza Antonioli, Marco Orsini, André Custódio da Silva, Arthur de Sá Ferreira. Utilização dos exercícios de estabilização central na lombalgia crônica – um estudo clínico. The utilization of the exercises for central stabilization in chronic low back pain – a clinical trail. ............................................................. 497 Aline C. A. Carvalho, Augusto S. M. Rocha, Kênio O. F. Gonçalves, Luiz C. Hespanhol Jr. , Natália Girotto, Alexandre D. Lopes. Atividade eletromiográfica do glúteo médio em portadores da síndrome da dor patelofemoral durante atividades funcionais. Electromyographic activity of gluteus medius muscles on patellofemoral pain syndrome during functional activities. ...............................501 Kimberly M. P. Silva, Caio A. A. Lins, Denise Dal’ava Augusto, Rafaela S. Farias, Amanda M. Josué, Jamilson S. Brasileiro. Avaliação dos efeitos do método Pilates na função do tronco. Evaluation of the effects of Pilates method on the function of trunk. .............................................................................................................508 Vinícius S. Coelho, Alexandre H. Kozu, Cléssius F. dos Santos, Leonardo G. V. Vitor, André W. Gil, Márcio R. de Oliveira, Rodolfo B. Parreira, Rubens A. da Silva. Ocorrência de DTM e relação entre a dor e abertura bucal em indivíduos que se utilizam de montaria diariamente. Occurrence of TMD and pain relationship with oral opening in individuals that use of riding daily. ............................................................517 Mariana Moreira da Silva, Tabajara de Oliveira Gonzalez, Claudia Santos Oliveira, Fabiano Politti, Daniela Aparecida Biasotto-Gonzalez. Avaliação da pressão inspiratória nasal e pressões respiratórias máximas com máscara orofacial em sujeitos saudáveis. Assessment of nasal inspiratory pressure and maximal respiratory pressures with a face-mask in healthy subjects. ............................... 523 Joanaceli B. Tavares, Guilherme Fregonezi, Ingrid G. Azevedo,Palomma R. S. Araújo, Fernanda G. Severino, Vanessa R. Resqueti. Avaliação da independência funcional e dor de pacientes em pré e pós-operatório cardíaco. Assessment of the functional independence and pain in cardiac pre and post-surgical patients. ............................................................ 530 Kelin Gnoatto, Josiéle Canova Mattei, Alana Piccoli, Janaine Cunha Polese, Rodrigo Costa Schuster, Camila Pereira Leguisamo. Análise do pico de torque isométrico no joelho e sua predição através de dados antropométricos. Analysis of Knee Torque peak and its prediction based on anthropometric data......................................................................................... 537 Alessandro Haupenthal, Daniela P. Santos, Caroline Ruschel, Gabriel Jacomel, Heiliane B. Fontana, Eddy Mallmann, Robson Scoz. Caracterização das lesões desportivas em atletas de Tênis de Mesa. Characterization of the sport injuries in table tennis athletes. ........................................................................................................................... 543 José Adolfo Menezes Garcia Silva, Antonio Francisco de Almeida Neto, Marcelo Rocha de Oliveira, Flávia Roberta Faganello. Relação de variáveis de força muscular na atividade física habitual de indivíduos idosos fisicamente independentes. Relationship between muscle strength variables and regular physical activity in physically independents elderly. ................................ 548 Arnaldo L. A. Costa, Alexandre Schubert, Renata S. B. Januário, Rodrigo F. Oliveira, Rejane D. N. Souza, Vanessa S. Probst, Fábio Pitta, Denílson C. Teixeira. Análise da variabilidade da frequência cardíaca em indivíduos submetidos à manobra do IV ventrículo. Analysis of the heart rate variability in individuals submitted to CV4 maneuver.. .............................................................................................. 554 Laís Sousa Santos, Érika Bona Coutinho, Rafael Victor Ferreira do Bonfim. Caracterização de pacientes amputados em centro de reabilitação. Characterization of amputee patients in rehabilitation center.. ............................................................................................................................561 Luciana Akemi Tamura Ozaki, José Carlos Camargo Filho, Mario Hissamitsu Tarumoto, Regina Celi Trindade Camargo. Efeitos do relaxamento muscular progressivo em pacientes fibromiálgicos. Effects of progressive muscle relaxation in patients with Fybromialgia Syndrome............................................................................................568 Felipe R. C. Fagundes, Amanda G. Viganó, Graziela Pilan, Vanessa A. M. Carvalho, Alex Sandra O. C. Soares, Areolino P. Matos. Comparação do equilíbrio e qualidade de vida entre idosos institucionalizados e não-institucionalizados. Comparison of the balance and quality of life between institutionalized and non-institutionalized elders.. ............................................. 573 Antônio Francisco de Almeida Neto, José Adolfo Menezes Garcia Silva, Marcelo Tavella Navega. Instrução aos autores ................................................................................................................................................................................578 terapia manual 40.indd 475 25/5/2011 16:37:55 EXPEDIENTE Editor Chefe Ter Man. 2010 Prof. Dr. Luís Vicente Franco de Oliveira Pesquisador PQID do Conselho Nacional de Pesquisa CNPq - Professor pesquisador do Programa de Pós Graduação Mestrado em Ciências da Reabilitação da Universidade Nove de Julho – UNINOVE - São Paulo – SP Nov-Dez 8(40) ISSN 1677-5937 Editores associados Prof Dr Antônio Nardone teacher and researcher at Posture and Movement Laboratory – Medical Center of Veruno – Veruno – Itália Prof Daniel Grosjean professeur et elaborateur de la Microkinesitherapie. Nilvange, France. Il partage son temps avec l’enseignement de la méthode depuis 1984, la recherche, les expérimentations et la rédaction d’articles et d’ouvrages divers sur cette technique. Prof François Soulier – créateur de la technique de l’Equilibration Neuro musculaire (ENM). Kinésithérapeute, Le Clos de Cimiez, Nice, France. Prof Khelaf Kerkour – Coordinateur Rééducation de L’Hopital Du Jura – Delémont – França • President de l’Association Suisse de Physiothérapie. Prof Patrice Bénini - Co-foundateur de la Microkinesitherapie. Il travaille à l’élaboration de la méthode, aux expérimentations, à la recherche ainsi qu’à son enseignement. Montigny les Metz, France. Prof Pierre Bisschop - Co-founder and administrator of the Belgian Scientific Association of Orthopedic Medicine (Cyriax), BSAOM since 1980; Professor of the Belgian Scientific Association of Orthopedic Medicine; Secretary of OMI - Orthopaedic Medicine International – Bélgium. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal LILACS Latin American and Caribbean Health Sicience Conselho Científico Prof. Dr. Acary Souza Bulle Oliveira • Departamento de Doenças Neuromusculares Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP – São Paulo, SP - Brasil. Prof. Dr. Antônio Geraldo Cidrão de Carvalho • Departamento de Fisioterapia - Universidade Federal da Paraíba - UFPB – João Pessoa, PB - Brasil. Profª. Drª. Arméle Dornelas de Andrade • Centro de Ciências da Saúde - Universidade Federal do Pernambuco - UFPE – Recife, PE - Brasil. Prof. Dr. Carlo Albino Frigo • Dipartimento di Bioingegneria - Istituto Politécnico di Milano – MI - Itália Prof. Dr. Carlos Alberto kelencz • Centro Universitário Ítalo Brasileiro - UNIÍTALO – São Paulo, SP – Brasil. Prof. Dr. César Augusto Melo e Silva • Universidade de Brasília – UnB – Brasília, DF – Brasil. Profª. Drª. Claudia Santos Oliveira • Programa de Pós Graduação /Doutorado em Ciências da Reabilitação da Universidade Nove de Julho – UNINOVE - São Paulo, SP – Brasil. Profª. Drª. Daniela Biasotto-Gonzalez • Programa de Pós Graduação Mestrado em Ciências da Reabilitação da Universidade Nove de Julho – UNINOVE - São Paulo, SP – Brasil. Profª. Drª. Débora Bevilaqua Grossi • Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação da Universidade de São Paulo USP – Ribeirão Preto – SP - Brasil. Prof. Dr. Dirceu Costa • Programa de Pós Graduação Mestrado/Doutorado em Ciências da Reabilitação da Universidade Nove de Julho – UNINOVE - São Paulo, SP – Brasil. Prof. Dr. Edgar Ramos Vieira • University of Miami, Miami, FL, USA. Profª. Drª. Eliane Ramos Pereira • Departamento de Enfermagem Médico-Cirúgica e PósGraduação da Universidade Federal Fluminense – São Gonçalo, RJ – Brasil. Profª. Drª. Eloísa Tudella • Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR - São Carlos, SP – Brasil. Profª. Drª. Ester da Silva • Programa de Pós Graduação Mestrado em Fisioterapia - Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP – Piracicaba, SP – Brasil. Prof. Dr. Fábio Batista • Chefe do Ambulatório Interdisciplinar de Atenção Integral ao Pé Diabético - UNIFESP – São Paulo – Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP – São Paulo, SP, Brasil. Prof. Dr. Fernando Silva Guimarães • Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ – Rio de Janeiro, RJ - Brasil. Profª. Drª. Gardênia Maria Holanda Ferreira • Programa de Pós Graduação Mestrado em Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – Natal, RN – Brasil. Prof. Dr. Gérson Cipriano Júnior • Universidade de Brasília – UnB – Brasília, DF – Brasil. Prof. Dr. Heleodório Honorato dos Santos • Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal da Paraíba – UFPB – João Pessoa, PB - Brasil. Prof. Dr. Jamilson Brasileiro • Programa de Pós Graduação Mestrado em Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – Natal, RN – Brasil. Prof. Dr. João Carlos Ferrari Corrêa • Programa de Pós Graduação Mestrado/Doutorado em Ciências da Reabilitação da Universidade Nove de Julho – UNINOVE - São Paulo, SP – Brasil. Profª. Drª. Josepha Rigau I Mas • Universitat Rovira i Virgili – Réus - Espanha. Profª. Drª. Leoni S. M. Pereira • Programa de Pós Graduação Mestrado/Doutorado em Ciências da Reabilitação da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG – Belo Horizonte, MG – Brasil. Profª. Drª. Luciana Maria Malosa Sampaio Jorge • Programa de Pós Graduação Mestrado em Ciências da Reabilitação da Universidade Nove de Julho – UNINOVE - São Paulo, SP – Brasil. Prof. Dr. Luiz Carlos de Mattos • Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP – São José do Rio Preto, SP – Brasil. Prof. Dr. Marcelo Adriano Ingraci Barboza • Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP – São José do Rio Preto, SP – Brasil. Prof. Dr. Marcelo Custódio Rubira • Centro de Ens. São Lucas – FSL – Porto Velho, RO – Brasil. Prof. Dr. Marcelo Veloso • Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG – Belo Horizonte, MG – Brasil. Prof. Dr. Marcus Vinicius de Mello Pinto • Departamento de Fisioterapia do Centro Universitário de Caratinga, Caratinga, MG – Brasil. Profª. Drª. Maria das Graças Rodrigues de Araújo • Centro de Ciências da Saúde - Universidade Federal do Pernambuco - UFPE – Recife, PE - Brasil. Profª. Drª. Maria do Socorro Brasileiro Santos • Centro de Ciências da Saúde - Universidade Federal do Pernambuco - UFPE – Recife, PE - Brasil. Prof. Dr. Mário Antônio Baraúna • Centro Universitário UNITRI – Uberlândia, MG – Brasil. Prof. Dr. Mauro Gonçalves • Laboratório de Biomecânica da Universidade Estadual Paulista – UNESP – Rio Claro, SP – Brasil. Profª. Drª. Nádia Fernanda Marconi • Programa de Pós Graduação Mestrado em Ciências da Reabilitação da Universidade Nove de Julho – UNINOVE - São Paulo, SP – Brasil. Profª. Drª. Patrícia Froes Meyer• Universidade Potiguar – Natal, RN – Brasil Prof. Dr. Paulo de Tarso Camillo de Carvalho • Programa de Pós Graduação Mestrado/Doutorado em Ciências da Reabilitação da Universidade Nove de Julho – UNINOVE - São Paulo, SP – Brasil. Prof. Dr. Paulo Heraldo C. do Valle • Universidade Gama Filho - São Paulo, SP – Brasil. Profª. Drª. Regiane Albertini • Programa de Pós Graduação Mestrado/Doutorado em Ciências da Reabilitação da Universidade Nove de Julho – UNINOVE - São Paulo, SP – Brasil. Profª. Drª. Renata Amadei Nicolau • Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento IP&D Universidade do Vale do Paraíba – Uni Vap – São José dos Campos, SP – Brasil. Prof. Dr. Renato Amaro Zângaro • Universidade Castelo Branco – UNICASTELO - São Paulo, SP – Brasil. Prof. Dr. Roberto Sérgio Tavares Canto • Departamento de Ortopedia da Universidade Federal de Uberlândia – UFU – Uberlândia, MG – Brasil. Profª. Drª. Sandra Kalil Bussadori • Programa de Pós Graduação Mestrado em Ciências da Reabilitação da Universidade Nove de Julho – UNINOVE - São Paulo, SP – Brasil. Drª. Sandra Regina Alouche • Programa de Pós Graduação Mestrado em Fisioterapia da Universidade Cidade de São Paulo - UNICID - São Paulo, SP – Brasil. Profª. Drª. Selma Souza Bruno • Programa de Pós Graduação Mestrado em Fisioterapia - Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – Natal, RN - Brasil. Prof. Dr. Sérgio Swain Müller • Departamento de Cirurgia e Ortopedia da UNESP – Botucatu, SP – Brasil. Profª. Drª. Tânia Fernandes Campos • Programa de Pós Graduação Mestrado em Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – Natal, RN – Brasil. Profª. Drª. Thaís de Lima Resende • Faculdade de Enfermagem Nutrição e Fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, UFRGS - Porto Alegre, RS – Brasil. Profª. Drª. Vera Lúcia Israel • Universidade Federal do Paraná – UFPR – Matinhos, PR - Brasil. Prof. Dr. Wilson Luiz Przysiezny • Universidade Regional de Blumenau – FURB – Blumenau, SC – Brasil. Responsabilidade Editorial Editora Andreoli– CNPJ 02480054/0001-27 A Revista Terapia Manual é uma publicação científica bimestral que abrange a área das Ciências da Saúde, Reabilitação e Terapia Manual. A distribuição é feita em âmbito nacional e internacional com uma tiragem bimestral de 3.000 exemplares. Direção Editorial: Leonir Andreoli • Assistente de Pesquisa: Raquel Pastrello Hirata • Supervisão Científica: Claudia Santos Oliveira • Revisão Bibliográfica: Vera Lúcia Ribeiro dos Santos – Bibliotecária CRB 8/6198 • Editor Chefe: Luís Vicente Franco de Oliveira • Email: [email protected] Missão Publicar o resultado de pesquisas originais difundindo o conhecimento técnico científico nas áreas das Ciências da Saúde, Reabilitação e Terapia Manual contribuindo de forma significante para a expansão do conhecimento, formação acadêmica e atuação profissional nas áreas afins no sentido da melhoria da qualidade de vida da população. A revista Terapia Manual está indexada em: CINAHL - Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, SportDiscus™ - SIRC Sport Research Institute, LILACS - Latin American and Caribbean Health Science, LATINDEX - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal e é associada da ABEC - Associação Brasileira de Editores Científicos. Andreoli Capa e Diagramação Mateus Marins Cardoso • Produção Gráfica Equipe E&A • Impressão e acabamento Expressão e Arte EDITORA ANDREOLI Rua Padre Chico, 705 - Pompéia - CEP 05008-010 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 3679-7744 www.revistaterapiamanual.com.br • email - [email protected] ASSINATURA ANUAL 6 edições: R$ 240,00 Solicita-se permuta/Exchange requested/Se pide cambio/on prie l’exchange terapia manual 40.indd 476 25/5/2011 16:37:57 Editorial Caro leitor, estamos chegando ao final de mais um ano de trabalho, de conquistas, de perdas, de crescimento. E assim a revista Terapia Manual segue o seu caminho finalizando o seu oitavo ano de existência, exercendo o seu papel de veículo disseminador da ciência produzida e praticada na área em nosso país e no mundo. Fechamos este ano com um balanço extremamente positivo com a publicação de artigos das diversas regiões de nosso país e alguns internacionais, atingindo 77 artigos originais, 25 relatos de casos, 24 revisões de literatura e uma comunicação breve. A periodicidade é um indicador do fluxo da produção científica, que depende da área específica coberta pelo periódico. É também um indicador relacionado com a oportunidade e velocidade da comunicação. Sendo assim, de acordo com os Critérios Internacionais SciELO, segundo grandes áreas temáticas, a revista Terapia Manual, na área “Biológicas” superou a periodicidade mínima e desejada, bem como o número mínimo e desejado de artigos por ano (bimestral, 72 artigos/ano). Todo este crescimento e maturidade são devidos principalmente aos pesquisadores/autores que têm acreditado na seriedade da revista depositando suas contribuições científicas. Gostaríamos de coração, agradecer aos nossos revisores que fazem parte do processo “Peer Review” que muito têm auxiliado na evolução da revista. Enfim, a todos, leitores, autores, revisores, conselho editorial e científico e equipe técnica/administrativa o nosso muito obrigado e votos de um excelente novo ano. Luis Vicente Franco de Oliveira Editor Chefe Dear reader, we are nearing the end of another year of work, achievements, losses, growth. And so the journal Manual Therapy continues its path finishing his eighth year of existence, exercising its role as a vehicle for the dissemination of research produced in the area and practiced in our country and the world. We close this year with a positive record with the publication of articles in various regions of our country and some international, reaching 77 original articles, 25 case reports, 24 literature reviews and one short communication. Frequency is an indicator of scientific production flow, which depends on the specific area covered by the journal. It is also an indicator related to the timing and speed of communication. Thus, according to the International Criteria SciELO, the journal Manual Therapy, in "Biological Field" and exceeded the minimum frequency desired, and the minimum and desired issues per year (bimonthly, 72 articles / years). All this growth and maturity are due mainly to researchers / authors who have believed in the seriousness of this journal and chosen it to its scientific contributions. We would like to meaningful thank the reviewers who make part of the "Peer Review Process" that has helped to much in the evolution of the Terapia Manual journal. Finally, to all readers, authors, reviewers, scientific and editorial board and technical/management staff our thanks and best wishes for a great new year. Luis Vicente Franco de Oliveira Editor-in-Chief terapia manual 40.indd 477 25/5/2011 16:38:00 478 Artigo Original The strategies to control complex movements using proprioceptive information can be generalized to different spatial orientations. Estratégias para controlar movimentos complexos usando informação proprioceptiva podem ser generalizadas para diferentes orientações espaciais. Nádia Fernanda Marconi(1), Valdeci Carlos Dionísio(2), Irlei dos Santos(3), Gil Lúcio Almeida(1). Resumo Introdução: Indivíduos neurologicamente normais são capazes de executar com sucesso movimentos bi-direcionais da extremidade superior, realizados no plano horizontal, em diferentes distâncias angulares mesmo quando a tarefa é planejada de forma a eliminar as informações visuais do braço e exigir o uso da informação proprioceptiva proveniente da articulação para realizar a tarefa. Objetivo: Expandir os achados de um artigo prévio para investigar o efeito da orientação espacial e da distância do alvo nas estratégias de modulação da atividade EMG Eletromiográfica e de torque muscular durante a execução de movimentos do braço com reversão no plano horizontal. Métodos: A cinemática do ombro, cotovelo e dedo indicador foi reconstruída usando um sistema óptico de análise tridimensional do movimento. Os torques musculares do ombro e cotovelo foram calculados utilizando a dinâmica inversa e a atividade EMG dos principais músculos foi registrada com eletrodos de superfície. Resultados: A velocidade linear do dedo indicador, os impulsos do torque muscular do ombro e cotovelo e a quantidade de ativação muscular aumentaram com a distância do alvo. Além disso, as variáveis EMG e cinéticas se mostraram bem acopladas, independente da orientação espacial. Conclusão: O acoplamento entre atividade EMG e impulsos do torque muscular mesmo quando a tarefa é realizada sem acesso direto à informação visual do movimento do membro corrobora com a ideia formulada por Bernstein, que existem muitas soluções mecânicas para realizar uma tarefa motora. Palavras-chave: cinemática, cinética, EMG, informação proprioceptiva, movimentos de reversão do braço, orientação espacial. Abstract Introduction: Neurologically normal individuals are able to successfully perform bi-directional movements of the arm, at the horizontal plane, at different angular distances even when the task is designed to eliminate visual information arm and require the use of proprioceptive information from the joint to accomplish the task. Objective: Expanding the findings of a previous paper to investigate the effect of spatial orientation and distance of the target strategies for the modulation of EMG Electromyography activity and muscle torque during the execution of arm movements with reversal in the horizontal plane. Methods: The kinematics of the shoulder, elbow and index finger was reconstructed using an optical three-dimensional motion analysis. The muscle torques of the shoulder and elbow were calculated using in- Artigo recebido em 18 de agosto de 2010 e aceito em 26 de novembro de 2010. 1 Professor of Graduate Program in Rehabilitation Sciences, Motor Control Laboratory, Universidade Nove de Julho, UNINOVE, São Paulo, Sao Paulo, Brazil. 2 Professor of Physical Therapy Course, Physical Education College, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brazil. 3 Student of Graduate Program in Rehabilitation Sciences, Motor Control Laboratory, Universidade Nove de Julho, UNINOVE, São Paulo, Sao Paulo, Brazil. Professor of Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal, FACIMED, Rondônia, Brazil. Corresponding author: Nádia Fernanda Marconi - Avenida Francisco Matarazzo, 612 - Zip Code: 05001-100 - São Paulo, São Paulo - Phone/fax number: 55 11 3665-9123 - e-mail: [email protected] Ter Man. 2010; 8(40):478-482 terapia manual 40.indd 478 25/5/2011 16:38:00 479 Nádia Fernanda Marconi, Valdeci Carlos Dionísio, Irlei dos Santos, Gil Lúcio Almeida. verse dynamics and EMG activity of major muscles was recorded using surface electrodes. Results: The linear velocity of the index finger, the muscle torque impulses of the shoulder and elbow muscle activation and the amount increased with distance from the target. Moreover, the EMG and kinetic variables were well coupled, independent of spatial orientation. Conclusion: The coupling between EMG activity and muscle torque impulses even when the task is accomplished without direct access to visual information of movement of the member supports the idea formulated by Bernstein, there are many mechanical solutions to perform a motor task. Key words: kinematics, kinetics, EMG, proprioceptive information, upper-arm reversal movements, spatial orientation. horizontal-plane arm movements zontal-planar arm movements with Horizontal-plane arm move- with reversal, the central nervous reversal involving elbow and shoul- ments with reversal (motion from system (CNS) incorporates it to the der excursions. The movements we an initial position to target with im- mechanical solution of the task. divided into three tasks that var- mediate return to the initial posi- For example, the movement of the ied with the spatial orientations tion) performed in different tar- elbow was generated in some sit- (180°, 90° and, 0°). Figure 1 il- get distances are characterized by uation by the interaction torque at lustrates the initial position of the a complex triphasic and sequential this joint, produced by the shoul- subject and the spatial orientations EMG der movement, without the need of in which the tasks were performed. muscle activity(4). On the initial position, the shoul- INTRODUCTION Electromyographyc activity bursts that change the agonist or antagonist functions, during move- This EMG and kinetics strate- der joint was at 30º of adduction ment execution, and are well cou- gies are very efficient and reveals on the horizontal plane (zero con- pled with the joint muscle and in- great degree of sophistication of sidered on the trunk line) and the teraction torques(1-3). the CNS central nervous system to index fingertip was aligned with the As one ballistic unidirectional control movements. These strate- body medial line. In this position, single-joint motion(6,7), the move- gies were observed even when the the elbow joint set was at 90°of ment starts by an agonist EMG burst visual information about the limb flexion (internal angle). The move- of activity that creates one strong moving was absent(5). However, it ments were performed using the muscle joint torque, which acceler- has not been shown if this set of same protocol published in some- ates the limb to the target(1-3). How- rules described above can be gen- place else(5). ever, contrary to the pointing move- eralized by other spatial orienta- During the movements to the ments, the antagonist EMG burst tions. Here, we have shown that targets in the 0° spatial orienta- that follows has a double function. indeed the same strategies could tion, the shoulder and elbow joints It first decelerates the limb at the explain the execution of horizon- performed, respectively, horizon- target, but then it is prolonged act- tal-plane arm movements with re- tal abduction and extension. Dur- ing as agonist, reversing movement versal performed in different posi- direction and accelerating the limb tions of workspace. back to the initial position. The double function is performed with a METHODS continuous second impulse of the joint muscle torque(1-5). Subjects Eight Finally, the limb is decelerat- neurologically normal ed back at the initial position, by human subjects (four male and a third EMG burst of activity (an- four female) took part in this ex- tagonist). However, this antagonist periment after giving a formal in- burst occurred in the muscle that, formed consent approved by the at the beginning of the movement “Universidade Estadual de Campi- acted as agonist. This antagonist nas”, burst generated the joint muscle right-handed and between 15-30 torque creating the third impulse, years of age (average age 24.25, which accelerates back the limb to SD 2.49). Brazil. All subjects were the initial position(1-5). Instead of opposing to the interaction torque generated during Tasks The subjects performed hori- Figure 1 - Illustration of the pathway of fingertip in the X and Y axe for all spatial orientations and all target distances. The solid line represents the movements performed at the 108°, the semi-broken line at the 126° and broken line at the 144°. The closed circles represent the required elbow angular excursion. Ter Man. 2010; 8(40):478-482 terapia manual 40.indd 479 25/5/2011 16:38:00 480 The strategies to control complex movements using proprioceptive information can be generalized to different spatial orientations. ing the movements from the tar- also are able to perform arm move- cle activity with target distance in get, the shoulder and elbow joints ments with reversal using proprio- all spatial orientations also was ob- performed, respectively, horizontal ceptive information in different spa- served to antagonist muscles (third adduction and flexion. During the tial locations (180°, 90° and, 0°). figures in both sides) for shoul- movements to the targets in the The performance of these der (F(2,7)>7.3 p<0.05) and elbow (F(2,7)>4.2 p<0.05). 180° and 90° spatial orientations, movements was matched by some the shoulder and elbow joints per- invariance across the spatial loca- The joint torques for both horizon- tions. First of all, the fingertip path- shoulder and elbow joints were tal adduction and extension. Dur- way was characterized by a certain characterized by three impulses ing the movements from the tar- curvature degree at all spatial ori- and each impulse increased with get, the shoulder and elbow joints entations (figure 1). Second, the target distance at all spatial ori- performed, respectively, horizontal fingertip linear speed was charac- entations, respectively, (F(2,7)>2.8, abduction and flexion. terized by a double bell-shape with p<0.05) and (F(2,7)>3.1, p<0.05). two maximum peaks. The first and The only exception was the shoul- Recording and processing of the second peak speed of the fin- der muscle impulse for 90° spatial kinematics, kinetics and, EMG gertip increased with target dis- orientation that did not increased data tance (F(2,7)= 183.3, p= 0.00) for with distance (F(2,7)=1.2, p>0.05). formed, respectively, We used the same proto- all three spatial orientation (F(2,7)= col published before(5) to record- 64.8 p= .0001). The first peak The subject performed the task ing and processing the kinemat- was faster than the second one using ics, kinetics and, EMG data. Also, (F(2,7)=13.9, p= 0.00). The speed joint torque and muscle activity the data quantification obeyed the of first and the second peak was We observed one coupling be- same rules. greater for 0°, compared with 90° tween the three impulses of the and 180° spatial orientations. joint torques and EMG burst ac- Data analysis one coupling between tivities. The first burst of posterior We ran a one way ANOVA to The effect of target distances deltoideus and triceps (in 0° spa- the kinematic, kinetic and EMG de- and spatial orientations on EMG tial orientation) and anterior del- pendent variables for the elbow activities and muscle torque toideus and triceps (in 180° and and shoulder joints to test the ef- impulses 90° spatial orientations) generat- fect of the target distance on the The figure 2 depicts the ef- ed the first impulse of the shoul- variables cited above. Also, we ran fect of target distances and spatial der and elbow joint torque acceler- a three way ANOVA to test the ef- orientations on EMG activities and ating the joints to the target. Simi- fect of target distance and peaks of muscle torque impulses of elbow larly, the first EMG burst of the an- linear speed of fingertip (first ver- (panel on right) and shoulder joints terior deltoideus and biceps (in 0° sus the second). Part of data re- (panel on left). The shoulder and spatial orientation) and posteri- lated to 0° spatial orientation pub- the elbow agonist EMG activity ini- or deltoideus and biceps (in 180° lished in someplace else (Marconi tially rise at similar slope for dif- and 90° spatial orientations) gen- et al, 2010) is re-published here to ferent target distance (108°, 126°, erated, respectively, the second allow comparative analysis. and 144°) during the first 30 mil- impulse of the shoulder and elbow liseconds (figures on the top), re- joint torque in the direction oppo- spectively, (F(2,7)>1.8 p<0.05) and site to the first one. This force was (F(2,7)>0.58 p<0.05). The only ex- generated to decelerate the limb The subjects were able to per- ception was for the elbow and at the target, reversing the move- form movements with reversal shoulder muscles in 180° spatial ment direction, and accelerating using proprioceptive informa- orientation (F(2,7)>3.2 p>0.05). the limb back into the initial posi- RESULTS The that tion. Also, the second EMG burst of amount of EMG activity observed posterior deltoideus and triceps (in else , the subjects were able to during the time of first and the 0° spatial orientation) and anterior perform the required movements second agonist burst (second and deltoideus and triceps (in 180° and using the proprioceptive informa- forth figures in both sides) in- 90° spatial orientations) generated tion. However, in the last paper, creased with target distance in all the third impulse, which decelerat- the analysis was made just to mo- spatial orientations for both shoul- ed and stopped the limb at the ini- tion executed in the 0° spatial ori- der and elbow joints, respectively, tial position. The coupling can be entation. Here, we expand these (F(2,7)>6.2 p<0.05) and (F(2,7)>3.7 observed by the modulation of the findings to show that the subjects p<0.05). This scaling of EMG mus- EMG integrals and muscle impuls- tion How described in someplace (5) ANOVA showed Ter Man. 2010; 8(40):478-482 terapia manual 40.indd 480 25/5/2011 16:38:00 481 Nádia Fernanda Marconi, Valdeci Carlos Dionísio, Irlei dos Santos, Gil Lúcio Almeida. Figure 2 - The intensity (INTEN) and the amount of the first EMG agonist burst (F. AGO), of the antagonist EMG bursts (ANT), and the second agonist EMG bursts (S. AGO), and the muscle impulses during the three movement phases: the interval of the first (F. impulse), second (S. impulse), and third impulse (T. impulse). These parameters are showed for shoulder and elbow joints, for the three angular distance (108°, 126°, and 144°) for the three spatial orientation (180°, open circle, 90°, open squared, and 0°, open triangle). The values of EMG activities are normalized and the impulses are given in Newton meter per second. es with target distances in all spa- tion type changed according move- here reinforce the idea advanced by tial orientations as showed by the ment phase. This EMG behavior is Bernstein about the degree of free- ANOVA reported above. considered an efficient strategy to dom of motor system(9). In other counterbalance the torque genera- words, the plasticity of CNS allowed tion at the joints and promote the the maintenance of coupling be- execution of fast movements. Also, tween EMG and joint torque even DISCUSSION Horizontal-plane arm movements performed the three EMG activity bursts are the subjects had to rely on proprio- without visual information about with reversal well coupled with the joint muscle ceptive information about the elbow the limb moving(5) were controlled and interaction torques(1-5). joint to perform the task. by the CNS using the same set Here, we expanded these find- At least in this condition, the of rules of EMG activity and joint ings to show that the performer is movements were not planned and torques modulation described to able to accomplish the task success- executed based in extrinsic param- simpler movements(6,8) and arm fully even without visual information eters (i.e. hand path). In this way, movements per- about moving limb, independently the “spatial theory” advanced by formed when the visual feedback is of workspace. Despite the sensori- Morasso(10), which advocates that provided(3). with reversal al restriction, the subjects demon- movements are controlled by using The set of rules is characterized strated one coupling between EMG external parameters could be a by a complex triphasic and sequen- and kinetics variables in all three very simple motor control theory tial EMG activity bursts, which the spatial results which not represent the high com- (5) plexity of CNS. muscular function and the contrac- orientations. The presented in previous paper and Ter Man. 2010; 8(40):478-482 terapia manual 40.indd 481 25/5/2011 16:38:00 482 The strategies to control complex movements using proprioceptive information can be generalized to different spatial orientations. REFERENCES 1. Marconi NF. Controle motor de movimentos de reversão em indivíduos neurologicamente normais e portadores da síndrome de Down: O efeito do feedback intrínseco [dissertação]. Campinas (SP): Universidade Estadual de Campinas; 2000. 2. Marconi NF. Controle motor de movimentos de reversão do braço em indivíduos neurologicamente normais e portadores da síndrome de Down: O efeito do treinamento [tese]. Campinas (SP): Universidade Estadual de Campinas; 2005. 3. Almeida GL, Freitas SMSF, Marconi NF. Coupling between muscle activities and muscle torques during horizontalplanar arm movements with direction reversal. J Electromyogr Kinesiol. 2006; 16:303-11. 4. Marconi NF, Almeida GL. Principles for learning horizontal-planar arm movements with reversal. J Electromyogr Kinesiol. 2008; 18:771-9. 5. Marconi NF, Dionisio, VC, Almeida GL. Strategies to control complex movements using proprioceptive information. Ter. Man. 2010; 8 (38): 262-268. 6. Gottlieb GL, Corcos DM, Agarwal GC. Organizing principles for single joint movements: I - A Speed-Insensitive strategy. J Neurophysiol. 1989a; 62(2):342-57. 7. Gottlieb GL. Muscle activation patterns during two types of voluntary single joint movement. J Neurophysiol. 1998; 80:1860-67. 8. Almeida GL, Hong D, Corcos DM, Gottlieb GL. Organizing principles for voluntary movement: Extending singlejoint rules. J Neurophysiol. 1995; 74(4):1374-81. 9. Bernstein NA. The coordination and regulation of movements. Oxford, UK: Pergamon Press. 1967. 10. Abend W, Bizzi E, Morasso P. Human arm trajectory formation. Brain. 1982; 105:331-48. Ter Man. 2010; 8(40):478-482 terapia manual 40.indd 482 25/5/2011 16:38:00 483 Artigo Original Biomecânica aplicada ao voleibol: análise do complexo do ombro e implicações para avaliação e desempenho. Applied biomechanics of volleyball: analysis of the shoulder complex and implications to assessment and performance. Lucas Rodrigues Nascimento(1), Natália Franco Neto Bittencourt(1), Renan Alves Resende(1), Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela(2), Sérgio Teixeira da Fonseca(3). Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação, Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Resumo Introdução: Atletas de voleibol usualmente apresentam lesões no complexo do ombro relacionadas a desequilíbrio entre a capacidade do atleta e as demandas impostas pela atividade realizada. Uma análise biomecânica que considere o sistema músculo-esquelético em sua integridade e os princípios relacionados à tensegridade e transmissão miofascial pode auxiliar o raciocínio clínico e intervenções, direcionando a avaliação do atleta e a tomada de decisão clínica. Objetivos: Discorrer sobre a caracterização dos gestos esportivos de saque e ataque no voleibol, descrever a biomecânica do ombro relacionada ao esporte e indicar implicações biomecânicas relacionadas à prevenção, reabilitação e desempenho. Discussão: Perspectivas contemporâneas ressaltam as características do sistema músculo-esquelético na geração e transmissão de forças por meio de um mecanismo de compressão local e distribuição contínua de tensão. A aplicação desses princípios no corpo humano é descrita como biotensegridade, relaciona-se a princípios de transmissão miofascial e sugere que as altas demandas do gesto esportivo podem ser solucionadas utilizando as propriedades passivas do sistema músculo-esquelético. Dessa forma, os movimentos de saque e ataque do voleibol podem ser caracterizados e descritos a partir de uma perspectiva energética e a tensão passiva das estruturas miofasciais pode ser utilizada para absorção, armazenamento, transferência e dissipação de energia, com baixo custo metabólico. Conclusão: A compreensão da relação existente entre a demanda da tarefa e a capacidade do atleta é o principal objetivo de um profissional da área de reabilitação. Profissionais devem evitar inferências diretas sobre ação muscular a partir do padrão de ativação muscular e considerar uma atuação sinérgica contexto-dependente para geração de movimentos em uma avaliação global do gesto esportivo incluindo tronco e extremidades inferiores. Palavras-chave: Tensegridade, biomecânica, sinergia, escápula, fisioterapia. Abstract Introduction: Volleyball players usually demonstrate injuries in the shoulder complex related to imbalances between their capability and the demands imposed by a given activity. Biomechanical analyses that consider the musculoskele- Artigo recebido em 16 de agosto de 2010 e aceito em 9 de dezembro de 2010. 1 Mestrando do Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação – Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 2 Professora Titular do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 3 Professor Associado do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Endereço para Correspondência: Prof. Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela e Prof. Sérgio Teixeira da Fonseca. Avenida Antônio Carlos, 6627 – Campus Pampulha. CEP 31270901. Belo Horizonte, MG - Brasil. E-mail: [email protected] / [email protected]. Ter Man. 2010; 8(40):483-490 terapia manual 40.indd 483 25/5/2011 16:38:00 484 Biomecânica do ombro no voleibol. tal system as an integral structure and the principles related to biotensegrity and myofascial force transmissions could help guide assessments and clinical decision making. Objectives: To characterize the serving and spiking movements in volleyball, to describe the shoulder’s biomechanics related to volleyball, and to outline the biomechanical implications for prevention, rehabilitation and performance. Discussion: Current approaches emphasize the characteristics of the musculoskeletal system in the generation and transmission of forces by means of mechanisms of local compression and continuous tension distributions. The applicability of these principles in the human body is related to the biotensegrity and myofascial force transmissions, suggesting that higher sport demands are met by efficiently using passive properties of the musculoskeletal system. Thus, the serving and the spike movements in volleyball can be characterized and described from an energetic perspective. The passive tension of the myofascial structures could be used for energy absorption, storage, transfer, and dissipation with minimal metabolic costs. Conclusion: Understanding of the relationships between the task demands and the athletes’ capability is the primary goal of the rehabilitation professionals. The rehabilitation team should avoid direct inferences regarding muscular actions and consider context-dependent synergic actions to produce global movements which include the trunk and the lower extremities. Keywords: Tensegrity, biomechanics, synergy, scapula, physiotherapy. longa do bíceps braquial e o impac- segridade e transmissão miofascial to frequentemente pode melhor guiar o raciocínio clí- maior grau de mobilidade dentre as associados a alterações em estru- nico e intervenções, direcionando articulações do corpo humano(1,2). tura e função do corpo tais como a avaliação do atleta e a tomada Em condições normais, as articu- pouca mobilidade capsular, dese- de decisão clínica em relação aos lações agem em padrão consisten- quilíbrio e fraqueza muscular e as- exercícios e demais recursos tera- te e coordenado para permitir ao simetria do movimento escapular pêuticos. membro superior uma execução que limitam a capacidade do atleta Este estudo foi organizado em de movimentos adequada durante em lidar com a demanda requerida três partes principais para discor- atividades funcionais. Essa execu- pelo esporte(7,8). rer sobre a caracterização dos ges- INTRODUÇÃO O complexo do ombro possui o subacromial, ção é dependente da coordenação Tradicionalmente, o raciocí- tos esportivos de saque e ataque muscular, responsável simultanea- nio clínico para intervenções cura- no voleibol, descrever a biomecâ- mente por permitir o desempenho tivas e preventivas na abordagem nica do ombro relacionada ao es- adequado do movimento e promo- do complexo do ombro leva em porte e indicar implicações biome- ver estabilização dinâmica de todas consideração leis físicas (Leis de cânicas relacionadas à prevenção, as articulações envolvidas no com- Newton, Leis de Hooke) não intei- reabilitação e desempenho. plexo do ombro(3,4). ramente aplicáveis às peculiarida- Tendo em vista a grande mo- des do sistema músculo-esqueléti- Análise Eletromiográfica e Ci- bilidade do complexo do ombro em co visando predizer e explicar seu nemática do Saque e Ataque atividades funcionais, vários espor- comportamento(9). Os modelos ma- Os movimentos de membros tes, como tênis, voleibol e beise- temáticos baseados nestes cons- superiores necessários para ação bol possuem gestos inerentes que trutos caracterizam o ombro como de saque ou ataque no voleibol requerem movimentos repetitivos uma estrutura rígida de colunas e apresentam similaridades em re- da mão acima da cabeça e em alta alavancas em série que transmitem lação aos movimentos utilizados (5,6) . Essa demanda es- forças por contato ósseo para o es- no tênis ou beisebol. Usualmente, portiva específica faz com que todo queleto axial, dependendo assim, esses movimentos predispõem os o corpo seja submetido a forças in- exclusivamente da função de cla- atletas a lesões em função da natu- ternas e externas que devem ser vícula, escápula e costelas(9,10). En- reza repetitiva da tarefa, movimen- dissipadas ou transferidas apro- tretanto, se o ombro for modela- tos em amplitudes de movimento priadamente para melhorar o de- do como uma estrutura de tense- extremas e em alta velocidade(10). sempenho e proteger os diferentes gridade, as forças geradas serão Embora sejam frequentes lesões tecidos biológicos da lesão(7). De transmitidas por meio dos mús- decorrentes da atividade esporti- acordo com a literatura, a articu- culos e tecido conectivo, ao invés va, não foram encontrados estudos lação do ombro é a segunda mais de um circuito fixo e conecta- que avaliassem as forças e torques acometida por lesões por sobrecar- do por alavancas ósseas(9). Dessa gerados durante os movimentos de ga, variando de 8 a 20% em atle- forma, uma análise complemen- saque ou ataque no voleibol(10,11). tas de voleibol(8). Dentre essas le- tar que considere o sistema mús- Portanto, a análise e interpretação sões incluem-se as tendinopatias culo-esquelético em sua integrida- do gesto esportivo está limitada à do manguito rotador e da porção de e princípios relacionados à ten- caracterização cinemática do movi- velocidade Ter Man. 2010; 8(40):483-490 terapia manual 40.indd 484 25/5/2011 16:38:00 485 Lucas R. Nascimento, Natália F. N. Bittencourt, Renan A. Resende, Luci F. T. Salmela, Sérgio T. Fonseca. À medida que um jogador mento e à análise eletromiográfica e deltóide anterior, principalmen- da atividade muscular. te no saque, considerada como im- executa portante para controlar a descida descritos durante o gesto esporti- do membro superior. vo, todos os segmentos corporais São descritas cinco fases no saque realizado durante o voleibol: os movimentos acima windup (inicia com abdução e ex- Os dados apresentados devem são submetidos a forças internas tensão do ombro e finaliza com o ser analisados com cautela uma e externas que devem ser dissipa- início da rotação externa), cocking vez que representam um fenôme- das ou transferidas para melhorar (ocorre até o máximo da rotação no natural que pode ser analisado o desempenho na tarefa ou prote- externa de ombro), aceleração (ca- sob diferentes perspectivas. Usu- ger o tecido biológico de possíveis racterizada pela rotação interna do almente, são feitas inferências di- lesões(12,16). Os dados apresenta- ombro até o contato da mão com retas sobre atividade muscular e dos sugerem, portanto, que grupos a bola), desaceleração (posiciona- contração muscular para produção musculares atuam sinergicamente mento do membro superior perpen- de determinado movimento. Os para manter adequadas rigidez e dicular ao tronco) e follow-through dados apresentados por Rokito et estabilidade articular para permitir (finalização completa do movimen- al.(10) apresentam alta variabilidade transmissão de energia entre os di- to do membro superior). Em rela- entre os atletas avaliados e ativa- versos segmentos corporais. ção ao ataque, uma diferença cine- ção muscular simultânea de diver- mática é descrita em relação à fase sos músculos da região escapular, Análise Biomecânica do Com- de windup, que se inicia com a ab- sugerindo uma importante ação si- plexo do Ombro dução e extensão do ombro, mas nérgica dos músculos da cintura Usualmente, a estrutura bio- é finalizado com os membros su- escapular durante movimentos que lógica e o movimento humano são periores elevados e paralelos ao envolvem elevação do membro su- explicados considerando apenas a tronco(10,11). perior. Dessa forma, uma análise aplicação de leis mecânicas clás- Rokito et al.(10) conduziram direta sobre ativação de um mús- sicas em um contexto em que a um estudo para avaliar o padrão culo gerando um movimento espe- transmissão de forças é realizada de ativação eletromiográfica dos cífico pode ser equivocada se não por compressão direta em conta- músculos gleno- levadas em consideração as diver- to osso-osso(9,17). Nesse contexto, umeral durante o saque e o ata- sas interações musculares em di- o complexo do ombro, apesar de que no voleibol. A atividade mus- ferentes posicionamentos do mem- considerado instável em seu aspec- cular apresentou-se relativamente bro superior. to anatômico de união óssea, é um da articulação baixa nos movimentos de windup e Classicamente, esse mecanis- sistema eficiente, capaz de promo- follow-through, considerando que mo de contrações musculares si- ver equilíbrio dinâmico entre esta- há pouca movimentação observa- multâneas tem sido descrito como bilidade e mobilidade local de modo da nessas fases. Na fase do co- patológico e representativo de ine- que a ação muscular seja respon- cking, observou-se manutenção de ficiência de função muscular ou alto sável pelo posicionamento entre as alta atividade eletromiográfica dos gasto energético, entretanto esse superfícies articulares e transmis- músculos deltóide e supra-espinhal mecanismo de co-ativação pare- são adequada de forças e um aumento considerável em re- ce ser necessário para obter esta- Os movimentos da escápula lação aos músculos infra-espinhal bilidade articular e coordenação do nas ações de saque e ataque são e redondo menor, justificada, pelos movimento(12,13). Nesse contexto, a descritos como necessários para autores, como contração necessá- alta variabilidade nos dados apre- manutenção constante de um ali- ria para manter o braço abduzido sentados reflete a diversidade dos nhamento biomecânico na articu- e realizar o movimento de rotação movimentos inerente às caracte- lação gleno-umeral(18). Uma análi- externa. Na fase de aceleração, é rísticas do indivíduo ou da tarefa. se biomecânica clássica descreve descrito um aumento considerá- Além disso, a ação muscular simul- que durante a movimentação ade- vel da atividade dos músculos su- tânea pode indicar que esses mús- quada do úmero, a cabeça umeral bescapular, peitoral maior e gran- culos atuam em sinergias, estando apresenta-se centralizada em rela- de dorsal associado ao movimen- restritos a agir como uma unidade ção à cavidade glenóide de modo to de rotação interna e adução do funcional. Dessa forma, a ativação que o somatório de forças locais ombro, necessários, principalmen- muscular pode não ser necessária aja em uma linha perpendicular à te, no ataque. Na fase de desace- apenas para geração de movimen- superfície côncava da cavidade de- leração foi observada redução da to, mas possivelmente para man- nominada linha central da glenói- atividade desses últimos músculos ter a estabilidade local e ou trans- de – alinhada 10º posteriormen- descritos, porém uma manuten- mitir forças provenientes de outros te ao plano escapular(19). Quando ção da atividade do supra-espinhal segmentos (14,15) . (2,4) . é necessária estabilidade nos mo- Ter Man. 2010; 8(40):483-490 terapia manual 40.indd 485 25/5/2011 16:38:00 486 Biomecânica do ombro no voleibol. vimentos dos membros superio- de realizar a transmissão de for- caracterização de um sistema que res, músculos escapulares alinham ças entre a escápula e o esquele- se comporta como uma estrutura a cavidade glenóide em relação às to axial. Ou seja, a escápula não é funcional, na qual uma carga apli- forças de reação articulares locais mantida fixa por contato ósseo na cada seja uniformemente distribu- mantendo o equilíbrio escápulo- parede torácica o que impossibilita ída entre seus componentes deter- umeral(19,20). Ou seja, os movimen- sua atuação como alavanca rígida minando um efeito geral(9,15,22). tos escapulares alinham a cavidade de transmissão de forças para o es- glenóide com a cabeça do úmero, queleto axial(9,17). Além disso, exis- Ombro: estrutura de tensegri- maximizando a congruência articu- tem apenas algumas angulações dade lar e promovendo uma base está- de elevação do braço nas quais as Durante os processos de evo- vel para o movimento umeral(21). O forças compressivas da cabeça do lução na natureza, as soluções que alinhamento escápulo-umeral ade- úmero são direcionadas perpendi- utilizavam menor gasto energé- quado associado às forças de com- cularmente à fossa glenóide. Fre- tico com maior eficiência funcio- pressão local promovidas princi- quentemente essas forças são di- nal foram, possivelmente, as que palmente por ligamentos e múscu- recionadas de forma quase parale- se estabeleceram em um proces- los do manguito rotador mantém la à superfície articular, o que difi- so de seleção natural(23,24). O de- a relação ideal entre cabeça ume- culta o mecanismo de estabilização senvolvimento das estruturas bio- ral e cavidade glenóide(19-21). Sendo por contato osso-osso(17). lógicas em células, tecidos ou ór- assim, músculos atuariam exclusi- De modo geral, bioengenhei- gãos obedecem a leis específicas vamente para posicionar adequa- ros modelam os organismos vivos de triangulação e do ajuste máxi- damente as superfícies articulares como construções sólidas e está- mo. O triângulo é descrito como e permitir a transmissão de for- veis capazes de resistir a perturba- a forma mais simples, estável e ças por meio de contato osso-os- ções externas, sendo o comporta- que requer menor gasto energéti- so considerando a transmissão de mento dos tecidos biológicos inter- co para manter sua estrutura. Usu- forças apenas na articulação gle- pretado de maneira linear e rígida. almente, uma estrutura triangular no-umeral, não levando em consi- Entretanto, construções não são fixa não irá se deformar contanto deração o esqueleto axial. submetidas às mesmas situações que seus ápices se mantenham co- De acordo com a visão clássi- com as quais as estruturas bioló- nectados e suas hastes apresen- ca, os ossos agem como uma série gicas têm que lidar e apresentam tem comprimento equivalente(9,17). de colunas ou alavancas para per- características estruturais conside- Dessa forma, uma estrutura cres- mitir a transmissão de forças(9). ravelmente diferentes dos tecidos cente, incluindo seres humanos, Considerando a presença do es- biológicos(9,17). Sendo assim, é pos- que queira manter estabilidade e queleto axial e o fato de que for- sível presumir que existam meca- baixo custo energético, possivel- ças provenientes de membros in- nismos diferentes de transmissão mente, irá emergir seguindo leis feriores e tronco são utilizadas na de forças ainda não considerados de triangulação. realização das ações esportivas de nessa descrição. Perspectivas Substâncias orgânicas e inorcontemporâne- gânicas são constituídas essencial- e o ataque, essas cargas deveriam as ressaltam as características dos mente de átomos sendo que a di- passar diretamente pelas costelas sistemas biológicos, mais precisa- ferença está na organização tridi- que estão em constante movimen- mente das propriedades do siste- mensional dessas substâncias que to ou pela clavícula novamente em ma músculo-esquelético, na gera- determina a emergência de estru- direção às costelas(9,18). Entretanto, ção e transmissão de forças por turas complexas não preditas por costelas e clavícula, em função de meio de um mecanismo de com- suas partes isoladas, determinan- sua forma, posição e conexão, não pressão local e distribuição con- do um mecanismo de auto-orga- se apresentam estruturalmente ca- tínua de tensão(9). Como os teci- nização que é dependente das ca- pazes de agir como alavancas rígi- dos biológicos se comportam de racterísticas disponíveis no sistema das para transferir essas cargas. Ao maneira específica à deformação, e no meio(25). A organização des- observarmos a anatomia das regi- contrária à Lei de Hooke que define sas figuras triangulares organiza- ões torácica e escapular, notamos, um comportamento linear crescen- das em meio tridimensional forma ainda, que embora haja a articula- te dependente da taxa de estres- poliedros regulares completamen- ção gleno-umeral que poderia ser se, é necessário um modelo capaz te triangulados que dependem de capaz de transmitir cargas com- de compreender o comportamento menor gasto energético para sua pressivas dos membros superio- não-linear dos materiais biológicos manutenção res para a escápula ou vice-versa, coerente com processos existentes regulares observa-se a presença não há uma estrutura rígida capaz na natureza(9,17). Possivelmente, a de elementos de compressão en- membros superiores como o saque (9) . Nesses sistemas Ter Man. 2010; 8(40):483-490 terapia manual 40.indd 486 25/5/2011 16:38:00 487 Lucas R. Nascimento, Natália F. N. Bittencourt, Renan A. Resende, Luci F. T. Salmela, Sérgio T. Fonseca. volvidos em uma rede de elemen- forma, os movimentos de saque e mentam a absorção e armazena- tos capazes de distribuir tensão de ataque do voleibol podem ser ca- mento de energia(27). O movimen- modo uniforme similar à estrutura racterizados e descritos a partir to do membro superior que não irá biológica do corpo humano(9,24). de uma perspectiva energética, na realizar o ataque aumenta o mo- Essa forma de estruturação e qual existe um estágio inicial quan- mentum angular da parte superior análise é relacionada aos princípios do energia potencial é armazena- do tronco, garantindo a ancora- de tensegridade, definida como da, um segundo estágio quando a gem inercial para a linha ventral de um sistema arquitetônico no qual energia cinética envolvida na ace- propagação de força e transferên- as estruturas apresentam auto-es- leração anterior do membro supe- cia dos membros inferiores para o tabilidade por equilibrar forças de rior é resultante da conversão da membro superior que irá realizar o tensão e de compressão(9,17). Estru- energia potencial previamente ar- ataque. Essa dinâmica é eminen- turas com características de tense- mazenada e de geração de ener- temente importante nos esportes gridade são estáveis não em fun- gia, e um estágio final quando essa que utilizam os membros superio- ção da força individual de seus energia é absorvida e em grande res como desfecho da ação, uma componentes, mas em função da parte dissipada com a desacelera- vez que os atletas fazem uso da estrutura global que permite dis- ção do membro superior. No mo- energia cinética produzida em seg- tribuição contínua e uniforme de mento de elevação do membro su- mentos distais para melhorar o de- tensão(9). A aplicação desses prin- perior, a estrutura se comporta sempenho no esporte(28). cípios no corpo humano é descri- como uma mola havendo absorção Segundo Kibler(28), 51% da ta como biotensegridade, ou seja, da energia e desaceleração da ro- energia cinética total e 54% da as estruturas biológicas estão or- tação lateral e abdução horizontal força total observada durante o ganizadas de modo que o esque- do ombro com subseqüente gera- saque no tênis são geradas nos leto ósseo age como elemento de ção de energia, conversão de ener- membros compressão estando inserido em gia potencial previamente arma- tronco. Embora não haja estudos um conjunto de tecidos moles al- zenada e aceleração dos segmen- específicos em atividades relacio- tamente organizados e pré-tensio- tos em direção ao contato com a nadas ao voleibol, estima-se uma nados para distribuir as forças que bola. No estágio final, maior parte similaridade nesses dados uma vez agem no sistema(16,17). da energia é dissipada com a de- que as atividades do vôlei exigem A estrutura e funcionamento saceleração do membro superior(7). movimentos específicos de tron- do complexo do ombro podem ser Nesse contexto, a tensão passiva co e membros inferiores. As for- explicados levando em considera- das estruturas miofasciais pode ser ças geradas nessas regiões devem ção os princípios de biotensegri- utilizada para absorção, armazena- ser transferidas de modo eficiente dade. A posição de repouso da es- mento, transferência e dissipação e reguladas constantemente quan- cápula, por exemplo, pode ser ex- de energia, com baixo custo me- do em direção aos membros supe- plicada por forças e torques que tabólico. A função de mola do sis- riores passando pela região esca- provêem do efeito da gravidade tema também é exercida por es- pular, adequadamente posiciona- sobre a massa da escápula e dos truturas do tronco que são alonga- da para a transmissão de energia. membros superiores e da resistên- das durante a fase de absorção de Quando modelamos o ombro como cia elástica oferecida pelos mús- energia. Rotação do tronco em di- uma estrutura que segue as leis culos escapulares (principalmen- reção ao membro superior que não de tensegridade, compreendemos te os toracoescapulares), pelos li- irá realizar o ataque e extensão do que as escápulas flutuam na ten- gamentos e pela cápsula articular tronco alongam músculos ventrais são da rede de tecido muscular e do ombro(25). Ao considerarmos a que são frequentemente conecta- conectivo(17). Nesse modelo, trian- escápula funcionando como parte dos via fáscia. Esses músculos fun- gulado, o ombro torna-se ineren- de uma estrutura de tensegrida- cionam como uma linha ventral de temente estável e modifica sua po- de, forças provenientes de tronco propagação de força constituída sição apenas quando um dos ele- e membros inferiores poderiam ser pelo reto abdominal, oblíquo ex- mentos do triângulo é encurtado transmitidas do eixo axial para os terno do lado do membro superior ou alongado devido a modificações membros superiores por meio de que irá realizar o ataque, oblíquo de tensão decorrentes de forças lo- tecidos moles pré-tensionados(9,17). interno do lado oposto que são fun- cais. A tensão contínua presente As altas demandas do gesto cionalmente contínuos com peito- nos tecidos moles estabiliza a ar- esportivo podem ser soluciona- ral maior e serrátil anterior do lado ticulação em cada momento dos das eficientemente utilizando as do membro superior que irá reali- movimentos(9,17). (26) inferiores, quadris e propriedades passivas do sistema zar o ataque . Contrações excên- Grupos musculares que pos- músculo-esquelético(12,16). tricas de todos esses músculos au- suem inserção ou origem na es- Dessa Ter Man. 2010; 8(40):483-490 terapia manual 40.indd 487 25/5/2011 16:38:00 488 Biomecânica do ombro no voleibol. cápula tais como serrátil ante- e efeito e, dessa forma, alterações rior, trapézio e rombóides pos- dos movimentos escapulares típicos Fonseca(22,32) a regulação e coor- suem influência direta no mecanis- influenciam as funções dos múscu- denação dos movimentos por dis- mo de estabilidade do complexo do los do complexo do ombro, assim tribuição de forças mecânicas é ombro sem necessariamente esta- como possíveis desequilíbrios mus- mais rápida do que a regulação por rem ativos. Os músculos – mesmo culares afetam a movimentação da transdução eletroquímica, além de sem apresentarem força ativa – e escápula, estabelecendo uma rela- corresponder a uma ação global do as estruturas conectivas (como li- ção cíclica de associação. Portanto, sistema e ocorrer de modo contex- gamentos e cápsula) oferecem re- ao analisar o complexo do ombro o to-dependente. De modo geral, es- sistência elástica à deformação profissional deve ser capaz de iden- portes requerem o envolvimento de tênsil(14,28). Essa resistência elásti- tificar mecanismos associados à di- diversas partes do corpo na execu- ca tem direção oposta à direção da minuição da capacidade de trans- ção de seus principais movimen- força de deformação(29,30). Portan- missão de tensão do sistema, como tos. Entretanto, usualmente profis- to, quando a escápula é desloca- fraquezas e desequilíbrios muscula- sionais limitam a análise biomecâ- da em um sentido que tensiona al- res, diminuição da rigidez muscular nica a segmentos corporais especí- guma dessas estruturas, uma força passiva, alterações de comprimen- ficos e negligenciam as interações elástica provinda da estrutura de- to muscular e movimentos esca- entre os diversos segmentos. É im- formada tenderá a trazer a escápu- pulares indesejáveis e intervir com portante compreender que as cau- la de volta à posição inicial, o que o objetivo de fornecer ao sistema sas e conseqüências de uma alte- ocorrerá por meio de dissipação da musculoesquelético os pré-requisi- ração ou lesão local requerem uma energia armazenada em tecidos tos necessários para a manutenção avaliação global do atleta e das in- conectivos no momento da defor- do mecanismo de transmissão con- terações biomecânicas do sistema mação, sendo que quanto maior a tínua de tensão. músculo-esquelético. turas, maior a força elástica produ- Implicações Clínicas e Conside- de da capacidade do sistema mus- zida pela mesma(29,30). rações Finais culoesquelético em lidar com o es- deformação de uma dessas estru- De acordo com Turvey e A prevenção de lesões depen- Nos movimentos de saque e A cintura escapular possui tresse causado pelo fluxo de for- ataque do voleibol, associados aos papel fundamental durante todos ças (energia) através da cadeia ci- torques e forças passivas gerados os movimentos de elevação do nética. Dessa forma, a compreen- por músculos e estruturas conecti- braço. Classicamente, descrevia-se são da relação existente entre a vas, estão as forças ativas provin- a atuação dos músculos escapula- demanda da tarefa e a capacidade das das pontes cruzadas formadas res apenas para posicionar adequa- do atleta é o principal objetivo de entre a actina e a miosina duran- damente as superfícies articulares um profissional da área de reabili- te a contração muscular. Desequi- e permitir a transmissão de forças tação. Quando o estresse aplicado líbrios entre o somatório de forças por meio de contato osso-osso, ou em determinado tecido biológico que influenciam a movimentação seja, os movimentos escapulares excede o limite – ou seja, a capa- da escápula podem estar relaciona- alinham a cavidade glenóide com a cidade do atleta – são observadas das às alterações de movimento cli- cabeça do úmero, maximizando a as lesões. Dessa forma, o objetivo nicamente observadas, como o au- congruência articular e promoven- de qualquer programa de preven- mento de protração escapular ou do uma base estável para o mo- ção deve visar ao equilíbrio entre a de sua inclinação anterior e dimi- vimento umeral. Dentro da pers- capacidade do atleta e as deman- nuição da translação inferior (supe- pectiva da tensegridade, os movi- das impostas pelo esporte(7). Fato- (31) . Essas alterações de mentos escapulares são importan- res como características estrutu- movimento escapular podem preju- tes para manutenção de uma rela- rais do atleta, situações específi- dicar a transmissão de energia de ção comprimento-tensão adequa- cas de jogo ou uso de equipamen- membros inferiores e tronco para o da dos músculos do complexo do tos inadequados podem produzir ombro, já que parte da energia que ombro. Dessa forma, a movimen- demandas excessivas (fluxo ener- seria transmitida para gerar a po- tação escapular adequada está as- gético aumentado) sobre os seg- tência necessária para o movimento sociada à manutenção do mecanis- mentos corporais. Por outro lado, de ataque seria dissipada por movi- mo de transmissão de tensão con- níveis adequados de força, rigi- mentos escapulares indesejados. tínua por permitir que os múscu- dez e resistência definem a capa- A análise do ombro como um los do complexo do ombro transmi- cidade do sistema musculoesque- sistema complexo indica que a rela- tam energia adequadamente, con- lético do atleta. Ainda nesse con- ção entre movimentos escapulares tribuindo localmente para o funcio- texto, a reabilitação deve envolver e ações musculares não é de causa namento global do sistema. uma avaliação global do mesmo e riorização) Ter Man. 2010; 8(40):483-490 terapia manual 40.indd 488 25/5/2011 16:38:00 489 Lucas R. Nascimento, Natália F. N. Bittencourt, Renan A. Resende, Luci F. T. Salmela, Sérgio T. Fonseca. não somente uma análise no local da atividade. midades inferiores. Assim é possí- de lesão ou de queixa do atle- Ao analisar, portanto, o movi- vel trabalhar no nível de estrutu- ta. Essa avaliação deve ser capaz mento de atletas deve-se evitar in- ra e função corporal ajustando as de identificar estruturas incapazes ferências diretas sobre ação mus- propriedades do sistema para lidar de lidar com a demanda requerida cular a partir do padrão de ativa- com as cargas e tarefas propostas, pelo gesto esportivo para permitir ção muscular, mas considerar uma e no nível de atividade e participa- o tratamento local dessa estrutura. atuação sinérgica contexto-depen- ção inserindo o atleta no contex- Finalmente, os padrões apropria- dente para geração de movimentos to prático e esportivo para que o dos de movimento podem ser trei- em uma avaliação global do gesto mesmo possa descobrir novas pos- nados de acordo com as demandas esportivo incluindo tronco e extre- sibilidades de ação. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Johnson MP, Mcclure PW, Karduna AR. New method to assess scapular upward rotation in subjects with shoulder pathology. J Orthop Sports Phys Ther. 2001;31(2):81-89. 2. Donatelli R. Physical theray for the shoulder. 3 ed. Philadelfia: Churchill Livingstone; 1997. 3. Ebaugh DD, Mcclure PW, Karduna AR. Three-dimensional scapulothoracic motion during active and passive arm elevation. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2005;20(7):700-709. 4. Moraes GF, Faria CD, Teixeira-Salmela LF. Scapular muscle recruitment patterns and isokinetic strength ratios of the shoulder rotator muscles in individuals with and without impingement syndrome. J Shoulder Elbow Surg. 2008;17(Suppl.1):48S-53S. 5. Codine P, Bernard PL, Pocholle M, Benaim C, Brun V. Influence of sports discipline on shoulder rotator cuff balance. Med Sci Sports Exerc. 1997;29(11):1400-1405. 6. Noffal GJ. Isokinetic eccentric-to-concentric strength ratios of the shoulder rotator muscles in throwers and nonthrowers. Am J Sports Med. 2003;31(4):537-541. 7. Fonseca ST, Souza TR, Ocarino JM, Gonçalves GP, Bittencourt NF. Applied Biomechanics of Soccer, In Magee, DJ., Manske, RC., Zachazewski, JE., Quillen, WS. Athletic and Sport Issues in Musculoskeletal Rehabilitation. Saunders. 736 p. 2010. 8. Wang H, Cochrane T. Mobility impairment, muscle imbalance, muscle weakness, scapular asymmetry and shoulder injury in elite volleyball athletes. J Sports Med Phys Fitness. 2001;41(3):403-410. 9. Levin S. Tensegrity: the new biomechanics. In: Hutson M, Ellis R, editors. Textbook of musculoskeletal medicine. Oxford: Oxford University Press; 2005. p.69-80. 10. Rokito AS, Jobe FW, Pink MM, Perry J, Brault J. Electromyographic analysis of shoulder function during the volleyball serve and spike. J Shoulder Elbow Surg. 1998;7(3):256-263. 11. Escamilla RF, Andrews J. Shoulder muscle recruitment patterns and related biomechanics during upper extremity sports. Sports Med. 2009;39(7):560-590. 12. Silva PL, Fonseca ST, Ocarino JM, Gonçalves GP, Macini MC. Contributions of cocontraction and eccentric activity to stiffness regulation. J Mot Behav. 2009;41(3):207-218. 13. Fonseca ST, Silva PLP, Ocarino JM, Ursine PGS. Análise de um método eletromiográfico para quantificação de cocontração muscular. R Bras Ci e Mov. 2001;9(3):23-30. 14. Faria CDCM, Teixeira-Salmela LF, Gomes PF. Applicability of the coactivation method in assessing synergies of the scapular stabilizing muscles. J Shoulder Elbow Surg. 2009;18(5):764-772. 15. Tuller B, Turvey MT, Fitch HL. The Bernstein Perspective: II The concept of muscle linkage or coordinative structure. In: Kelso JAS (Ed.) Human motor behavior: an introduction. Hilssdale: Lawrence Erlbaum Associates. 1982: 253-271. 16. Souza TR, Fonseca ST, Gonçalves GG, Ocarino JM, Mancini MC, . Prestress revealed by passive co-tension at the ankle joint. J Biomech 2009; 42(14):2374-2380. 17. Levin S. Putting the shoulder to the wheel: a new biomechanical model for the shoulder girdle. Biomed Sci Instrum. 1997;33(4):412-417. 18. Kibler WB. The role of the scapula in athletic shoulder function. Am J Sports Med. 1998;26(2):325-337. 19. Phadke V, Camargo PR, Ludewig PM. Scapular and rotator cuff muscle activity during arm elevation: a review of normal function and alterations with shoulder impingement. Rev Bras Fisioter. 2009;13(1):1-9. 20. Lippitt S, Matsen F. Mechanisms of glenohumeral joint stability. Clin Orthop Relat Res. 1993;Jun(291): 20-8. Ter Man. 2010; 8(40):483-490 terapia manual 40.indd 489 25/5/2011 16:38:00 490 Biomecânica do ombro no voleibol. 21. Matsen FA, III, Chebli C, Lippitt S. Principles for the evaluation and management of shoulder instability. J Bone Joint Surg Am. 2006;88(3):648-659. 22. Turvey MT, Fonseca ST. Nature of Motor Control: Perspectives and Issues. Progress in Motor Control: A Multidisciplinary Perspective (Dagmar Stenard). Adv Exp Med Biol. 2009;629:93-123. 23. Denton MJ, Dearden PK, Sowerby SJ. Physical law not natural selection as the major determinant of biological complexity in the subcellular realm: new support for the pre-Darwinism conception of evolution by natural law. Biosystems. 2003;71(3):297-303. 24. Ingber DE. The architecture of life. Sci Am. 1998;278(1):48-57. 25. Kisner C; Colby LA. Exercícios Terapéuticos: Fundamentos e Técnicas. 3ª ed. São Paulo: Editora Manole Ltda., 1998. 746p. 26. Stecco A, Masiero S, Macchi V, Stecco C, Porzionato A, De Caro R. The pectoral fascia: anatomical and histological study. J Body Mov Ther. 2009; 13(3): 255-261. 27. Lindstedt SL, Reich TE, Keim P, Lastayo PC. Do muscles function as adaptable locomotor springs? J Exp Biol. 2002; 205(Pt 15): 2211-2216. 28. Kibler WB. Biomechanical analysis of the shoulder during tennis activities. Clin Sports Med. 1995;14(1):79-85. 29. Riemann BL, Demont RG, Ryu K, Lephart SM. The effects of sex, joint angle, and the gastrocnemius muscle on passive ankle joint complex stiffness. J Athl Train. 2001;36(4):369-377. 30. Gajdosik RL. Passive extensibility of skeletal muscle: review of the literature with clinical implications. Clin Biomech. 2001;16(2):87-101. 31. Anjos MTS. Análise da diferença de propriedades musculares entre indivíduos com e sem postura de protrusão de ombros. Belo Horizonte: UFMG, 2006. 91p. Dissertação (Mestrado em Ciências da Reabilitação) – Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006. Disponível em: http://www.ufmg.br/mreab. 32. Turvey MT. Action and perception at the level of synergies. Hum Mov Sci. 2007;26(4):657-697. Ter Man. 2010; 8(40):483-490 terapia manual 40.indd 490 25/5/2011 16:38:00 491 Artigo Original Achados anatômicos do complexo articular lateral do tornozelo: Implicações nas dores crônicas e considerações para as mobilizações da fíbula. Anatomical analysis of articular lateral complex of ankle: implications at chronic pain and considerations for fibula’s mobilization. Julio Guilherme Silva(1,3), Reny de Souza Antonioli(2), Marco Orsini(3), André Custódio da Silva(4), Arthur de Sá Ferreira(1). Resumo Introdução: As dores crônicas do tornozelo são bastante freqüentes e decorrentes de várias lesões. Não há muitas evidencias sob o ponto de vista anatômico, que confirmem a eficácia das mobilizações da fíbula nas dores crônicas no tornozelo. Objetivo: Analisar a anatomia das estruturas ligamentares-tendinosas do complexo lateral do tornozelo e; verificar as possíveis relações com as dores crônicas e suas implicações nas técnicas de terapia manual. Método: Foram analisados os aspectos macroscópicos e morfométricos das estruturas articulares da região lateral de 43 tornozelos. Resultados: Observou-se em todas as peças anatômicas uma “decussação” entre os tendões dos músculos fíbulares com o ligamento calcaneofibular. Em 26% das peças foram encontradas aderências entre os tendões fibulares e o ligamento calcaneofibular. Estes achados sugerem que aos movimentos articulares, especialmente na inversão/eversão do pé, as aderências poderiam estar relacionadas ao desencadeamento de dor. Conclusão: Os resultados apontam que há indícios anatômicos que justifiquem a posteriorização da fíbula, principalmente pelo conceito Mulligam, no tratamento das dores crônicas decorrente de entorses em inversão. Entretanto, novos estudos devem ser propostos, especialmente os imagenológicos, para elucidar a contribuição das aderências nas dores crônicas no tornozelo e a eficácia das técnicas de posteriorização da fíbula. Palavras-chave: Anatomia, ligamentos laterais do tornozelo, manipulações musculoesqueléticas. Abstract Introduction: Chronic pain of ankle are very frequent and due for many injuries’ types. There are not evidences about anatomical aspect which confirm efficacy of peroneus mobilization in chronic pain of ankle. Objective: The aim of this study was to analyze the anatomy of the ligamentar-tendons lateral complex of ankle and to verify the possibles relationships with chronics pains and to implicate in manual therapy techniques. Method: In this study was analyzed macroscopic / morphometric aspects of the articular structures of lateral of Forty-three ankles. Results: It was observed a “decussation” of fibular´s tendons with calcaneofibular ligament in all ankles. There was 26% adherences among tendons and calcaneofibular ligament. This fact suggests that during movement of inversion/eversion the ad- Artigo recebido em 16 de outubro de 2010 e aceito em 18 de dezembro de 2010. 1 Professor do Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação, Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), Rio de Janeiro- RJ, Brasil. 2 Fisioterapeuta, Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO), Teresópolis- RJ, Brasil 3 Professor-Pesquisador, Programa de Pós-graduação em Neurologia/Neurociências, Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói – RJ, Brasil 4 Professor do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO), Teresópolis- RJ, Brasil Endereço para Correspondência: Prof. Dr. Julio Guilherme Silva. Centro Universitário Augusto Motta – UNISUAM, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, Laboratório de Análise do Movimento Humano – LAMH. Praça das Nações, 34 – 3º Andar – Bonsucesso, Rio de Janeiro, RJ - Brasil. CEP: 21.041-021. Tel: 21 3882 9962. E-mail: [email protected]. Ter Man. 2010; 8(40):491-496 terapia manual 40.indd 491 25/5/2011 16:38:00 492 Complexo lateral e mobilização da fíbula. herences could be relationship at pain trigger and after the posteriorization of fibula can reduce the tension of tissular adherences and elimination of pain. Conclusion: Our findings demonstrate that exist evidences to justify the fibular posteriorization, especially the Mulligan concept at treatment of chronic sprains of ankle in inversion. Therefore, new studies must be purpose. Specially images studies to elucidate the adherence contribution at ankle chronicle pain and efficacy of fibular´s posteriorization techniques. Keywords: Anatomy, lateral ligament of ankle, musculoskeletal manipulations. INTRODUÇÃO Nas últimas três décadas, a tudos na literatura vigente sobre manual. Além disso, cabe ressaltar as técnicas de terapia manual. que Van der Wees et al.(15) afirma- (16) eficácia das técnicas e conceitos Hetherington através de um re- ram que uma parte considerável em terapia manual tem fomenta- lato de caso discutiu o conceito dos artigos sobre o tema é meto- do discussões entre pesquisado- Mulligam de mobilização com mo- dologicamente deficiente, de qua- res sobre sua validade. Os meca- vimento (MWM) na falha posicio- lidade discutivel e dotados de uma nismos anátomo-biomecânicos e nal provocada pela entorse devi- grande heterogeneidade. Apenas o neurofisiológicos das mobilizações/ do a uma subluxação ântero-infe- estudo-piloto de Dowling et al.(22) (17) manipulações articulares são dis- rior da fíbula. Kavanagh anali- apresenta uma discussão provo- cutidos por diversos autores(1-6) e sou um grupo com dezessete su- cativa sobre as possíveis relações têm auxiliado no processo de eluci- jeitos hígidos, dois com predispo- entre os tendões dos músculos fi- dação dos fatores de êxito de uma sição a entorse crônica e seis pa- bulares longo e curto e o ligamen- determinada técnica. Apesar de cientes com entorses recentes. A to calcaneofibular, assim como as todo este panorama, muitas ques- mobilização distal da fíbula foi do- modificações das tensões no com- tões sobre a eficácia das terapias cumentada, bem como a força re- plexo ligamentar retromaleolar la- manuais nas disfunções musculo- querida para tal tarefa. Os resulta- teral e o posicionamento das de- esqueléticas ainda não foram total- dos demonstraram um aumento do mais superfícies articulares do tor- mente esclarecidas. Neste âmbito, arco de movimento no sentido in- nozelo. um dos pontos de destaque con- ferior no grupo com entorse recen- siste na aplicação de mobilizações te. Esses achados indicaram que a al.(22) não contemplaram discus- e manipulações do tornozelo nos falha posicional da fíbula ocorre na sões acerca das evidências des- quadros álgicos crônicos decorren- articulação tíbiofibular distal. ses achados para aplicação clínica, tes de entorses(7). Infelizmente, Dowling et Mesmo com um panorama fa- principalmente na mobilização da As entorses de tornozelo são vorável no que tange a novas in- fíbula para tratamento das dores e uma das afecções musculoesquelé- vestigações em terapias manuais, disfunções do tornozelo. Baseado ticas mais comuns, especialmente poucos estudos discutem os fa- neste contexto, este trabalho tem em atletas(8). A lesão acontece em tores estruturais desencadeantes o objetivo de analisar a anatomia cerca de 80 a 85% dos casos com das dores crônicas tardias do tor- dos ligamentos fibulares para ve- um mecanismo de inversão. Mesmo nozelo decorrente das entorses. rificar as possíveis relações com as com a compreensão de todo pro- Van der Wees et al(15) através de dores crônicas do tornozelo e suas cesso de acometimento, diversos uma revisão sistemática, constata- implicações nas técnicas de terapia pacientes que sofreram entorse ram que as terapias manuais pos- manual. graus I ou II queixam-se de dores, suem nível 2 de evidência para o seja em repouso ou atividades re- ganho inicial do arco de movimen- creativo-desportivas. Isto fomenta to dorsiflexão nas entorses. Auto- Foram analisados 43 tornoze- diversas discussões sobre outros res como Collins et al(1); Pellow & los de peças anatômicas de brasi- fatores relacionados às dores crô- Brantingham(18); Green et al.(19); leiros adultos, sendo 27 esquerdos nicas no tornozelo como o desequi- Hubbard e Hertel(20); Whitman et e 16 direitos, de ambos os sexos, líbrio postural e a instabilidade la- al.(21) encontraram efeitos positivos diferentes grupos étnicos e sem teral do tornozelo(9-10). das mobilizações articulares para o causa mortis definida, do Depar- Mesmo com o avanço nas dis- ganho de arco de movimento nas tamento de Anatomia Humana de cussões acerca das condutas profi- entorses. No entanto, negligen- duas Universidades do Município do láticas nas entorses do tornozelo(11- ciaram nos seus respectivos tra- Rio de Janeiro - RJ, Brasil. Os cri- 13) e de exercícios de fortaleci- balhos, qualquer ponto que justi- térios de inclusão no estudo foram: mento muscular nas lesões desta ficasse anátomo-funcionalmente a peças anatômicas sem deformida- natureza(14-15), existem poucos es- aplicação das técnicas de terapia des aparentes de membros inferio- MÉTODO Ter Man. 2010; 8(40):491-496 terapia manual 40.indd 492 25/5/2011 16:38:00 493 Julio Guilherme Silva, Reny de Souza Antonioli, Marco Orsini, André Custódio da Silva, Arthur de Sá Ferreira. res. Quanto aos fatores de exclu- ausente), sendo calculada a freqü- tornozelo, por si só, sofre com as são, foram retiradas dos estudos ência relativa na amostra estuda- tensões promovidas pelos movi- as peças que apresentam variações da. As variáveis quantitativas (dis- mentos do tornozelo seja por en- anatômicas macroscópicas dos reti- tância e espessura das aderências) curtamento ou estiramentos dos náculos dos fibulares; cicatrizes na foram analisadas quanto à normali- tecidos moles da região. As ade- região retromaleolar e no dorso-la- dade da distribuição com o teste de rências teciduais encontradas de teral do pé referentes a qualquer uma amostra de Kolmogorov-Smir- nossa amostra possuem um tama- procedimento cirúrgico na região; nov. A partir dessa análise, foram nho considerável e provalvelmen- posicionamento do pé em flexão obtidos os estimadores descritivos te podem constituir uma barreira plantar durante a fixação e; esca- apropriados de tendência central tecidual importante para os movi- ras no retropé na região do maléo- e dispersão. Os parâmetros mor- mentos acessórios da fíbula. A sua lo lateral. Este estudo teve aprova- fométricos foram analisados inde- presença, pode ser um ponto para ção do comitê de ética em pesquisa pendentemente de sexo ou raça. desencadeamento da dor duran- com seres humanos da UNISUAM, Considerando a natureza explora- te a dinâmica do segmento. Nos- de acordo com a resolução 196/96 tória deste estudo (em cadáveres, sos achados estão em consonân- do Conselho Nacional de Saúde. com impossibilidade de definição cia com a investigação de Dowling As referidas peças anatômicas de grupos controle e experimen- et al.(22), em relação a presença de foram mantidas em solução de for- tal), não foi calculado o tamanho aderências na região em questão. maldeído a 10% e, tiveram a região da amostra e não foram executa- dorso-lateral obede- dos testes de comparação. A aná- cendo os princípios estratigráficos. lise dos dados foi realizada no pro- Utilizou-se o instrumental cirúrgi- grama SPSS 16.0. dissecadas, co adequado para este tipo de dissecação (pinça anatômica e dente RESULTADOS de rato, bisturis cabo de lâminas n° Em todos os tornozelos estu- 23, afastadores, tesoura ponta fina dados, foi evidente uma “decussa- e romba). A dissecação obedeceu à ção” dos tendões dos músculos fi- seguinte orientação: pele, tela sub- bulares com o ligamento calcane- cutânea, secção do retináculo dos ofibular (Figura 1). Quanto à dis- fibulares; bainhas tendinosas su- posição espacial das fibras do li- perficiais; exposição dos tendões gamento calcaneofibular, há uma dos músculos fibular longo e curto obliqüidade em todas as peças es- e; visualização das fibras dos liga- tudadas, seguindo uma orienta- mentos calcaneofibular, fibulotalar ção ântero-posterior em relação ao anterior e posterior. Ao término das maléolo lateral. Foram encontra- dissecações, a região foi esquema- das aderências em 11 tornozelos Característica Peças % tizada e fotodocumentada. (26%) entre os tendões fibulares e Tornozelo sem aderências 32 74 Tornozelo com aderências 11 26 Total 43 100 A partir deste registro, rea- o ligamento calcaneofibular (tabela lizaram-se as seguintes análises 1). Estas ocorreram apenas entre macroscópicas: 1. Trajeto dos ten- a bainha posterior do músculo fi- dões fibular longo e fibular curto bular curto e o ligamento calcane- na goteira retromaleolar lateral; ofibular (fig.2). O cruzamento das 2. O cruzamento de fibras entre os fibras ocorreu há uma distância de tendões do fibulares longo e curto 5,02±0,01 mm do ponto mais in- com o ligamento calcaneofibular; ferior do maléolo lateral. A espes- 3. Possíveis relações de bainhas e/ sura da aderência foi verificada em ou aderências entre os tendões do 0,32±0,12 mm e são apresentados fibulares longo e curto e o ligamen- na tabela 2. Figura 1 - “Decussação” (seta) entre o tendão do músculo fibular curto e o ligamento calcaneofibular. Tabela 1 - Análise da aderência entre os tendões fibulares e o ligamento calcaneofibular to calcaneofibular; 4. Mensuração das relações morfométricas entre os tendões da referida região e o ligamento calcaneofibular. Os achados referentes à ade- DISCUSSÃO Como se pode observar na figura 1, há um cruzamento, aqui denominado de “decussação” ten- rência foram descritos como uma dinosa-ligamentar. variável dicotômica (presente ou anatômico do complexo lateral do Este padrão Figura 2 - Aderência entre o tendão do músculo fibular curto e o ligamento calcaneofibular (setas). Ter Man. 2010; 8(40):491-496 terapia manual 40.indd 493 25/5/2011 16:38:00 494 Complexo lateral e mobilização da fíbula. Tabela 2 - Distância e espessura nas peças com aderências. mitamente, no caso de aderências, os nossos resultados e os achados Peças anatômicas com aderência (11/43) de Dowling et al.(22) podem ser a Distância (mm) Espessura (mm) 2 5,02 0,4 5 5,02 0,3 tos da MWM através de um estudo 8 5,02 0,5 de casos. A posteriorização da fí- 11 5,03 0,4 bula foi sustentada através do des- 13 5,02 0,2 lizamento durante todo o movi- 18 5,02 0,2 mento ativo (MWM). Os dois sujei- 19 5,03 0,3 23 5,01 0,3 30 5,02 0,5 de longa data. O protocolo utiliza- 37 5,03 0,2 do por 5 semanas demonstrou me- 42 5,05 0,2 lhora no quadro álgico e na funcio- 5,02±0,01 0,32±0,12 Peça (nº) Média±Desvio-padrão resposta para o êxito do conceito Mulligam neste casos. O´Brien & Vicenzino(27) investigaram os efei- tos que participaram do estudo sofriam com dores crônicas no tornozelo devido à entorse em inversão nalidade. Além das tensões que podem ser reequilibradas pela posteriori- Outro aspecto anátomo-fun- belecer sua osteocinemática nor- zação da fíbula, nossos dados su- cional é a possível alteração do mal nas disfunções do complexo gerem que ao deslocar fíbula pos- movimento acessório da fíbula. articular do tornozelo decorren- teriormente através do MWM, pos- Nas entorses em inversão a fíbu- te de entorses(15,21,26). O conceito síveis alterações fibrosas e neuro- la é projetada anteriormente pela Mulligam destaca-se entre as téc- dinâmicas também podem ser mi- força resultante da ação dos fibu- nicas de Terapia Manual devido às nimizadas. O tecido conjuntivo ad- lares que se opõe ao mecanismo investigações referentes à técni- jacente ao cruzamento de fibras de trauma(19). Esse deslocamento ca de posteriorização da fíbula(1,26- dos tendões fibulares e o ligamen- anterior dificulta a sua mobilidade 27) . O conceito Mulligam preconiza to, tem modificação do seu com- ântero-posterior e crânio-caudal, para tratamento das dores na re- primento e assim, os estímulos no- fundamentais para uma adequa- gião lateral do tornozelo, a técni- cioceptivos aferentes oriundos des- da artrocinemática do tornozelo(23). ca de MWM que desloca a fíbula tas estruturas podem ser alterados Assim, as aderências podem surgir posteriormente. Inicialmente, es- e promover a diminuição do qua- como uma seqüela das entorses e tabiliza-se o segmento e mobiliza- dro álgico. Especialmente quan- provavelmente estão relacionadas se a fíbula. A mão dinâmica deslo- do houver a presença de aderên- ao comprometimento funcional e cará a fíbula no terço distal, atra- cias. Os nossos achados mostram o quadro álgico, justificando fre- vés de um contato no maléolo la- mais um aspecto para reforçar as qüentes casos de dores crônicas do teral com a região tênar, que pro- propostas de Hubbard & Hertel(20) tornozelo após um longo tempo do move o deslizamento da superfí- e Pahor & Toppenberg(28). Estes re- episódio traumático e/ou do pro- cie articular fibular no sentido ân- lataram que mudanças nos tecidos cesso de reabilitação física. tero-posterior(26). Já a outro mem- circunvizinhos promovem as alte- As técnicas de terapia manu- bro (mão), estabilizador, manterá al, dentro das suas diversas ver- um contato ao redor do terço dis- tentes e filosofias de tratamento, tal da tíbia para dar suporte à ma- cada vez mais têm encontrado res- nobra. Após o deslizamento, o pa- postas para justificar a sua aplica- ciente realiza o movimento de fle- ção. Isto sob vários pontos de vista xão plantar (figura 3). como: anatômicos, neurofisiológi- Ao utilizar a referida mano- cos, biomecânicos(24-25). Referen- bra como exemplo e comparar com te à mobilização da fíbula, con- os nossos dados, a posteriorização ceitos de tratamento como: Mulli- da fíbula no conceito Mulligam pro- gam, Maitland, Osteopatia, Quiro- move uma evidente diminuição da praxia entre outros descrevem a tensão das estruturas moles rela- manobra de posteriorização como cionadas à fíbula, principalmente o forma de tratamento para resta- ligamento fíbulocalcanear. Conco- Figura 3 - Manobra do Conceito Mulligam para posteriorização da fíbula, posição inicial. A seta indica o sentido da mobilização do maléolo fibular. Ter Man. 2010; 8(40):491-496 terapia manual 40.indd 494 25/5/2011 16:38:01 Julio Guilherme Silva, Reny de Souza Antonioli, Marco Orsini, André Custódio da Silva, Arthur de Sá Ferreira. 495 rações neurodinâmicas do nervo fi- (vida diária, laborativas, recreati- ja à chave da elucidação das dores bular superficial, no que se refere vas-desportivas). crônicas do tornozelo decorrente de aos impulsos de seu território de inervação. Com a “normalização” entorses de longa data e sua possíCONCLUSÃO vel eliminação através da técnica de das tensões tendinosas-ligamenta- Este trabalho visou analisar a posteriorização da fíbula preconiza- res com a posterioriação da fíbula anatomia das estruturas ligamen- da, por exemplo, pelo conceito Mulli- nas técnicas manuais, a normaliza- tares-tendinosas do complexo la- gam através do MWM. Os achados ção da condução dos impulsos no- teral do tornozelo para verificar as anatômicos aqui expostos sugerem cioceptivos, nos receptores da re- possíveis relações com as dores uma justificativa anátomo-funcional gião póstero-lateral do tornozelo. crônicas e suas implicações nas da mobilização posterior da fíbula técnicas de terapia manual. preconizada pelo conceito Mulligam, Consideramos como limitação do estudo o fato de não ter sido De acordo com nossos acha- no tratamento das dores crônicas possível determinar os tornozelos dos, tanto a disposição das fibras do tornozelo decorrente de entorses que sofreram entorse nas peças ligamentares como as aderências em inversão. Entretanto, novos es- estudadas. Com isso, inviabiliza-se entre o ligamento e os tendões dão tudos devem ser propostos, em es- a identificação e/ou divisão de um subsídios para uma fundamentação pecialmente de imagens, para elu- grupo “controle”. Outras limitações anatômica de que a posterioriza- cidar a contribuição das aderências decorrentes deste estudo são co- ção da fíbula pode minimizar as ten- nas dores crônicas no tornozelo as- muns a pesquisas que utilizam ma- sões nessas partes moles na região sociado a estudos de ensaio clínico terial cadavérico, tais como: des- póstero-lateral do tornozelo. Com que verifique a eficácia das técnicas conhecimento do membro inferior a combinação destes dois possí- de posteriorização da fíbula nestes dominante e do tipo de atividade veis efeitos fisiológicos talvez este- casos de aderências. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Collins N, Teys P, Vicenzino B. The initial effects of a Mulligan’s mobilization with movement technique on dorsiflexion and pain in subacute ankle sprains. Man Ther 2004: 9; 77-82. 2. Sluka KA, Wright A. Knee joint mobilization reduces secondary mechanical hyperalgesia induces by capsaicin injection into the ankle joint. Eur J Pain 2001; 5(1): 81-7. 3. Landrum EL, Kelln CB, Parente WR, Ingersoll CD, Hertel J. Immediate effects of anterior-to-posterior talocrural joint mobilization after prolonged ankle immobilization: Preliminary Study. J Man Manip Ther 2008; 16(2): 100-5. 4. Vicenzino B, Branjerdporn M, Teys P, Jordan K. Initial changes in posterior talar glide and dorsiflexion of the ankle after mobilization with movement in individuals with recurrent ankle sprain. J Orthop Sports Phys Ther 2006; 36(7): 464-71. 5. De Souza MV, Venturini C, Teixeira LM, Chagas MH, de Resende MA. Force-displacement relationship during anteroposterior mobilization of the ankle joint. J Man Manip Ther 2008; 31(4): 285-92. 6. Venturini C, Penedo MM, Peixoto GH, Chagas MH, Ferreira ML, de Resende MA. Study of the force applied during anteroposterior articular mobilization of the talus and its effect on the dorsiflexion range of motion. J Man Manip Ther 2007; 30(8): 593-7. 7. Andrew JR, Harrelson GL, Wilk KE. Reabilitação Física no atleta 3ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 8. Holmes A, Delahunt E. Treatment of common deficits associated with chronic ankle instability. Sport Med 2009; 39 (3):207-24. 9. McKeon PO, Hertel J. Systematic Review of Postural Control and Lateral Ankle Instability, Part II: Is Balance Training Clinically Effective. Athl Train. 2008; 43(3): 305-315. 10. Hupperets MD, Verhagen EA, van Mechelen W. The 2Bit study: is an unsupervised proprioceptive balance board training programme, given in addition to usual care, effective in preventing ankle sprain recurrences? Design of a randomized controlled trail. BMC Musculoskelet Disord 2008 20; 9:71. 11. McGuine TA, Keene JS. The effect of a balance training program on the risk of ankle sprains in high school athletes. Am J Sports Med. 2006; 34(7): 1103-1111. 12. Verhagen E, van der Beek A, Twisk J, Bouter L, Bahr R, van Mechelen W. The effect of a proprioceptive balance board training program for the prevention of ankle sprains: a prospective controlled trial. Am J Sports Med. 2004; 32(6):1385-1393. Ter Man. 2010; 8(40):491-496 terapia manual 40.indd 495 25/5/2011 16:38:01 496 Complexo lateral e mobilização da fíbula. 13. Bleakley CM, McDonough SM, MacAuley DC. Some conservative strategies are effective when added to controlled mobilisation with external support after acute ankle sprain: a systematic review. Aust J Physiother 2008; 54(1): 7-20. 14. Kyungmo H, Ricard MD, Fellingham GW. Effects of a 4-Week Exercise Program on Balance Using Elastic Tubing as a perturbation force for individuals with a history of ankle sprains. J Orthop Sports Phys Ther 2009; 39(4): 246-55. 15. van der Wees PJ, Lenssen AF, Hendriks EJ, Stomp DJ, Dekker J, de Bie RA. Effectiveness of exercise therapy and manual mobilisation in ankle sprain and functional instability: a systematic review. Aust J Physiother 2006; 52(1):27-37. 16. Hetherington B. Lateral Ligament strains of the ankle, do they exist? Man Ther 1996: 1(5); 274-275. 17. Kavanagh J. Is there a positional fault at the inferior tibiofibular joint in patients with acute or chronic ankle sprains compared to normals? Man Ther 1999; (4)1: 19-24. 18. Pellow JE, Brantingham JW. The efficacy of adjusting the ankle in the treatment of subacute and chronic grade I and grade II ankle inversion sprains. J Manipulative Physiol Ther 2001; 24(1): 17-24 19. Green T, Refshauge K,Crosbie J,Adams R.A randomized controlled trial of a passive accessory joint mobilization on acute ankle inversion sprains. Phys Ther 2001; 81: 984-994. 20. Hubbard TJ, Hertel J. Anterior positional fault of the fibula after sub-acute lateral ankle sprains. Man Ther 2008: 13(1); 63-67. 21. Whitman JM, Childs JD, Walker V. The use of manipulation in a patient with an ankle sprain injury not responding to conventional management: a case report. Man Ther. 2005; 10(3):224-31. 22. Dowling A, Downey B, Green R, Reddy P, Wickham J. Anatomical and possible clinical relationships between the calcaneofibular ligament and peroneus brevis – a pilot study. Man Ther 2003: 8(3); 170–175. 23. Magee DJ. Avaliação Musculoesquelética. 4ª. Edição. São Paulo: Editora Manole, 2005. 24. Souza MVS, Venturini C, Teixeira LM, Chagas MH, Resende MA. Force-Displacement Relationship During Anteroposterior Mobilization of the Ankle Joint. J Manipulative Physiol Ther 2008; 31(4):285-92. 25. Brantingham JW, Globe G, Pollard H, Hicks M, Korporaal C, Hoskins W. Manipulative therapy for lower extremity conditions: expansion of literature review. J Manipulative Physiol Ther 2009; 32(1): 53-71. 26. Gillman SF. The impact of chiropractic manipulative therapy on chronic recurrent lateral ankle sprain syndrome in two young athletes. J Chiropr Med 2004; 3(4): 153-159. 27. O’Brien T, Vicenzino B. A study of the effects of mulligan’s mobilization with movement treatment of lateral ankle pain using a case study design. Man Ther 1998; 3(2): 78-84. 28. Pahor S, Toppenberg R. An investigation an neural tissue involvement in ankle inversion sprain. Man Ther 1996; 1(4): 192-197. Ter Man. 2010; 8(40):491-496 terapia manual 40.indd 496 25/5/2011 16:38:01 497 Artigo Original Utilização dos exercícios de estabilização central na lombalgia crônica – um estudo clínico. The utilization of the exercises for central stabilization in chronic low back pain – a clinical trail. Aline Carla Araújo Carvalho(1,2), Augusto Silva Melo da Rocha(2), Kênio Otávio Fernandes Gonçalves(2), Luiz Carlos Hespanhol Jr. (1), Natália Girotto(1), Alexandre Dias Lopes(1). Centro Universitário CESMAC e Programa de Mestrado em Fisioterapia da Universidade Cidade de São Paulo - UNICID, São Paulo, SP, Brasil. Resumo Introdução: Lombalgia é um sintoma clínico de etiologia multifatorial, que acomete cerca de 70 a 85% da população mundial. Os exercícios de estabilização central apresentam como objetivo proporcionar ganhos de força e controle neuromuscular da cintura pélvica. Objetivo: Este estudo teve como objetivo comparar a eficiência terapêutica dos exercícios de estabilização central em pacientes com lombalgia crônica com um programa de fisioterapia convencional. Método: Tratou-se de um estudo comparativo, de amostra aleatória, composto por 10 pacientes, divididos em dois grupos, sendo: grupo estabilização central (GEC) e grupo controle (GC). Os grupos foram atendidos em duas sessões semanais, com duração de 50 minutos, totalizando 12 sessões, nas quais se desenvolveu programa de nove exercícios para os pacientes do GEC e o GC seguiu uma rotina de tratamento convencional de fisioterapia. Resultado: Como resultado foi possível observar que houve uma melhora para todas as variáveis analisadas no GEC, sendo observada diferenças estatisticamente significantes entre os grupos para a dor (p= 0,005), flexibilidade dos flexores lombares (p= 0,0592) e amplitude do quadril durante o abaixamento da perna com o joelho estendido (p= 0,0159). Não foi observada significância estatística para a flexibilidade dos extensores lombares (p = 0,0691). Conclusão: Os exercícios de estabilização central mostraram-se eficientes para o tratamento da lombalgia crônica. Palavras-Chave: Lombalgia, estabilização, reabilitação. Abstract Introduction: Low back pain has multifactorial etiology and affects approximately 70-85% of population. The central stabilization exercises provide gains in strength and neuromuscular control of the pelvic girdle. Objective: The main objective was to compare the therapeutic efficiency of core stabilization exercises with conventional physiotherapy program in patients with chronic low back pain. Methods: This was a comparative study of random sample with 10 patients divided into two groups: the group of stabilization center (GEC) and control group (CG). Both groups were treated for two weekly sessions, during 50 minutes, totaling 12 sessions, in which developed to the GEC a routine of nine exercises and the GC followed a conventional routine of physiotherapy. Results: It was observed that there was an improvement for all variables in the GEC, and it was possible to observe the statistically significant differences between groups for pain (p = 0.005), flexibility of lumbar flexors (p = 0.0592) and during hip lowering of the leg with the knee extended (p = 0.0159). No statistical significance was found for the flexibility of the lumbar extensors (p = 0.0691). Conclusion: The core stabilization exercises were effective for the treatment of chronic low back pain. Key Words: Low back pain, rehabilitation. Artigo recebido em 25 de junho de 2010 e aceito em 20 de setembro de 2010. 1 Programa de Mestrado em Fisioterapia da Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), São Paulo, SP, Brasil. 2 Centro Universitário CESMAC, Maceió, Alagoas, Brasil. Endereço para correspondência: Aline Carla Araújo Carvalho. R. Cesário Galeno, 448/475, Tatuapé, São Paulo-SP Fone: (82) 9313-2306. Email: [email protected]. Declaramos que não há conflito de interesses nesse estudo, assim com o mesmo não recebeu nenhum tipo de apoio financeiro ou suporte. Ter Man. 2010; 8(40):497-500 terapia manual 40.indd 497 25/5/2011 16:38:01 498 Exercícios de Estabilização na Lombalgia. nhos de força, controle neuromus- quais um significa ausência de dor A dor lombar (DL) é definida cular, potência e resistência mus- e dez, dor incapacitante, caracteri- como uma moléstia aguda, suba- cular com o objetivo de facilitar o zando a maior dor já sentida pelo guda ou crônica localizada anato- funcionamento muscular equilibra- paciente. O questionamento a res- micamente na região posterior do do de toda a cadeia cinética. Para peito da queixa dolorosa, através tronco, caracterizando-se por surgi- os autores, um maior controle neu- da EAD, foi realizado a cada ses- mento insidioso ou progressivo(1). romuscular e força de estabilização são, como critério comparativo do INTRODUÇÃO que oferecem um posicionamento bio- controle da dor referida pelos in- cerca de 70 a 85% de toda a po- Estimativas mostram mecânico mais eficiente para toda divíduos participantes do estudo. pulação mundial irá sentir dor lom- a cadeia cinética, possibilitando, A flexibilidade dos músculos pos- bar em alguma época de sua vida, assim, a eficiência neuromuscular teriores do tronco e membros in- acometendo igualmente homens ideal ao longo desse sistema(4,5). feriores (MMII) foi realizada com o e mulheres, havendo pico de inci- O objetivo deste estudo foi uso da goniometria para flexão e dência entre 30 e 50 anos. Admite- comparar o efeito de duas técnicas extensão da coluna lombar. A am- se, ainda, que cerca de 10 milhões de tratamento no controle da dor, plitude do quadril durante o abai- de brasileiros ficam incapacitados flexibilidade e fortalecimento mus- xamento da perna com o joelho es- por causa desta morbidade e pelo cular em pacientes com lombalgia tendido foi mensurada através da menos 70% da população sofrerá crônica. goniometria. MATERIAL E MÉTODO exercícios de alongamento dos ex- um episódio de dor na vida(2). O tratamento da dor e disfun- O GC foi tratado com base em ção lombar geralmente é feito por Tratou-se de um estudo clí- tensores, rotadores e inclinadores da uma equipe multidisciplinar, incluin- nico aleatorizado realizado na Clí- coluna lombar e músculos posterio- do fisioterapeuta, médico e psicó- nica-Escola de Fisioterapia Dr. Ro- res dos MMII, ultrassom terapêutico, logo, tendo como proposta geral, drigo Ramalho da FCBS – CESMAC terapia por ondas curtas e exercícios controlar o quadro álgico e a pro- e aprovado pelo comitê de ética de fortalecimento muscular para os moção do bem-estar e do retorno desta instituição. músculos do tronco e MMII. às atividades funcionais do indiví- Os voluntários foram dividi- O treinamento de estabiliza- duo. A fisioterapia dispõe de diver- dos em dois grupos, sendo o Grupo ção central da musculatura do tron- sos recursos terapêuticos que au- Controle (GC) e o Grupo Estabiliza- co foi aplicado nas posições em de- xiliam na promoção do alívio sin- ção Central (GEC), ambos compos- cúbito dorsal e sedestação para o tomático da dor e na reabilitação tos por cinco indivíduos, com idade GEC, associada ao trabalho muscu- destes pacientes, dentre os quais média de 36,6 (12,6) anos e 34,2 lar do complexo lombo-pelve-qua- se pode citar o ultrassom, a tera- (6,5) anos, respectivamente. dril e trabalho respiratório diafrag- pia laser, terapia por ondas curtas, As variáveis estudadas foram mático com freno labial. Os recur- exercícios de flexibilidade, e fortale- dor, flexibilidade e amplitude do sos terapêuticos utilizados foram cimento muscular(3). O grupo mus- quadril cular dos estabilizadores do tronco da perna com o joelho estendido. requer uma atenção especial no tra- Foram incluídos indivíduos adul- Os resultados da pesquisa tamento das disfunções lombares. tos, de ambos os gêneros, que foram submetidos inicialmente ao apresentavam O treinamento da estabili- durante o abaixamento lombalgia tatames, medicineball, bolas suíças e physiorolls. crônica teste de normalidade Kolmogorov zação central da musculatura do de acordo com diagnóstico médi- – Smirnov e em seguida utilizou-se tronco tendo em vista o controle co. Foram excluídos pacientes com os testes Mann Whitney e teste T, postural e manutenção do bom ali- outras afecções musculoesqueléti- admitindo-se nível de significância nhamento do tronco surgiu como cas bem como os pacientes que es- estatística com valor de α= 0,05. opção de tratamento há algumas tivessem em tratamento fisiotera- décadas. Esse treinamento se ba- pêutico concomitante. RESULTADOS seia no sinergismo dos múscu- Para as modalidades terapêuti- De acordo com a divisão entre los abdominais, atuando no equi- cas aplicadas, foi proposto um total gênero e idade dos indivíduos sub- líbrio da pelve. Esta região é com- de doze sessões, distribuídas em metidos aos tratamentos propostos, posta pelos músculos profundos da duas vezes por semana, com dura- foi possível observar um maior pre- pelve, coluna lombar e aqueles que ção de 50 minutos cada sessão. domínio do número de homens no cruzam a articulação coxofemu- Para avaliação do grau de dor, GEC (80%), média de idade de 34,2 . O programa de treinamen- o instrumento de avaliação consis- anos. O GC, por sua vez, apresen- to de estabilização central é criado tiu da Escala Análoga da Dor (EAD) tou predomínio de mulheres (60%) para ajudar o indivíduo a obter ga- (2) e idade média de 36,6 anos. ral (4) , graduada de um a dez, nas Ter Man. 2010; 8(40):497-500 terapia manual 40.indd 498 25/5/2011 16:38:01 499 Aline C. A. Carvalho, Augusto S. M. Rocha, Kênio O. F. Gonçalves, Luiz C. Hespanhol Jr., Natália Girotto, Alexandre D. Lopes. A análise estatística intra-gru- dominal, o que causaria uma menor gião, se mostra como um compo- po do GEC, ou seja, a comparação sobrecarga nas estruturas muscu- nente integral do mecanismo de dos resultados obtidos antes e após loesqueléticas da coluna vertebral, proteção que alivia a região espi- o tratamento apresentou signifi- principalmente da região lombar. nhal das forças nocivas durante as (10) . cância quando avaliada a dor (p= A estabilidade articular dinâ- 0,005), assim como quando com- mica é conseguida através da ativa- Corroborando com tais afir- parada a goniometria de extensão ção e manutenção de um alto nível mativas, os pacientes acompa- lombar (p= 0,0592). Para o movi- de co-contração muscular sinérgi- nhados neste estudo apresenta- mento de flexão lombar não foram ca entre os músculos periarticula- vam dor lombar e déficit de am- encontradas diferenças estatistica- res. Dessa forma, o trabalho da re- plitude de movimento a partir da mente significantes quando com- gião lombopélvica através do treino posição neutra das articulações da parados os resultados antes e de- de estabilização central proporciona região lombo-pelve-quadril, fato- pois a intervenção (p = 0,0691). A grande controle da dor por meio da res que poderiam ter provocado amplitude de movimento do qua- força e resistência muscular à fadi- sobrecarga e lesões nesta região, dril durante o abaixamento da ga geradas no complexo lombo-pel- justificando, assim, a dor e limita- perna com o joelho estendido tam- ve-quadril em virtude da estabilida- ções de movimento relatadas ini- bém apresentou uma diferença es- de regional proporcionada atividades funcionais (6) . cialmente e suas significativas re- tatística (p= 0,0159). O grupo con- Assim, o trabalho de consci- trole, por sua vez, não apresentou ência corporal e fortalecimento da resultado significativo para nenhu- musculatura profunda proporciona Como não são muitos os traba- ma das variáveis estudadas. aos músculos da coxofemural e co- lhos que se detêm a estudar o uso Os resultados obtidos para a luna lombar uma ação mais sinér- exclusivo de modalidades cinesiote- queixa dolorosa, amplitude do qua- gica inibindo compensações e, con- rapêuticas como a estabilização cen- dril durante o abaixamento da perna seqüentemente, a sintomatologia tral para o tratamento da lombal- com o joelho estendido e flexibilida- dolorosa, inclusive a nível lombar gia crônica, como também, em de- de para flexão e extensão lombar (6-8) . A necessidade de flexibilidade, corrência do restrito "n" da pesqui- apresentaram modificações impor- força estática e resistência à fadiga sa, que provocou não homogeneida- tantes quando comparados os mo- são importantes no controle corpo- de da amostra, se faz necessário a mentos da avaliação inicial e final do ral, durante a realização das ativi- reprodução desta, com amostra de GEC, porém tal achado não foi ob- dades funcionais. maior volume e número de sessões servado no GC, conforme se encon- duções ao final do programa de tratamento. Estudos desenvolvidos sobre terapêuticas, a fim de confirmar os o controle neuromuscular da re- tra apresentado na tabela 1. resultados aqui encontrados. gião central mostraram que pacientes com dor lombar, embora DISCUSSÃO CONSIDERAÇÕES FINAIS As variáveis dor, amplitude tenham sido tratados por várias te- Foi observado que o treina- do quadril durante o abaixamento rapias, possuem algo em comum: mento dos músculos que compões da perna com o joelho estendido e os multífidios e transverso do ab- a região central proporcionou forta- flexibilidade foram modificadas no dome fracos, assim como o exces- lecimento à região lombo-pélvica, GEC, contudo tais características so de atividade dos músculos glo- bem como ganho de flexibilidade e não foram observadas no GC. bais, como os eretores da colu- controle da dor, favorecendo a uma A respeito da dor, esta variável na e os abdominais superficiais, melhor ação motora e justificando, sofreu redução da queixa relatada, levam a uma sobrecarga na colu- dessa forma, o incremento da esta- acreditamos que esse fato possa na lombar(9). Dessa forma, a mus- bilidade e da mecânica, levando à ser justificado provavelmente devi- culatura do complexo lombo-pel- diminuição da sobrecarga imposta a do ao aumento da pressão intra-ab- ve-quadril, estabilizadora desta re- ela e em conseqüência a dor. Tabela 1 - Avaliações de dor, estabilidade central e flexibilidade muscular entre os grupos GEC e GC. Queixa dolorosa Amplitude do quadril durante o abaixamento da perna com Flexibilidade dos Flexores o joelho estendido Flexibilidade dos extensores Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós GEC 7,4 (2,3) 2,4 (2,3) 58º(12,5) 10º(19,6) 78,4º(16,1) 87,4º(10,3) 16,8º(8,2) 26,6º(4,1) GC 6,4(1,67) 6,2(1,30) 70º(0) 60º(0) 66,6º(19,1) 70º(14,6) 16,8º(8,4) 16,6º(5,5) Valores expressos em média (desvio padrão). Ter Man. 2010; 8(40):497-500 terapia manual 40.indd 499 25/5/2011 16:38:01 500 Exercícios de Estabilização na Lombalgia. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Kaziyama H, Teixeira M, Yeng L. Lombalgias de origem muscular. 1 ed. Amatuzzi M, Greve J, editors. São Paulo Ed. Roca; 2003. 2. Assis M, Natour J. Lombalgia e Lombociatalgia. Sato E, editor. Barueri: Ed. Manole; 2004. 3. Briganó J, Macedo C. Análise da mobilidade lombar e influência da terapia manual e cinesioterapia na lombalgia. Semina: Ciências Biológicas e da Saúde. 2005;26(2):75-82. 4. Clark MA. Treinamento de Estabilização Central em Reabilitação. 1 ed. PRENTICE WE, VOIGHT ML, editors. Porto Alegre: Ed. Artmed; 2003. 5. Lima F, Quintiliano T. A importância do fortalecimento do músculo transverso abdominal no tratamento das lombalgias. In press 2005. 6. Kisner C, Colby L. Exercícios Resistidos. 4 ed. KISNER C, COLBY L, editors. Barueri: Ed. Manole; 2005. 7. Redondo B. Isostretching: A reeducação da coluna. 2 ed. Piraccaba: Ed. Gráfica Riopedrense 2006. 8. Toscano J, Egypto E. A influência do sedentarismo na prevalência de lombalgia. Revista Brasileira de Medicina do Esporte. 2001;vol.7 (4). 9. Gouveia K, Gouveia E. O músculo transverso abdominal e sua função de estabilização da coluna lombar. Fisioterapia em movimento. 2008;21(3):45-50. 10. Reinehr F, Carpes F, Mota C. Influência do treinamento de estabilização central sobre a dor e estabilidade lombar. Fisioterapia em movimento. 2008;v. 21 (1). Ter Man. 2010; 8(40):497-500 terapia manual 40.indd 500 25/5/2011 16:38:01 501 Artigo Original Atividade eletromiográfica do glúteo médio em portadores da síndrome da dor patelofemoral durante atividades funcionais. Electromyographic activity of gluteus medius muscles on patellofemoral pain syndrome during functional activities. Kimberly Moreira Pereira da Silva, Caio Alano de Almeida Lins, Denise Dal’ava Augusto, Rafaela Soares de Farias, Amanda Medeiros Josué, Jamilson Simões Brasileiro. Resumo Introdução: A Síndrome da Dor Patelofemural (SDPF) é uma desordem ortopédica bastante freqüente na prática fisioterapêutica. Recentemente, fatores proximais ao joelho, como alterações temporais do glúteo médio, têm sido sugeridos como predisponentes para o surgimento desta síndrome. Entretanto, não existe consenso quanto ao padrão eletromiográfico desse músculo nos sujeitos com SDPF. Objetivo: Analisar a intensidade e o início de ativação do glúteo médio (GM) correlacionando-o com o vasto lateral (VL) e vasto medial oblíquo (VMO), durante atividades funcionais, em sujeitos portadores da SDPF. Método: Participaram do estudo 30 voluntárias do sexo feminino, sendo quinze do grupo controle e quinze do grupo com SDPF. O sinal eletromiográfico dos músculos foi captado por eletrodos de superfície em um eletromiógrafo de oito canais, durante atividades em cadeia cinética fechada (subida e descida de um step). Resultados: Os resultados evidenciaram que o onset relativo GM/VMO mostrou-se alterado nos sujeitos com SDPF durante a atividade de subida no step (p=0,014). Houve diferença significativa na relação VMO/VL nas atividades de subida (p = 0,014) e descida do step (p = 0,004) onde o VMO apresentou maior intensidade nos sujeitos com SDPF. Conclusão: Nas condições experimentais realizadas, o estudo sugere um padrão de recrutamento anormal do músculo GM, assim como, aumento na relação VMO/VL nos sujeitos com SDPF. Palavras-chave: Eletromiografia (EMG), glúteo médio, síndrome da dor patelofemural (SDFP). Abstract Introduction: Patellofemural pain syndrome (PFPS) is a frequent orthopedic disorder in physical therapy practice. Recently distal factors to the knee, as temporary alterations of the gluteus medius have been suggested as predisposing factors for the appearance of this syndrome. However, there is no consensus for this muscle electromyographic pattern in subjects with PFPS Objective: Analyze the intensity and onset of the gluteus medius (GM) correlating it with vastus lateralis (VL) and vastus medialis oblique (VMO) during functional activities in subjects with PFPS. Method: Twenty women participated on the study: ten in a control group and ten in the group with PFPS. The electromyographic signal of the muscles was detected using surface electrodes and an eight-channel electromyography system, during closed kinetic chain activities (ascendant and descendant step). Results: The results demonstrated that the onset for GM/ VMO in subjects with SDPF changed during the activity to rise on step (p = 0,014). There was a significant difference between VMO/VL in stepping up activity (p = 0,014) and stepping down (p = 0,004) where the VMO had greater intensity. Conclusions: Under the experimental conditions used, this study suggests an abnormal recruitment pattern of the GM muscle, as well as an increase in the relation VMO/ VL in subjects with PFPS. Keywords: Electromyography, gluteus medius, functional activities, patellofemoral pain syndrome (PFPS). Artigo recebido em 3 de outubro de 2010 e aceito em 29 de novembro de 2010. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Laboratório de Análise da Performance Neuromuscular (LAPERN), Departamento de Fisioterapia, Natal, RN, Brasil. Endereço para Correspondência Jamilson Simões Brasileiro. Avenida Jaguarari, 5250 – Bloco A, Apt 801 – Candelária, Natal, RN, Brasil. CEP 59064-500. Tel: 84 3342 2008 / 84 3234 9050. E-mail: [email protected]. Ter Man. 2010; 8(40):501-507 terapia manual 40.indd 501 25/5/2011 16:38:01 502 Atividade eletromiográfica do glúteo médio na síndrome da dor patelofemoral. externos e abdutores do quadril ca do GM em relação ao VL e VMO A Síndrome da Dor Patelofe- são significativamente mais fracos durante a realização de atividades mural (SDPF) é uma das desordens quando comparados a membros funcionais. O estudo foi conduzi- ortopédicas mais comuns presente não afetados por SDPF. Os mesmos do no período de fevereiro a maio na clínica fisioterapêutica(1-3), com- acreditam que programas de forta- de 2010 no Laboratório de Análise preendendo aproximadamente 25% lecimento destes grupos muscula- da Performance Neuromuscular, do dos diagnósticos ortopédicos(4). res devem ser implementados no Departamento de Fisioterapia da controle da SDPF. Universidade Federal do Rio Gran- INTRODUÇÃO Esta é definida como uma dor difusa anterior ou retropatelar, co- Clinicamente a adução femo- mumente referida após a realiza- ral excessiva durante atividades di- Trinta sujeitos do sexo femini- ção de atividades como subir ou nâmicas pode resultar da fraqueza no, sedentários ou que não pratica- descer escadas, ajoelhar-se, aga- dos músculos abdutores do qua- vam atividade física regular (mais char-se, permanecer muito tempo dril, em particular, o GM. A adu- de 2 vezes por semana) fizeram na posição sentada e durante a ção e a rotação medial do fêmur parte do estudo. As voluntárias prática de atividades esportivas(5,6). durante as atividades funcionais foram divididas em dois grupos, Essa disfunção afeta comumente produzem um aumento no ângu- sendo 15 controle (22,8 ± 1,78 atletas e a população sedentária lo Q, levando à dor da articulação anos; 53,9 ± 5,39 Kg; 1,61 ± 0,06 jovem, ocorrendo mais freqüente- patelofemural(22,23). mente entre as mulheres(7,8). de do Norte. m; 20,23 ± 2,18 Kg/m2) e 15 com A alteração na atividade mio- diagnóstico clínico de SDFP (21,2 Apesar dos fatores etiológicos elétrica do GM pode afetar a arti- ± 2,44 anos; 53,3 ± 3,26 kg; 1,59 não serem claros, alguns pesquisa- culação patelofemural, já que o ± 0,04 m; 20,90 ± 1,57 Kg/m2), dores relacionam o surgimento das atraso no tempo de início de ati- não havendo diferenças antropo- disfunções patelofemurais com al- vação ou a diminuição na duração métricas entre os grupos avalia- terações anatômicas e biomecâni- de sua atividade poderia provocar dos. As voluntárias assintomáticas cas do membro inferior, como prin- um excesso de adução ou rotação foram selecionadas entre as acadê- cipal causa da síndrome(7,9). medial do fêmur sob a patela com micas do curso de fisioterapia de conseqüente aumento do ângulo uma universidade pública e as vo- Q(18,23,25). luntárias sintomáticas foram recru- Dentre estas alterações, a insuficiência do vasto medial obli- estudos tadas de um hospital universitário da contração muscular entre VMO avaliarem os aspectos temporais e de clínicas ortopédicas locais. O e vasto lateral (VL), displasia tro- da ativação eletromiográfica do GM estudo avaliou apenas indivíduos clear, pronação subtalar excessiva, em sujeitos sem e com SDFP em do sexo feminino, considerando as variação anatômica da patela, debi- tarefas funcionais, não há consen- grandes diferenças biomecânicas lidade dos músculos do quadril, au- so na literatura quanto às altera- entre os sexos e a maior incidência mento do ângulo quadricipital (Q), ções no padrão normal de sua ati- neste gênero(7,14). e alteração na atividade mioelétrica vação. Aliado a isso, existe uma Foram incluídas no grupo con- do músculo glúteo médio (GM) são escassez de trabalhos na comuni- trole, as voluntárias que não apre- sugeridos como fatores que contri- dade científica quanto à avaliação sentaram história de dor no joe- buem para o aparecimento da dor da função do músculo GM na dis- lho, patologia, cirurgia, trauma ou anterior do joelho(10-18). função patelofemural. lesão do sistema osteomioarticu- quo (VMO), diferença entre o início Apesar de alguns A identificação da debilidade Diante do exposto, a proposta lar do membro inferior avaliado, dos músculos do quadril tem um deste estudo foi investigar a ativi- no último semestre(6). Além disso, papel importante na redução da in- dade eletromiográfica do GM, cor- as voluntárias deveriam assinalar cidência de injúrias de membros in- relacionando-o com o VL e VMO em dor 0 cm na Escala Visual Analó- feriores, especialmente na articu- sujeitos portadores da SDFP. Foi gica (EVA) na articulação patelofe- lação do joelho(19), tendo em vista analisado a intensidade e o tempo mural no dia da avaliação e na se- que durante as atividades funcio- de início de ativação (onset) destes mana anterior. nais que exigem agachamento, os músculos, durante a realização de músculos do quadril podem ser ati- atividades funcionais. vados para estabilizar o fêmur, diminuindo assim, a adução do quadril e reduzindo o valgismo durante Para que as voluntárias do grupo sintomático fossem selecionadas, as mesmas deveriam apre- MÉTODO sentar o diagnóstico clínico de Esta pesquisa caracterizou-se SDPF, sem lesões associadas de jo- por ser um estudo observacional elho e relatar dor em pelo menos Cichanowski et al.(21) demons- do tipo analítico transversal, consi- duas traram que os músculos rotadores derando a atividade eletromiográfi- subir e descer escadas, agachar, o movimento(20). das seguintes atividades: Ter Man. 2010; 8(40):501-507 terapia manual 40.indd 502 25/5/2011 16:38:01 Kimberly M. P. Silva, Caio A. A. Lins, Denise D. Augusto, Rafaela S. Farias, Amanda M. Josué, Jamilson S. Brasileiro. 503 ajoelhar-se, permanecer sentada dor. A taxa de aquisição do sinal Médio foi posicionado a 50% da por tempo prolongado, pular e cor- foi de 2000 Hz, sendo passado um linha entre a crista ilíaca e o tro- rer. A dor deveria ser de início in- filtro entre 20-500Hz. O sinal do cânter maior do fêmur. O eletrodo sidioso, não-traumática e referida GM foi normalizado com a volun- para o VMO foi posicionado a 80% na articulação patelofemural na úl- tária posicionado em decúbito la- da linha entre a espinha ilíaca ân- tima semana como pelo menos 2 teral pela contração isométrica vo- tero-superior e o espaço da articu- cm na EVA(7). luntária máxima (CIVM). Já o sinal lação na face da borda anterior do nesse do VL e VMO tiveram sua norma- ligamento medial. Já o eletrodo do grupo as voluntárias que tinham Não foram incluídas lização pela CIVM, com o joelho a VL foi posicionado a 2/3 da linha história de cirurgia no membro in- 60º de flexão. que vai da espinha ilíaca ântero- ferior, subluxação ou deslocamen- Um goniômetro universal, po- superior ao bordo lateral da patela. to patelar, evidência clínica de sicionado na articulação do joelho O eletrodo de referência, por sua lesão meniscal, patelar e/ou liga- avaliado, serviu para aferir a am- vez, foi posicionado sobre o dorso mentar, plica sinovial patológica ou plitude da articulação do joelho no da mão direita das voluntárias. que tivessem realizado tratamen- exercício de CIVM a 60º proposto to fisioterapêutico prévio no últi- pelo estudo. Posteriormente as voluntárias foram posicionadas numa maca em mo semestre(5). Nenhuma voluntá- Com o objetivo de simular decúbito lateral e em um segundo ria, durante o experimento, apre- a atividade de subir e descer es- momento no dinamômetro isociné- sentou dor aguda que a impossibi- cadas, dois steps de borracha da tico (tronco e quadril a 90º de fle- litasse de realizar os procedimen- marca Physicus®, foram utilizados xão) e estabilizadas por cinto pél- tos propostos, não sendo necessá- neste trabalho. Estes foram ajus- vico e axilar, com velcro, para nor- ria a exclusão de qualquer partici- tados a uma altura de 23cm, asse- malização dos dados do GM e dos pante do estudo. melhando-se a altura média do de- VMO e VL respectivamente. Todas as voluntárias foram grau de uma escada. Os sujeitos foram avaliados submetidas à avaliação física para Todas as voluntárias foram se confirmar presença ou ausên- avaliadas previamente, a fim de cia de dor patelofemural e excluir selecionar aquelas que participa- Abdução do quadril em con- eventuais patologias no joelho. riam do estudo, levando-se em tração isométrica voluntária máxi- Cada voluntária foi previamente consideração os critérios de inclu- ma, em decúbito lateral; informada sobre os objetivos da são do mesmo. atividades: Extensão do joelho em conrealizaram tração isométrica voluntária má- consentimento livre e esclarecido, aquecimento na bicicleta estacio- xima no dinamômetro isocinético, de acordo com a resolução 196/96 nária durante 5 minutos, com o com 60º de flexão de joelho; do Conselho Nacional de Saúde e selim posicionado na altura do tro- Subida no step, iniciando com aprovado pelo Comitê de Ética da cânter maior do fêmur. Logo após, o membro avaliado seguido do con- instituição (protocolo nº 266/08). foram tralateral; pesquisa e assinaram um termo de As durante a execução das seguintes voluntárias realizados alongamentos Para o estudo foi utilizado um passivos sustentados do quadrí- Descida do step, iniciando com módulo condicionador de sinais ceps femoral e trato iliotibial (2 sé- o membro contralateral ao avaliado de 8 canais (EMG System do Bra- ries de 30 segundos, com interva- seguido do homolateral. sil Ltda) interfaciado com um mi- lo de 30 segundos entre cada alon- crocomputador, que recebia o sinal gamento). As atividades seguiram uma seqüência aleatória para cada vo- eletromiográfico e o armazenava Antes da realização da avalia- luntária, sendo estas familiarizadas em arquivo, além de um softwa- ção eletromiográfica as voluntárias e orientadas a realizarem todas as re para análise digital de sinais, foram submetidas à preparação da tarefas funcionais naturalmente. AqDados (versão 5.0). Foram utili- pele com tricotomização e limpe- Cada tarefa foi executada uma vez. zados para a captação da atividade za da área com álcool a 70%. Os As atividades seguiram uma padro- mioelétrica dos músculos, eletro- eletrodos foram untados com gel nização de comando verbal, onde dos ativos de superfície (EMG Sys- condutor e fixados sobre o ponto nas atividades de CCA, os sujeitos tem do Brasil Ltda) compostos por motor do GM, VMO e VL, com fita foram orientados a manter a con- duas barras paralelas retangulares adesiva micropore e reforçada com tração por 5 segundos. Para as de- de Ag/AgCl. Um eletrodo de refe- tiras de velcro, para evitar o deslo- mais atividades, foi solicitado aos rência, tipo garra, foi usado para camento destes durante a realiza- sujeitos que os gestos fossem ini- eliminar interferências externas. O ção dos procedimentos. ciados e finalizados ao comando do ganho foi de 1000x, sendo 20 no eletrodo ativo e 50 no amplifica- Seguindo os critérios do SENIAM(26) o eletrodo do Glúteo pesquisador, com um tempo de coleta de 5 segundos. Ter Man. 2010; 8(40):501-507 terapia manual 40.indd 503 25/5/2011 16:38:01 504 Atividade eletromiográfica do glúteo médio na síndrome da dor patelofemoral. A normalização dos dados foi da intensidade da atividade elé- bida e descida de escada também verificada pelos procedimentos da trica entre os músculos GM/VL, evidenciou retardo no onset do GM estatística analítica-descritiva, utili- GM/VMO e VL/VMO (p>0,05). Já o em sujeitos portadores da SDPF zando-se o teste de Shapiro-Wilks. grupo com SDPF apresentou uma quando comparados a sujeitos sem Os valores do onset da RMS nor- maior intensidade do VMO quan- a disfunção. malizado nos músculos GM, VMO do relacionado com o GM e VL (p= Entretanto, esse estudo diver- e VL foram comparados utilizando- 0,004). Contudo, não foi encontra- ge dos achados de Boling et al.(28), se uma ANOVA, seguido pelo teste da diferença na relação GM:VL (Fi- pois ao compararem o tempo do de Newman-Keuls, quando foi ob- gura 3). inicio de ativação dos músculos GM, VL e VMO durante a ativida- servada diferença entre os grupos. Os dados foram analisados atra- DISCUSSÃO de de subida e descida de degrau vés do software Statistical Packa- Os resultados do presente es- em indivíduos portadores da SDPF ge for Social Sciences (SPSS), ver- tudo evidenciaram um retardo no e indivíduos sadios, não encontra- são 15.0. Em todas as análises foi início da ativação do GM, quando ram diferença no tempo de inicio de adotado o nível de significância de comparado ao VMO nos sujeitos ativação do GM entre os grupos es- p≤ 0,05. com SDPF, considerando a ativida- tudados, sendo evidenciado atraso de de subida no step, fase concên- significativo para o tempo do inicio trica do gesto. Estes achados cor- de ativação do VMO em relação ao Considerando a atividade de roboram com o estudo realizado VL. Este dado não foi encontrado subida no step, não foi observa- por Brindle et al.(19) que, avalian- nos sujeitos avaliados neste estu- da diferença no onset relativo entre do a influência de atividades de su- do, tendo em vista que para todas RESULTADOS os músculos GM-VL (p >0,05) para os sujeitos assintomáticos. Também não foram observadas diferenças entre os grupos durante a atividade de descida do step, para os músculos GM-VMO e GM-VL (p > 0,05). Entretanto, os resultados do presente estudo evidenciaram diferença significativa no onset relativo para a atividade de subida no step (p = 0,014), onde foi revelado um retardo no tempo de ativação do músculo GM em relação ao VMO, em portadores da SDFP (Figura 1). Comparando os sujeitos durante a atividade de subida no Figura 1 - Onset relativo (milisegundos) GM-VL e GM-VMO durante as atividades funcionais nos grupos controle (n=10) e com SDFP (n=10) *p≤0,05. step, observou-se diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p = 0,014), onde no grupo controle não foram observadas alterações na intensidade elétrica entre os músculos GM:VL, GM:VMO e VL:VMO. Por outro lado, nos indivíduos com SDFP, os resultados apontam diferença na intensidade de ativação elétrica do VMO, sugerindo o seu aumento quando comparado com o VL. Para as demais relações avaliadas, GM:VL e GM:VMO, não foram apresentadas diferenças entre os músculos (p > 0,05) (Figura 2). No grupo controle não foi evidenciado diferença nas relações Figura 2 - Relação GM/VL; GM/VMO E VMO/VL durante as atividades de subida no step nos grupos controle (n=10) e com SDFP (n=10).* p≤0,05. Ter Man. 2010; 8(40):501-507 terapia manual 40.indd 504 25/5/2011 16:38:01 505 Kimberly M. P. Silva, Caio A. A. Lins, Denise D. Augusto, Rafaela S. Farias, Amanda M. Josué, Jamilson S. Brasileiro. estar favorecendo uma melhor relação comprimento/tensão das fibras do VMO, potencializando sua ativação durante a execução dessas atividades. Já durante a fase excêntrica, em virtude do retardo do GM, a rotação interna femoral tente a exacerbar-se(19,23), criando uma relação de desequilíbrio entre os três músculos. Esse fato produziria uma ação compensatória do VMO nos exercícios em CCF, quando comparado com exercícios em CCA(15). Estas podem ser as principais raFigura 3 - Relação GM:VL; GM:VMO E VMO:VL durante a atividade de descida do step nos grupos controle (n=10) e com SDFP (n=10).** p≤0,05. zões do aumento na intensidade eletromiográfica do músculo VMO neste grupo. Assim, uma maior as atividades, com exceção da su- latam a insuficiência do VMO como atividade mioelétrica do músculo bida de escada, todos os músculos um dos fatores predisponentes a VMO do grupo SDFP em relação ao ativaram de forma simultânea. SDPF. Contudo, durante a ativida- grupo controle sugere que a causa Segundo Souza e Gross(29), o de de subida no step, observou- da SDFP pode não estar relaciona- sincronismo neuromuscular é um se que a intensidade do sinal mio- da à diminuição da atividade entre fator importante no movimento elétrico do VMO estava aumenta- os componentes laterais e mediais normal, implicando que a força não da nos sujeitos sintomáticos ava- do quadríceps. é o único critério para determinar o liados nesse estudo, quando com- Devemos ressaltar que, den- movimento preciso. parado ao VL e GM. De forma si- tro do nosso conhecimento, este A resposta deve-se ao fato milar, durante a atividade de desci- estudo foi o único a constatar um de que os sujeitos saudáveis pos- da do step, foi observado um maior aumento na intensidade do VMO sam estar apresentando um equi- recrutamento do VMO, em compa- em relação aos demais múscu- líbrio apropriado entre os compo- ração aos músculos VL e GM no los avaliados no grupo com SDFP nentes mediais e laterais (dinâmi- grupo SDPF. Já os sujeitos saudá- durante a realização de atividades cos e estáticos), mantendo assim o veis, apresentaram semelhança na funcionais, em especial durante a alinhamento patelar(30). Já os indiví- intensidade de ativação não haven- subida e descida do step. duos sintomáticos, podem apresen- do diferenças estatisticamente sig- tar uma cinemática compensatória. nificativas nas relações GM/VL GM/ so nos estudos atuais(19,28) que en- Assim, analisando a fase excêntrica VMO e VMO/VL. volvem a avaliação eletromiográfi- Embora não haja consen- da atividade, considera-se o fato de Hipotetizamos que os sujei- ca do GM em sujeitos com SDFP, que os sujeitos sindrômicos tendem tos com SDPF possam estar pre- o presente trabalho demonstrou a realizar uma rotação medial do dispostos a um engrama motor al- existir diferença neste grupo de fêmur(24) compensando a tração la- terado, favorecendo uma biomecâ- sujeitos quanto ao tempo de início teral exercida pelo VL, gerando um nica descompensada, gerando dis- de ativação deste músculo durante mecanismo compensatório entre os túrbios nas forças vetorias da pa- a realização de atividades funcio- três músculos avaliados. tela. Com isso, durante a execução nais, demonstrando haver um de- Os resultados deste estudo das atividades funcionais de subi- sequilíbrio no padrão de recruta- mostraram que durante a atividade da e descida de escadas, simula- mento entre os músculos GM, VMO de subida no step, houve uma si- da neste estudo por steps, os vo- e VL. milaridade no grupo controle na re- luntários, durante a reprodução do Sugere-se que novos estudos, lação GM/VMO, GM/VL e VL/VMO. gesto concêntrico, tendem a exe- envolvendo um número maior de Porém, houve alteração na relação cutar uma adução que pode estar sujeitos e que reproduzam exer- VMO/VL, no grupo com SDFP, suge- associada a uma rotação inter- cícios utilizados na prática fisiote- rindo uma maior intensidade de ati- na. Segundo Powers(23), isso pode- rapêutica devem ser realizados, a vação do músculo VMO, nos sujei- ria gerar uma medialização da pa- fim de se investigar possíveis alte- tos com disfunção patelofemural. tela o que em tese, consideran- rações dos três músculos avaliados do suas origens anatômicas, pode neste estudo. Diversos autores(10,12,14,16,17) re- Ter Man. 2010; 8(40):501-507 terapia manual 40.indd 505 25/5/2011 16:38:01 506 Atividade eletromiográfica do glúteo médio na síndrome da dor patelofemoral. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Fulkerson JP. Diagnosis and treatment of patients with patellofemoral pain. Am. J. Sports Med. 2002; 30(3). 447456. 2. Wilson JD, Binder-Macleod, S, Davis IS. Lower Extremity Jumping JMechanics of Female Athletes With and Without Patellofemoral Pain Before and After Exertion. Am. J. Sports Med. 2008; 36(8) 1587-1596. 3. Cibulka, MT, Threlkeld-Watkins, J. Patellofemoral pain and assymetrical hip rotation. Phys Ther. 2005:85(11) 1201-1207. 4. Powers CM, Maffucci R, Hampton S. Rearfoot posture in subjects with patellofemoral pain. J. Orthop Sports. Phys. Ther. 1995;22:155-60. 5. Pulzatto, F. Atividade elétrica dos músculos estabilizadores da patela em indivíduos portadores da síndrome da dor femuropatelar durante exercícios realizados no step. (Dissertação). São Carlos (SP): UFSCar; 2005. 6. Cowan SM, Bennell KL, Hodges PW, Crossley KM, Mcconnel J. Delayed onset of electromyographic activity of vastus lateralis compared with vastus medialis obliquous in subjects with patellofemoral pain syndrome. Arch Phys Med Rehab.2001; 82(2):183-189. 7. Bevilaqua-Grossi, D; Felicio, L.R; Simões, R; Coqueiro, K.R.R; Monteiro-Pedro, V. Avaliação eletromiográfica dos músculos estabilizadores da patela durante exercício isométrico de agachamento em indivíduos com síndrome da dor femoropatelar. Rev Bras Med Esporte. 2005;11(3):159-63. 8. Fulkerson JP, Arendt EA. Anterior knee pain in females. Clin Orthop Relat Res. 2000;372:69-73. 9. Gramany-Say K. Atividade Elétrica dos estabilizadores dinâmicos da patela no exercício de agachamento associado a diferentes posições do quadril em indivíduos normais e portadores de síndrome de dor femoropatelar. (tese de mestrado). São Carlos (SP): UFSCar; 2005. 10. Delahunt, E; Fagan, V. Patellofemoral pain syndrome: a review on the treatment options associated neuromuscular deficits and curren. Br J Sports Med 2008;42:489–495. 11. Csintalan R.P, Schulz, MM, Woo, J, Mcmahon, PJ; Lee, TQ. Gender differences in patellofemoral joint biomechanics. Clin Orthop Relat Res. 2002; 420:260-269. 12. Cowan SM, Bennell KL, Crossley KM, Hodges PW, Mcconnell J. Physical therapy alters recruitment of the vasti in patellofemoral pain syndrome. Med Sci Sports Exerc. 2002;34(12):1879-1885. 13. Powers CM. Patellar kinematics, part I: the influence of vastus muscle activity in subjects with and without patellofemoral pain. Phys Ther. 2000;80(10) 956-64. 14. Ireland ML, Willson JD, Ballantine BT, Davis IM. Hip strength in females with and without patellofemoral pain. J Orthop Sports Phys Ther. 2003;33(11) 671-676. 15. Gramani-Say K , Pulzatto F , Santos GM , Vassimon-Barroso V, Siriani De Oliveira A, Bevilaqua-Grossi D, MonteiroPedro V. Efeito da rotação do quadril na síndrome da dor femoropatelar. Rev. Bras. Fisioter. 2006;10 (1) 75-81. 16. Santos, EP, Bessa, SNF, Lins, CAA, Marinho, AMF, Silva, KMP, Brasileiro, JS. Atividade eletromiográfica do vasto medial oblíquo e vasto lateral durante atividades funcionais em sujeitos com síndrome da dor patelofemural. Rev. Bras. Fisioter. 2008; 12(4): 304-310. 17. Bessa, SNF, Santos, EP, Silveira, RAG, Maia, PHB, Brasileiro, JS. Atividade eletromiográfica do vasto medial oblíquo em portadoras da síndrome da dor patelofemoral. Fisio. e Pesq. 2008;15(2):157-163. 18. Brindle, JT, Mattacola, C, Mccrory, J. Electromyographic changes in the gluteus medius during stair ascent and descent in subjects with anterior knee pain. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2003;11(4):244-251. 19. Kollock, R.O, Onate, J.A, Van Lunen, B. Assessing muscular strength at the hip joint. Athletic Therapy Today. 2008;13(2): 18-24. 20. Claiborne, TL; Armstrong, CW; Gandhi, V; Pincivero, DM. Relationship between hip and knee strength and knee valgus during a single leg squat. Journal of Applied Biomechanics. 2006; 22(1): 41-50. 21. Cichanowski, HR; Schmitt, JS; Johnson, RJ; Niemuth, PE. Hip Strength in Collegiate Female Athletes with Patellofemoral Pain. Med Sci Sports Exercise; 2007:39(8) 1227-1232. 22. Mascal, CL; Landel, R; Powers, CM. Management of patellofemoral pain targeting hip, pelvis, and trunk muscle function: 2 case reports. J. Orthop. Spor. Phys Ther. 2003;33 (11). 647-659. 23. Powers CM. The influence of altered lower-extremity kinematics on patellofemoral joint dysfunction: A theoretical perspective. J. Orth. Spor. Phys. Ther. 2003;33(11): 639-646. 24. Melo de Paula, G; Molinero de Paula, VR; Almeida, GJM; Machado, VEI; Barauna, M A; Bevilaqua-Grossi, D. Correlação entre a dor anterior do joelho e a medida do angulo ``Q`` por intermedio da fotometria computadorizada. Rev. Bras. Fisioter. 2004;8(1):39-43. Ter Man. 2010; 8(40):501-507 terapia manual 40.indd 506 25/5/2011 16:38:01 Kimberly M. P. Silva, Caio A. A. Lins, Denise D. Augusto, Rafaela S. Farias, Amanda M. Josué, Jamilson S. Brasileiro. 507 25. Powers CM, Ward SR, Fredericson M, Guillet M, Shellock FG. Patellofemoral kinematics during weigth-bearing and non-weigth-bearing knee extension in persons with lateral subluxation of the patella: a preliminary study. J Orthop Sports Phys Ther. 2003;33(11):677-685. 26. Hermens, D.H.; Freriks, B. European recommendations for surface electromyography: results of the Seniam project. Enschede (The Netherlands): Seniam/Biomed II/ European Union; 1999. Disponível em: http//:www. seniam.org. 27. Livingston LA. The quadriceps angle: a review of the literature. J Orthop Sports Phys Ther 1998;28(2): 105-109. 28. Boling MC, Bolgla LA, Mattacola CG, Uhl TL, Hosey RG. Outcomes of a Weight-Bearing Rehabilitation Program for Patients Diagnosed With Patellofemoral Pain Syndrome. Arch Phys Med Rehabil. 2006:87:1428-1435. 29. Souza DR, Gross MT. Comparison of vastus medialis obliquus: vastus lateralis muscle integrated electromyographic ratios between healthy subjects and patients with pain. Phys Ther. 1991;71(4):310-316. 30. Christou EA. Patellar taping increases vastus medialis oblique activity in the presence of patellofemoral pain. J Electromyogr Kinesiol. 2004;14(4):495–504. Ter Man. 2010; 8(40):501-507 terapia manual 40.indd 507 25/5/2011 16:38:01 508 Artigo Original Avaliação dos efeitos do método Pilates na função do tronco. Evaluation of the effects of Pilates method on the function of trunk. Vinícius S. Coelho(1), Alexandre H. Kozu(1), Cléssius F. dos Santos(1), Leonardo G. V. Vitor(1,2), André W. Gil(1,2), Márcio R. de Oliveira(1,2), Rodolfo B. Parreira(2,3), Rubens A. da Silva(1,2,3). Centro de pesquisa em Ciências da saúde, Laboratório de avaliação funcional e performance motora humana, Universidade Norte do Paraná, Londrina-PR, Brasil. Resumo Introdução: A fraqueza e fadiga dos músculos lombares são caracterizadas em pacientes com lombalgia crônica. Diferentes tipos de exercícios têm sido empregados na literatura para o tratamento da lombalgia, sendo o método Pilates um deles. Objetivo: Avaliar os efeitos de um treinamento físico com Pilates na flexibilidade, no equilíbrio e na força e resistência lombar em indivíduos saudáveis. Método: Dezesseis voluntários saudáveis, (idade média 26 anos) realizaram um período de treinamento com o método mat Pilates de 14 exercícios de (básico e intermediário), 2 x semana com duração de 1h, durante 11 semanas. As medidas analisadas antes (pré-) e pós-treinamento Pilates foram: flexibilidade (Banco de Wells), equilíbrio unipodal (plataforma de força), força (dinamômetro) e resistência lombar (teste de Sorensen). Resultados: Amostra final do estudo foi de sete voluntários devido a desistência dos demais participantes. Houve pequena alteração conforme a sensibilidade da mudança (≤ 0.43 effect size) em todas as variáveis de medida pós-treinamento Pilates: flexibilidade (média inicial 32.6 vs 35.2 cm: p = 0.249), equilíbrio (deslocamento do centro de pressão 7.4 vs 6.8 cm2: p = 0.507), força (247 vs 269 Nm: p = 0.565), e resistência lombar (95 vs 98 segundos). Conclusão: Os resultados deste estudo mostraram pouca melhora na função do tronco com o Pilates. Embora os exercícios selecionados no presente estudo ofereceram o mínimo de resistência e especificidade para musculatura lombar, novos estudos com maior número de amostra e melhor padronização do Pilates são necessários para determinar os reais efeitos deste método na prevenção e intervenção de lombalgia. Palavras-chave: Músculo lombar, exercícios, biomecânica, postura, reabilitação. Abstract Introduction: The weakness and fatigue of the back muscles are characterized in patients with chronic low back pain (LBP). Different types of exercises has been used in the literature for improving the function of trunk in patients with LBP, such as Pilates method. Objective: To assess the effects of Pilates on flexibility, balance, strength and endurance of the lumbar extensor muscles in healthy subjects. Method: Sixteen healthy volunteers (mean age 26 yrs) performed a training program with a mat method of 14 Pilates exercises (basic and intermediate), 2 x a week for a session of approximately 1h, during 11 weeks. The main outcome measures analyzed before (pre-) and post-Pilates training were: flexibility (sit-and-reach during a Wells test), unipodal support (under a force platform), strength (lumbar dynamometer) and endurance (Sorensen test) of lumbar muscles. Results: Final sample was related to seven volunteers Artigo recebido em 17 de outubro de 2010 e aceito em 21 de dezembro de 2010. 1 Curso de fisioterapia, Universidade Norte do Paraná - UNOPAR, Londrina, Paraná, Brasil. 2 Centro de pesquisa em Ciências da saúde, Laboratório de avaliação funcional e performance motora humana, Universidade Norte do Paraná - UNOPAR, Londrina, Paraná, Brasil. 3 Programa de Mestrado em Ciências da Reabilitação UEL/UNOPAR, Londrina, Paraná, Brasil. Endereço para Correspondência: Rubens Alexandre da Silva. Centro de Pesquisa em Ciências da Saúde, Universidade Norte do Paraná – UNOPAR. Avenida Paris, 675. Caixa Postal 401 - Jd. Piza. CEP 86041-140. Londrina,PR. E-mail: [email protected]. Ter Man. 2010; 8(40):508-516 terapia manual 40.indd 508 25/5/2011 16:38:01 Vinícius S. Coelho, Alexandre H. Kozu, Cléssius F. dos Santos, Leonardo G. V. Vitor, André W. Gil, Márcio R. de Oliveira, Rodolfo B. Parreira, Rubens A. da Silva. 509 only because others participants decided to go out in the middle of study. Few changes, on averaging variables, concerning to sensibility of measuring change (≤ 0.43 effect size) were found in all variables pos-training Pilates: flexibility (mean initial score 32.6 vs 35.2 cm final score: p = 0.249), balance (displacement of pressure center of feet 7.4 vs 6.8 cm2: p = 0.507), strength (247 vs 269 Nm: p = 0.565) and endurance (95 vs 98 s) of lumbar muscles. Conclusion: The results of the present study showed little improvement of trunk function with the mat Pilates method. Although the exercises chosen in this study offered low resistance and specificity to targeted the back muscles, new studies using much more subjects and with better standardization of Pilates exercises are still need to determine the real effects of this exercise modality in prevention and intervention for LBP patients. Keywords: Lumbar muscles, exercises, biomechanical, posture, rehabilitation. rante a Primeira Guerra Mundial(7), O objetivo do presente estu- A lombalgia é uma das quei- tem sido preconizado como forma do foi avaliar os efeitos de um trei- xas mais comuns em clínicas de re- de condicionamento físico nos dias namento por meio do método Pila- abilitação. As disfunções lombares atuais com a finalidade de propor- tes, utilizando exercícios básicos e representam um dos problemas de cionar bem-estar geral ao indiví- intermediários no mat, na função saúde mais frequentes em países duo, boa postura, percepção do do tronco em indivíduos saudáveis. industrializados(1). De fato, as lom- movimento e além de contribuir A hipótese é que após o período de balgias estão entre as primeiras para os ganhos de força e resistên- intervenção por meio do método causas de ausência no trabalho, no cia da musculatura do tronco(10), o Pilates, haja melhora na mobilida- qual em retorno resulta em vários que em retorno poderia prevenir de, no equilíbrio e na força e resis- problemas de exclusão social(1, 2). ou remediar as dores nas costas. O tência dos músculos lombares. INTRODUÇÃO As evidências científicas re- Método é composto por seis prin- latam que uma baixa resistência cípios: (1) concentração, (2) cons- dos músculos lombares é asso- ciência, (3) controle, (4) “centra- Dezesseis indivíduos saudá- ciada à ocorrência de uma primei- mento”, (5) respiração e (6) mo- veis (13 mulheres), recrutados vo- ra lombalgia(3-5) e à incapacidade, vimento harmônico. . Os exer- luntariamente e por conveniên- quando esta última é avaliada após cícios podem ser executados em cia (estudantes do curso de fisio- quatro semanas de lesão lombar(6). solo, bola ou com o uso de apa- terapia da Instituição), participa- O conceito de descondicionamento relhos contra-resistência. Para o ram deste estudo. As característi- físico do paciente lombálgico após interesse do presente estudo, so- cas antropométricas dos indivídu- a diminuição das atividades físicas mente os exercícios de solo (mat) os são apresentadas na Tabela 1. e funcionais explicaria esta grande serão analisados. Os critérios de inclusão foram: (1) fadigabilidade dos músculos lom- Esses exercícios enfatizam a ree- ter entre 20 e 35 anos de idade; bares e possivelmente a dor crôni- ducação respiratória, o alinhamen- (2) ser saudável, e (3) nenhuma ca e a incapacidade. to e o controle do corpo durante a presença de dor lombar ou lombo- Atualmente, é clara a impor- prática, e seguem uma seqüência sacral com ou sem irradiação limi- tância do exercício físico para a in- de progressão para diminuir ou au- tada aos joelhos ou nenhuma pre- tervenção da lombalgia crônica. mentar a dificuldade em termos de sença de dor crônica definida como Uma revisão da literatura sobre carga imposta para os grupos mus- uma dor cotidiana ou quase-coti- o assunto mostrou que o exer- culares alvo(11,13). diana desde três meses. Os crité- abordados e (12) METODOLOGIA cício físico é eficaz na diminuição dos sintomas de dores lomba- Tabela 1 - Características antropométricas dos sujeitos. res e das incapacidades associaCaracterísticas dos sujeitos das às lombalgias(7). Embora a efi- Wilcoxon test Variáveis Sessão 1 Sessão 2 (pós-treinamento) valores P cumentada na literatura, os exer- Altura (m) 1.63 (0.04) 1.63 (0.04) / cícios ativos e com certa dosagem Peso (kg) 61.8 (5.61) 62.5 (6.50) 0.816 IMC (kg/m ) 23.1 (2.67) 23.4 (3.09) 0.849 Flexibilidade (cm) 32.6 (5.96) 35.1 (4.18) 0.249 cácia de certos tipos de exercício em relação a outros não é bem do- são os que dão os melhores resultados clínicos no tratamento da dor lombar(8,9). O método Pilates, criado e desenvolvido por Joseph Pilates du- 2 Dados são a média e desvio padrão em parentêses. Nenhuma diferença significativa entre a sessão 1 e 2 (p > 0.05). IMC: Índice de Massa Corporal. Ter Man. 2010; 8(40):508-516 terapia manual 40.indd 509 25/5/2011 16:38:01 510 Exercícios de pilates. rios de exclusão foram apresentar liados no banco de Wells (Figu- qualquer tipo de doenças mentais ra 1A), no qual eles sentaram, em ou físicas que interfiram no progra- um colchonete, de frente ao banco, ma de exercício; ter sofrido algum com os joelhos estendidos e leva- tipo de cirurgia do aparelho loco- vam as duas mãos juntas em dire- motor; e participar de outro tipo de ção ao seu pé até que tocassem as intervenção. Todos os participan- mãos na régua do banco de Wells. tes assinaram o termo de consen- O teste consiste em medir a dis- timento livre e esclarecido do pro- tância em centímetros de alcance jeto. A pesquisa foi aprovada pelo durante a flexão do tronco com os Comitê de Ética local da Institui- braços e pernas estendidas(14). Três ção (PP/0008/10), respeitando as tentativas foram realizadas e o me- normas de pesquisa em saúde re- lhor valor (maior distância) foi reti- feridas pela Resolução 196/96, do do para a análise estatística. 1A O segundo teste consistiu em Conselho Nacional de Saúde. Duas sessões de laborató- avaliar o equilíbrio postural, sobre rio com intervalo de 11 semanas uma plataforma de força (BIO- foram necessárias para a realiza- MEC400; EMG System do Brasil, ção das avaliações experimentais Ltda., SP) (15) com apoio unipodal. em razão do programa de exercí- O teste foi realizado com a perna cio. Na primeira sessão, considera- de preferência e com protocolo pa- da baseline, as características an- dronizado (Figura 1B): pés descal- tropométricas dos indivíduos foram ços, braços soltos e relaxados ao coletadas assim como as principais lado do corpo e com o segmen- medidas de resultados (flexibilida- to cefálico posicionado horizon- de, equilíbrio, força e resistência talmente ao plano do solo, olhos lombar). Após 11 semanas de trei- abertos e direcionado para um alvo namento com o método Pilates no fixo (cruz preta = 14.5 cm altura estilo mat (procedimento detalha- x 14.5 cm largura x 4 cm espes- do abaixo), uma segunda sessão sura), posicionado na parede e no no laboratório foi realizada para re- mesmo nível dos olhos em distân- avaliar todas as principais medidas cia frontal de 2.5 m. Três tentati- de resultados. Todas as avaliações vas de 30 segundos foram reali- assim como a descrição do progra- zadas, com 30 s de repouso entre ma de exercício com o método Pila- elas tes foram empregadas por avalia- de equilíbrio provenientes da pla- dores treinados (um fisioterapeuta taforma: área de deslocamento do especializado em método Pilates e centro de pressão (COP) dos pés alunos do curso de fisioterapia da e a velocidade média de oscilação instituição). Todos os participan- do COP em ambos os planos (ân- tes antes das avaliações e sessões tero-posterior: A/P e médio-late- de exercícios foram familiarizados ral: M/L), foram quantificados para com todo o protocolo experimental se avaliar o controle postural(16). (testes e exercícios). Os parâmetros foram computados (16) 1B . Os principais parâmetros 1C em cada tentativa, mas somente a Testes físicos (medidas de resultados) A seqüência dos testes para média foi utilizada para as análises estatísticas para aumentar a confiabilidade dos dados. extrair as principais variáveis de O terceiro teste consistia em 1D resultados foi padronizada confor- avaliar a força da musculatura me as exigências de esforço físico lombar com o dinamômetro ana- (leve ao mais exigente exercício) lógico (Back Trenght Dynamome- realizado em cada teste. A flexibili- ter, TAKEI, T.K.K. 5002). Cada par- dade do tronco foi avaliada em pri- ticipante foi posicionado em posi- meiro. Os participantes foram ava- ção semi-agachada, com leve fle- Figura 1 - Medidas de resultados pré- e pós-treinamento Pilates: flexibilidade com banco de Wells (Fig 1A), equilíbrio unipodal sobre uma plataforma de força (Fig 1B), força para medida de torque lombar com dinamometria (Fig 1C) e resistência com o teste de Sorensen para fadiga lombar (Fig 1D).' Ter Man. 2010; 8(40):508-516 terapia manual 40.indd 510 25/5/2011 16:38:01 Vinícius S. Coelho, Alexandre H. Kozu, Cléssius F. dos Santos, Leonardo G. V. Vitor, André W. Gil, Márcio R. de Oliveira, Rodolfo B. Parreira, Rubens A. da Silva. 511 xão do tronco, com os braços es- sistia no teste de Sorensen para seguintes exercícios: O cem, rolar tendidos e com os punhos segu- avaliar a resistência da musculatu- para cima, rolar para baixo, círculo ros no suporte de mãos do dina- ra lombar(4). Este teste é simples e com 1 perna, rolando como 1 bola, mômetro (Figura 1C)(17). O proce- consiste apenas em manter o tron- alongamento de 1 perna, alonga- dimento adotado para a realização co na posição horizontal sem supor- mento de 2 pernas e alongamento do teste assim como as medidas te, mas com os membros inferiores da coluna para frente. Esses exer- seletivas antropométricas dos seg- estabilizados sobre uma maca (Fi- cícios foram realizados em duas sé- mentos corporais (centro de massa gura 1D). A carga é em função do ries cada, variando entre 2 a 8 re- e peso de cada segmento) para es- peso do tronco e varia entre 40% petições, dependendo o exercício. timar o momento de força do tron- e 60% da força máxima da muscu- Da quinta semana até a déci- co e determinar então o torque da latura lombar(11). O teste foi reali- ma primeira semana foi utilizado o articulação lombar L5/S1 foram zado uma única só vez até exaus- método Mat Pilates de nível inter- conforme o estudo de Da Silva et tão e o tempo-limite em segundos mediário com os seguintes exercí- al. (2005)(18). Após a localização (Tlimite) foi utilizado como critério de cios: O cem, rolar para cima, rolar do centro de massa dos segmen- fadiga muscular. para baixo, circulo com 1 perna, ro- tos conforme a estimação biomecânica de Dolan et al. (1995)(18), lando como uma bola, alongamenExercícios Pilates to de uma perna, alongamento de uma fita métrica foi utilizada para Após as medidas principais 2 pernas, alongamento da coluna medir a distância horizontal do baseline, os participantes passa- para frente, Circulação do pesco- braço de força entre a L5/S1 e o ram por um período de 11 sema- ço, Chute com uma perna, série de centro de massa do tronco, e tam- nas de treinamento com o méto- chutes laterais, Ponte e Vôo. Esses bém a distância horizontal entre a do mat Pilates, com freqüência de exercícios foram realizados confor- L5/S1 e aplicação da força no su- duas vezes por semana e cada ses- me a mesma prescrição da fase in- porte de mãos do dinamômetro. O são com duração aproximada de trodutória (2 séries, entre 2 a 8 re- torque L5/S1 (TL5/S1) total foi de- uma hora. Os exercícios foram rea- petições). terminado pela soma do momento lizados sempre no mesmo ambien- Após a décima primeira se- de força criado pelo peso do tronco te (clínica de fisioterapia da Insti- mana de intervenção, as principais (MPT: massa do tronco × distân- tuição). A tabela 2 apresenta os 14 medidas de resultados foram nova- cia L5/S1 ao centro de massa do exercícios realizados e repartidos mente avaliadas utilizando os mes- tronco) e momento de força pro- conforme a intensidade e a fase mos procedimentos e protocolo ex- duzido pelo dinamômetro (MFD: (básica e intermediária). perimental para verificar os efeitos força × distância L5/S1 à aplicação Nas quatro primeiras sema- da força no suporte), como segue: nas foi utilizado o método Mat Pi- TL5/S1 = (MPT + MFD). Todos os va- lates de nível introdutório com os de adaptação muscular do método Pilates nos indivíduos. Os dados foram analisados lores em kg foram transformados em Newton e posteriormente computados em Newton - metros (Nm) para medida de torque. Um programa de análise no software MA- Tabela 2 - Protocolo de exercícios de Pilates durante o treinamento. Exercícios realizados Fase nº de repetições Básica/Intermediária 50/100 TLAB (Version 7.0; The MathWorks O Cem Inc., Natick, MA, USA) armazenou Rolar para Baixo Básica/Intermediária 3/8 Rolar para cima Básica/Intermediária 2/8 Círculo com 1 perna Básica/Intermediária 5 cada perna de força lombar consistia em pro- Rolando como Bola Básica/Intermediária 6/8 duzir 3 tentativas de contração vo- Alongando 1 perna Básica/Intermediária 8 luntária máxima de modo isomé- Alongando 2 pernas Básica/Intermediária 8 Alongando coluna para frente Básica/Intermediária 5/8 Intermediária 2 todos esses dados e computou as medidas de TL5/S1 para cada biótipo corporal. O protocolo do teste trico (CVM), durante 5 segundos, com 2 minutos de repouso entre cada CVM. Encorajamentos verbais Circulação do Pescoço foram dados para todas as tentati- Chute com 1 perna Intermediária 5 vas e o maior valor de CVM foi con- Série de chutes Laterais Intermediária 8 Ponte Intermediária 8 Vôo Intermediária 3x30 seg. siderado para determinar o torque lombar (TL5/S1). O quarto e último teste con- Ter Man. 2010; 8(40):508-516 terapia manual 40.indd 511 25/5/2011 16:38:03 512 Exercícios de pilates. nas características antropométricas dos indivíduos entre a sessão 1 e 2 (Tabela 1). A média dos valores da flexibilidade no banco de Wells foi de 32.6 cm na avaliação inicial, enquanto na final aumentou para 35.18 cm (Tabela 1). Apesar da melhora, essa diferença não foi estatisticamente significativa (p = 0.249). Nenhuma diferença signifi- cativa foi também encontrada em ambos os parâmetros de equilíbrio: área de descolamento COP (Figura 2A; p = 0.406) e velocida2A de média de oscilação do COP (Figura 2B; plano A/P: p = 0.749 e M/L: p = 0.798), embora ocorresse uma diminuição da instabilidade postural pós-treinamento Pilates (Figura 2A e B). Foi observado um aumento na força (TL5/S1 247 inicial vs 269 Nm e uma leve melhora na resistência lombar (Tlimite 95 s inicial vs 98 s) pós-treinamento Pilates, mas as diferenças entre a sessão 1 e 2 não foram estatisticamente significativas (p > 0.05, ver Figura 3A e B). Para todas as variáveis avaliadas no presente estudo (flexibi- 2B Figura 2 - Parâmetros de equilíbrio: área de deslocamento do COP (Fig 2A) e Velocidade média de oscilação do COP em ambos os planos (Fig 2B) durante as medidas pré- e pós-treinamento Pilates. lidade, equilíbrio, força e resistência lombar), em média, se obteve pequena mudança conforme a sensibilidade do tratamento na função do tronco (effect size ≤ 0.43), in- por meio da estatística descriti- treinamento). A sensibilidade da dicando em partes a ineficiência da va com medidas de tendência cen- mudança em razão do treinamento intervenção Pilates para as melho- tral, média e desvio padrão (DP). A foi também investigada pelo cálcu- ras na função do tronco. distribuição paramétrica dos dados lo do effect size (ES), comparado: foi verificada pelo teste de Shapiro Wilk. Devido à perda experi- ES = (média inicial – medial DISCUSSÃO O método Pilates tem sido final)/DP inicial mental (n = 9 indivíduos) e o ta- O programa estatístico NCSS considerado uma excelente mo- manho final da amostra, um teste (versão 6.0 para Windows) foi uti- dalidade de exercício para melho- estatístico não-paramétrico (Wilco- lizado para efetuar as análises es- rar a estabilidade da coluna ver- xon test) pareado foi utilizado para tatísticas, com significância adota- tebral, a força e a resistência dos comparar o efeito do treinamento da de 5% (P < 0.05). músculos lombares(19). Este método, por meio de seu princípio de com método Mat Pilates nas principais medidas de resultados: fle- ação, poderia não apenas ser po- RESULTADOS xibilidade lombar (em cm), equilí- Nove indivíduos desistiram de sitivo para diminuir os sintomas de brio (parâmetros do COP em cm2 e participar no meio estudo por von- dores lombares de pacientes com cm/s), força (Torque TL5/S1 em Nm) tade própria, sendo uma amos- lombalgia crônica dentro do princí- e resistência lombar (Tlimite em s) tra final de sete indivíduos para as pio de preservação da estabilidade computadas entre a sessão 1 (ba- análises estatísticas. Não houve lombar, mas também ser um mé- seline) e 2 (pós 11 semanas de nenhuma todo preventivo e intervencionista alteração significativa Ter Man. 2010; 8(40):508-516 terapia manual 40.indd 512 25/5/2011 16:38:03 Vinícius S. Coelho, Alexandre H. Kozu, Cléssius F. dos Santos, Leonardo G. V. Vitor, André W. Gil, Márcio R. de Oliveira, Rodolfo B. Parreira, Rubens A. da Silva. 513 Evidências científicas recentes sobre o assunto apontam que o exercício progressivo contra resistência tem valor comprovado na melhora dos sintomas clínicos (dor, incapacidades, disfunção muscular) em pacientes com lombalgia crônica(23). Pacientes com lombalgia crônica são geralmente caracterizados por fraqueza e fadiga muscular, falta de mobilidade e controle postural deteriorado por falta de estabilidade da espinha lombar(2426) . Exercícios resistidos e métodos inovadores como Pilates que enfa3A tiza princípios tais como fortalecimento da musculatura abdominal e paravertebral em paralelo a boa postura, alinhamento do corpo e respiração(27), são atualmente preconizados nos programas de exercícios em academias e nos programas de reabilitação para o tratamento de lombalgias. Por outro lado, antes de testar seus efeitos em pacientes com dor lombar, é importante delinear a prescrição desses exercícios (Pilates) e investigar seus efeitos em indivíduos saudáveis para se estabelecer o melhor protocolo de in- 3B Figura 3 - Resultados pré- e pós-treinamento Pilates para força lombar – medidas de TL5/S1 (Fig 3A) e resistência lombar – teste de Sorensen Tlimite (Fig 3B). tervenção com devida progressão do exercício para pacientes. Infelizmente, os resultados do presente estudo mostraram, em partes, para correções de problemas pos- juízos para a coluna lombar(21). Al- a ineficácia do nosso protocolo de turais. Os problemas posturais (as- guns autores apontam a neces- prescrição com o método Mat Pila- simetrias segmentares e muscula- sidade de um trabalho de base tes para melhora da flexibilidade, res, escolioses, cifoses e lordoses abrangente, que atue principal- do equilíbrio postural, da força e da pronunciadas) têm sido considera- mente, no plano preventivo e edu- resistência dos músculos lombares dos nos dias de hoje um sério pro- cacional para promover mudanças durante um programa de treina- blema de saúde pública, pois atin- de hábitos inadequados e até dimi- mento de 11 semanas. O efeito de gem uma alta incidência na popu- nuir a alta incidência de afecções mudança conforme a sensibilida- lação economicamente ativa, in- posturais no jovem e no adulto(22). de do tratamento (diferenças entre capacitando-a temporariamente Sendo assim, o exercício como re- a sessão 1 e 2 corrigida pela vari- ou definitivamente para atividades curso terapêutico para a preven- ância dos dados) foi menor e igual profissionais(20). ção e tratamento da dor lombar que 0.40, o que indica pouco efei- A estabilização da coluna é tem recebido grande atenção nos to positivo nas principais variáveis ocasionada por três subsistemas: últimos anos porque pode preve- de medida. Apesar da leve melho- ativo (músculos e tendões), pas- nir a fraqueza e a baixa resistên- ra apresentada para todas as va- sivo (vértebras, discos e ligamen- cia dos músculos eretores da espi- riáveis, todos os resultados não tos) e o neural (sistema nervoso) nha, responsáveis pela etiologia da foram significativamente diferen- (21) . Contudo, a disfunção de algum dor lombar não específica, e assim tes, o que não colabora com outros desses subsistemas pode levar a ajudar no tratamento de pacientes achados da literatura(28-30). compensações, adaptações e pre- (3-5) com dor lombar . Sekendiz et al.(28) examinaram Ter Man. 2010; 8(40):508-516 terapia manual 40.indd 513 25/5/2011 16:38:03 514 Exercícios de pilates. o efeito dos exercícios de Mat Pila- culos para adaptações fisiológi- resultados. Petrofsky et al.(35) tam- tes na força e na flexibilidade da cas e os estímulos sensório-moto- bém sugeriram que o método Mat musculatura de tronco em 45 mu- res para adaptações neuromuscu- Pilates fornece o mínimo de resis- lheres adultas sedentárias, durante lares de controle postural e coorde- tência para a musculatura durante 5 semanas (3 x semana) com um nação motora, por exemplo(12,31,32). os exercícios e que longo período protocolo que preconizava exercí- Um recente estudo mostra que ati- de treinamento deveria ser reco- cios de: cem, ponte, serra e swim- vação dos músculos lombares (ou mendado para se obter os ganhos, ming. Os autores mostraram uma seja, a carga de trabalho) com os o que suporta nossa hipótese. melhora significativa em ambas va- principais exercícios do Mat Pila- Por fim, os resultados do pre- riáveis. Kolyniak et al (29) utilizaram tes (chute com 1 perna, chute com sente estudo foram possivelmente o método Pilates no nível interme- 2 pernas, swimming) para região influenciados pelo número reduzido diário-avançado, e obtiveram como lombar varia entre 15 a 61% da da amostra na avaliação final (n = resultado significativo um aumento capacidade máxima dos músculos 7). Embora ocorresse uma leve me- de 25% no pico de torque (força) lombares(33). Contudo, conforme os lhora para algumas variáveis, o nú- dos músculos extensores e flexores autores desse trabalho, somente o mero reduzido de participantes na do tronco durante avaliação Isoci- swimming, em relação ao outros, análise final aumentou as possibili- nética. Já Bertolla et al.(30) mostra- ativa suficientemente (em média dades de obter um erro do tipo-II, ram uma melhora significativa na 52%) a região lombar para indu- ou seja, aceitar a hipótese nula onde flexibilidade avaliada com o banco zir mudanças fisiológicas para ga- ela possivelmente seria rejeitada de Wells no grupo treinado com nhos de força e resistência da mus- pelo efeito positivo da intervenção. método Pilates durante 4 semanas, culatura lombar. Infelizmente no com freqüência de 3 x semana, em presente estudo, este exercício foi atletas juvenis de futsal. preconizado somente uma vez na Os resultados do presente es- Uma das explicações dos re- fase intermediária e com peque- tudo apresentam pouco efeito do sultados do presente estudo em na dose em sua prescrição em pa- treinamento Pilates nas variáveis virtude das discordâncias com a li- ralelo a outros exercícios que so- de flexibilidade, equilíbrio, força e teratura, pode ser associada a di- licitavam muito mais os abdomi- resistência lombar. Diferentes fato- ferentes fatores que compromete- nais e os membros inferiores (i.e.; res poderiam explicar esses resul- ram ambos a validade interna (me- cem, rolar para cima, círculos com tados. Contudo, dentre eles, a es- lhor precrição do exercício relacio- 1 perna, entre outros). pecificidade do exercício que não CONCLUSÃO nado às medidas de resultados) e Outro fator determinante para foram bem focados para os mús- externa (generalização com ou- explicação causa-efeito de nossos culos da região lombar, a prescri- tros estudos e outras populações) resultados, foi a duração do perí- ção e o tamanho da amostra foram do estudo. Primeiramente, os 14 odo de intervenção. Talvez 11 se- os fatores determinantes para que exercícios selecionados e padroni- manas com esses exercícios sele- os resultados não obtivessem efei- zados durante o treinamento não cionados e variados não sejam re- tos positivos da intervenção. Novos especificaram tanto a região lom- almente suficientes para diagnosti- estudos são ainda necessários para bar. A maioria dos exercícios traba- car melhoras no tratamento. É bem melhor estabelecer os protocolos lhava principalmente o grupo mus- conhecido que as primeiras sema- de exercícios Pilates para melhora cular abdominal e o membro infe- nas de adaptação ao treinamento na função do tronco e assim ajudar rior, que participavam apenas na são voltadas para os mecanismos na prevenção e tratamento de pa- medida de flexibilidade realizan- neurais, e somente após 8-10 se- cientes com lombalgia crônica. do a flexão do tronco assim como manas que os mecanismos fisioló- na manutenção do controle pos- gicos periféricos de hipertrofia, au- tural durante a tarefa de equilí- mento da força e resistência são Rubens A. da Silva, pesquisa- brio unipodal. Segundo, é possí- presentes(34). Como os exercícios dor bolsista Fundação Nacional de vel que os exercício selecionados padronizados no presente estudo Desenvolvimento do Ensino Supe- foram também de baixa intensida- não solicitavam suficientemente a rior Particular (FUNADESP). Már- de para o recrutamento da muscu- musculatura alvo avaliada, é possí- cio R. de Oliveira bolsista PIBIC/ latura lombar de interesse, e com vel que os mecanismos fisiológicos CNPQ, e Leonardo G.V Vitor bol- baixa prescrição de treino (2 séries de ação fossem retardos e transfe- sista iniciação científica FUNADESP, entre 2 a 8 repetições), o que não ridos para outros grupos muscula- ambos alunos do curso de Fisiote- estimula a sobrecarga dos mús- res não avaliados nas medidas de rapia UNOPAR. AGRADECIMENTOS Ter Man. 2010; 8(40):508-516 terapia manual 40.indd 514 25/5/2011 16:38:03 Vinícius S. Coelho, Alexandre H. Kozu, Cléssius F. dos Santos, Leonardo G. V. Vitor, André W. Gil, Márcio R. de Oliveira, Rodolfo B. Parreira, Rubens A. da Silva. 515 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Hérisson Ch, Revel M. Réactivation physique et lombalgie. Paris: ed. Masson, 1999. 2. Nachemson AL, Jonsson E. Neck and low back pain: The scientific evidence of causes, diagnosis and treatment. Philadelphia: Lippencott Williams & Wilkins, 2000. 3. Adams MA, Mannion, AF, Dolan P. Personal risk factors for first-time low back pain. Spine, 1999; 24(23):24972505. 4. Biering-Sorensen F. Physical measurements as risk indicators for low-back trouble over a one-year period. Spine, 1984;9(2):106-119. 5. Luoto S, Heliovaara M, Hurri H, Alaranta H. Static back endurance and the risk of low-back pain. Clin. Biomech., 1995;10(6):323-324. 6. Enthoven P, Skargren E, Kjellman G, Öberg B. Course of back pain in primary care: A prospective study of physical measures. J Rehabil Med, 2003;35(4): 168-173. 7. Van Tulder M, Malmivaara A, Esmail R, Koes B. Exercise therapy for low back pain. Spine, 2000:25(21)2784-2796. 8. Hayden J, Van Tulder M., Tomlinson G. Systematic review: Strategies for using exercise therapy to improve outcomes in chronic low back pain. Ann. Int. Med., 2005:142(9):776-785. 9. Vuori IM. Dose-response of physical activity and low back pain, osteoarthritis, and osteoporosis. Med. Sci. Sports Exerc., 2001:33(6):551-586. 10. Silva YO, Melo MO, Gomes LE, Bonezi A, Loss JF. Análise da resistência externa e da atividade eletromiográfica do movimento de extensão de quadril realizado segundo o método Pilates. Rev Bras. Fisiot. 2009;13(1). 11. Pires DC, Sá CKC. Pilates: notas sobre aspectos históricos, princípios, técnicas e aplicações; Rev. Dig., Buenos Aires, 2005;10. 12. Kolyniak NEG, Cavalcanti SMB, Aoki MS. Avaliação isocinética da musculatura envolvida na flexão e extensão do tronco: efeito do método Pilates. Rev. Bras. Med. Esporte, 2004;10(6). 13. Sacco ICN, Andrade MS, Souza PS, Nisiyama M, Cantuária AL, Maeda FYI, Pikel M, et al. Método pilates em revista: aspectos biomecânicos de movimentos específicos para reestruturação postural – Estudos de caso. Rev. Bras. Ciências Mov., 2005;13:65-78. 14. Da Silva, RA; Parreira, RB; Medonça, L; Ghizoni, J; Vitor, LG; Teixeira, DC; Amorim, CF. Developing validity and reliability of a new force plataform-based in balance measures in older and young adults. Proceeding in the 40 Neuroscience Meeting. San Diego (USA), 2010: 1206-1207. 787.13. 15. Da Silva, RA; Parreira, RB; Medonça, L; Ghizoni, J; Vitor, LG; Teixeira, DC; Amorim, CF. Developing validity and reliability of a new force plataform-based in balance measures in older and young adults. Proceeding in the 40 Neuroscience Meeting. San Diego (USA), 2010: 1206-1207. 787.13. 16. Gribble A, Hertel J. Effect of hip and ankle muscle fatigue on unipedal postural control. J Electrom. Kinesiol., 2004:14(6):641-646. 17. Da Silva RA, Arsenault AB, Gravel D, Lariviere C, De Oliveira E. Back muscle strength and fatigue in healthy and chronic low back pain subjects: A comparative study of 3 assessment protocols. Arch.Phys.Med.Rehabil., 2005:86(4):722-729. 18. Dolan P, Mannion AF, Adams MA. Fatigue of the erector spinae muscles. A quantitative assessment using “frequency banding” of the surface electromyography signal. Spine, 1995:20(2):149-159. 19. Bernardo LM. The effectiveness of Pilates training in healthy adults: An appraisal of the research literature. J Bodywork Mov. Ther., 2007: 11(2):106-110. 20. Philadelphia Panel. Philadelphia Panel evidence-based clinical practice guidelines on selected rehabilitation interventions for low back pain. Phys. Ther., 2001; 81(10): 1641-1674. 21. Panjabi MM. (1992). The stabilizing system of the spine. Part I. Function, dysfunction, adaptation, and enhancement. J. Spinal Disord.;1992:5(4)383-389 22. Ferreira EAG. Postura e controle postural: desenvolvimento e aplicação de 23. método quantitativo de avaliação postural. São Pulo; 2006. Doutorado [Tese em Fisiopatologia Experimental] Universidade de São Paulo. 24. Mayer J, Mooney V, Dagenais S. Evidence-informed management of chronic low back pain with lumbar extensor strengthening exercises. Spine J, 2008:8:96-113. 25. McGill SM. Low Back Disorders. Evidence-Based Prevention and Rehabilitation. J Can. Chiropr. Assoc., 2007:51(2):124. 26. Moffroid MT, Haugh LD, Haig AJ, Henry SM, Pope MH. Endurance training of trunk extensor muscles. Phys. Ther., 1993:73(1):10-17. Ter Man. 2010; 8(40):508-516 terapia manual 40.indd 515 25/5/2011 16:38:03 516 Exercícios de pilates. 27. Sparto P J, Parnianpour, M, Marras WS, Granata KP, Reinsel, TE, Simon S. Neuromuscular trunk performance and spinal loading during a fatiguing isometric trunk extension with varying torque requirements. J Spinal Disord., 1997:10(2), 145-156. 28. Robinson L, Fischer H, Knox J, Thompson G. Official body control Pilates manual: the ultimate guide to the Pilate method. London: Macmillan; 2002. 29. Sekendiz B, Altuna O, Korkusuza F, Akınb S. Effects of Pilates exercise on trunk strength, endurance and flexibility in sedentary adult females. J Bodywork Mov. Ther. 2007;11:318–326. 30. Kolyniak NEG, Cavalcanti SMB, Aoki MS. Avaliação isocinética da musculatura envolvida na flexão e extensão do tronco: efeito do método Pilates. Rev. Bras. Med. Esporte, 2004;10(6). 31. Bertolla F, Baroni BM, Junior ECPL, Oltramari JD. Efeito de um programa de treinamento utilizando o método Pilates® na flexibilidade de atletas juvenis de futsal. Rev. Bras. Med. Esporte, 2007;13(4). 32. Slade SC, Keating JL. Trunk-strengthening exercises for chronic low back pain: a systematic review. J Manipulative Physiol. Ther., 2006: 29(2):163-173. 33. Menacho, MO; Obara, K; Conceicao, JS; Chitolina, ML; Krantz,DR; Da Silva, RA; Cardoso, JR. Electromyographic effect of mat Pilates exercise on the back muscle activity of healthy adult females. J Manipulative Physiol Ther, 2010:33 (9):672-678. 34. Menacho MO, Obara K, Conceiçao JS, Chitolina ML, Krantz D, da Silva RA, Cardoso, JR. Electromyographic ef- fect of mat Pilates exercise on the back muscle activity of healthy adult females. Journal Manipulative Physiol. Ther., 2010: in press. 35. Enoka RM. Neuromechanical basis of kinesiology, Colorado: Human Kinetics; 1994. 36. Petrofsky J, Morris A, Bonacci J, Hanson A, Jorritsma R, Hill J. Muscle Use During Exercise: A Comparison of Conventional Weight Equipment to Pilates With and Without a Resistive. Exercise Device. The Journ. of Appl. Res. 2005;5(1). Ter Man. 2010; 8(40):508-516 terapia manual 40.indd 516 25/5/2011 16:38:03 517 Artigo Original Ocorrência de DTM e relação entre a dor e abertura bucal em indivíduos que se utilizam de montaria diariamente. Occurrence of TMD and pain relationship with oral opening in individuals that use of riding daily. Mariana Moreira da Silva(¹), Tabajara de Oliveira Gonzalez(2), Claudia Santos Oliveira(3), Fabiano Politti(2), Daniela Aparecida Biasotto-Gonzalez(3). Resumo Introdução: Tendo cada profissão a sua particularidade, podemos observar que a disfunção temporomandibular (DTM) pode ser mais freqüente em áreas especificas, principalmente as que sofrem estímulos externos constantes como na montaria a cavalo. Objetivo: Avaliar a ocorrência de DTM em funcionários militares que se utilizam da montaria diária e avaliar a correlação entre a abertura bucal máxima sem auxílio em policiais que apresentam dor. Método: Realizou-se um estudo transversal e observacional, com a participação de 20 funcionários militares que montam a cavalo diariamente e 20 que não fazem montaria a cavalo diária. Para o diagnóstico e determinação da prevalência da DTM foi utilizado o questionário RDC/TMD, Eixo I e Eixo II, sendo que os avaliadores não se comunicaram durante as avaliações. Resultados: Dentre os grupos avaliados, a maior prevalência de DTM foi dos policiais que não montam a cavalo. Observou-se também que a limitação da abertura bucal máxima, não tem relação direta com a dor, neste mesmo grupo. Conclusão: Os funcionários militares que montam diariamente, apresentam menor prevalência de DTM quando comparados com os funcionários militares que não montam, porém o Grupo Experimental apresentou correlação da abertura bucal máxima com a dor. Palavras- chave: Disfunção da articulação temporomandibular, dor, montaria. Abstract Introduction: Since each profession to its particularity, we can observe that temporomandibular dysfunctions (TMD) may be present more frequently in certain areas, so we especially those who suffer constant external stimuli such as riding in the horse. Objective: To evaluate the occurrence of TMD in military personnel who use the riding every day and assess the correlation between maximum mouth opening without help with the pain. Method: We conducted a cross-sectional and observational, with the participation of 20 military officers who ride the horse daily and 20 who do not ride the horse every day. For the diagnosis and determining the prevalence of TMD questionnaire was used RDC/ TMD, Axis I and Axis II, and the evaluators had no communication during the evaluations. Results: Among the groups, the higher prevalence of TMD was the police who do not ride the horse. It was also noted that limiting the maximum mouth opening, it has a direct relationship with pain, this same group. Conclusion: The military officers who ride daily, has a lower prevalence of TMD compared to military officials who do not ride, but the experimental group showed a correlation of maximum mouth opening with pain. Keywords: Temporomandibular joint disorders, pain, riding. Artigo recebido em 26 de setembro de 2010 e aceito em 10 de dezembro de 2010. 1 Discente do Programa de Mestrado em Ciências da Reabilitação, Universidade Nove de Julho – Uninove, São Paulo, Brasil. 2 Docente do Curso de Graduação em Fisioterapia e Colaborador do Programa de Mestrado em Ciências da Reabilitação, Universidade Nove de Julh – Uninove, São Paulo, Brasil. 3 Docente do Programa de Mestrado em Ciências da Reabilitação, Universidade Nove de Julho – Uninove, São Paulo, Brasil. Endereço para Correspondência: Daniela Aparecida Biasotto-Gonzalez. Avenida Francisco Matarazzo, 612 – Água Branca. CEP 05001-100. São Paulo, SP, Brasil. Tel: 11 3665 9325. E-mail: [email protected]. Ter Man. 2010; 8(40):517-522 terapia manual 40.indd 517 25/5/2011 16:38:03 518 DTM, dor e abertura bucal. INTRODUÇÃO res e articulares da região cervi- rais por meio dos mecanismos de A Articulação Temporoman- cal, muitas vezes atribuídas como feedback, resposta compensatória dibular (ATM), vem sendo estuda- causas de alterações na região reflexa ao desvio da postura, e fe- da por mais de 40 anos pela comu- orofacial. ed-forward, resposta antecipató- nidade científica, sobre suas etio- Essas mudanças e relações, ria prevenindo a desestabilização logias, distúrbios e alternativas provavelmente, devido corporal(21) evocados através de terapêuticas(1) e junto, as patolo- às inter-relações existentes entre um complexo sistema de mecanis- gias que envolve esta articulação. ocorrem a ATM e a região cervical, sendo mos multissensoriais: sensibilida- que o sistema muscular o responsável de exteroceptiva da pele, proprio- afetam a fisiologia da ATM ou es- por unir as duas regiões. A relação ceptivos (a partir da cervical, qua- truturas associadas podem origi- postural entre a ATM e a coluna dril, tornozelo e joelho), vestibular nar disfunção temporomandibular cervical é mostrada em alguns tra- (utrículo, sáculo e canais semicir- (DTM), caracterizadas por sinais balhos que relataram ser comum culares) e visual(22,23). como ruídos articulares, limitações observar hiperextensão da cervi- ou desvios durante o movimento cal alta (occipital, C1 e C2) e fle- o mandibular e sintomas como dor xão da cervical baixa (C3 a C7) em a busca pelo equilíbrio é ineren- pré-auricular, dor na ATM ou nos pacientes com DTM, especialmente te na vida do ser humano, princi- músculos mastigatórios(2-4). naqueles que apresentam classe II palmente quando montado em um de Angle(14). cavalo(21). Entretanto, alterações Assim a disfunção temporomandibular (DTM) pertence a um objetivo constantemente, O movimento tridimensional grupo heterogêneo de patologias zar o diagnóstico de DTM alguns do cavalo estimula o sistema vesti- que afetam a articulação temporo- autores(15,16) têm utilizado o crité- bular, cerebelar e reticular do pra- mandibular, o aparelho mastigató- rio diagnóstico de pesquisa para ticante, que por sua vez excitam rio, envolvendo a interligação ar- as temporomandibu- os músculos posturais apropriados trogênica e ou miogênica, e ainda a lares RDC/TMD na condução de para a manutenção do equilíbrio influência do sistema nervoso, dos pesquisas clínicas sobre DTM. O adequado(24). desordens de sofre padroni- (6) Com Dentre as instabilidades que corpo órgãos internos e do psiquismo . RDC/TMD demonstra uma confia- Observa-se também que o Ocorrem principalmente em adul- bilidade suficientemente elevada movimento tridimensional do cava- tos, acometendo 1,5 a 2 vezes a para os diagnósticos mais comuns lo além de exercer influencia dire- mais no sexo feminino(7), e estão de DTM, fornecendo suporte para ta aos músculos responsáveis pelo presentes em cerca de 40-70% pesquisa e para tomada de deci- controle postural, promove estí- da população em geral, onde 33% sões clínicas. mulos da cavidade oral, múscu- apresentam pelo menos um sin- Inicialmente, o RDC/TMD foi los da laringe, da mastigação e da toma, destes apenas 7% procu- desenvolvido para a língua inglesa. respiração, potencializando deste ram qualquer tipo de atendimento Suas traduções e validações foram modo a produção da fala através (mulheres quatro vezes mais que feitas para vários países e línguas do controle da coordenação fono- homens(8). não-inglesas, permitindo a aplica- respitratória(25). Em geral, pacientes com essa disfunção, podem apresentar si- Portanto é importante dizer ção e padronização de estudos clínicos entre diferentes culturas(7). Em somente pelo alinhamento realizados gravitacionário homem/cavalo, ob- como dor na face, que pode ser re- com a aplicação do questionário serva-se que estes são imóveis um ferida para a cabeça, dor durante anamnético(17,18) pode-se observar em relação ao outro, porém mó- os movimentos funcionais, hipera- que hábitos parafuncionais, bem veis em relação ao solo. Quando tividade dos músculos mastigató- como características psicológicas conseguem acionar o sistema ner- rios, bruxismo, apertamento, so- e psicossociais podem potenciali- voso, alcançam os objetivos neu- brecarga articular, interferências zar e influenciar nas disfunções dos romotores, tais como: melhora do oclusais e limitação dos movimen- músculos mastigatórios e articula- equilíbrio, ajuste tônico, alinha- tos da mandíbula, além de altera- ções temporomandibulares e até mento corporal, consciência cor- ções posturais(9-10). mesmo na postura corporal(19). poral, coordenação motora e força nais e sintomas característicos, Alguns estudos(11-13), já de- O estudos que controle postural resul- muscular(26). monstraram alterações cervicais ta da interação entre orientação significativas em pacientes com e estabilidade(17,18,20) envolvendo que necessitam do uso do cava- Considerando as profissões DTM quando comaparadaos a indi- a ativação de músculos controla- lo montando com freqüência cons- víduos normais. Dentre essas, en- dos pelo Sistema Nervoso Cen- tante, é possível que algumas al- contra-se as disfunções muscula- tral, que favorecem ajustes postu- terações posturais possam ocorrer Ter Man. 2010; 8(40):517-522 terapia manual 40.indd 518 25/5/2011 16:38:03 Mariana Moreira da Silva, Tabajara de Oliveira Gonzalez, Claudia Santos Oliveira, Fabiano Politti, Daniela Aparecida Biasotto-Gonzalez. 519 e até interferir no sistema articu- 50 anos; (b) policiais que montam que o indivíduo tenha se recusado, lar, inclusive na ATM(27). Alguns au- diariamente a cavalo (grupo expe- ou não foi capaz de colaborar. tores relatam(28) que estudar gru- rimental) e que não montam a ca- A seguir foi realizado o exame pos e/ou populações específicas valo (grupo controle), (c) da região físico para avaliar os movimentos poderá vir ajudar em novas pes- do Grande ABC e (d) sexo mascu- mandibulares, através de um pa- quisas clínicas para o tratamento lino. químetro digital, utilizando-se o das DTMs . Os fatores de exclusão foram: Eixo I do RDC/TMD, que é a ava- Em relação à prevalência de (a) idade inferior a 27 e superior liação física descrita por Dworkin DTM, ainda não foi encontrado in- a 50 anos; (b) história de doenças e LeResche(13), composta por dez formações definitivas e por esse sistêmicas e doenças que possam questões. motivo, é importante que diferen- comprometer a articulação tem- Os indivíduos sentaram na ca- tes populações sejam investigadas poromandibular, como por exem- deira em uma posição aproxima- para melhor compreender os as- plo, artrite e artrose, (c) indivíduos da de 90 graus em relação ao exa- pectos envolvidos na sua patogê- submetidos a tratamento odonto- minador. Os examinadores usa- nese para que a prevenção e te- lógicos e ou fisioterapeuticos e (d) ram luvas durante todo o exame e rapias ainda mais eficientes sejam sexo feminino. os indivíduos com próteses remo- Foram avaliados 40 indivídu- víveis foram examinados com as Entretanto, para o diagnósti- os, sendo todos com idade variando próteses na boca, exceto quando co da DTM se faz necessário utili- entre 27 a 50 anos (38,5±16,26), foi necessário avaliar a mucosa e zar ferramentas diagnósticas vali- todos do sexo masculino (Tabe- gengiva, e para realizar as palpa- dadas e confiáveis. Assim, o obje- la 1), 20 policiais que montam a ções intra-orais. tivo do presente estudo foi avaliar cavalo diariamente, denominados Para análise dos dados foi a ocorrência de DTM em policiais Grupo Experimental, e os outros calculada a porcentagem dos in- que montam a cavalo diariamente 20 policiais que não montam a ca- divíduos que apresentam ou não e comparar com policiais que não valo, denominados de Grupo Con- DTM, a partir dos dados gerais ob- montam a cavalo e avaliar a rela- trole. tidos pelo Critério Diagnóstico das aplicadas à população. Desordens Temporomandibulares ção entre a abertura bucal máxima Inicialmente os participantes sem auxílio com a presença de dor. responderam aos RDC/TMD segun- (RDC/TMD) - Eixo I, além da des- Assim, optamos neste estudo utili- do Dworkin e LeResche(13), Eixo II, crição de dados importantes neste zar uma ferramenta confiável e va- composto por 31 questões envol- Eixo I, avaliando a abertura má- lidada, o RDC/TMD, que apresenta vendo saúde em geral, saúde oral, xima de boca sem auxílio e a dor, os subtipos de DTM estabelecidos. história de dor facial, limitação de conforme questão E 4b. Para veri- abertura, ruídos, hábitos, mordi- ficar a relação entre os grupos, ou da, zumbidos, doenças em geral, seja, se são independentes, foi uti- MÉTODO O trabalho foi aprovado pelo problemas articulares, dor de ca- lizado o teste Exato de Fisher con- Comitê de Ética em Pesquisa da beça, comportamento atual, per- siderando p<0,05. Universidade Nove de Julho (pro- fil econômico e social. O questio- tocolo 257581/2009). Trata-se nário foi aplicado por um exami- de um protocolo observacional e nador previamente calibrado e que A idade média dos pacientes transversal, utilizando como ins- passou por treinamento, com re- avaliados foi de 38,5 ±16,26, va- trumento de medida, a adaptação conhecimento riando de 27 a 50 anos de idades. transcultural para o português do RDC/TMD Consortium. Todos os Os dados apresentados pelo Brasil dos Critérios de Diagnóstico itens do questionário foram preen- Critério Diagnóstico das Desordens para Pesquisa das Desordens Tem- chidos pelo examinador, a menos Temporomandibulares (RDC/TMD) pelo International RESULTADOS poromandibulares RDC/TMD – Eixo I e II (13) . O estudo foi desenvolvido com policiais da região do Grande Tabela 1 - Caracterização da amostra. Grupo Experimental Média (DP) Grupo Controle Média (DP) Idade (anos) 35,00±5,1 39,20±6,1 mesma região, avaliando a preva- Peso (Kg) 80,70±9,2 81,90±8,9 lência de DTM, utilizando o ques- Altura (m) 1,75±0,04 1,80±0,06 tionário RDC/TMD. Tempo de PM (anos) 17,70±6,4 18,80±6,1 Tempo de montaria por semana do grupo experimental 20,40±3,0 ------------ ABC, que montam a cavalo profissionalmente com freqüência e policiais que não montam a cavalo, da Os critérios de inclusão foram os seguintes: (a) idade entre 27 a Características Ter Man. 2010; 8(40):517-522 terapia manual 40.indd 519 25/5/2011 16:38:03 520 DTM, dor e abertura bucal. apontam para maior prevalência tatística para mesma comparação de DTM no Grupo Controle (não (p=0,22). A submissão do regime rígido praticam montaria), quando comparados com o Grupo Experimental corre da profissão. de hierarquia e disciplina, que estes DISCUSSÃO a exposição diária a situações de avaliar a Prevalência de DTM em perigo, que podem elevar o nível Já a análise do Eixo I mos- funcionários militares da região do de estresse destes voluntários, de- trou que dos 40 indivíduos avalia- grande ABC e a relação da abertura monstram que podem estar mais dos, 14 (35%) apresentam DTM e da boca sem auxílio com indivíduos vulneráveis às disfunções da ATM, 26 (65%) não apresentaram DTM. que sente dor ou não. A dificuldade de acordo com pesquisas(29,30). Sendo que, no Grupo Controle, 10 encontrada nesta pesquisa, não se indivíduos apresentaram limitou apenas no número de vo- (21,23,29,30) DTM. No Grupo Experimental, dos luntários avaliados, mas também, cia em mulheres, mas no caso dos policiais que montam com freqü- na escassez de trabalhos publica- grupos estudados, foram compos- ência, apenas 20% apresentaram dos com metodologia semelhante, tos apenas pelo gênero masculino, DTM. tanto no aspecto do tipo de popula- por não ter mulheres trabalhando Conforme Tabela 2, para a ção estudada, como em relação ao na policia montada da região. comparação entre Grupo Experi- grupo experimental e suas ativida- mental e Controle, foi utilizado o des do ato da montaria. demos observar na Tabela 2. (50%) Neste profissionais estudados exercem, e procurou-se (montam diariamente), como po- estudo Segundo , há alguns autores uma maior incidên- Diversos estudos buscam definir os mecanismos causais e a teste Exato de Fisher, sendo que os A polícia que monta diaria- origem das DTMs, causais e ori- grupos não demonstram interação mente quanto a policia que não gens desta patologia. Fatores que (p=0,05). monta, têm trabalhos diurnos e predispõem a DTM podem ser divi- Ao avaliar a abertura de boca noturnos, que intercala períodos de didos em fatores sistêmicos, fisio- sem auxílio, pudemos observar trabalho, o que conseqüentemente lógicos e estruturais(30). que, no Grupo Experimental, os interfere na qualidade de sono, se- Estudos sobre a epidemiologia indivíduos que não apresentavam gundo relatado pelos voluntários. da DTM mostram resultados con- dor obtiveram uma maior amplitu- Ainda há a tensão do trabalho di- troversos a respeito da sua predo- de de abertura bucal, quando com- ário, como vistorias públicas, fla- minância e incidência, que podem parados com os indivíduos com grantes, prisões, tiros e uma série ser atribuídos aos diversos tipos de dor, mostrando que há uma dife- de atividades obrigatórias no de- questionários clínicos utilizados(13). rença estatisticamente significante entre abertura bucal com e sem dor (p=0,001) (Tabela 3). Tabela 2 - Prevalência de DTM em Militares que montam a cavalo e que não montam. No entanto, no Grupo Controle não houve diferença significativa entre os valores obtidos da abertura bucal entre indivíduos com e Grupo Experimental N (%) Grupo Controle N (%) TOTAL N (%) 4 (20%) 10 (50%) 14 (35%) Com DTM Sem DTM sem dor (Tabela 4). A distribuição do Grupo Experimental, de acordo com o critério TOTAL 16 (80%) 10 (50%) 26 (65%) 20 (100%) 20 (100%) 40 (100%) Teste Exato de Fischer (p=0,05) proposto pelo Eixo I do RDC/TMD, demonstrou que 8 indivíduos do Tabela 3 - Abertura de Boca sem auxílio do Grupo Experimental, com e sem dor. grupo experimental, referiram dor, Abertura de Boca sem auxílio (mm) na abertura máxima de boca sem auxilio e do Grupo Controle 11 referiram dor. Nestas analises, comparando dados da Tabela 3 e Tabela 4, foi utilizado o teste estatísti- Média DP Com Dor 42,95 ± 2,59 Sem Dor 49,78 ± 4,55 P 0,001* * Teste Mann-Whitney co de Mann-Whitney, sendo que no Grupo Experimental, houve uma Tabela 4 - Abertura de Boca sem auxílio do Grupo Controle, com e sem dor. Abertura de Boca sem auxílio (mm) significância em relação a abertura de boca sem auxilio quando comparado os indivíduos com dor e sem dor (p=0,001), no grupo controle não houve significância es- Média DP Com Dor 43,10 ±1,94 Sem Dor 47,97 ±4,50 P 0,22* * Teste Mann-Whitney Ter Man. 2010; 8(40):517-522 terapia manual 40.indd 520 25/5/2011 16:38:04 Mariana Moreira da Silva, Tabajara de Oliveira Gonzalez, Claudia Santos Oliveira, Fabiano Politti, Daniela Aparecida Biasotto-Gonzalez. 521 Estes índices anamnéticos são im- Cada passo produz 1 a 1,25 movi- tinham uma menor amplitude arti- portantes avaliações contidas de mentos por segundo, em 30 minu- cular, já no grupo controle não foi perguntas com pontuações que tos de montaria ao passo, ocorrem significativo, porem através dessas classificam a DTM. Entre diversos 1800 a 2250 ajustes tônicos pos- informações pode-se abrir campo tipos de questionários, o questio- turais. Como os policiais do grupo para melhor estudar os critérios de nário RDC foi escolhido neste es- experimental montam com freqü- avaliação das DTMs e podendo aju- tudo, por ser considerado um Gold ência, recebem estímulos, ocorren- dar nos tratamentos dessas patolo- (13,14) Standard Nesta . do o ajuste tônico postural pesquisa, (29) , já os gias. Como Maydana et al.(30) relata, observou- avaliados do grupo controle não re- o RDC proporciona não só os diag- se que as pessoas que montam a cebem estas informações por não nósticos finais, mas dados impor- cavalo diariamente em sua profis- montarem durante o trabalho, uti- tantes como as avaliações específi- são apresentam uma prevalência lizam carros. cas com o paquímetro da abertura menor da DTM, que os profissionais selecionado máxima de boca, podendo verificar para este trabalho pratica a mon- a dor do avaliado durante a ação, Estudos sobre o movimento taria diariamente e está sempre com estes resultados pode-se tra- do dorso do cavalo e suas conse- em contato com animal, e esta re- çar melhor conduta terapêutica. qüências para o cavaleiro são fre- lação homem/cavalo tem uma im- qüentes na literatura, entre os pes- portância quisadores podemos citar alguns estudos(15,23,29). que não montam diariamente. O profissional significativa conforme No presente estudo, através do Teste Exato de Fisher, verificouse que o grupo controle e o grupo da França(29), que descrevem na Para a ronda diária a montaria experimental não possuem corre- posição sentada sobre o cavalo, as ocorre ao passo, para a observação lação. Desta maneira os indivíduos informações proprioceptivas, que profissional, nos treinamentos dos que montam a cavalo podem rece- provem pelas articulações, mus- cavalos que ocorrem pelo menos ber uma influência em relação as culaturas, regiões periarticulares e três na semana é realizado o passo, atividades com o contato com o ca- tendinosas, e que estas provocam o trote e o galope. Sendo que, os valo, conforme verificado em resul- novas informações no decorrer do outros andaduras somente são uti- tados deste estudo. Já que esta li- andamento do cavalo ao passo, lizadas nas ações profissionais do gação é tão estudada em outras permitindo a criação de novos es- grupo estudado, caso necessário. patologias também, como descrito quemas motores. Promovendo, Por serem dois grupos que so- conseqüentemente, uma reeduca- frem a mesma influência estresse ção neuro-muscular(23,25,29). profissional e são homogêneos em por Santos, 2008(29). CONCLUSÃO O deslocamento do cavalo pro- suas características físicas entre os O Grupo Controle apresen- move, à pessoa montada, uma mo- integrantes de cada grupo, tanto tou maior prevalência de DTM que vimentação automática de adapta- experimental como controle, con- o Grupo Experimental, não havendo ção, que é o ajuste tônico postural. tribui com os estudos quanto à relação entre montaria e a presença Um passo completo do cavalo, que prevalência da DTM e as possíveis de Disfunção Temporomandibular. possui 4 tempos, apresenta pa- correlações que a montaria pode drões semelhantes quanto ao ca- ocasionar. Houve uma relação entre a presença de dor e abertura bucal, ape- minhar do ser humano, ocorrendo Observou-se uma relação in- nas no Grupo Experimental, sendo o deslocamento da cintura pélvica, versa entre a abertura bucal e dor que os indivíduos que apresentaram em 5 cm no eixo vertical, horizontal no grupo experimental, ou seja, os dor tiveram redução na amplitude e sagital e uma rotação de 8 graus. indivíduos que apresentavam dor deste movimento mandibular. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Oral K, Bal Küçük B, Ebeoğlu B, Dinçer S. Etiology of temporomandibular disorder pain. AĞRI. 2009;21(3)p. 89-94. 2. Ramírez LM, Sandoval GP, Ballesteros LE. Los desordenes temporomandibulares: clinica craneo-cervicofacial referida. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2005; 10: E18-E26. 3. Ranieri, R. F. P; Garcia, A. R; Junqueira, J. M. P. C; Rodovello Filho, M.: Avaliação da presença de disfunção temporomandibular em crianças. Revista Gaúcha de Odontologia, Porto Alegre. 2007;55(3):229-237. 4. Manfredini D, Guarda-Nardini L. Agreement between Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders and magnetic resonance diagnoses of temporomandibular disc displacement in a patient population. Int J Oral Maxillofac Surg. 2008 Jul;37(7):612-6. Ter Man. 2010; 8(40):517-522 terapia manual 40.indd 521 25/5/2011 16:38:04 522 5. DTM, dor e abertura bucal. Thilander B, Rubio G, Pena L, De Mayorga C. Prevalence of temporo-mandibular dysfunction and its association with malocclusion in children and adolescents: an epidemiologic study related to specified stages of dental development. Angle Orthod. 2002: 2(7)2: 146-154. 6. De Boever JA, Nilner M, Orthlieb JD, Steenks MH. Educational Committee of the European Academy of Craniomandibular Disorders. Recommendations by the EACD for examination, diagnosis, and management of patients with temporomandibular disorders and orofacial pain by the general dental practitioner. J Orofac Pain. 2008;22:268–78. 7. De Leeuw R, (editor). Orofacial pain: guidelines for assessment, diagnosis, and management, 4th ed. Chicago: Quintessence; 2008. p. 129-58. 8. American Society of Temporomandibular Joint Surgeons (ASTJS): Guidelines for diagnosis and management of disorders involving the temporomandibular joint and related musculoskeletal structures. J Craniomandib Pract. 2003; 21: 68-76. 9. Visscher CM, Lobbezoo F, de Boer W, van der Zaag J, Naeije M. Prevalence of cervical spinal pain in craniomandibular pain patients. Eur J Oral Sci. 2002; 109(2): 76-80. 10. Alcantara J, Plaugher G, Klemp DD, Salem C. Chiropractic care of a patient with temporomandibular disorder and atlas subluxation. J Manipulative Physiol Ther. 2002; 25(1): 63-70. 394. 11. Visscher CM, Lobbezoo F, de Boer W, van der Zaag J, Verheij JG, Naeije M. Clinical tests in distinguishing between persons with or without craniomandibular or cervical spinal pain complaints. Eur J Oral Sci. 2000; 108(6): 475-83. 12. Schmitter M, Kress B, Leckel M, Henschel v, Ohlmann B, Rammelsberg P. validity of temporomandibular disorder examination procedures for assessment of temporomandibular joint status. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2008 Jun;133(6):796- 803. 13. Dworkin SF, Huggins KH, Leresche L, von Korff M, Howard J, Truelove E, Sommers E. Epidemiology of signs and symptoms in temporomandibular Disorders: clinical signs in cases and controls. J Am Dent Assoc. 1991;120(3):273-81. 14. Pereira Júnior FJ, Kosminsky M, Lucena LBS, Siqueira JTT, Goes PSA. Adaptação cultural do questionário Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders: Axis II para o português. JBC: Jornal Brasileiro de Clínica e Estética em Odontologia 2004a; 51-61. 15. Sforza, C.; Tartaglia, G.M.; Solimene, U.; Morgun, V.; Kaspranskiy, R.R.; Ferrario, V.F. Oclusion, sternocleidomastoid muscle activity, and body sway: A pilot study in male astronauts. The Journal of Craniomandibular Practice. 2006;24(1):43-49. 16. Cuccia A, Caradonna C. The relationship between the stomatognathic system and boby posture. Clinics. 2009;64(1):61-66. 17. Deliagina, T.G.; Zelenin, P.V.; Beloozerova, I.N.; Orlovsky, G.N. Physiology e Behavior. 2007;92:148-154. 18. Wada, M.; Sunaga, N.; Nagai, M. Anxiety affects the postural sway of the antero-posterior axis in college students. Neuroscience Letters. 2001;302:157-159. 19. Medeiros M, Dias E. Equoterapia: Bases e Fundamentos. Ed. Revinter. Rio de Janeiro, 2002, p.198. 20. Macedo, Karina C. Equoterapia e fonoaudiologia. Riberão Preto, 2004. 21. Uzun, A.L.L. “Equoterapia: Aplicação em distúrbios do equilíbrio” São Paulo, 2005. 22. Strauss I. “Hippotherapy: Neurophysiological Therapy on the horse” Ontario: Ontario Therapeutic Riding association, 1995. 23. Collins PA & Gibbs ACC, Stress in police officers: a study of the origins, prevalence an severity of stress-related symptoms within a county police force. Occupational Medicine. 2003, 53: 256-264. 24. Deschamps F., Paganon- Badinier I, Marchand AC, Merle C. Sources an assessment of occupational stress in the police. J. Occup. Health, 2003. 25. Magnusson T, Egermark I, Carlsson GEA. Longitudinal epidemiologic study of signs and symptoms of temporomandibular disorders from 15 to 35 years of age. J Orofac Pain. 2000 Fall;14(4):310-9. 26. Riccardo C, Enrico FG, Giovanni R. Unilateral temporomandibular disorder and symmetry of occlusal contacts. The J. of Prost. Dent. 2003; 89(2): 180-85. 27. Tosato J, Biasotto-Gonzalez D. Symptomatology of the temporomandibular dysfunction related to parafunctional habits in children. Braz J Oral Sci 2005; 4(14):787-90. 28. Riede D. “Physiotherapy on the Horse” Riderwood, MD: Therapeutic Riding Services, 1988. 29. Santos, Rebeca de B.; Cyrrilo, Fabio N.. A influência da postura sobre o cavalo e a velocidade do passo na ativação dos músculos eretores lombares através da eletromiografia de superfície. Sp, 2008. 30. Maydana, Aline V.; Tesch, Ricardo S.; Dernadim, Odilon Vitor P.; Ursi, Weber J. S.; Dworkin, Samuel F. Possíveis fatores etiológicos para desordens temporomandibulares de origem articular com implicações para diagnóstico e tratamento. Petrópolis, 2008. Ter Man. 2010; 8(40):517-522 terapia manual 40.indd 522 25/5/2011 16:38:04 523 Artigo Original Avaliação da pressão inspiratória nasal e pressões respiratórias máximas com máscara orofacial em sujeitos saudáveis. Assessment of nasal inspiratory pressure and maximal respiratory pressures with a face-mask in healthy subjects. Joanaceli Brandão Tavares(1), Guilherme Fregonezi(2), Ingrid Guerra Azevedo(3),Palomma Russelly Saldanha de Araújo(5), Fernanda Gadelha Severino(4), Vanessa Regiane Resqueti(5). Laboratório de Fisioterapia PneumoCardioVascular, Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Natal, RN, Brasil. Resumo Introdução: A fraqueza ou paralisia dos músculos orofaciais dificulta a avaliação das pressões respiratórias máximas (PRM) e da Pressão Inspiratória Nasal (SNIP) em diversas patologias, como nas doenças neuromusculares. Objetivo: Analisar a viabilidade e concordância da adaptação da máscara orofacial para avaliar a SNIP e as pressões respiratórias máximas assim como a aplicabilidade das equações preditivas publicadas para a população caucasiana para PRM com máscara orofacial. Método: Avaliamos 60 sujeitos saudáveis (30 homens) com idade: 24,1 ± 5,6 anos e IMC 23,6 ± 3,2 kg/m2, sem alterações espirométricas (CVF 99 ± 9,4% pred, VEF1 98,4 ± 9,7% pred, VEF1/CVF 86 ± 12,4) quanto ao SNIP, PImáx e PEmáx, através das interfaces: máscara orofacial, bocal (PRM) e plugue (SNIP). Resultados: Não houve diferenças significativas no SNIP, PImax e PEmax com plug/bocal e máscara orofacial sendo encontrados respectivamente valores de SNIP: 126,6 ± 26 cmH2O vs 128,5 ± 26 cmH2O (p= 0,48, 95% IC:-7,4 a 3,5), PImáx: 134,1 ± 33,3 cmH2O vs 137,8 ± 30,6 cmH2O (p= 0,26, 95% IC: -2,8 a 10,1) e PEmáx 151,3 ± 38,4 cmH2O vs 143,7 ± 45,5 cmH2O (p= 0,05, 95% IC: -15,1 a 0,15). Em relação à equação proposta por Wohlgemuth et al para predizer os valores de PRM com mascara orofacial, apenas a PEmax pode ser considerada para predizer a força muscular expiratória em relação aos valores encontrados respectivamente nas mulheres 108,4 ± 3,3 cmH2O versus 112,4 ± 26,2 cmH2O (p= 0,4, 95% CI: -5,6 a 13,6). Conclusão: Sugerimos que diferentes interfaces podem ser utilizadas para avaliação da força muscular respiratória em saudáveis. As equações propostas por M. Wohlgemuth et al, foram capazes de predizer apenas os valores de PEmáx nas mulheres população estudada. Palavras-chave: Músculos respiratórios, doenças neuromusculares, terapia respiratória. Artigo recebido em 29 de outubro de 2010 e aceito em 28 de dezembro de 2010. 1 Graduada em Fisioterapia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, Natal, RN, Brasil; 2 Fisioterapeuta Professor Adjunto II, Programa de Mestrado em Fisioterapia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil. 3 Bolsista de iniciação científica (Bolsista IC-PIBIC/CNPq), Laboratório de Fisioterapia PneumoCardioVascular, Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, Natal, RN, Brasil. 4 Fisioterapeuta, Docente do curso de Fisioterapia da Faculdade Nordeste- FANOR, Fortaleza, CE, Brasil. 5 Fisioterapeuta, Mestre em Fisioterapia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN, Natal, RN, Brasil. 6 Fisioterapeuta, Bolsista CNPq- Desenvolvimento Tecnológico Industrial (DTI), Laboratório de Fisioterapia PneumoCardioVascular, Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, Natal, RN, Brasil. Endereço para Correspondência: Vanessa Regiane Resqueti. Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Campus Universitário Lagoa Nova, Caixa Postal 1524. CEP 59072-970. Natal, RN, Brasil. Tel: 84 8825 2895. E-mail: [email protected]. Ter Man. 2010; 8(40):523-529 terapia manual 40.indd 523 25/5/2011 16:38:04 524 Avaliação muscular respiratória. Abstract Introduction: The weakness or the paralysis of the respiratory muscles complicates the assessment of the maximal respiratory pressures (MRP) and nasal inspiratory pressure (SNIP) in many diseases, such as neuromuscular diseases. Objective: To analyze the feasibility of the adaptation of face mask to assess SNIP and respiratory pressures as well as the applicability of the predicted equations published for the European population to asses respiratory muscle strength with a face mask. Method: We studied 60 healthy subjects (30 males) with a mean age of 24,1 ± 5,6 and BMI of 23,6 ± 3,2 kg/m2 and normal spirometry (FVC 99±9,4% pred, FEV1 98,4±9,7% pred, FEV1/FVC 86 ± 12,4). SNIP, PImáx e PEmáx were evaluated with the follow interfaces: face-mask, a mouthpiece and a plug. Results: there were no significant differences for SNIP test, PImáx and PEmáx with a plug/mouthpiece and with a face mask. The values for SNIP were: 126,6 ± 26 cmH2O vs 128,5 ± 26,5 cmH2O (p= 0,48, 95% IC: -7,4 a 3,54), PImáx: 134,1 ± 33,3 cmH2O vs 137,8 ± 30,6 cmH2O (p= 0,26, 95% IC: -2,8 a 10,1) and PEmáx: 151,3 ± 38,4 cmH2O vs 143,7 ± 45,5 cmH2O (p= 0,05, 95% IC: -15,1 to 0,15). In relation to MRP prediction equation propose by Wohlgemuth et al, only PEmáx was considered to predict expiratory strength in relation to values found respectively in woman 108,4 ± 3,3 cmH2O versus 112,4 ± 26,2 cmH2O (p= 0,4, 95% CI: -5,6 to 13,6). Conclusion: We suggest that different interfaces can be used to assess the respiratory muscle strength in healthy subjects. The equations proposed by M. Wohlgemuth et al, was successful in predicting PEmáx for female in the population studied. Keywords: Respiratory muscles, neuromuscular diseases, respiratory therapy. doenças, respiratórias cardíacas e lização da máscara orofacial e das A monitorização da função neuromusculares(6-11). Mais recen- interfaces tradicionais para avalia- pulmonar é utilizada para deter- temente foi introduzida na literatu- ção da SNIP e PRM, assim como minar a gravidade, as consequên- ra a avaliação da pressão nasal ins- avaliar a aplicabilidade das equa- cias funcionais e o progresso de piratória (SNIP) e a utilização con- ções preditivas publicadas para a diversas doenças respiratórias e junta destes testes para avaliar os população caucasiana(20) para ava- neuromusculares . As avaliações músculos respiratórios foi preco- liação das PRM com máscara orofa- das pressões respiratórias máxi- nizada com intuito de excluir fal- cial na população brasileira. mas (PRM)(1) e pressão inspirató- sos positivos de fraqueza muscular ria nasal (SNIP)(2) são recursos fre- respiratória(12,13). INTRODUÇÃO (1) quentemente utilizados para esse fim. MÉTODO Apesar da grande facilida- Esta pesquisa foi realizada de de, baixo custo e conhecimento do acordo com a resolução 196/96 do A fraqueza muscular respira- avaliador sobre as técnicas de ava- Conselho Nacional de Saúde (CNS). tória pode iniciar de forma aguda liação dos músculos respiratórios O estudo foi submetido e aprovado ou crônica e é uma condição po- disponíveis para o Fisioterapeuta, pelo Comitê de Ética local, segun- através muitas vezes a avaliação da força do o protocolo no 237/08. Os indi- do treinamento dos músculos res- muscular respiratória através das víduos concordaram e assinaram piratórios. Entretanto, os efeitos do PRM e SNIP em pacientes com do- o termo de consentimento livre e treinamento dos músculos respira- ença neuromuscular encontra-se esclarecido para participar do es- tórios devem ser adequadamen- tecnicamente não reprodutível de- tudo. te monitorados através das ava- vido à fraqueza dos músculos oro- liações de força dos músculos res- faciais. A dificuldade técnica ocorre senta piratórios. Desta forma, as ava- principalmente na vedação da boca ambos os sexos, compreendendo a liações dos músculos respiratórios durante a realização das PRM e no faixa etária de 18 a 35 anos, não através das PRM e da SNIP adqui- fechamento completo da mesma tabagistas, sem desvio de septo rem uma especial relevância para durante a realização da avaliação nasal e/ou rinite crônica diagnos- o processo de avaliação da força da SNIP. Uma alternativa para a ticada, sem alterações dentárias e muscular respiratória. avaliação da força dos músculos que não apresentaram congestão A pressão inspiratória máxi- respiratórios nos pacientes com nasal durante o período de realiza- ma (PImáx) e a pressão expirató- doença neuromuscular e fraque- ção das medidas. ria máxima (PEmáx) são extensi- za da musculatura orofacial seria a vamente usadas para o diagnóstico adaptação do teste com a máscara avaliados previamente através de de fraqueza dos músculos respira- orofacial. O objetivo deste estudo medidas antropométricas e prova tórios em pacientes com diferentes foi avaliar a concordância entre uti- de função pulmonar. Foram reali- tencialmente tratável(3-5) Participaram do estudo sesindivíduos Todos os saudáveis indivíduos de foram Ter Man. 2010; 8(40):523-529 terapia manual 40.indd 524 25/5/2011 16:38:04 525 Joanaceli B. Tavares, Guilherme Fregonezi, Ingrid G. Azevedo, Palomma R. S. Araújo, Fernanda G. Severino, Vanessa R. Resqueti. zadas duas avaliações de cada um e foram considerados os três me- nasal foi colocado em uma das na- dos testes, pressão inspiratória e lhores, observando a variabilidade rinas e se solicitava aos indivíduos expiratória máxima e SNIP com as entre eles inferior a 5% ou 200 mi- após uma expiração lenta e relaxa- interfaces bocal para PRM, plugue lilitros. Foram analisados o volume da pela boca próximo à capacidade nasal para SNIP e com a máscara expiratório forçado do 1º segundo residual funciona realizar um forte orofacial (VitalSigns Inc. Adult-5). (VEF1) e a capacidade vital forçada fungada(21). Durante a manobra os Todas as medidas foram realiza- (CVF) nos seus valores absolutos indivíduos foram estimulados ver- das sempre pelo mesmo avaliador, e relativos(15). O equipamento uti- balmente, segundo procedimento no mesmo horário do dia, em dois lizado foi o DATOSPIR 120 (Sibel- previamente descrito. A manobra dias diferentes, sendo a ordem de- Med Barcelona, Espanha) acoplado foi realizada 10 vezes, sendo o in- terminada através de aleatoriza- a um microcomputador e calibrado tervalo entre elas de 30 segundos. ção. Os resultados encontrados diariamente. Ao final das 10 manobras, o maior das PRM avaliadas com a másca- Força muscular respirató- ra orofacial foram comparados com ria: A força muscular respirató- os determinados pelas equações ria foi avaliada através das medi- preditas para a população cauca- das das pressões respiratórias má- obtenção siana saudável (20): PImáx= 7,224 - ximas e da pressão inspiratória amostra foi utilizado o teste t para (0,040 x I) + (0,032 x P) + (3,745 nasal. Todos os testes foram rea- amostras não pareadas analisando x S) - (0,041 x S x I) e PEmáx= lizados com o manovacuômetro di- a PImáx dos pacientes baseado no 9,887 - (0,055 x I) + (0,035 x P) + gital MVD300® (GlobalMed Porto desvio padrão desta variável obtido (5,224 x S) - (0,049 x S x I), com Alegre, Brasil). Os testes foram re- em estudo piloto em 20 sujeitos. Foi as definições de I: idade (anos); P: alizados com os indivíduos senta- utilizado um erro alfa de 0,05 com peso (Kg); S: sexo (S=1, para ho- dos e imediatamente após a rea- distribuição bilateral, um poder mens e S=0, para mulheres). lização da prova de função pulmo- de teste de 80% considerando nar, porém respeitando um período uma verdadeira diferença entre Avaliação antropométrica: A avaliação antropométrica foi re- de descanso entre os testes. valor representou a pressão inspiratória nasal do indivíduo(19). Análise grupos do de estatística: número 19,5 para total cmH2O, da com alizada através da medida do peso Antes de cada teste os indiví- indicação para avaliação de 60 corporal e da altura do indivíduo duos foram detalhadamente orien- sujeitos. Para a análise estatística em uma balança da marca WELMY® tados sobre os procedimentos e os foi utilizado o software GraphPad (modelo R 110, Santa Barbara do resultados obtidos foram avaliados Prism®4. Oeste- Paraná- Brasil). nos seus valores absolutos e rela- variáveis foi avaliada através do Avaliação A normalidade das espirométrica: tivos. Para obtenção da força mus- teste Shapiro Wilk. Em seguida, A espirometria forçada foi realiza- cular inspiratória foi solicitado aos utilizou-se o teste t de Student, da segundo os procedimentos téc- indivíduos que realizassem uma comparando os valores de SNIP, nicos e os critérios de aceitabili- expiração máxima, próxima ao vo- PImáx e PEmáx obtidos através dade da Sociedade Brasileira de lume residual, seguida de uma ins- do bocal e da máscara orofacial. Pneumologia(14). Cada indivíduo re- piração máxima próxima à capaci- Para comparação das médias dos alizou o teste na posição sentada dade pulmonar total. Para obten- valores das pressões respiratórias numa cadeira confortável usando ção da força muscular expiratória máximas um clipe nasal e previamente à re- foi solicitado aos indivíduos à rea- e dos valores preditos por meio alização do teste eles foram instru- lização de uma inspiração máxima, das equações propostas por M. ídos detalhadamente sobre todos próxima à capacidade pulmonar Wohlgemuth et al.(20), foi utilizado os procedimentos. obtidas nesse estudo total, seguida de uma expiração o teste t de Student pareado, Os indivíduos respiravam atra- máxima, próxima ao volume resi- sendo a distribuição considerada vés de um bocal de papelão descar- dual. Para cada avaliação foi consi- normal. Foi utilizada a análise de tável colocado entre seus dentes e derado o valor máximo obtido em Bland-Altman(21,22) assegurado que não houvesse va- até cinco provas, desde que este a média das diferenças (BIAS) zamentos durante a respiração. A valor não fosse superior a 10% que estabelece quão importante seguir, foi solicitado que eles fizes- entre as três melhores provas(14,15). clinicamente são as discrepâncias sem uma inspiração máxima pró- Foram utilizadas as equações pre- entre as medidas da SNIP e PRM ximo à capacidade pulmonar total viamente descritas para a obtenção com (CPT) seguida de uma expiração dos valores de referência(9). A ava- utilizadas, estabelecendo os limites máxima próximo ao volume resi- liação da SNIP foi realizada atra- de concordância que determinam dual (VR). Foram realizados no má- vés da manobra de sniff (funga- as diferenças entre as modalidades ximo cinco testes em cada sujeito da) em posição sentada. O plugue de avaliação utilizadas. O nível de as para diferentes avaliar interfaces Ter Man. 2010; 8(40):523-529 terapia manual 40.indd 525 25/5/2011 16:38:04 526 Avaliação muscular respiratória. significância foi ajustado para p < 0,05. Tabela 1 - Características antropométricas e da função pulmonar. Variável Sexo RESULTADOS Homens Mulheres Total 30 30 60 Completaram o estudo ses- Idade (anos) 24,1 ± 4,6 23,2 ± 3,7 24,2 ± 5,6 senta sujeitos (30 homens e 30 IMC (Kg/m2) 25,2 ± 2,9 22 ± 2,7 23,6 ± 3,2 mulheres). CVF % (pred.) 100,8 ± 9 97,2 ± 9,5 99 ± 9,4 Todos os indivíduos foram classificados como normopesos e em relação aos valores espirométricos, os mesmos encontravam-se dentro da faixa de normalidade descrita para a popula- VEF1 % (pred.) VEF1/CVF 97 ± 8,6 100 ± 10,6 98,4 ± 9,7 84,8 ± 5,7 86,9 ± 16,7 85,9 ± 12,4 Os dados são expressos como média ± desvio padrão, CVF= capacidade vital forçada, VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo, VEF1/CVF= razão entre volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade vital forçada, IMC: índice de massa corpórea. ção saudável brasileira (tabela 1). Não foram encontradas diferenças significativas na avaliação do SNIP, Tabela 2 - Comparação das variáveis SNIP, PImáx e PEmáx por meio das interfaces plugue-bocal e máscara orofacial. PImáx e PEmáx com plugue/bocal Variável e máscara orofacial. Os valores en- SNIP 126,6 ± 25,9 128,5 ± 26,5 0,48 95% IC: -7,4 a 3,5 PImáx 134,1 ± 33,3 137,8 ± 30,6 0,26 95% IC: -2,8 a 10,1 PEmáx 151,3 ± 38,4 143,7 ± 45,5 0,05 95% IC: -15,1 a 0,15 contrados estão dispostos na tabela 2. Em relação à comparação dos valores encontrados de PImáx e PEmáx avaliados através da más- Plugue/bocal Máscara Orofacial p IC Os dados são expressos como média ± desvio padrão, SNIP: Pressão inspiratória nasal (cmH2O), PImáx: Pressão inspiratória máxima (cmH2O), PEmáx: Pressão expiratória máxima (cmH2O), p: significância estatística (p<0.05), IC: intervalo de confiança. cara orofacial com os valores de referencia descritos para a população caucasiana, foi encontrada diferença significativa, respectivamente para homens, PImax 159,7 ± 23,7 cmH2O versus 88,7 ± 3 cmH2O (p < 0,0001, 95% CI: 62,3 – 79,6) e PEmáx 175,1 ± 38,8 cmH2O versus 155,8 ± 4,4 cmH2O (p= 0,012, 95% CI: 4,5 - 34) e para mulheres, PImáx 115,8 ± 18,7 cmH2O versus 83 ± 2,8 cmH2O (p < 0,0001, 95% CI: 26 – 39,4). Em relação aos valores de PEmáx para as mulheres não foram encontradas diferenças significativas entre os resultados encontrados e os valores de referência descritos para a população caucasiana 112,4 ± 26,2 cmH2O versus 108,4 ± 3,3 cmH2O (p= 0,4, 95% CI: -5,6 – 13,6). Na análise de Bland-Altman foram encontrados respectiva- mente para SNIP, PImáx e PEmáx respectivamente um BIAS de -1,9 ± 21,1 cmH2O com limites de concordância de -43,4 a 39,6 cmH2O, -3,6 ± 25,0 cmH2O com limites de concordância de -45,5 a 52,7 cmH2O e de -7,5 ± 29,6 cmH2O com limites de concordância de -65,6 a 50,6 cmH2O, como observado na figura 1. Figura 1 - Gráficos de Bland-Altman para SNIP e pressões respiratórias máximas com as diferentes interfaces utilizadas (Plugue/bocal e máscara orofacial). Ter Man. 2010; 8(40):523-529 terapia manual 40.indd 526 25/5/2011 16:38:04 527 Joanaceli B. Tavares, Guilherme Fregonezi, Ingrid G. Azevedo, Palomma R. S. Araújo, Fernanda G. Severino, Vanessa R. Resqueti. DISCUSSÃO nos últimos anos através de guias facial. Este autores não encontra- O presente estudo se propôs de procedimentos de avaliação, a ram interferências nos resultados a avaliar a concordância entre as padronização dos métodos de aná- da avaliação da PImáx sendo en- medias de PRM e SNIP com inter- lise da função pulmonar(13,14) foram contrados valores de 62,5 ± 27 faces metodologicamente estabe- adotadas, uma vez que as varia- cmH2O com a máscara orofacial lecidas e a utilização da másca- ções metodológicas prejudicam a versus 58,5 ± 27,7 cmH2O com a ra orofacial, assim como avaliar a reprodutibilidade das avaliações(14). utilização do bocal, sem diferença aplicabilidade das equações predi- Entretanto, as adaptações propos- estatisticamente significativa. tivas das PRM com máscara orofa- tas no presente estudo para avalia- Entretanto, a prevalência de cial proposta em caucasianos(20) na ção da força muscular respiratória, 60% de escape aéreo ao redor da população estudada. Os resulta- se fazem necessárias quando os máscara durante as manobras de dos encontrados demonstram que indivíduos não apresentam com- PEmáx foi responsável pelos va- não houve diferenças significati- petência suficiente para realizar lores vas e uma concordância modera- as avaliações da maneira proposta res sendo 57 ± 27,9 cmH2O com da na avaliação do SNIP, PImáx e pela literatura. Dessa forma, justi- a máscara orofacial versus 71,3 ± PEmáx com plugue/bocal e másca- fica-se a importância da busca de 27,1 cmH2O obtidos com o bocal. ra orofacial. As equações propostas métodos alternativos para a avalia- Quando foi possível avaliar a PEmáx por M. Wohlgemuth et al.(20), ape- ção das pressões respiratórias má- através da máscara sem a presen- nas foram capazes de predizer os ximas nesses indivíduos, tais como ça de escape aéreo, os autores ob- valores de PEmáx avaliados com a a utilização da máscara orofacial. servaram que os valores obtidos máscara orofacial na população es- significantemente meno- No presente estudo, os dados foram significantemente maiores obtidos demonstram que não existe do que os obtidos através do bocal A medida da SNIP é utilizada diferença significativa nos valores e atribuíram este fato à conforma- na literatura com frequência como de SNIP, PImáx e PEmáx quando ção do bocal rígido e achatado que, medida complementar para avalia- essas variáveis são avaliadas atra- naturalmente, favorece o discreto ção da força muscular inspiratória. vés do plugue/bocal e da máscara escape aéreo ao seu redor duran- É um teste não invasivo e de fácil orofacial. Os resultados da análi- te a PEmáx. aplicação(8) e foi demonstrado ser se de Bland-Altman demonstraram Dessa forma, os autores con- uma técnica de avaliação útil para para as três medidas um BIAS pró- cluem que há uma aplicação limi- predizer a mortalidade em pacien- ximo à zero com valores de desvio tada para a utilização da másca- tes com doenças neuromusculares padrão do BIAS e limites de con- ra orofacial na avaliação da PEmax como a Esclerose Lateral Amiotró- cordância moderado quando con- quando não existe a possibilidade fica (ELA) e doenças respiratórias siderada o coeficiente de variação de evitar vazamentos ao redor da como a Doença Pulmonar Obstruti- observado para as PRM (6-9%)28) mesma. Tais resultados corrobo- tudada pra as mulheres. (25,26). 30 Ao mesmo e a SNIP (6-11%) . Dessa forma, ram parcialmente com o nosso es- tempo foi considerada uma medida a máscara orofacial se apresenta tudo, possivelmente em virtude da válida para estudar a evolução da como uma interface viável, poden- metodologia empregada. função respiratória em pacientes do ser de grande valia para indiví- No presente estudo, foram com doenças neuromusculares(27). duos que apresentam dificuldades selecionados indivíduos saudáveis, Segundo Fiz et al.(7), as PRM na realização dos testes de avalia- a fim de evitar que fatores como refletem a pressão exercida pelos ção da força muscular respirató- grau de cooperação e alterações músculos respiratórios e são ex- ria, por dispensar a necessidade de dentárias(7) influenciassem de ma- tensivamente usadas no diagnósti- preensão labial evitando, portanto, neira negativa os resultados obti- co de fraqueza dos mesmos. Tais possíveis escapes aéreos. dos, e cuja anatomia facial contri- va Crônica (DPOC) parâmetros constituem manobras Alguns estudos(20,23,24) avalia- buiu para o acoplamento da más- esforço-dependente, tendo a sua ram as pressões respiratórias má- cara, evitando assim escape aéreo medição significativamente afeta- ximas através de bocal e de más- pronunciado. Além disso, no estu- da pelo grau de cooperação do in- cara orofacial, entretanto a análi- do mencionado anteriormente, as divíduo. Pacientes idosos, com fra- se de concordância não foi avalia- PRM avaliadas através de bocal e queza muscular ou alterações den- da em nenhum deles. Fiore Junior de máscara orofacial foram realiza- tárias provavelmente realizam as et al.(23) em elegante trabalho com das com esforços iniciados a partir manobras em questão com gran- 30 pacientes em período pré-ope- da capacidade residual funcional, de dificuldade, em virtude da pos- ratório de cirurgia abdominal, ava- em oposição ao nosso estudo cujos sibilidade de vazamentos durante a liaram as PRM através de um bocal esforços para avaliação da PImáx e realização das mesmas. Portanto, rígido achatado e da máscara oro- PEmáx seguem as diretrizes nacio- Ter Man. 2010; 8(40):523-529 terapia manual 40.indd 527 25/5/2011 16:38:04 528 Avaliação muscular respiratória. nais de avaliação. 90,8 ± 22,4 cmH2O e 139,7 ± 43,8 to utilizado nos estudos prévios, o Cabe ressaltar que os valo- cmH2O e 116,3 ± 24,5 cmH2O. Por- manovacuômetro analógico. res de referência para as PRM des- tanto os valores encontrados por Apesar das diferenças, é de critos para a população brasileira, estes autores foram inferiores com senso comum dos autores que a assim como os guias sobre avalia- o uso da mascará orofacial. Este máscara orofacial representa uma ção da função muscular respira- resultado foi atribuído ao modo de alternativa válida quando fatores tória recomendam e determinam fixação da máscara orofacial duran- extrínsecos estão envolvidos im- equações de referência para PRM a te os testes, que foram realizados possibilitando a avaliação de SNIP partir do volume residual e da ca- pelo avaliador, impedindo assim e PRM. Com relação à SNIP, não pacidade pulmonar total(10,14-15). verdadeiros esforços máximos por foram publicados estudos prévios parte dos indivíduos. que evidenciem a aplicabilidade da Logo o trabalho de Fregadolli P et al.(24) avaliaram a PImáx e a Além disto, o mesmo estu- máscara orofacial na avaliação da PEmáx em 52 mulheres saudáveis do se propôs a apresentar novas pressão inspiratória nasal. No pre- através de bocal e máscara oro- equações de predição, e utilizou sente estudo não foi encontrada facial, demonstrando que os valo- como variáveis preditoras o peso, a diferença significativa na avaliação res obtidos com o bocal foram es- altura e o sexo, para pressões res- de SNIP através das interfaces plu- tatisticamente diferentes e maio- piratórias máximas com a másca- gue e máscara orofacial. res do que os obtidos com a más- ra orofacial a partir de uma amos- Este trabalho apresenta algu- cara respectivamente, tra de 252 indivíduos saudáveis. Os mas limitações, dentre eles a faixa 73,7 ± 27,4 cmH2O versus 66,9 valores de referência para a avalia- etária restrita a adultos jovens, ± 24,2 cmH2O para PImáx e 59,5 ção das PRM utilizando a máscara principalmente diante da compa- ± 17,9 cmH2O versus 42,2 ± 15,7 orofacial descrito para a população ração dos resultados encontrados cmH2O para PEmáx. Estes resulta- caucasiana apenas foram capazes com as equações preditas utilizadas dos foram avaliados sendo descar- de predizer os valores de PEmáx no estudo. Os resultados da análi- tadas para a análise estatística as para as mulheres na população do se de Bland-Altman(22,24) devem ser medidas nas quais foram observa- presente estudo. Estas diferenças interpretados de forma cautelosa, dos vazamentos. Dessa forma, este podem ser atribuídas a vários fato- pois apesar do BIAS encontrado autores concluíram que a máscara res: diferenças metodológicas dos ter sido próximo a zero, os limites orofacial não constitui uma inter- estudos, fatores étnicos, antropo- de concordância foram moderados face apropriada para avaliação das métricos, culturais e utilização de em relação ao coeficiente de varia- pressões diferentes equipamentos para ava- bilidade das medidas estudadas. liação das PRM(14). Ainda assim, os resultados do pre- orofacial respiratórias máximas, principalmente da PEmáx em virtude dos frequentes escapes aére- Assim, considerando a ausên- sente estudo abrem novas pers- os, entretanto, os autores não des- cia de valores de referencia para pectivas sobre a aplicabilidade da cartam a sua utilização cautelosa PRM com o uso da máscara orofa- máscara orofacial na avaliação da diante da impossibilidade funcional cial poderiam ser adotados os pon- força muscular respiratória em es- de adequação ao bocal. tos de corte sugeridos por guias de pecial para pacientes com fraqueza sociedade de doenças respiratórias muscular orofacial. Em recente estudo(20), onde foram avaliados 22 indivíduos sau- (13) dáveis com objetivo de analisar a cular respiratória. para avaliação de fraqueza musCONCLUSÃO viabilidade de utilização da másca- Como observado nos estudos A avaliação de SNIP, PImáx, ra orofacial na avaliação das PRM disponíveis, existe certa controvér- PEmáx é uma alternativa válida em comparação ao bocal conven- sia quanto à indicação da interface e segura que poderá ser utilizada cional, constatou-se que os valores máscara orofacial na avaliação das para monitorar pacientes com di- encontrados com a máscara orofa- pressões máximas ficuldades na avaliação com a in- cial diferiam significativamente da- assim como nos resultados encon- terface convencional. As equações queles obtidos com o bocal. Foram trados. As diferenças nos resulta- propostas por Wohlgemuth et al. encontrados para bocal e másca- dos encontrados podem ser atribu- apenas foram capazes de predizer ra na PImáx e PEmáx respectiva- ídas a vários fatores, mas principal- os resultados da PEmáx para as mente, 93,9 ± 25,5 cmH2O versus mente a imprecisão do equipamen- mulheres na população estudada. respiratórias REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Gibson J, Whitelaw W, Siafakas N. Tests overall respiratory function. Am J Respir Crit CareMed.2002;166:521-6 Ter Man. 2010; 8(40):523-529 terapia manual 40.indd 528 25/5/2011 16:38:04 Joanaceli B. Tavares, Guilherme Fregonezi, Ingrid G. Azevedo, Palomma R. S. Araújo, Fernanda G. Severino, Vanessa R. Resqueti. 529 2. Steier J, Kaul S, Seymour J, et al. The value of multiple tests of respiratory muscle strength.Thorax.2007;62(11):975-80. 3. De Troyer A, Estenne M. The respiratory system in neuromuscular disorders. In C. Roussos, editor. Lung Biology in Health and Disease, Vol. 85. The Thorax, Part C: Disease. Marcel Dekker, New York. 1995;2177-2212. 4. Noah Lechtzin. Respiratiry effects os amyotrophic lateral sclerosis: problems and solutions. Respir Care. 2006;51:871-881. 5. Sarmiento AR, Levi-Orozco M. Pulmonary rehabilitation should be prescribed in the same way medications are prescribed. Arch Bronconeumol. 2008;44(3):119-21. 6. Black LF, Hyatt RE. Maximal static respiratory pressures in generalized neuromuscular disease. Am Respire Dis. 1971;103:641-50. 7. Fiz JA, Haro M, Aguilar J, Alvarez J, Abad J, Monso E, Moreira J. Spirometry and maximal respiratory pressures in patients with facial paralysis. Chest. 1993;103:170-3. 8. Green M, Road J, Sieck GC, Smilowski T. Tests of respiratory muscle strength. Am J Respir Crit Care Med. 2002;166:528-42. 9. Neder JA, Andreoni S, Lerario MC, Nery LE. Reference values for lung function tests. II. Maximal respiratory pressures and voluntary ventilation. Bras J Med Biol Res. 1999;32:703-27. 10. Camelo Jr JS, Terra JT, Manço JC. Pressões respiratórias máximas em adultos normais. J Pneumol. 1985;11:181-4. 11. Black LF, Hyatt RE. Maximal respiratory pressures: normal values and relationship to age and sex. Am Rev Respir Dis. 1969;99:696-702. 12. Polkey MI, Green M, Moxham J. Measurement of respiratory muscle strength. Thorax. 1995; 50:1131-1135. 13. American Thoracic Society, European Respiratory Society. ATS/ERS Statement on respiratory muscle test. Am J Respir Crit Care Med. 2002;166:518-624. 14. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Diretrizes para testes de função pulmonar. J Pneumol. 2002;28:1221. 15. Pereira CAC, Sato T, Rodrigues SC. Novos valores de referência para espirometria forçada em adultos de raça branca. J Bras Pneumol. 2007;33(4):397-406. 16. Enright PL, Kronmal RA, Manolio TA, Schenker MB, Hyatt RE. Respiratory muscle strength in the elderly. Correlates and reference values. Am J Respir Crit Care Med. 1994;149:430-8. 17. Carpenter MA, Tockman MS, Huthinson RG, Davis CE, Heiss G. Demographic and anthropometric correlates of maximum inspiratory pressure. The Atherosclerosis Risk in Communities Study. Am J Respir Crit Care Med. 1999;159:415-22. 18. Uldry C, Fitting W. Maximal values of sniff nasal inspiratory pressure in healthy subjects. Thorax. 1995;50:371375. 19. Heritier F, Rahm F, Pasche P, Fitting JW. Sniff nasal inspiratory pressure. A noninvasive assessment of inspiratory muscle strength. Am J Respir Crit Care Med. 1994;150:1678-83. 20. Wohlgemuth M, van der Kooi EL, Hendriks JC, Padberg GW, Folgering HT, Face mask spirometry and respiratory pressures in normal subjects. Eur Respir J December 1, 2003;22:1001-1006. 21. Atkinson and A.M. Nevill, Statistical methods for assessing measurement error (reliability) in variables relevant to sports medicine, Sports Med 1998;26:217–238. 22. Bland JM and Altman DG, Measuring agreement in method comparison. Stat Methods Med Res 1999;8:135–160. 23. Fiore Junior JF, Paisani DM, Franceschini J, Chiavegato LD, Faresin SM. Pressões respiratórias máximas e capacidade vital: comparação entre avaliações através de bocal e de máscara facial. J Bras Pneumol. 2004;30(6)515-20. 24. Fregadolli P, Sasseron AB, Cardoso AL, Guedes CAV. Avaliação das pressões respiratórias através do bocal e máscara facial. Rev Bras Cli Med. 2009;7:233-237. 25. Morgan RK, McNally S, Alexander M, Conroy R, Hardiman O, Costello RW. Use of sniff nasal-inspiratory force to predict survival in amyotrophic lateral sclerosis. Am J Respir Crit Care Med. 2005;171:269–274. 26. Moore AJ, Soler RS, Cetti EJ, Sathyapala SA, Hopkinson NS, Roughton M, Moxham J, Polkey MI. Sniff nasal inspiratory pressure versus IC/TLC ratio as predictors of mortality in COPD. Respir Med. 2010;10:1016. 27. Stefanutti D, Benoist MR, Scheinmann P, Chaussain M, Fitting JW. Usefulness of sniff nasal pressure in patients with neuromuscular or skeletal disorders. Am J Respir Crit Care Med. 2000;162:1507–1511. 28. Aldrich TK, Spiro P. Maximal inspiratory pressure: does reproducibility indicate full effort? Thorax. 1995; 50: 40–43. Ter Man. 2010; 8(40):523-529 terapia manual 40.indd 529 25/5/2011 16:38:04 530 Artigo Original Avaliação da independência funcional e dor de pacientes em pré e pós-operatório cardíaco. Assessment of the functional independence and pain in cardiac pre and post-surgical patients. Kelin Gnoatto(1), Josiéle Canova Mattei(1), Alana Piccoli(2), Janaine Cunha Polese(3), Rodrigo Costa Schuster(4), Camila Pereira Leguisamo(5). Universidade de Passo Fundo (UPF), Passo Fundo, RS, Brasil. Resumo Introdução: A cirurgia cardíaca é uma cirurgia de grande porte, que causa agressão ao organismo acarretando prejuízos físicos e psicológicos. Objetivo: Verificar a independência funcional e a intensidade da dor de pacientes no préoperatório, 2º e 5º dia pós-operatórios de cirurgia cardíaca, relacionando-os entre si. Método: A amostra foi composta por 90 pacientes submetidos à cirurgia cardíaca por toracotomia médio-esternal. A funcionalidade foi avaliada por meio da Medida de Independência Funcional e a dor pelas Escalas Visual Analógica, Numérica da Dor e Diagrama Corporal, sendo avaliadas nos três momentos. Resultados: Na funcionalidade, no pré-operatório 88 pacientes apresentaram independência completa, no 2º pós-operatório, 54 apresentaram dependência de até 50% e no 5º dia pós-operatório 49 dependência de até 25%. Na dor, no pré-operatório 51 pacientes apresentaram dor grau 0, no 2º pós-operatório 19 apresentaram dor grau 5 e 19 dor grau 8; e 17 pacientes dor grau 3 no 5º pós-operatório. A correlação entre dor e MIF mostrou-se influente acima dos 60 anos no 5° pós-operatório (p=0,035). A correlação entre tempo de internação total e MIF mostrou-se significativa no 2º pós-operatório (p=0,028) e 5º pós-operatório (p=0,002); e entre tempo de internação pós-operatória e MIF mostrou significância no 2º e 5º pós-operatório, sendo p=0,005 e p=0,000, respectivamente. Conclusão: Após a cirurgia cardíaca, pacientes apresentaram prejuízos na funcionalidade. A dor foi uma queixa que persistiu todo período do estudo, sendo que esta não interferiu a funcionalidade naqueles com menos de 60 anos. Os pacientes que ficam maior tempo hospitalizados apresentam maior alteração funcional. Palavras-chave: Cirurgia cardíaca, dor, funcionalidade. Abstract Introduction: Cardiac surgery is a major surgery which causes agression to the organism causing psicological and physical damage. Objective: The aim of this study is to verify the functional independence and the pain intensity in pre, second and fifth postsurgical days of patients of cardiac surgery, and relating them. Method: Sample consisted of 90 patients undergone to heart surgery through medium-sternal thoracotomy. The functionality was assessed, through the Functional Independence Measure and the pain through the Numerical of Pain, Body Diagram and Analogical Visual Scales, being assessed in the three moments. Results: At the functionality, in the presurgical, 88 patients presented full independence, in the second postsurgical, 54 patients presented dependence of up to 50% and in the fifth postsurgical day, 49 patients up to presented dependence. The pain, in the postsurgical, 51 patients presented degree 0 pain, in the second postsurgical, 19 patients presented degree 5 pain and 19 patients degree 8 pain; and 17 patients Artigo recebido em 28 de setembro de 2010 e aceito em 22 de novembro de 2010. 1 2 3 4 5 Fisioterapeuta. Graduada pela Universidade de Passo Fundo – UPF, Passo Fundo, RS, Brasil. Fisioterapeuta residente da Residência Integrada em Saúde – Grupo Hospitalar Conceição – GHC, Porto Alegre, RS, Brasil. Fisioterapeuta mestranda em Ciências da Reabilitação – UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil. Fisioterapeuta mestre em Ciências Médicas – UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil. Fisioterapeuta. Doutora em Ciências da Saúde – IC-FUC, Porto Alegre, RS, Brasil. Endereço para correspondência: Camila Pereira Leguisamo. Rua Capitão Eleutério, 69/304. CEP: 99010-060. Passo Fundo, RS, Brasil. E-mail: [email protected]. Ter Man. 2010; 8(40):530-536 terapia manual 40.indd 530 25/5/2011 16:38:04 Kelin Gnoatto, Josiéle Canova Mattei, Alana Piccoli, Janaine Cunha Polese, Rodrigo Costa Schuster, Camila Pereira Leguisamo. 531 degree 3 pain in the fifth postsurgical. The correlation between the pain and MIF showed to be influent over 60 years in the fifth postsurgical (p= 0,035). The correlation between the total hospitalization time and MIF showed to be significant in the second postsurgical (p= 0,028) and in the fifth postsurgical (p= 0,002); and between postsurgical hospitalization time and MIF showed to be significant in the second and fifth post surgical, being p= 0,005 and p= 0,000, respectively. Conclusion: After the heart surgery, patients presented damage in the functionality. Pain was a complain that persisted all period of study, since in this one it doesn’t affect the functionality in patients, who are younger than 60 years old. The patients who stay hospitalized for a prolonged period present larger functional alteration. Keywords: Heart surgery, pain, functionality. lado, a dependência não é um es- questionários para instrumentali- A cirurgia cardíaca é uma ci- tado permanente, é um proces- zar uma quantificação precisa da rurgia de grande porte, que causa so dinâmico cuja evolução pode se mesma(19). agressão ao organismo acarretan- modificar e até ser prevenida ou Na cirurgia cardíaca, a recu- do prejuízos físicos e psicológicos. reduzida, se houver ambiente ou peração está ligada à reabilita- Devido aos excelentes resultados assistência adequados(11). A funcio- ção. A fisioterapia tem sua eficá- é hoje aceita e executada em todo nalidade pode ser mensurada por cia estabelecida na literatura, prin- mundo(¹). Os avanços tecnológicos inúmeros instrumentos de avalia- cipalmente na abordagem de pro- têm proporcionado uma melhora ção, entre eles podemos citar o Ín- blemas respiratórios, sendo consi- nos resultados dos tratamentos de dice de Barthel(12), a Avaliação de derada essencial no período pós- diversas coronariopatias(2,3). Kenny, o Índice de Katz(13) e a Me- operatório(1). Porém, pouco se dis- Neste contexto, a fisiotera- dida de Independência Funcional cute, ainda, sobre as possíveis al- pia torna-se de suma importân- (MIF)(14). A MIF tem como meta de- terações de funcionalidade nesses cia para avaliar a funcionalidade terminar o grau de ajuda que o pa- pacientes(20). do paciente, sendo que as com- ciente necessita para a realização plicações da hospitalização podem de suas AVDs(15). INTRODUÇÃO A deficiente recuperação do estado funcional pode ser um indica- ser decorrentes de dor(4), uso de A MIF é amplamente utilizada dor de uma baixa qualidade de vida dreno(5), alteração no balanço hí- e aceita como medida de avaliação logo após a cirurgia cardíaca, ainda drico, sangramento(6) e complica- funcional internacionalmente(16) e no período hospitalar(3). Cabe à fi- ções pulmonares , explicando o faz parte do Sistema Uniforme de sioterapia, bem como outros pro- declínio funcional experimentado Dados para a Reabilitação Médi- fissionais da área da saúde procu- pelos pacientes internados. A rea- ca (UDSMR). Riberto et al (2001) rar medidas que garantam o retor- bilitação é um processo de desen- (14) desenvolveram a versão brasi- no do paciente a uma vida ativa e volvimento e manutenção de um leira da MIF que demonstrou boa produtiva da melhor maneira pos- nível desejável das condições físi- equivalência cultural e boa repro- sível. cas, mentais e sociais, asseguran- dutibilidade. No estudo de valida- (7) (17) O presente estudo teve como do o retorno do paciente a uma ção da MIF do Brasil , a medida objetivos avaliar a independência vida ativa e produtiva da melhor demonstrou ser capaz de identifi- funcional e dor de pacientes sub- maneira possível(8,9). car os pacientes com maior com- metidos a cirurgia cardíaca eletiva A independência na realiza- prometimento ao revelar valores no período pré-operatório e pós- ção das atividades de vida diá- menores de independência funcio- operatório. ria (AVDs) é de grande importân- nal nestes. O instrumento também cia na vida das pessoas, indepen- mostrou sensibilidade aos ganhos dentemente da faixa etária, a de- funcionais duran- Trata-se de um estudo quase pendência pode alterar a dinâmi- te programas de reabilitação am- experimental, com avaliação da ca familiar, os papéis desenvolvi- bulatorial, sendo assim a MIF con- medida de independência funcio- dos pelos seus membros, interfe- segue vislumbrar os resultados de nal e da dor em pacientes submeti- rindo nas relações e no bem estar uma intervenção(17). dos à cirurgia cardíaca no pré e pós desenvolvidos MÉTODO da pessoa dependente e dos seus A dor é uma sensação freqüen- operatório, num hospital do interior familiares(10). Não é apenas a inca- te após a cirurgia cardíaca, sendo do RS. Este foi aprovado pelo Co- pacidade que cria a independência, associada ao grande estímulo noci- mitê de Ética em Pesquisa da Uni- mas sim o somatório da incapaci- ceptivo da esternotomia(2,18). Con- versidade de Passo Fundo e todos dade com a necessidade. Por outro siderada subjetiva, é necessário os indivíduos participantes concor- Ter Man. 2010; 8(40):530-536 terapia manual 40.indd 531 25/5/2011 16:38:04 532 Funcionalidade e dor em pós-operatório cardíacos. de dependência(17,26,27). daram participar desta com a assi- esforços, no pré e pós-operatório natura do Termo de Consentimento cardíaco. A avaliação dos níveis de Livre e Esclarecido (TCLE). dor foi realizada por meio da escala tas como média ± desvio padrão As variáveis foram descri- A amostra foi composta por 90 de Borg para dor (CR10), que clas- ou como mediana (diferença inter- indivíduos de ambos os sexos sub- sifica as intensidades em: 0,5 - 1,9 quartílica) quando contínuas e fre- metidos à cirurgia cardíaca eletiva, = muito fraca; 2,0 - 2,9 = fraca; qüência absoluta e relativa quando internados no CTI Cardiológico e/ 3,0 - 4,9 = moderada; 5,0 - 6,9 = categóricas. Utilizou-se o teste de ou em leitos hospitalares; os tipos forte; 7,0 - 9,9 = muito forte; ≥ 10 Kolmogorov-Smirnov para avaliar de cirurgias cardíacas realizadas = extremamente forte. Essa esca- a hipótese de aderência à norma- foram: Revascularização do Miocár- la vem sendo utilizada em diversos lidade das variáveis contínuas. Uti- dio, Prótese Mitral, Prótese Aórtica, estudos, tanto para dor experimen- lizou-se o teste de Wilcoxon para Aneurisma, Dissecção de Aorta, Co- tal em indivíduos sadios como para comparar a dor entre os diferentes municação Intra-ventricular (CIV) e estudos clínicos em pacientes. Sua momentos de aferição e o teste rho Comunicação Intra-atrial (CIA). validade foi constatada por corre- de Spearman para avaliar a hipóte- Os critérios de exclusão deste lações significativas verificadas por se de correlação entre dor e MIF e foram: pacientes com déficit neuro- meio de comparação com a Visu- MIF e tempo de internação, devido lógico ou cognitivo, pacientes que al Analog Scale (VAS), que é acei- à violação do pressuposto de nor- se negaram a assinar o TCLE ou ta como válida pela Associação In- malidade apresentada por essas que exerceram seu direito de desis- ternacional para o Estudo da Dor. variáveis. A dor, aferida por EVA, tir, além de pacientes que foram a Estes instrumentos foram aplica- foi comparada nos momentos pré- óbito durante o período da coleta de dos no pré-operatório, 2° e 5° dias operatório, no 2º e no 5º dias pós- dados do mesmo. Sendo assim, ini- pós-operatórios. Os dias de inter- operatórios através de análise de cialmente foram selecionados 102 nação total foram contados a par- variância (ANOVA). A seguir, com- indivíduos e destes, 12 foram exclu- tir do primeiro dia de internação do parou-se a dor entre os três dife- ídos: 4 por terem desistido, 5 devi- paciente até o dia da alta hospita- rentes tempos aos pares através do a óbito, 2 por déficit neurológico lar e os dias de internação pós-ci- do teste post hoc Tukey HSD. Em e 1 devido à parada cardiorrespira- rúrgico foram contados a partir do todas as comparações foi conside- tória antecedente a cirurgia. primeiro dia após a cirurgia cardía- rado um p ≤ 0,05. A coleta de dados foi realiza- ca até o dia da alta hospitalar. RESULTADOS E DISCUSSÃO da por meio do preenchimento de As avaliações anteriormente e uma ficha que continha os dados posteriormente à cirurgia foram re- de identificação do paciente, além alizadas sempre pelo mesmo ava- do foram divididos em três faixas de altura, índice de massa corporal liador e no mesmo turno. Todos os etárias: 23-40 anos (7,77%), 41- (IMC), data de internação, proce- pacientes recebiam atendimento fi- 60(40%) e com idade superior a dimento cirúrgico, uso de circula- sioterapêutico padronizado apenas 60 anos (52,22%) com variação da ção extracorpórea (CEC) e fatores pela equipe do hospital, duas vezes idade entre 23 e 86 anos. A média de risco (tabagismo e etilismo). O ao dia, sem nenhuma intervenção de idade da amostra foi de 59,6 ± critério utilizado para tabagismo e dos avaliadores deste estudo. 12,7 anos, prevalecendo o sexo Os indivíduos em estu- etilismo foi pacientes que fumam/ A MIF foi utilizada a fim de masculino com 51 (56,66%) pa- bebem ou fumaram/ beberam até fazer uma análise qualitativa que cientes. Podem-se observar na ta- 30 dias antes da operação e para quantifica a carga de cuidados de- bela 1 as características gerais dos ex-tabagistas/ aqueles mandada por uma pessoa para a pacientes e referentes ao procedi- com história prévia, anterior a 30 realização de uma série de tarefas mento cirúrgico. dias. Após, foi aplicado o instru- motoras e cognitivas(17). Esse ins- Em relação ao peso, altura e mento de Medida de Independên- trumento enfoca 6 dimensões de IMC os valores correspondentes da cia Funcional a fim de avaliar a funcionamento, sendo as motoras: média foram 70,50 ± 13,07 Kg; funcionalidade, por ser uma medi- auto-cuidados, controle de esfínc- 1,64 ± 0,07m e 25,61 ± 4,22 kg/ da de confiabilidade e validade no teres, transferências, locomoção; e m² respectivamente. Brasil(14,17), a Escala Visual Analó- as cognitivas: comunicação e cog- A média de internação total gica da Dor (Protocolo de Avalia- nição social. Avalia 18 tarefas pon- foi de 14,84 ± 0,96 dias e a média ção da Dor utilizado por Mueller et tuadas de 1 (dependência total) dos dias de internação pós-cirúrgi- al, 2000)(21,22), a Escala Numérica a 7 (independência total), assim ca foi 8,6 ± 0,46 dias, demonstran- da Dor(23) e o Diagrama corporal(24) seu escore total pode variar de 18 do que 50 (55,6%) pacientes rece- como instrumentos para mensu- a 126 pontos sendo que quanto beram alta do 5º até o 7º dia pós- rar o grau e localização de dor em menor a pontuação, maior é o grau operatório e 40 (44,4%) pacientes etilistas Ter Man. 2010; 8(40):530-536 terapia manual 40.indd 532 25/5/2011 16:38:04 533 Kelin Gnoatto, Josiéle Canova Mattei, Alana Piccoli, Janaine Cunha Polese, Rodrigo Costa Schuster, Camila Pereira Leguisamo. Tabela 1 - Características gerais da amostra. dreno de tórax, concordando com Variável Freqüência (%) os achados de Gacomazzi (2006) 23 - 40 41 - 60 > 60 7 (7,77) 36 (40) 47 (52,22) minuição da funcionalidade nos pa- Feminino Masculino 39 (43,33) 51 (56,66) Peso (Kg) 47 - 60 61 - 80 > 80 22 (24,44) 50 (55,55) 18 (20) Altura (M) 1,49 - 1,65 1,66 -1,78 44 (48,88) 46 (51,11) Fatores De Risco Etilismo Tabagismo 10 (11,11) 29 (32,22) Tipo de Cirurgia RVM Prótese Mitral Prótese Aórtica Outras 47 (52,22) 12 (13,33) 18 (20) 13 (14,45) Sim Não 85 (95) 5 (5) Idade (anos) Sexo CEC (4) , o que pode ter justificado a di- cientes do 2º pós-operatório. Na caracterização da MIF total no pré-operatório, 88 (97,8%) pacientes apresentaram independência completa e 2 (2,22%) dependência de até 25%. No 2º dia pós-operatório 54 (60%) pacientes apresentaram dependência de até 50%, 35 (38,9%) dependência de até 75% e 1 (1,1%) paciente com dependência completa, mostrando que nenhum dos pacientes apresentou independência funcional neste período. No 5º dia pós- operatório 49 (54,4%) pacientes apresentaram dependência de até 25%, 37 (41,1%) independência completa e 4 (4,4%) de- receberam alta após o 7º dia pós- para ambas as comparações) e operatório. No 2º pós-operatório maior no 5º pós-operatório quando A perda funcional (PF%) foi cerca de 88,88% dos pacientes en- comparada com o 2º pós-operató- avaliada de acordo com a equação contravam-se no Centro de Terapia rio (p=0,003), discordando com os proposta por Borges et al(2006)(30): (22) pendência de até 50% . , Intensiva Cardiológico, e no 5º dia achados de Mueller et al (2000) pós-operatório 11,11% permane- cuja maior intensidade de dor ocor- (escore funcional momento inicial ciam lá devido à complicações pós reu no segundo pós operatório. – escore funcional momento final) cirúrgicas. O local de dor mais relatado PF% = ______________ X 100% Ao analisar-se os diferentes pelos pacientes no pré operatório momentos de dor, observou-se di- foi na região do tórax anterior à es- minuição da mesma do pré para o querda (43%), sendo característi- pós-operatório, sendo que no pré ca de angina; contrapondo-se ao operatório 51 pacientes apresenta- 2º dia pós-operatório no qual se para o 2º dia pós-operatório, ocor- ram dor grau 0 (56,7%), no 2° dia relatou algia na região do esterno reu perda funcional na MIF total pós operatório 19 pacientes apre- (84%), e ao 5° dia pós-operatório de 51,09%; também se observou sentaram dor grau 5 (21,1%) e 19 onde os pacientes queixaram-se de perda funcional na MIF total mo- pacientes dor grau 8 (21,1%), no algia também na região esternal tora e MIF total cognitiva, sendo 5° dia pós operatório 17 pacientes (87%), sendo essa dor pós-opera- apresentaram dor grau 3 (18,9%). tória decorrente ao trauma cirúrgi- A dor foi uma queixa que per- co. Dados similares foram encon- sistiu todo período do estudo, esta trados por Mueller et al(2000)(22) aferida por escala analógica visual, em seu estudo, onde foi observa- demonstrou pontuação de 0 (0 – do que mais de 50% dos pacientes 5) no pré-operatório, 6 (5 – 8) no apresentando dor na região da es- 2º pós-operatório e 4 (3 – 6) no ternotomia no 7º dia após a cirur- 5º pós-operatório. Através de aná- gia cardíaca. lise de variância observou-se que a Em relação à dor referida dor era significativamente diferen- pelos pacientes na região da ester- te entre os três tempos (p<0,001). notomia, esta poderia ser atribuída Da mesma forma quando compa- a extensão da incisão(27,28) e fricção rados aos pares, a dor era signi- do esterno pela instabilidade do ficativamente maior no 2º e 5º tórax superior citado por Guizilli- pós-operatórios quando compara- ni et al(2005)(29). Todos os pacien- da com o pré-operatório (p<0,001 tes saíram do bloco cirúrgico com (escore funcional momento inicial) No período pré operatório Figura 01 - Valores da Dor. Ter Man. 2010; 8(40):530-536 terapia manual 40.indd 533 25/5/2011 16:38:04 534 Funcionalidade e dor em pós-operatório cardíacos. de 63,85% e 17,78% respectiva- tes à independência funcional não descrito na tabela 02. Deve-se res- mente. A análise desta fórmula foram significativos do pré para o saltar a proximidade com o nível do 2º dia para o 5º dia pós-ope- 2º dia pós-operatório (p= 0,200), de 5% apresentada pela significân- ratório não está explícita neste es- pois houve perda funcional; porém cia da correlação entre dor e MIF tudo, pois a partir deste período mostraram-se significativos do pré total no 5º PO e tempo de interna- houve ganho funcional. Em relação para o 5º dia pós-operatório (p= ção pós-operatório. as dimensões da MIF do pré para 0,002) e também no 2º dia para Borges et al(2006)(31) obser- o 2º pós-operatório: no auto-cui- o 5º dia pós-operatório (p= 0,00), varam em seu estudo que o nível dado houve maior perda funcional apresentando aumento na inde- de dor teve repercussão significa- na categoria Banho (83,66%); na pendência das AVD’s. Neste senti- tiva na funcionalidade de pacien- dimensão transferências a maior do, Myles et al (2001) 30 observa- tes submetidos à cirurgia cardíaca, perda funcional apresentou-se na ram em seu estudo que a cirurgia tanto no sétimo dia pós operatório categoria Transferência – Vaso sa- cardíaca é determinante para pre- quanto na alta hospitalar. nitário e Chuveiro (77,85%); e na juízos da funcionalidade destes pa- Locomoção a categoria Locomoção cientes. A dor não influenciou a funcionalidade nas faixas etárias de 23 a – Escadas mostrou perda funcional Avaliou-se a hipótese de cor- 40 anos e 41 a 60 anos. Na faixa de 83,69%. Essas porcentagens relação entre dor, MIF total, MIF etária acima de 60 anos, a dor justificam-se pelo fato de o pacien- motora e MIF cognitiva, observan- apresentou-se influente no 5° pós- te estar ainda com dreno de tórax do-se correlação estatisticamen- operatório (p=0,035), mostrando não podendo se locomover, por te significativa entre dor no 5º PO que pacientes idosos evitam reali- orientações médicas pós cirúrgicas e MIF motor no 5º PO, conforme zar atividades devido a dor. e pela limitação do déficit cirúrgico, mas não pela perda funcional. Ainda do pré para o 2º pós- Tabela 2 - Correlação entre dor e MIF. operatório, na dimensão controle Coeficiente de Correlação p* Dor e MIF Total Pré 0,21 0,162 Dor e MIF Motora Pré 0,22 0,148 Dor e MIF Cognitiva Pré 0,19 0,200 para controle do balanço hídrico, Dor e MIF Total 2º PO -0,04 0,820 seguindo as normas do setor; e na Dor e MIF Motora 2º PO 0,06 0,685 categoria Controle de Fezes devi- Dor e MIF Cognitiva 2º PO -0,08 0,611 do a constipação apresentada por Dor e MIF Total 5º PO -0,28 0,057 -0,29 0,048 -0,191 0,204 de esfíncter não foi possível quantificar a perda funcional na categoria Controle de Urina, pois os pacientes encontravam-se sondados todos os pacientes. Os resultados da perda funcional total, isto é, do período que antecede a cirurgia até 5 dias de- Dor e MIF Motora 5º PO Dor e MIF Cognitiva 5º PO * Teste rho de Spearman MIF: medida de independência funcional pois da mesma, apresentam-se da seguinte forma: na dimensão au- Tabela 3 - Correlação entre MIF e tempo de internação. tocuidado, a categoria Banho apre- Tempo de Internação Total sentou maior perda funcional, correspondendo a 35,45%; na dimensão transferências a categoria Leito-Cadeira de Rodas (29,64%) obteve maior perda funcional; na locomoção a categoria Locomoção – Medida de Independência Funcional MIF Total Pré MIF Motora Pré Tempo de Internação Pós-Operatório Coeficiente de Correlação p* Coeficiente de Correlação p* -0,3 0,849 -0,2 0,891 -0,07 0,644 -0,10 0,529 < 0,01 0,977 0,14 0,364 Escadas mostrou perda funcional MIF Cognitiva Pré de 81,70%. MIF Total 2º PO -0,37 0,012 -0,29 0,048 Na dimensão controle de es- MIF Motora 2º PO -0,37 0,010 -0,32 0,030 fíncteres do mesmo período, a ca- MIF Cognitiva 2º PO -0,19 0,203 -0,12 0,44 tegoria Controle de Urina teve MIF Total 5º PO -0,35 0,017 -0,36 0,015 MIF Motora 5º PO -0,36 0,015 -0,34 0,021 MIF Cognitiva 5º PO -0,13 0,40 -0,26 0,079 PF% de 5,57%, demonstrando que 6,66% dos pacientes ainda faziam uso de sonda 5 dias após a cirurgia. Com isso, os resultados referen- * Teste rho de Spearman MIF: medida de independência funcional Ter Man. 2010; 8(40):530-536 terapia manual 40.indd 534 25/5/2011 16:38:04 Kelin Gnoatto, Josiéle Canova Mattei, Alana Piccoli, Janaine Cunha Polese, Rodrigo Costa Schuster, Camila Pereira Leguisamo. 535 A correlação entre tempo de tes, de acordo com os achados de sistiu todo período, observando-se internação total e MIF mostrou- outros estudos(30,31), que apontam um aumento no pós-operatório re- se significativa no 2º pós-operató- que estes prejuízos podem ser im- cente de cirurgia cardíaca, sendo rio (p= 0,028) e 5º pós-operató- portantes na recuperação dos pa- que esta não afetou a funcionalida- rio (p= 0,002). A correlação entre cientes e alta hospitalar. de em pacientes com idade inferior tempo de internação pós operatória e MIF também demonstrou dife- a 60 anos. Os pacientes que ficam CONCLUSÃO por um tempo prolongado hospita- renças significativas no 2º e 5º dia Pacientes submetidos á cirur- lizados, apresentam maior altera- após a cirurgia, sendo p= 0,005 e gia cardíaca apresentam redução ção funcional, enfatizando assim a p= 0,000 respectivamente. Assim, na funcionalidade no pós-operató- importância do atendimento inte- o tempo de internação pode ter rio, com melhora no 5° dia, mas gral destes pacientes, para que re- sido prejuí- não retornando aos valores ini- cebam alta hospitalar o mais breve- zos na funcionalidade dos pacien- ciais. A dor foi uma queixa que per- mente possível. influenciado pelos REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 1. Leguisamo CP, Kalil R, Furlani AP. A efetividade de uma proposta fisioterapêutica pré-operatória para cirurgia de revascularização do miocárdio. Rev Bras Cir Cardiovasc. 2005; 20(2): 134-41. 2. Magnano D, Montalbano R, Lamarra M, Ferri F, Lorini L, Clarizia S et al. Ineffectiveness of local wound anestesia to reduce prostoperative pain alter median sternotomy. J Card Surg 2005; 20(4); 314-8. 3. Nielsen D, Sellgren J, Ricksten S. Quality of life a after cardiac surgery complicated by multiple organ failure. Crit Care Med. 1997; 25(1): 52-7. 4. Gacomazzi CM, Lagni VB, Monteiro MB. A dor pós operatória como contribuinte do prejuízo da função pulmonar em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca. Braz J Cardiovasc Surg 2006; 21(4): 386-392. 5. Pires AC, Breda JR. Cirurgia cardíaca em adultos. In: Sarmento, GJV (Org.). Fisioterapia Respiratória no Paciente Critico. 2a. Ed. São Paulo: Manole, 2007, p.296-306. 6. Miana LA, Atik FA, Moreira LF, Hueb AC, Jatene FB, Junior JOA, ET al. Fatores de risco de sangramento no pós operatório de cirurgia cardiaca de pacientes adultos. Braz. J. Cardiovasc. Surg. 2004; 19(3): 280-286. 7. Barbosa RAG, Carmona MJC. Avaliação da função pulmonar em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. Rev. Bras. Anestesiol. 2002; 52(6):689-699. 8. Buchler RDD, Ferraz AS, Meneghelo RS. Princípios gerais e aplicações da reabilitação. Revista Soc. Card. 1996; 6(1): 11-22. 9. Cardoso-Costa CA, Yazbek PJ, Sabbag LMS, Dourados MP, Shinzato GT, Battistella LR et al. Alterações eletrocardiográficas e cardiovasculares em pacientes com infarto do miocárdio pregresso submetido a programa de reabilitação cardíaca supervisionado. Acta Fisia 1997; 4(2): 82-89. 10. Diogo MJD. O papel da enfermeira na reabilitação do idoso. Revista Latino Am. Enferm 2000; 8(1):75-81. 11. Caldas CP. Envelhecimento com dependência: responsabilidades e demandas à família. Cad. Saúde Pública 2003; 19(3):773-781. 12. Christiansen CH, Schwartz RK, Barnes KJ.Cuidados pessoais: avaliação e controle. In: Delisa JA., ed. Medicina de Reabilitação: Princípios e práticas. São Paulo: Manole;, p.109-31, 1998. 13. Duarte YAO, Andrade CL, Lebrão ML. O índice de Katz na avaliação da funcionalidade dos idosos. Revista Esc. Enferm USP 2007; 41(2):317-25. 14. Riberto M, Miyazaki MH, Jucá SSH, Sakamoto H, Pinto PPN, Battistella LR. Reprodutibilidade da versão brasileira da Medida de Independência Funcional. Acta Fisiatr 2001; 8(1): 45-52. 15. Cohen ME, Marino RJ. The tools of disability outcomes research functional status measures. Arch Phys Med Rehabil. 2000; 81: S 21-9. 16. Ottenbacher K, Hsu Y, Granger C, Fiedler R. The Rehability of the Functional Independence Measure: a Quantitative Review. Arch Phys Med Rehabil. Dec 1996; 77(12):1226-32. 17. Riberto M, Miyazaki MH, Jucá SSH, Sakamoto H, Pinto PPN, Battistella LR. Validação da versão brasileira da medida de independência funcional. Acta Fisiatr 2004; 11(2): 72-76. 18. Mueller XM, Tinguely F, Tevaearai HT, Ravussin P, Stumpe F, Segesser LK. Impact of duration of chest tube drainage on pain after cardiac surgerí. Eur J Cardiothorac Surg. 2000; 18(5): 570-4. 19. Pimenta CAM.. Escalas de Avaliação de Dor. In: Teixeira, MJ, ed. Dor: Conceitos Gerais. São Paulo: Limay; 1994, p.46-55. Ter Man. 2010; 8(40):530-536 terapia manual 40.indd 535 25/5/2011 16:38:04 536 Funcionalidade e dor em pós-operatório cardíacos. 20. Borges JBC, Ferreira DMLP, Carvalho SMR , Martins AS, Andrade RR, Silva MAM. Avaliação da intensidade de dor e da funcionalidade no pós-operatório recente de cirurgia cardíaca. Braz J Cardiovasc Surg. 2006; 21(4): 393-402 21. Souza FAEF, Pereira LV, Giuntini PB. Mensuração da Dor .In: Teixeira MJ, ed. Dor: Contexto interdisciplinar. Curitiba, maio, 2003, p.179-86. 22. Mueller, Xavier M.; et al. Pain location, distribution, and intensity after cardiac surgery. Chest 2000; 118(2): 391-6. 23. Marques AP, Assumpção A, Matsutani LA. Fibromialgia e Fisioterapia: avaliação e tratamento. Ed Manole, 1ª ed., p. 16-18, 2007 24. Sila YP, Silva JF, Costa LP, Medeiros MF, Mota JAC. Avaliação da dor na criança. Revista Med. Minas Gerais 2004; 14(1): S92-S6. 25. Filho TEPB. Avaliação padronizada nos traumatismos raquimedulares. Rev. Bras. Ortop, 1994; 29(3): 99-106. 26. Ricci NA, Lemos ND, Orrico KF, Gazzola JM. Evolução da Independência funcional de idosos atendidos em programa de assistência domiciliária pela óptica do cuidador. Acta Fisiátrica 2006; 13(1):26-31. 27. Power I. Recent advances in postoperative pain therapy. Br. J. Anesth, 2005; 95(1): 43-51. 28. Lichtenberg A, Hagl C, Harringer W, Klima U, Haverich A. Effects of minimal invasive coronary artery bypass on pulmonary function and postoperative pain. Ann Thorac Surg; 70(2):461-5, 2000 29. Guizilini S, Gomes WJ, Faresin SM, Bolzan DW, Alves FA, Catani R, Buffolo E. Avaliação da Função Pulmonar em Pacientes submetidos á cirurgia de revascularização do miocárdio com e sem circulação extra corpórea. Rev Bras Cir Cardiovas 2005; 20(3): 310-316. 30. Myles PS, Hunt JO, Fletcher H, Solly R, Wordward D, Kelly S et al. Relation between quality of recovery in hospital and quality of life at 3 months after cardiac surgery. Anesthesiology 2001; 95(4):862-7. 31. Borges JBC, Ferreira DLMP, Carvalho SMR, Martins AS, Andrade RR, Silva MAM. Avaliação de intensidade de dor e da funcionalidade no pós operatório recente de cirurgia cardíaca. Braz J. Cardiovasc Surg,2006; 21(4): 393-402. Ter Man. 2010; 8(40):530-536 terapia manual 40.indd 536 25/5/2011 16:38:04 537 Artigo Original Análise do pico de torque isométrico no joelho e sua predição através de dados antropométricos. Analysis of Knee Torque peak and its prediction based on anthropometric data. Alessandro Haupenthal(1), Daniela P. dos Santos(2), Caroline Ruschel(1), Gabriel Jacomel(3), Heiliane de Brito Fontana(2), Eddy Mallmann(3), Robson Scoz(4). Laboratório de Pesquisas em Biomecânica Aquática, Centro de Ciências da Saúde e Esporte, Universidade Estadual de Santa Catarina. Resumo Introdução: Apesar de existirem poucos parâmetros na literatura para prescrição do exercício em isometria, o treino de força muscular isométrica é amplamente utilizado na reabilitação de lesões no joelho. Objetivo: Analisar a pico de torque isométrico em três ângulos (30, 60 e 90 graus) e realizar sua predição através de dados antropométricos para adultos jovens. Método: Para tanto, participaram do estudo 39 sujeitos (19 homens e 20 mulheres) dos quais foram coletados os seguintes dados antropométricos: idade (23±3 anos), estatura (1,70±0,08 m), massa corporal (65,4±9,9 quilogramas), comprimento de membro inferior (86±15 cm) e circunferência de coxa proximal (55,7±4,8 cm), media (50,9±3,8 cm) e distal (41,2±4,1 cm). A força muscular isométrica foi medida com um dinamômetro isocinético. A média de três execuções de cinco segundos foi calculada para cada ângulo analisado. A associação entre a força isométrica e os dados antropométricos bem como a predição da força foram analisadas através da regressão linear múltipla. Resultados: A força muscular isométrica em N.m foi de 90,5±35,6 em 30 graus, 172,6±60,6 em 60 graus e 203,5±73,2 em 90 graus. Os valores do pico de torque da força isométrica estão associados à massa corporal e às circunferências de coxa distal e medial. Essas foram responsáveis por 70% e 80% da variação do pico nos ângulos de 30 e 60 graus. Para o ângulo de 90 graus, foi encontrada associação somente com a massa corporal e a coxa distal, as quais são responsáveis por 66% da variação do pico de torque encontrada nesse estudo. Conclusão: Foram criadas equações com capacidade de predição satisfatória para a força isométrica a partir do coeficiente de determinação nas três angulações analisadas. Palavras-chave: Contração isométrica, treinamento de resistência, exercício, modelos lineares, reabilitação. Abstract Introduction: Although isometric force trainning is widely used in knee rehabilitation, few parameters for isometric exercises prescription are found. Objetivo: To analyze knee isometric torque peak at three different angles (30, 60 e 90 graus) and to create a prediction model based on anthropometric data for youths. Method: 39 subjects (19 males and 20 females), aged 23±3 years, were assessed to verify the following anthropometric data: height (1,70±0,08 m), body mass 65,4±9,9 kg), lower limb length (86±15 cm), proximal thigh circumference(55,7±4,8 cm), medial thigh circumference (50,9±3,8 cm) and distal thigh circumference (41,2±4,1 cm). The mean value of three executions of Artigo recebido em 17 de outubro de 2010 e aceito em 11 de dezembro de 2010. 1 2 3 4 Discente e bolsista CAPES do doutorado – Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, Santa Catarina, Florianópolis, Brasil Discente e bolsista CAPES do mestrado – Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, Santa Catarina, Florianópolis, Brasil Discente e bolsista iniciação científica – Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, Santa Catarina, Florianópolis, Brasil Fisioterapeuta – Isocinética, clínica diagnóstica– Santa Catarina, Florianópolis, Brasil Endereço para correspondência: Alessandro Haupenthal. Rua Ivo Silveira, 177 – Apto 802, Capoeiras. CEP 88085-001. Florianópolis, SC, Brasil. Tel: 48 9902 8190. E-mail: [email protected]. Ter Man. 2010; 8(40):537-542 terapia manual 40.indd 537 25/5/2011 16:38:04 538 Pico de torque isométrico no joelho. five seconds on an isokinetic dynamometer was calculated for each angle analyzed. Linear Multiple regression was used in order to verify association between variables and to create the prediction model. Results: The isometric torque peak was in N.m 90,5±35,6 at a 30 degree angle, 172,6±60,6 at a 60 degree angle and 203,5±73,2 at 90 degrees. The isometric peak torque is associated to body mass and distal and prosimal thigh circumference, which were responsible for 70% and 80% of the isometric peak torque variation at 30 and 60 degrees respectively. At a 90 degree angle, the isometric peak torque is only associated to body mass and to the distal thigh circumference, which are responsible for 66% of peak torque variation foun in this study. Conclusion: The equations created from anthropometric data predict satisfactorily the isometric peak torque at 30, 60 and 90 degrees. Keywords: Isometric contraction, resistance training, exercise, linear models, rehabilitation. INTRODUÇÃO que subsidiem de forma consisten- variáveis dependentes: O joelho é local comum de te aspectos referentes à prescri- a) Pico de torque isométrico acometimentos que podem cau- ção do exercício, seja em progra- da musculatura extensora do jo- sar incapacidade funcional. Den- mas de treinamento ou em proto- elho em 30 graus (T30): máximo tre diversos problemas nesta ar- colos de reabilitação. valor observado na curva de torque ticulação os mais comuns são a Diante desse contexto, este versus tempo durante a contração ruptura do ligamento cruzado an- estudo visa analisar a força isomé- isométrica dos músculos extenso- terior, a síndrome patelofemoral e trica na extensão de joelho e pro- res do joelho em 30 graus de fle- a osteoartrite(1-3). Um dos princi- por um modelo preditivo dessa xão. É expresso em N.m; pais fatores que pode desencade- força através da utilização de me- ar estes acometimentos é a alte- didas antropométricas. ração da força muscular por fraqueza, deficiência ou desequilíbrio elho em 60 graus (T60): máximo MÉTODO valor observado na curva de torque muscular, e qualquer uma destas situações, se mantida por alguns versus tempo durante a contração Sujeitos meses, pode levar a quadros de degeneração articular (4,5) . b) Pico de torque isométrico da musculatura extensora do jo- isométrica dos músculos extenso- Participaram do estudo 39 indivíduos (19 homens e 20 mulhe- res do joelho em 60 graus de flexão. É expresso em N.m; A degeneração ocorre devi- res), que atenderam aos seguintes c) Pico de torque isométrico do à redistribuição das cargas in- critérios de inclusão: (a) ter idade da musculatura extensora do jo- ternas no joelho com conseqüen- entre 18 e 30 anos; (b) não pos- elho em 90 graus (T90): máximo te alteração dos locais de recepção suir comprometimento valor observado na curva de torque desta carga, o que provoca modifi- osteo-músculo-articular nos mem- versus tempo durante a contração cações estruturais no tecido(5). Para bros inferiores diagnosticado nos isométrica dos músculos extenso- evitar esta condição é necessário o últimos seis meses; e (c) que con- res do joelho em 90 graus de fle- ganho de força, desde que contro- cordaram em participar da pes- xão. É expresso em N.m; lada a quantidade de estresse arti- quisa – aprovada pelo Comitê de cular. Assim, o exercício isométrico Ética em Seres Humanos da Insti- seguintes é uma boa opção, pois em isome- tuição – mediante a assinatura de tes: tria a musculatura do joelho pode um Termo de Consentimento Livre ser fortalecida na posição mais se- e Esclarecido gura possível, adequada à condição do indivíduo. qualquer Foram incluídas no estudo as variáveis independen- a) Idade: tempo de vida dos participantes. É expressa em anos. Para a coleta dos dados foram b) Estatura: distância perpen- utilizados os seguintes instrumen- dicular entre o plano transverso do Apesar de o exercício isomé- tos: (1) dinamômetro isocinético vértex e a porção mais inferior dos trico ser utilizado na reabilitação CSMi-Cybex, modelo HumacNorm pés. É expressa em m; do joelho(1,6-8) e ter sua efetividade 2009; (2) balança digital Plenna, comprovada para ganho de força(9- modelo MEA-08128, escala de 0,1 bro inferior (CMI): distância entre 11) c) Comprimento do mem- , há poucos os estudos que inves- kg; (3) estadiômetro Sanny, mo- o maléolo lateral e o troncânter tigaram parâmetros relacionados delo Standard, escala de 0,01 m; maior do fêmur do membro infe- à sua execução, e não há indica- e (4) trena antropométrica Sanny, rior direito. É expresso em cm; ção de valores normativos para di- modelo em aço, escala de 0,01 m. ferentes tipos de população. Ainda A partir da análise dinamo- mais escassas são as informações métrica foram obtidas as seguintes d) Massa: massa corporal total do indivíduo. É expressa em kg; e) Coxa proximal (Coxaprox): Ter Man. 2010; 8(40):537-542 terapia manual 40.indd 538 25/5/2011 16:38:04 539 Alessandro Haupenthal, Daniela P. Santos, Caroline Ruschel, Gabriel Jacomel, Heiliane B. Fontana, Eddy Mallmann, Robson Scoz. circunferência da coxa no ponto musculatura extensora do joelho delo de regressão linear e identifi- correspondente à prega glútea. É no dinamômetro isocinético. De- car outliers. expressa, em cm. pois de posicionado no dinamôme- f) Coxa distal (Coxadist): cir- tro, o sujeito passou por um perío- cunferência da coxa no ponto a 5 do de familiarização, durante o qual Os valores de média e desvio cm acima do ápice da patela. É ex- foi orientado a realizar uma contra- padrão para a idade e as caracte- pressa em cm. ção isométrica submáxima. Após a rísticas antropométricas dos sujeitos estão descritos na Tabela 1. RESULTADOS g) Coxa medial (Coxamed): cir- familiarização, cada sujeito realizou cunferência da coxa no ponto que três contrações isométricas máxi- Os valores de média e des- corresponde à metade da distân- mas da musculatura extensora do vio padrão para os dados de tor- cia entre os pontos utilizados para joelho direito para cada ângulo ana- que nos três ângulos analisados a obtenção da Coxaprox e da Coxa- lisado, conforme a ordem estabele- neste estudo estão descritos na Ta- . É expressa em cm; dist cida através do sorteio. Cada con- bela 2. h) Sexo: foi incluído na análi- tração teve duração de cinco se- se sob a forma de variável dicotô- gundos e o intervalo entre as exe- mica, sendo que para o sexo mas- cuções foi de 30 segundos. culino atribuiu-se o valor “zero” e O resultado da regressão é apresentado na Tabela 3. A seguir são apresentados os analisou-se modelos construídos com base na para o sexo feminino o valor “um”. as variáveis do estudo através de regressão múltipla para cada ân- Para a seleção das variáveis estatística descritiva, consideran- gulo analisado. independentes foram Primeiramente considera- do-se a média e o desvio padrão dos aspectos que já foram relata- das três execuções em cada ângu- Equação 30 graus: dos como associados com a força lo analisado. Torque 30 = 168,18 + 3,54 x (massa) – 4,22 x (coxamed) – 2,36 x (coxadist) muscular em isometria (12, 13) . O modelo de predição foi Ao chegar ao local de coleta construído a partir da regressão os sujeitos foram informados sobre linear múltipla através do méto- os procedimentos da pesquisa e do stepwise. As variáveis indepen- preencheram o Termo de Consen- dentes foram excluídas do modelo timento Livre e Esclarecido. Em se- quando p>0,10, e permaneceram guida, realizou-se a randomização no modelo final quando p≤0,05, no da condição de execução conside- teste t. rando-se as angulações analisadas (30, 60 e 90 graus). Equação 60 graus: Torque 60 = 286,00 + 6,30 x (massa) – 6,10 x (coxamed) – 5,35 x (coxadist) Equação 90 graus: Torque 90 = 83,94 + 6,13 x (massa) – 6,93 x (coxadist) A fim de verificar a qualida- DISCUSSÃO de do modelo foi calculado o co- O torque em diferentes angu- co- eficiente de determinação ajusta- lações de joelho tem sido utilizado antropométri- do (R2). Além disso, foi realizada a por diferentes autores como indi- cos, de acordo com os procedi- análise dos resíduos com o objeti- cador da força muscular isométri- mentos propostos pela Interna- vo de checar a adequação do mo- ca dos músculos extensores dessa Procedeu-se leta dos dados então à tional Society of Advancement of Kinanthropometry(14). Os resulta- Tabela 2 - Torque nos ângulos analisados dos foram anotados em um formu- T30 (N.m) lário individual, no qual foi também registrada a idade dos sujeitos. Todos Em seguida os sujeitos foram instruídos pelos pesquisadores quanto ao procedimento de execução da contração isométrica da T60 (N.m) T90 (N.m) 90,5±35,6 172,6±60,6 203,5±73,2 Homem 116,3±30,38 219,1±45,7 257,4±56,1 Mulher 63,2±12,9 123,5±24,2 146,7±37,0 *T30 = pico de torque em 30 °; T60 = pico de torque em 60 °;T90 = pico de torque em 90 °. Média ± desvio padrão. Tabela 1 - Idade e características antropométricas dos sujeitos do estudo. Idade Estatura CMI Massa Coxaprox Coxamed (anos) (m) (cm) (kg) (cm) (cm) (cm) Todos 23,3±2,7 1,70±0,08 86,5±15,1 65,4±9,9 55,7±4,8 50,9±3,8 41,2±4,1 Homem 24,0±3,8 1,76±0,06 85,8±20,9 74,2±9,51 56,4±4,5 51,6±4,6 41,3±3,6 Mulher 23,3±2,9 1,63±0,04 87,1±3,9 57,9±5,7 55,1±5,1 50,3±2,7 41,0±4,6 Coxadist *Coxaprox = circunferência de coxa proximal, Coxamed = circunferência de coxa medial, Coxadist = circunferência de coxa distal e CMI = comprimento de membro inferior. Média ± desvio padrão. Ter Man. 2010; 8(40):537-542 terapia manual 40.indd 539 25/5/2011 16:38:04 540 Pico de torque isométrico no joelho. Tabela 3 - Resultados da regressão linear múltipla para os picos de torque em 30, 60 e 90 graus. Variáveis dependentes Torque 30 graus Variáveis independentes Constante Massa Coeficiente regressão Erro padrão p 0,38 0,001 168,18 3,54 Coxa medial -4,22 1,04 0,001 Coxa distal -2,36 0,91 0,014 Estatura 0,179 Coxa proximal 0,584 CMI Torque 60 graus Constante Massa 6,30 0,55 0,85 0,70 0,89 0,78 0,82 0,66 0,001 Coxa medial -6,10 1,51 0,001 Coxa distal -5,35 1,32 0,001 Estatura 0,368 Coxa proximal 0,521 Constante R2 ajustado 0,383 286,00 CMI Torque 90 graus R 0,856 83,94 Massa 6,13 0,72 0,001 Coxa distal -6,95 2,01 0,001 Coxa medial 0,887 Estatura 0,575 Coxa proximal 0,252 CMI 0,111 * Critério de permanência no modelo final: p<0,05. articulação. Os valores encontra- e 0,86 PC para as mulheres. Se os o ângulo articular. Knapic(10) de- dos neste estudo ficam próximos dados deste estudo fossem repor- monstrou em seu estudo que o daqueles relatados para indivídu- tados desta forma os valores se- torque isométrico em 60 graus é os saudáveis e não treinados(13,15). riam de 0,98±0,17 PC para os ho- maior do que nas outras angula- Os valores de 90 graus são supe- mens e de 0,67±0,15 PC para as ções. Nesse estudo a maior média riores aos reportados por Andrews mulheres. Apesar de ambos os es- foi encontrada para as execuções et al.(16), embora os dados desse tudos serem realizados com sujei- em 90 graus. autor tenham sido obtidos com a tos fisicamente ativos e sedentá- A força muscular varia de in- utilização de um dinamômetro ma- rios, os valores da força no estu- divíduo para indivíduo em função nual, e por disso podem levar a do de Maughan (12) foram maio- de aspectos anatômicos e tam- um viés devido ao posicionamen- res do que os deste estudo, em- bém de acordo com a angulação to do sujeito e a padronização da bora os autores não tenham repor- na qual o exercício é realizado(20). (17) . Para 60 graus os resul- tado o desvio padrão de sua me- Com isso, durante exercícios de re- tados de nosso estudo são próxi- dida. Por ser uma boa maneira de abilitação os indivíduos devem ser mos aos encontrados por Phillips et calcular e prever o quanto de força testados para analisar a força má- al.(18), que reportaram valores em o sujeito pode realizar, os dados xima produzida em cada ângulo de média de 191±65 N.m. Murray et deste estudo nos dois outros ân- interesse, para então ser realizada al.(19) encontraram valores superio- gulos são reportados, respectiva- a prescrição de exercícios submá- res aos relatados aqui tanto para mente para os homens e mulhe- ximos com diferentes percentuais 60 como para 30 graus. res: 0,41±0,04 e 0,29±0,05 em 30 de carga, promovendo o ganho de graus e 0,79±0,13 e 0,57±0,10 em força de forma segura e eficiente. 60 graus vezes o peso do corpo. Assim, a prescrição deve ser indivi- medida Maughan(12) analisou a força isométrica em 90 graus a partir dos dados de uma célula de carga A partir dos dados deste es- obtendo valores de 1,12 vezes o tudo pode-se observar que a força peso corporal (PC) para os homens isométrica varia de acordo com dualizada, mas também para cada ângulo a ser exercitado. Para a prescrição individuali- Ter Man. 2010; 8(40):537-542 terapia manual 40.indd 540 25/5/2011 16:38:04 Alessandro Haupenthal, Daniela P. Santos, Caroline Ruschel, Gabriel Jacomel, Heiliane B. Fontana, Eddy Mallmann, Robson Scoz. 541 zada da carga uma fórmula mate- literatura(15,21,22). Em relação à cir- lizadas para estimar a força muscu- mática como a criada a partir da cunferência de coxa, essa associa- lar isométrica nas angulações ana- regressão facilita o trabalho do ção era esperada uma vez que a lisadas para sujeitos com as mes- profissional de saúde para estimar área de secção transversal do mús- mas características deste estudo. as cargas iniciais para o teste de culo é um bom tem relação direta carga e para os exercícios de for- com a força muscular(12,23-26). CONCLUSÃO talecimento. A partir das variáveis Embora na área de secção Foi caracterizado um mode- associadas com a força foi obti- transversal do músculo conside- lo para a prescrição da força mus- do um modelo para a predição da re-se somente o tamanho do mús- cular isométrica nos três ângu- força com um coeficiente de de- culo em questão e na circunferên- los analisados. A partir da massa terminação ajustado que pode ser cia de coxa existam outros teci- e da circunferência distal e medial considerado satisfatório para cada dos, principalmente o tecido adi- foi conseguido um modelo prediti- ângulo analisado. poso, essa variável esteve associa- vo para cada ângulo analisado que O sexo dos sujeitos foi incluí- da com o valor da força isométri- pode ser utilizado para a prescri- do na análise, entretanto essa va- ca e deve ser analisada quando da ção da força muscular isométrica. riável não permaneceu no mode- prescrição do exercício ou na con- Mas para a utilização desses mode- lo final para nenhuma das angula- fecção de um modelo para a predi- los devem ser respeitados os ângu- ções. Uma vez que a força isomé- ção do valor da força. los e as características dos sujeitos trica teve grande diferença entre O coeficiente de determina- os homens e mulheres, analisando ção para todos os modelos criados Para dar continuidade a este a situação chegou-se a conclusão foi superior àquele encontrando estudo faz-se necessário um maior que a massa corporal dos sujeitos por Andrews et al.(16) em 90 graus, número de sujeitos principalmen- realiza esta normalização, uma vez estes autores encontraram um co- te com variação das característi- que ela também é diferente entre eficiente de determinação de 0,62 cas antropométricas para a com- os sexos. para seu modelo. A partir dos co- plementação de uma equação que A associação entre a massa eficientes de regressão das equa- possa ser utilizada independente- corporal e a força já foi verifi- ções para os três ângulos analisa- mente da idade, gordura, nível de cada e é amplamente citada na dos, estas fórmulas podem ser uti- treinamento, entre outros. que participaram deste estudo. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Rogind H, Bibow-Nielsen B, Jensen B, Moller HC, Frimodt-Moller H, Bliddal H. The effects of a physical training program on patients with osteoarthritis of the knees. Arch Phys Med Rehabil 1998;79(11):1421-27. 2. Bollen S. Epidemiology of knee injuries: diagnosis and triage. Br J Sports Med. 2000; 34: 227-8. 3. Majewski M, Susanne H, Klaus S. Epidemiology of athletic knee injuries: A 10-year study. Knee. 2006; 13:184–8. 4. Fulkerson JP. Diagnosis and Treatment of Patients with Patellofemoral Pain Am J Sports Med. 30 (3). 5. Herzog W, Federico S. Considerations on joint and articular cartilage mechanics Biomechan Model Mechanobiol. 2006; 5: 64–81. 6. Risberg MA, Lewek M, Snyder-Mackler L. A systematic review of evidence for anterior cruciate ligament rehabilitation: how much and what type? Phys Ther Sport. 2004; 5(3):125-45. 7. Shaw T, Williams MT, Chipchase LS. Do early quadriceps exercises affect the outcome of ACL reconstruction? A randomised controlled Trial. Aust J Physiot 2005; 51(1):9-17. 8. Bolgla L, Malone T. Exercise prescription and patellofemoral pain: evidence for rehabilitation. J Sport Rehabil. 2005; 14(1):72-8. 9. Marks R, The Effects of 16 Months of Angle-Specific Isometric Strengthening Exercises in Midrange on Torque of the nee-Extensor Muscles Osteoarthritis of the Knee: A Case Study. J Orth Sport Phys Ther. 1994; 20(2): 103-9. 10. Knapik JJ, Wright JE, Mawdslev RH, Braun JM. Isokinetic, isometric and isotonic strength relationships. Arch Physiol Medi Reabil. 1983; 64(2): 77-80. a 11. Folland JP, Hawker K, Leach B, Little T, Jones DA. Strength training: Isometric training at a range of joint angles versus dynamic training. J Sports Sci. 2005; 23:817–24. 12. Maughan RJ, Watson JS, Weir J. Strength and cross-sectional area of human skeletal muscle. J. Physiol. 1983, 338: 37-49. Ter Man. 2010; 8(40):537-542 terapia manual 40.indd 541 25/5/2011 16:38:04 542 Pico de torque isométrico no joelho. 13. Folland JP, Cauley TM, Williams AG. Allometric scaling of strength measurements to body size Eur J Appl Physiol. 2008; 102:739–45. 14. Marfell-Jones et al,, 2006 15. Maughan RJ, Watson JS, Weir J. Muscle strength and cross-sectional area in man: a comparison of strengthtrained and untrained subjects. Br J Sports Med. 1984; 18: 149-157. 16. Andrews AA, Thomas MW, Bohannon RW. Normative Values for Isometric Muscle Force measurements Obtained With Hand-held Dynamometers. Phys Ther. 1996; 76 ( 3): 248-59. 17. Roebroeck ME, Harlaar J, Gustaaf J, Lankhorst MD. Reliability Assessment of Isometric Knee Extension Measurements with a Computer-Assisted Hand-Held Dynamometer. Arch Phys Med Reabil. 1998; 79: 442-48. 18. Phillips, BA, Lob and SK, Mastaglia, FL. Isokinetic and isometric torque values using a Kin-Com dynamometer in normal subjects aged 20 to 69 years. Isok Exer Sci. 2000; 8: 147–59. 19. Murray MP, Gardner GM, Mollinger LA, Sepic SB Strength of Isometric and Isokinetic Contractions Knee Muscles of Men Aged 20 to 86 Phys Ther. 1980; 60(4):412-9. 20. Knapik JJ, Wright JE, Mawdsley RH, Braun J. Isometric, Isotonic, and Isokinetic Torque Variations in Four Muscle Groups Through a Range of Joint Motion. Phys Ther. 1983; 63(6):938-47. 21. Brentano MA, Cadore EL, Silva EM, Silva RF, Kruel LFM. Estimativa da força máxima em exercícios de musculação baseados em parâmetros antropométricos de homens e mulheres fisicamente ativos. Brazialian J biomotricity 2008; 2(dezembro):1-8. 22. Marques, GCO, Brentano MA, Kruel LFM. Estimativa da força máxima dinâmica através de coeficientes e de análise de regressão linear baseados em parâmetros antropométricos de homens destreinados em força. Rev. bras. Educ. Fís. Esporte. 2009; 23(2): 171-81. 23. Pinto RS, Rodolfi G, Bohn L. Relação entre força muscular e área de secção transversa muscular em adultos jovens sedentários. Movimento. 2001; 15: 35–41. 24. Westphal M, Baptista RR, Oliveira AR. Relações entre massa corporal total, massa corporal magra, área de seção transversa e 1 RM em mulheres. Rev. Bras.Cineantropom. Desempenho Hum. 2006;8(1):52-57. 25. Mathur S, Takai KPR, Maclntyre DL, Reid D. Estimation of Thigh Muscle Mass With Magnetic Resonance Imaging in Older Adults and People With Chronic Obstructive Pulmonary Disease Phys Ther. 2008; 88:219-30. 26. Grinspoon S, Corcoran C, Rosenthal D, Stanley T, Parlman K, Costello M, et al. Quantitative Assessment of CrossSectional Muscle Area, Functional Status, and Muscle Strength in Men with the Acquired Immunodeficiency Syndrome Wasting Syndrome J. Clin. Endocrinol. Metab. 1999; 84: 201-6. Ter Man. 2010; 8(40):537-542 terapia manual 40.indd 542 25/5/2011 16:38:04 543 Artigo Original Caracterização das lesões desportivas em atletas de Tênis de Mesa. Characterization of the sport injuries in table tennis athletes. José Adolfo Menezes Garcia Silva(1), Antonio Francisco de Almeida Neto(1), Marcelo Rocha de Oliveira(1), Flávia Roberta Faganello(2). Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP – Departamento de Educação Especial – Campus de Marília. Resumo Introdução: O tênis de mesa é caracterizado por exigir de seus atletas movimentação corporal intensa. Os gestos desempenhados pelos atletas exigem constantes alterações posturais, em casos de desequilíbrios em quaisquer estruturas corporais poderá produzir alterações posturais ou mesmo desencadear processos de lesões. Objetivo: O objetivo do estudo foi caracterizar as lesões no tênis de mesa. Método: foram avaliados 31 atletas (26 do sexo masculino e cinco do sexo feminino) com média de idade 22,35±6,67 anos. Foi realizada entrevista com o Inquérito de Morbidade Referida retroativo a temporada de 2009. Foram utilizadas técnicas de estatística descritiva e analítica. Resultados: o maior número de lesões foi muscular (74,35%), no ombro (43,58%), durante o movimento de top spin (33,33%), na fase de treino específico (64,1%) com retorno sintomático as atividades (69,23%). Conclusão: a carga horária de treinamento semanal influencia o número de lesões apresentadas. Palavras-chave: Lesões esportivas, esportes com raquete, tênis, fisioterapia. Abstract Introduction: The table tennis is characterized by requiring of the athletes intense body movement. The gestures performed by athletes require continuous postural changes, in cases of any sway in body structures may produce postural changes or initiate processes of injuries. Objective: The aim of this study was to characterize the table tennis lesions. Method: Were evaluated 31 athletes (26 males and five females) with mean age 22.35±6.67 years. The subjects were interviewed with the Reported Morbidity Inquires retroactive to the 2009 season. It was used techniques of descriptive and analytical statistics. Results: The largest number of injuries was muscular (74.35%), on the shoulder (43.58%) during the movement of top spin (33.33%) in the specific training phase (64.1%) with symptomatic return to the activities (69.23%). Conclusion: The weekly training workload influences the number of lesions. Keywords: Athletic injuries, racquet sport, tennis, physical therapy. Artigo recebido em 16 de agosto de 2010 e aceito em 6 de novembro de 2010. 1 Discente do Curso de Fisioterapia, Universidade Estadual Paulista – UNESP, Marília, São Paulo, Brasil. 2 Docente do Curso de Fisioterapia, Universidade Estadual Paulista – UNESP, Marília, São Paulo, Brasil. Endereço para correspondência: José Adolfo Menezes Garcia Silva. Avenida Hygino Muzzi Filho, 737 – Campus Universitário. CEP: 17525-900. Marília, SP, Brasil. Tel: 14 3402 1331. Fax: 14 3402 1302. E-mail: [email protected]. Ter Man. 2010; 8(40):543-547 terapia manual 40.indd 543 25/5/2011 16:38:04 544 Lesões desportivas em atletas de tênis de mesa. INTRODUÇÃO MÉTODO tima temporada competitiva (pe- O Tênis de Mesa se tornou O estudo caracteriza-se como ríodo pré-estabelecido entre os modalidade olímpica em 1988, nos simples-cego, observacional, trans- meses de janeiro de 2009 ate de- Jogos de Seul, atualmente é con- versal, quase randomizado. O pro- zembro de 2009). Este instrumento siderado o esporte nacional na jeto foi aprovado pelo Comitê de foi desenvolvido a partir do Inqué- China, amplamente difundido no Ética em Pesquisa com Seres Hu- rito de Morbidade Referida propos- Japão e em países como a Tche- manos da Universidade Estadual to por Pastre(7) e adaptado à mo- coslováquia e Hungria a modalida- Paulista “Júlio de Mesquita Filho” dalidade esportiva em questão. O de constitui parte da formação cur- Campus de Marília mediante proto- questionário é composto por ques- ricular escolar(1). colo 1556/2009. tões relacionadas a variáveis bio- Atualmente existem 200 as- estu- métricas, como sexo, idade, esta- Internation do atletas de ambos os sexos, tura, massa corporal, dominância Table Tennis Federation, muitas sem restrições de idade, pratican- e questões referentes aos gestos delas com milhares de jogadores. tes da modalidade esportiva “Tênis esportivos como o estilo de jogo, No Brasil, através da Confederação de Mesa” há pelo menos um ano. tempo total de treinamento sema- Brasileira de Tênis de Mesa, este As características dos sujeitos são nal, tipo da lesão, local anatômi- esporte está organizado em todos apresentadas na tabela 1. As en- co do acometimento, período em os estados do Brasil, congregando trevistas foram realizadas na Asso- que ocorreu a lesão, mecanismo mais de 20.000 atletas(2). ciação Desportiva dos Mesatenis- de lesão ou aumento da sintoma- tas da cidade de Marília no estado tologia e o quadro álgico do atle- rizado como um esporte complexo de São Paulo. ta durante o retorno a prática es- por exigir de seus atletas raciocínio estudo todos os atletas deveriam rápido para tomar de decisões táti- assinar o Termo de Consentimen- Quando os atletas eram ques- cas e técnicas(3,4) e movimentação to Livre e Esclarecido, caso o atleta tionados a respeito do tipo de lesão corporal intensa (deslocamentos, possuísse idade inferior a 18 anos as respostas foram enquadradas rotações, flexões, etc), exigindo deveriam encaminhar o termo para nas seguintes categorias: trauma- adaptações de equilíbrio das estru- seu responsável legal. Foram ex- tismo, distensão muscular, contra- turas corporais devido às constan- cluídos da pesquisa todos os in- tura muscular, tendinopatia, en- tes alterações do centro de pressão divíduos que não apresentaram o torse, mialgia, periostite, sinovite, durante o treinamento ou o jogo. termo assinado, e aqueles atletas fratura, bursite, dor aguda inespe- com tempo de prática inferior a um cífica, dor crônica inespecífica, lu- ano. xação/sub-luxação. sociações filiadas à O Tênis de Mesa é caracte- Os gestos esportivos desempenhados pelos atletas mesatenistas exigem constantes alterações posturais, promovendo assim Fizeram parte deste Para participar do portiva. A coleta de dados foi realiza- Quanto ao período de trei- da com a aplicação, em forma de namento a pratica foi subdividida a necessidade de ajustes constan- entrevista realizada por um fisio- em três momentos, treino de base, tes em suas estruturas corporais terapeuta da Universidade Estadu- restrito ao período de treino mus- sempre na busca de um ponto de al Paulista “Júlio de Mesquita Filho” cular com intuito de preparação fí- equilíbrio adequando para a execu- Campus de Marília, de um questio- sica, treino específico, referente ção de sua técnica de jogo(5). No nário de morbidade referida adap- aos treinos para aprimoramento do caso da instalação de desequilí- tado ao Tênis de Mesa com valida- gesto esportivo específico do tênis brio em qualquer estrutura corpo- de investigativa retrocedente a úl- de mesa e período competitivo, re- ral, esta poderá produzir uma alteração postural ou mesmo um processo de lesão no atleta(6). Devido a sobrecarga imposta por tal prática esportiva, e as vantagens oferecidas por intervenções no setor de prevenções primarias as lesões desportivas, este trabalho destina-se a buscar a caracte- Tabela 1 - Características dos sujeitos. Característica Sexo (M/F) 22,35±6,67 Estatura (m) 1,71±0,10 Massa Corporal (kg) rização das principais lesões desportivas em atletas praticantes de Tempo de Treinamento (horas/semana) Tênis de Mesa para fundar bases Dominância (destro/canhoto) primárias. 26/5* Idade (anos) Tempo de Treinamento (anos) teóricas para futuras intervenções Valores (Média±DP) Estilo de jogo (clássico/caneta/classineta) 68,94±15,24 8,94±4,78 17,00±10,00 28/3* 19/12* M: Masculino, F: Feminino. * Representado o valor absoluto. Ter Man. 2010; 8(40):543-547 terapia manual 40.indd 544 25/5/2011 16:38:05 José Adolfo Menezes Garcia Silva, Antonio Francisco de Almeida Neto, Marcelo Rocha de Oliveira, Flávia Roberta Faganello. 545 presentado pela desenvoltura do gesto esportivo dentro de ambientes competitivos. Em relação aos mecanismos de lesão ou aumento dos sintomas os atletas foram indagados a respeito do aumento da sintomatologia durante a execução dos seguintes de gestos esportivos propostos por Machado(8), top spin, back spin, fore hand, back hand, under spin, saque, flick de forehand, flick de backhand ou durante os treinos de base quanto à execução de treinos de explosão, resistência, musculaFigura 1 - Fase de treinamento e suas respectivas quantidades de lesões (em porcentagem). ção, alongamento. Foram utilizadas técnicas de estatística descritiva e analítica. Para a estatística analítica foi utilizado o software GraphPad Prism 5®. Os dados não demonstraram distribuição homogênea no teste de Shapiro-Wilk e então foi utilizado o teste de correlação de Spearman para verificar a relação do tempo de treino semanal com o número de lesões apresentado por cada atleta. RESULTADOS A figura 1 mostra a fase do treino em que ocorreu a lesão. A figura 2 representa a por- Figura 2 - Número de lesões por atleta (em porcentagem). centagem de atletas que apresentaram uma, duas, três ou mais de três lesões. A figura 3 representa os mecanismos mais freqüentes de lesão. Na figura 4 estão as regiões anatômicas lesadas. A figura 5 apresenta os tipos de lesões relatados. O retorno as atividades de treinamento foi sintomático em 69,23% dos atletas, e assintomático em 30,77%. Houve correlação apenas entre tempo semanal de treino e número de lesões (p<0,0001 e r=0,7285). Figura 3 - Mecanismos de lesão (em porcentagem). do aos movimentos rápidos e re- A maior parte dos atletas rela- O maior número de lesões petitivos exigidos durante o gesto tou uma lesão no período que lhes ocorreu durante a fase de treino esportivo(9), gerando lesões por foi questionado. O tênis de mesa é específico, sobrecarga(10,11). um esporte sem contato físico, com DISCUSSÃO provavelmente devi- Ter Man. 2010; 8(40):543-547 terapia manual 40.indd 545 25/5/2011 16:38:05 546 Lesões desportivas em atletas de tênis de mesa. lombar, tornozelo, panturrilha, coluna cervical e punho. Não existe consenso na caracterização das lesões quanto às regiões mais acometidas em esportes de raquete. Alguns estudos relatam que os membros inferiores são os segmentos corporais mais afetados, sendo o tornozelo e o joelho as articulações mais freqüentemente lesadas(1,12), em contrapartida existem evidências de que estruturas relacionadas aos membros superiores(11). A maior quantidade de lesões apresentadas foi do tipo muscular, seguidas pelas tendíneas, articulaFigura 4 - Regiões anatômicas que apresentaram lesão (em porcentagem). res, ósseas e outras. Tal fato pode ser explicado pela característica dos movimentos e o grande número de repetições realizados na prática do esporte. A literatura aponta que esses tipos de lesões são comuns em esportes de raquete. porém em estudo com mesatenistas as lesões tendíneas foram maioria(1). O mecanismo de lesão mais freqüente foi o top spin, seguido pelo forehand, explosão, resistência, backhand, saque, musculação e velocidade. Isso pode ser explicado pelas características do esporte, sendo que o top spin e o forehand são importantes movimentos no tênis de mesa devido a sua Figura 5 - Tipos de lesão (em porcentagem). efetividade em produzir rebatidas com alta velocidade e efeito(13,14), mostrando que o gesto esportivo possui influência direta sobre o local, o tipo e o mecanismo de lesão. Houve correlação positiva entre o tempo de treino semanal e o número de lesões, indicando que quanto maior a carga de treino maior é o risco de lesões. O fato de atletas com carga elevada de treino semanal apresentar maior número de lesões durante a temporada esportiva deve ser analisaFigura 6 - Retorno sintomático ou assintomático ao treinamento (em porcentagem). do de forma mais meticulosa, uma vez que as lesões são influencia- as lesões originadas principalmen- giro, aceleração e desaceleração(1). das por fatores técnicos, táticos, fí- te devido à necessidade de deslo- As regiões anatômicas lesa- sicos, psicológicos, sociais, cogni- camentos laterais em alta velocida- das foram o ombro, seguido do joe- tivos e ambientais(15-17). O deline- de, bem como aos movimentos de lho, quadril, coluna torácica, coluna amento desses fatores pode gerar Ter Man. 2010; 8(40):543-547 terapia manual 40.indd 546 25/5/2011 16:38:05 José Adolfo Menezes Garcia Silva, Antonio Francisco de Almeida Neto, Marcelo Rocha de Oliveira, Flávia Roberta Faganello. 547 estratégias de prevenção mais es- motora seja alterada, aumentan- maioria das lesões foi muscular e pecíficas a modalidade. do o risco de novas lesões(18) e pre- que a carga horária de treinamen- O retorno as atividades espor- judicando a proficiência do gesto to semanal influência o número de tivas foi sintomático para a maio- esportivo, que exige movimentos lesões apresentadas. ria dos atletas, o questionário não precisos(19,20). Na literatura existem pou- buscou investigar o porquê dos Conclui-se que a maior parte cos estudos sobre tênis de mesa, atletas retomarem suas atividades das lesões ocorre no período de o que gerou dificuldades para com- antes de sua recuperação total. O treino específico, que os atletas paração com nossos resultados. retorno sintomático é prejudicial, apresentaram em sua maioria uma Este estudo contribuiu para atua- pois as lesões provocam diminui- lesão no período investigado, o lizar os conhecimentos a respeito ção das informações sensoriais fa- mecanismo de lesão mais freqüen- das injurias esportivas ocasiona- zendo com que a interação entre te foi o top spin, a região anatômi- das pelo treino dessa modalidade informação aferente e resposta ca mais acometida foi o ombro, a esportiva. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 1. Petri FC, Rodrigues RC, Cohen M, Abdalla RJ. Lesões músculo-esqueléticas relacionadas com a prática do tênis de mesa. Rev Bras Ortop. 2002;37(8):358-362. 2. Porto J. Historia do Tênis de Mesa. Disponível em:<http://www.cbtm.org.br/>. Acesso em 4 de setembro de 2009. 3. Raab M, Masters RSW, Maxwell JP. Improving the the “how” and “what” decisions of elite table tennis players. Hum. Mov. Sci. 2005;24:326-344 4. Lima FV, Samulski DM, Vilani LHP. Estratégias não sistemáticas de “coping” em situações críticas de jogo no tênis de mesa. Rev. Bras. Educ. Fis. Esp. 2004;18(4):363-375. 5. Malheiro F. Training programme evaluation of young tennis players participating in the Portuguese Table Tennis Federation training center. Rev Port Cien Desp. 2003;2:184–191. 6. Canciglieri PH. Tênis de Mesa - Acervo motor e treinamento muscular localizado no auxilio a performance esportiva e combate aos desvios posturais ocasionados pela prática no alto rendimento. Disponível em: <http://www. cbtm.org.br/scripts/arquivos/>. Acesso em 5 de setembro de 2009. 7. Pastre CM, Filho GC, Monteiro HL, Júnior JN, Padovani CR. Lesões desportivas na elite do atletismo brasileiro: estudo a partir de morbidade referida. Rev Bras Med Esporte. 2005;11(1):43-47. 8. Machado NL. Método de ensino do tênis de mesa para professores, colégios e escolas. Ed. Marília, 1ª Edição, 2007. 9. Girard O, Millet GP. Neuromuscular fatigue in racquet sports. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2009;20:161-173 10. Di Carlo M, Formigoni M, Peña S, Palazzi FF. Biomechanics and sport shoulder lesion to table tennis. Centro Méd. 1997;42(1):18-21. 11. Johnson CD, Mchugh MP. Performance demands of professional male tennis players. Br J Sports Med. 2006;40:696-699 12. Kroner K, Schimidt SA, Nielsen AB, Yde J, Jakobsen BW, Moller-Madsen B, Jensen J. Badminton injuries. Br J Sp Med. 1990;24(2):169-172. 13. Iino Y, Mori T, Kojima T. Contributions of upper limb rotations to racket velocity in table tennis backhands against topspin and backspin. J Sports Sci. 2008;26(3):287-293. 14. Kondric M, Furjan-Mandic G, Medved V. Myoelectric comparison of table tennis forehand stroke using different ball sizes. Acta Univ. Palacki. Olomuc. 2006;36(4):25-31. 15. Weineck J. Treinamento ideal. São Paulo: Manole, 1999. 16. Williams AM, Reilly T. Talent identification and development in soccer. J Sports Sci. 2000;18(9):657-667 17. Van Biesen D, Verellen J, Meyer C, Mactavish J, Van de Vliet P, Vanlandewijck Y. The ability of elite table tennis players with intellectual disabilities to adapt their service/return. Adapt Phys Activ Q. 2010;27:242-257. 18. Bonfim TR, Grossi DB, Paccola CAJ, Barela JA. Efeito de informação sensorial adicional na propriocepção e equilíbrio de indivíduos com lesão do LCA. Acta Ortop Bras. 2009;17(5):291-6. 19. Sheppard A, LI FX. Expertise and the control of interception in the table tennis. European Journal of Sport Science. 2007;7(4):213-222. 20. Rodrigues ST, Vickers JM, Williams AM. Head, eye, and arm coordination in table tennis. J Sports Sci. 2002;20(3):187-200. Ter Man. 2010; 8(40):543-547 terapia manual 40.indd 547 25/5/2011 16:38:05 548 Artigo Original Relação de variáveis de força muscular na atividade física habitual de indivíduos idosos fisicamente independentes. Relationship between muscle strength variables and regular physical activity in physically independents elderly. Arnaldo Luiz Armiliato Costa(1), Alexandre Schubert(2), Renata Selvatici Borges Januário(2), Rodrigo Franco de Oliveira(2), Rejane Dias Neves-Souza(2), Vanessa Suziane Probst(2), Fábio Pitta(3), Denílson de Castro Teixeira(2). Centro de Pesquisa em Ciências da Saúde da Universidade Norte do Paraná. Resumo Introdução: O processo de envelhecimento traz alterações estruturais no organismo como diminuição da massa óssea e muscular que levam também a alterações funcionais, sobretudo, na capacidade funcional e na atividade física habitual (AFH). Objetivo: identificar o perfil de AFH (passos/dia) de idosos fisicamente independentes e verificar a relação dessa atividade nas variáveis idade, índice de massa corporal (IMC) e força muscular. Método: Duzentos e seis idosos (130 mulheres), com idade de 69,9 (±6,4) anos, foram recrutados aleatoriamente em Unidades Básicas de Saúde de Londrina–PR. A atividade física habitual foi mensurada durante sete dias consecutivos por meio do pedômetro Yamax Digiwalker modelo SW200, e as variáveis de força de membros inferiores, superiores e lombar, foram avaliados respectivamente pelo “teste de levantar da cadeira em trinta segundos”, “força de preensão palmar” e “teste de tração lombar”. Os resultados descritivos foram apresentados pela mediana e as correlações entre a AFH e as demais variáveis foram analisadas pelo coeficiente de correlação de Spearman. Resultados: Os idosos apresentaram (IMC) de 27,1 kg/m2, força de 25,6 kg na preensão palmar e 59,5 kg no teste de tração lombar. A mediana de passos realizados por dia foi de 6.276, indicando um padrão abaixo dos 10.000 passos diários recomendados. As correlações entre a atividade física da vida diária (AFVD) (passos/dia) e as demais variáveis mostraram significância somente com o IMC (r=-0,214; p=0,007). Não houve correlação significativa da AFH com a idade e as variáveis de força muscular. Conclusão: Os idosos avaliados possuem nível de atividade física diária abaixo do recomendado para a preservação da saúde e que o nível dessas atividades não está relacionado às variáveis de força muscular. Palavras-chave: Atividade física habitual, capacidade funcional, envelhecimento, força muscular. Abstract Introduction: The aging process brings some structural changes as decreased bone and muscle mass that lead to functional changes, especially in functional capacity and habitual physical activity (HPA). Objective: To identify the profile of HPA (steps/day) of physically independent elderly living in the community of a medium sized town and the relation of this activity in the variables of age, body mass index (BMI) and muscular strength. Method: Two hundred and six elderly (130 women) aged 69.9 (± 6.4) years, were randomly recruited in Basic Health Units in Londrina-PR. Artigo recebido em 18 de outubro de 2010 e aceito em 13 de dezembro de 2010. 1 Bolsista de iniciação científica FUNADESP– Universidade Norte do Paraná – UNOPAR, Londrina, PR, Brasil. 2 Universidade Norte do Paraná – UNOPAR / Centro de Pesquisa em Ciências da Saúde, Londrina, PR, Brasil. 3 Universidade Estadual de Londrina – UEL / Laboratório de Pesquisa em Fisioterapia Pulmonar, Londrina PR, Brasil. Endereço para Correspondência: Arnaldo Luiz Armiliato Costa. Rua Nápoles, 545 – Jardim Piza. CEP: 86041-110. Londrina, PR, Brasil. Tel/Fax: 43 3371 7990. E-mail: [email protected]. Ter Man. 2010; 8(40):548-553 terapia manual 40.indd 548 25/5/2011 16:38:05 Arnaldo L. A. Costa, Alexandre Schubert, Renata S. B. Januário, Rodrigo F. Oliveira, Rejane D. N. Souza, Vanessa S. Probst, Fábio Pitta, Denílson C. Teixeira. 549 The physical activity was measured for seven consecutive days using the pedometer Yamax Digiwalker SW200 model, and strength variables of the lower limbs, upper and lower back, were evaluated respectively by the “test of the chair lift in thirty seconds”, “force grip “and” test of lumbar traction”. The descriptive results were presented as median and the correlations between the HPA and the other variables were analyzed by Spearman correlation coefficient. Results: The elderly had a body mass index (BMI) of 27.1 kg/m2, strenght of 25.6 kg in grip and 59.5 kg in the test of lumbar traction. The average steps taken per day was 6,276, indicating a pattern below the recommended 10,000 steps a day. Correlations between physical activity of daily living (DLFA) (steps / day) and the remaining variables were significant only with BMI (r =- 0.214, p = 0.007). There was no significant correlation with age of HPA and the variables of muscle strength. Conclusion: The elderly have assessed physical activity levels below the recommended daily for the preservation of health and that the level of these activities is not related to the variables of muscle strength. Keywords: Physical activity, functional capacity, aging, muscle strength. INTRODUÇÃO O processo de envelhecimento é considerado um fenômeno multi- de parte, a queda de desempenho variáveis de força muscular nessa funcional associada ao processo de atividade. envelhecimento(9,10). dimensional, pois acarreta mudan- Dessa forma, a quantidade e ças nos aspectos biológicos, psi- qualidade de AFH na velhice pa- Este estudo de caráter descri- cológicos e sociais do indivíduo(1). recem depender de um complexo tivo transversal contou com uma Essas mudanças são caracterizadas conjunto de fatores que perpassam amostra de 206 idosos (69,9 ±6,4 por alterações estruturais no orga- pela genética, estilo de vida, doen- anos), de ambos os sexos (76 ho- nismo, como diminuição da massa ças, determinantes sociais, carac- mens e 130 mulheres), recruta- óssea e muscular(2,3), que levam terísticas de moradia e acesso a dos aleatoriamente dos cadastros também a alterações funcionais, transporte(11,12). do programa Saúde da Família das MÉTODO sobretudo, na capacidade funcional Do ponto de vista biológico, é Unidades Básicas de Saúde de todas e na atividade física habitual (AFH) atribuída à força muscular grande as regiões do município de Londri- (4) . Dentre as variáveis que com- parte da responsabilidade pela ma- na-PR. Os idosos representam uma põem as atividades diárias, o cami- nutenção da atividade funcional no amostra parcial do Projeto EELO – nhar se destaca por estar envolvi- indivíduo idoso(13), porém ainda não Estudo sobre o envelhecimento de do tanto nas tarefas de auto-cuida- está claro até que ponto essa ca- Londrina, desenvolvido pela Univer- do, como nas que requerem maio- pacidade é determinante na realiza- sidade Norte do Paraná. res deslocamentos como arrumar ção da AFH em idosos fisicamente Foram inclusos no estudo ido- a casa e fazer compras. A manu- independentes. Nesse contexto, há sos com 60 anos ou mais, fisica- tenção da função física em idades necessidade de se obter mais infor- mente independentes, residentes mais avançadas se faz importan- mações sobre a quantidade da AFH na zona urbana do município de te, pois proporciona ao idoso au- (passos/dia) em idosos fisicamen- Londrina e sem doenças cardíacas tonomia, inserção social, melhores te independentes que residem na agudas ou outra comorbidade inca- condições de saúde e melhor auto- comunidade em cidades de porte pacitante. Foram excluídos do estu- percepção de bem-estar(5). médio (≈500.000 habitantes) e a do os idosos que apresentaram al- influência da força muscular nessa guma limitação que impedisse a re- atividade. alização das avaliações. Quarenta e Já está bem documentado na literatura que de maneira geral, a AFH tende a diminuir com o avançar O conhecimento mais aprofun- oito idosos foram excluídos do estu- da idade(6,7), entretanto, a quantida- dado dessas questões pode trazer do por não usarem adequadamente de de atividade física cotidiana em informações importantes aos pro- o pedômetro ou por não consegui- idosos se mostra bastante variada. fissionais de saúde que atuam com rem fazer o registro das suas infor- Há indivíduos que envelhecem com idosos e para os responsáveis por mações em diário específico. grau de dependência física impor- políticas públicas a traçarem estra- tante e outros com excelente fun- tégias para mudanças de comporta- cionalidade física e com AFH seme- mento, caso necessário. Com base lhante a de pessoas jovens(8). nessas considerações, esta pes- métricas: A massa e estatura cor- Os dados foram coletados mediante as seguintes avaliações: Características antropo- Sendo assim, existem for- quisa teve como principais objeti- poral foram avaliadas de acordo tes indicativos de que a manuten- vos identificar o perfil de AFH (pas- com os procedimentos descritos ção de um estilo de vida fisica- sos/dia) de idosos fisicamente inde- por Gordon; Chumlea; Roche(14), mente ativo, nas diferentes fases pendentes, residentes na cidade de utilizando-se de uma balança di- da vida, possa atenuar, em gran- Londrina-PR e verificar a relação de gital marca Filizola modelo Perso- Ter Man. 2010; 8(40):548-553 terapia manual 40.indd 549 25/5/2011 16:38:05 550 Relação entre atividade física e força em idosos. nal 1871, com precisão de 0,1 kg lombar: em Pesquisa da Universidade Norte e um estadiômetro de metal marca foi mensurada pelo “teste de tra- Força de tração do Paraná (UNOPAR) sob o parecer Sanny, modelo ES 2030. O índice ção lombar” utilizando o dinamô- número PP 070/09. de massa corpórea (IMC) foi deter- metro analógico marca Takei, mo- Os dados foram analisados uti- minado pelo quociente massa cor- delo Back Strenght Dynamometer lizando-se o pacote estatístico Gra- poral (kg)/estatura (m2). T.K.K. 5002, que consiste aplicar a phpad versão 5.0 (GraphPad Sof- da maior força possível nos músculos tware, San Diego, CA, USA). A nor- atividade física habitual: foi rea- da região lombar e nos músculos malidade dos dados foi verificada lizada utilizando-se o pedômetro Di- dos membros inferiores. O avalia- pelo teste de Kolmogororv-Smirnov giWalker SW-200 (Yamax, Japão), do posicionou-se sobre a plataforma e os dados descritivos apresentados que consiste em um pequeno con- do dinamômetro com os pés afasta- pela mediana e valores máximos e tador de passos acoplado à roupa dos confortavelmente na largura dos mínimos. As correlações entre a ou ao cinto no lado direito da cin- ombros, com os joelhos fletidos a AFH (passos/dia) e as variáveis de tura (linha hemiclavicular), que re- aproximadamente 135º, o tronco le- força muscular e IMC foram reali- gistra cada movimento do corpo no vemente inclinado à frente e a cabe- zadas pelo coeficiente de correlação eixo vertical como sendo um passo. ça acompanhando o prolongamento de Spearman, com índice de signifi- O equipamento foi colocado no pe- do tronco. O cabo do dinamômetro cância de 5% (p<0,05). ríodo da manhã, ao acordar, e re- foi ajustado próximo a altura dos jo- tirado somente no período noturno elhos do avaliado onde devia segu- antes de se deitar. Os idosos foram rá-lo com ambas as mãos exercen- Na Tabela 1 os resultados ex- instruídos a manterem o seu padrão do força para cima durante cinco se- pressos pela mediana indicam que normal de atividades cotidianas. Os gundos. Três tentativas foram rea- os idosos possuem IMC de 27 kg/ indivíduos receberam um diário no lizadas, utilizando a melhor medida m2, realizaram 11 repetições no Monitoração objetiva qual deveriam ser anotados os ho- (17) como resultado do teste . RESULTADOS teste de sentar e levantar da ca- rários de colocação e retirada do Com exceção da avaliação da deira em 30 segundos, possuem pedômetro, assim como o número AFH, avaliada pelo pedômetro, os força de 25,6 kg na preensão pal- de passos realizados em cada um dados foram coletados às segun- mar e 59,5 kg no teste de tração dos sete dias. Os idosos foram ins- das-feiras, no período da tarde na lombar. A mediana da AFH foi de truídos a pedirem ajuda aos familia- clínica de fisioterapia do Centro de 6.276 passos por dia. res, caso apresentassem dificulda- Ciências Biológicas e da Saúde da No Gráfico 1 é apresentada des para registrarem o número de Universidade Norte do Paraná na a classificação dos idosos em por- passos diários. seguinte ordem: massa e estatu- centagem de acordo com o nível Força de Membros Superio- ra corporal, força de membros in- de AFH proposto por Tudor-Locke res: foi avaliada por dinamometria feriores (FMI), força de membros e Basset Jr(18). Os resultados mos- manual (Takei, Kiki, Kogyo, Japão) superiores (FMS) e Tração Lombar tram que 33% dos idosos foram utilizando-se do teste de preensão (TRL). Todas as avaliações foram classificados como sedentários por palmar com o protocolo propos- realizadas pesquisadores realizarem menos de 5.000 pas- to por Vianna; Oliveira; Araújo(15). deste estudo com os testes reali- sos/dia; 31% pouco ativos por re- O indivíduo realizou o teste na po- zados sempre pelo mesmo avalia- alizarem entre 5.000 a 7.499 pas- sição ortostática, com o braço es- dor. Todos os participantes, após sos/dia; 20% moderadamente ati- tendido e o aparelho posicionado na serem informados sobre as carac- vos por realizarem entre 7.500 a linha do antebraço. A alça do equi- terísticas do estudo e dos procedi- 9.999 passos por dia; 9% foram pamento foi ajustada ao tamanho mentos aos quais seriam submeti- considerados ativos por realiza- da mão. Duas tentativas em cada dos, assinaram termo de consenti- rem mais de 10.000 passos por dia membro foram realizadas, sendo mento livre e esclarecido. O estudo e somente 7% foram considera- considerada para a análise o melhor foi aprovado pelo Comitê de Ética dos muito ativos, por terem obtido pelos resultado das quatro tentativas. Força de membros inferiores: foi mensurada pelo teste Tabela 1 - Resultados descritivos das variáveis do estudo. Variáveis Mediana Mínimo Máximo de “Sentar e Levantar em 30 2 segundos”(16), que consiste em levantar e sentar de uma cadeira o IMC (Kg/m ) Passos/Dia 27,1 17,4 50,1 6.276 1.005 28.073 mais rápido possível durante 30 Força de membros inferiores (FMI) (repetições) 11 0 21 segundos, com as mãos cruzadas Força de membros superiores (FMS) (kg) 25,6 11,5 53,7 sobre o tórax. Tração Lombar (Kg) 59,5 13 150 Ter Man. 2010; 8(40):548-553 terapia manual 40.indd 550 25/5/2011 16:38:05 Arnaldo L. A. Costa, Alexandre Schubert, Renata S. B. Januário, Rodrigo F. Oliveira, Rejane D. N. Souza, Vanessa S. Probst, Fábio Pitta, Denílson C. Teixeira. 551 uma mediana de mais de 12.500 13,5 repetições para homens e mu- passos por dia. lheres americanos(16) e, de 17,7 re- Pelo fato da maior parte dos As correlações, mostradas na petições encontradas em um estudo idosos serem fisicamente inativos(24), Tabela 2, entre a AFH (passos/dia) e com idosos brasileiros praticantes de possivelmente a amostra desses es- as demais variáveis do estudo indi- exercícios físicos(22). tudos também represente uma po- qualidade da capacidade funcional. caram significância estatística baixa É importante destacar que não pulação em sua maioria inativa, que somente com o IMC (r=-0,214; há valores de referência nesse teste podem apresentar força muscu- p=0,007), sugerindo que os idosos para a população brasileira; portan- lar média abaixo do ideal. Na força com maior nível de AFH tendem a to, o melhor desempenho na força de tração lombar, os resultados en- ter índices mais baixos de IMC e vi- de membros inferiores dos idosos contrados, a exemplo de preensão ce-versa. Não houve correlação sig- avaliados nos estudos citados, pode palmar, parecem refletir o espera- nificativa entre o número de passos ser reflexo de características especí- do para a população idosa em sua diários com a idade e nenhuma das ficas da amostra, que por ser ameri- maioria sedentária. Não foram en- variáveis de força muscular. cana, possivelmente possui nível so- contrados estudos utilizando esse cioeconômico mais alto e por prati- teste, que avaliassem idosos fisica- carem exercícios físicos regulares. mente independentes, de ambos os Os resultados do presente es- Essas realidades não representam a sexos e residentes no Brasil. Em es- tudo indicam que o IMC dos idosos maior parte da população de idosos tudo semelhante, mas com idosos apresentou índice próximo ao es- do país. É digno de nota que a sele- residentes em casas de repouso da perado para indivíduos dessa faixa ção da amostra deste estudo não foi Turquia, Ozcan et al.25 encontraram etária, pois, a mediana foi de 27,1 por conveniência o que aumentou as a média de 48 kg no mesmo teste, kg/m2 e está entre o índice desejá- chances de que diversas realidades um desempenho aproximadamen- vel e o sobrepeso. De acordo com a fossem avaliadas, inclusive os alta- te 20% menor do que o dos idosos World Health Organization(19), devi- mente sedentários, que parecem ser deste estudo. do às alterações causadas na com- predominantes na população idosa. DISCUSSÃO Em relação à AFH, os resulta- posição corporal decorrentes do O desempenho dos idosos na dos indicam que os idosos deste es- processo de envelhecimento, índi- força de membros superiores (me- tudo possuem um nível abaixo do ces de massa corporal até 27 kg/ diana de 25,6 kg) coincide com a esperado. Somente 16% atingi- m2 para indivíduos idosos é con- força de preensão palmar de idosos ram ou ultrapassaram a média re- siderado normal. Valores acima de outras regiões brasileiras. comendada de 10.000 passos por desse índice já indicam sobrepe- No estudo realizado por Ale- dia(18) e 64% foram considerados so. O IMC dos idosos desta pesqui- xandre et al.(23), ao avaliarem a força de pouco ativos a sedentários, rea- sa é próximo dos encontrados em de preensão palmar em 1.301 ido- lizando menos de 7.499 passos por alguns estudos prévios(20,21). sos fisicamente independentes, de dia. Esses resultados parecem indi- Em relação às análises das va- ambos os sexos, do município de car que os idosos se movimentam riáveis de força muscular, os resulta- São Paulo, encontraram o resulta- somente o suficiente para a reali- dos indicam que os idosos apresen- do de 25,5 kg em média, semelhan- zação das suas atividades cotidia- taram baixa força de membros infe- temente ao encontrado no presen- nas e se envolvem pouco em pro- riores e desempenho esperado na te estudo. Esses resultados embora gramas de exercícios físicos e ati- força de membros superiores e de semelhantes, não servem para pre- vidades de lazer. Os resultados en- tração lombar. A mediana de 11 re- dizer se os índices são considerados contrados neste estudo são condi- petições alcançadas no teste de sen- ideais para a população idosa e se zentes ao desempenho nas ativi- tar e levantar da cadeira em 30 se- representam reservas funcionais im- dades cotidianas de alguns estudos gundos está bem abaixo das 15,2 e portantes para a manutenção com levantados em uma meta-análise sobre a quantidade de passos rea- Tabela 2 - Correlações entre a atividade física habitual (passos/dia) e as variáveis do estudo. Variáveis Atividade Física habitual (Passos/Dia) R p Idade (anos) - 0,018 0,79 IMC (Kg/m2) - 0,214 0,007 FMI (repetições) 0,061 0,37 FMS (kg) 0,093 0,18 Tração Lombar (kg) 0,146 0,09 lizados em média por dia por indivíduos adultos(26). O estudo mostra resultados discrepantes que variam entre 5.000 a quase 14.000 passos por dia. Essas diferenças variam de acordo com a etnia, gênero, comorbidades, nível sócio-econômico, meio-ambiente, entre outros. Em relação aos resultados das correlações, a AFH se correlacionou Ter Man. 2010; 8(40):548-553 terapia manual 40.indd 551 25/5/2011 16:38:05 552 Relação entre atividade física e força em idosos. gicas, cognitivas e sociodemográficas, podem se relacionar ao nível de AFH de diferentes tipos de sujeitos. Sendo assim, estudos que venham explorar esse contexto, com outros desenhos metodológicos, poderão sem dúvida somar às conclusões deste estudo. CONCLUSÃO Diante dos resultados obtidos neste estudo conclui-se que ao avaliar idosos fisicamente indepenGráfico 1 - Distribuição dos idosos de acordo com a classificação do nível de atividade habitual considerando o número de passos realizados por dia (mediana). dentes do município de Londrina, a maior quantidade de AFH (passos/ dia) desses indivíduos está relacio- significativamente somente com o dia em 200 idosos canadenses nada a índices mais baixos de IMC. IMC e não com as variáveis idade com doenças crônicas. Os autores Não houve correlação significati- e força muscular. Esses resultados concluíram que muitos idosos pos- va entre o número de passos diá- indicam que apesar de baixa cor- suem baixa atividade física diária rios e as variáveis de força muscu- relação, o peso corporal parece li- mesmo possuindo alta capacida- lar (membros inferiores, superiores mitar mais a realização das ativi- de física. Esses resultados indicam e tração lombar). Esses resultados dades cotidianas do que a falta de que a quantidade de atividade fí- podem ser atribuídos ao baixo nível força muscular. Em relação a esses sica da vida diária parece não de- de atividade cotidiana dos idosos resultados, há indicativos de que o pender exclusivamente da aptidão avaliados que permite com que re- nível de atividade física diária atin- física dos idosos e isso é confirma- alizem as suas atividades com baixo gida pelos idosos não exige grandes do por Chipperfield et al.(12), pois nível de força muscular. desempenhos das capacidades físi- afirmam que as atividades coti- A AFH se constitui em um ele- cas e motoras, como a força mus- dianas não dependem somente da mento fundamental para a ma- cular, o que permite com que reali- condição física do idoso e que fa- nutenção da capacidade funcio- zem essas atividades, independen- tores culturais, comportamentais e nal do indivíduo idoso. A diminui- temente de terem boa capacida- ambientais, não controlados nesse ção significativa da locomoção no de de força ou não. Provavelmen- estudo, parecem exercer impor- dia-a-dia parece estar associada ao te os indivíduos com capacidades tante influência nas atividades co- maior número de comorbidades, a mais baixas se locomoveram próxi- tidianas dessa população. percepção subjetiva de bem-estar mos ao seu limite máximo, enquan- Vale lembrar, que a análise to aqueles com capacidades mais conjunta dos dados dos homens e altas utilizaram uma porcentagem das mulheres pode ser considerada Sendo assim, estudos sobre o menor do seu potencial. como fator limitante do estudo. Tal- perfil das atividades cotidianas em mais baixa e menores índices de qualidade de vida. O baixo nível de atividade físi- vez, a identificação do perfil da AFH idosos e os fatores que as determi- ca parece ser um comportamento e a sua correlação com as variáveis nam são necessários, pois, alguns comum em grande parte dos ido- do estudo, separadas por gênero, pontos ainda estão sem respostas sos, independentemente da sua poderiam ajudar na melhor com- conclusivas, como por exemplo, as condição física. Esta evidência é preensão do papel da força muscu- diferenças nas atividades da vida comprovada por Ashe et al.(27) que lar na quantidade de AFH do idoso. diária entre homens e mulheres, as correlacionaram o teste de cami- Adicionalmente, características que interferências das variáveis sócio- nhada de 6 minutos (TC6) com o não foram abordadas no presen- demográficas, das doenças, entre número de passos realizados por te estudo, como variáveis psicoló- outros. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Zago AS; Gobbi S. Valores normativos da aptidão funcional de mulheres de 60 a 70 anos. R Bras Ci e Mov. 2003;11(2):77-86. 2. Sweet MG, Sweet JM, Jeremiah MP, Galazka SS. The relationship of strength to function in the older adult. Am Fam Physician. 2009;79(3):193-200. Ter Man. 2010; 8(40):548-553 terapia manual 40.indd 552 25/5/2011 16:38:05 Arnaldo L. A. Costa, Alexandre Schubert, Renata S. B. Januário, Rodrigo F. Oliveira, Rejane D. N. Souza, Vanessa S. Probst, Fábio Pitta, Denílson C. Teixeira. 553 3. Doherty TJ. Invited review: aging and sarcopenia. J Appl Physiol. 2003;95(4):1717-27. 4. Hyatt RH, Whitelaw MN, Bhat A, Scott S, Maxwell JD. Association of muscle strength with functional status of elderly people. Age Ageing. 1990;19(5):330-6. 5. 5Werngren-Elgström M, Carlsson G, Iwarsson S. A 10-year follow-up study on subjective well-being and relationships to person–environment (P–E) fit and activity of daily living (ADL) dependence of older Swedish adults. Arch Gerontol Geriatr. 2009;49(1):16-22. 6. Johannsen DL, DeLany JP, Frisard MI, Welsch MA, Rowley CK, Fang X, Jazwinski SM, Ravussin E. Physical activity in aging: comparison among young, aged, and nonagenarian individuals. J Appl Physiol. 2008;105(2):495-501. 7. Strycker LA, Duncan SC, Chaumeton NR, Duncan TE, Toobert DJ.. Reliability of pedometer data in samples of youth and older women. Int J Behav Nutr Phys Act. 2007;4(4):1-8. 8. Bijnen FC, Feskens EJ, Caspersen CJ, Mosterd WL, Kromhout D. Age, period, and cohort effects on physical activity among elderly men during 10 years of follow-up: the Zutphen Elderly Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 1998;53(3):M235-41. 9. Keysor JJ. Does late-life physical activity or exercise prevent or minimize disablement? A critical review of the scientific evidence. Am J Prev Med.2003;25(3 Suppl 2):129-36. 10. Mänty M, Heinonen A, Leinonen R, Tormakangas T, Hirvensalo M, Kallinen M et al. Long-term effect of physical activity counseling on mobility limitation among older people: a randomized controlled study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2009;64(1):83-9. 11. Berger U, Der G, Mutrie N, Hannah MK. The impact of retirement on physical activity. Ageing Soc. 2005;25(2):18195. 12. Chipperfield JG, Newall NE, Chuchmach LP, Swift AU, Haynes TL. Differential Determinants of Men’s and Women’s Everyday Physical Activity in Later Life. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2008;63(4):S211-18. 13. Brown M, Sinacore DR, Host HH, Doherty TJ. Invited review: aging and sarcopenia. J Appl Physiol. 2003;95(4):1717-27. 14. Gordon CC, Chumlea WC, Roche AF. Stature recumbent lengt and weigt. In: Lohman TG, Roche AF, Martorell R. (Eds.). Anthropometric standardization reference manual. Champaign: Human Kinetics Books, 1998. 15. Vianna LC, Oliveira RB, Araújo CGS. Age-related decline in handgrip strenght differs according to gender. J Strength Cond Res. 2007;21(4):1310-14. 16. Jones CJ, Rikli RE, Beam WC. A 30-s chair-stand test as a measure of lower body strength in community-residing older adults. Res Q Exerc Sport. 1999;70:113-7. 17. Friedman SM, Munoz B, West SK, Rubin G, Fried LP: Falls and fear of falling: which comes first? A longitudinal prediction model suggests strategies for primary and secondary prevention. J Am Geriatr Soc. 2002,50(8):1329-35. 18. Tudor-Locke C, Basset DR. How Many Steps/Day Are Enough? Preliminary Pedometer Indices for Public Health. Sports Med. 2004;34(1):1-8. 19. World Health Organization. Physical Status: the use and interpretation of anthtopometry. Genebra: World Health Organization, 1995. 20. Brandes M, Schomaker R, Möllenhoff G, Rosenbaum D. Quantity versus quality of gait and quality of life in patients with osteoarthritis. Gait Posture, 2008;28(1):74-9. 21. Tudor-Locke C, Ainsworth BE, Thompson RW, Matthews CE. Comparison of pedometer and accelerometer measures of free-living physical activity. Med Sci Sports Exerc. 2002;34(12):2045-51. 22. Cosme RG, Okuma SS, Mochizuki L. A capacidade Funcional de Idosos Fisicamente Independentes Praticantes de Atividade Física. Rev Bras Ci e Mov. 2008;16(3):39-46. 23. Alexandre TS, Duarte YAO, Santos JLF, Lebrão ML. Relação entre força de preensão manual e dificuldade no desempenho de atividades básicas de vida diária em idosos do município de São Paulo. Saúde Coletiva. 2008;5(24):178-82. 24. Jiang X, Cooper J, Porter MM, Ready AE. Adoption of Canada’s physical activity guide and handbook for older adults: Impact on functional fitness and energy expenditure. Can J Appl Physiol. 2004;29(4):395-410. 25. Ozcan A, Donat H, Gelecek N, Ozdirenc M, Karadibak D. The relationship between risk factors for falling and the quality of life in older adults. BMC Public Health. [periódico na internet]. 2005 [citado em 2010 nov. 25];5:90. Disponível em: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-5-90.pdf. 26. Bohannon RW. Number of pedometer-assessed steps taken per day by adults: a descriptive meta-analysis. Phys Ther. 2007;87(12):1642-50. 27. Ashe MC, Eng JJ, Miller WC, Soon JA. Disparity between physical capacity and participation in seniors with chronic disease. Med Sci Sports Exerc. 2007;39:1139-46. Ter Man. 2010; 8(40):548-553 terapia manual 40.indd 553 25/5/2011 16:38:05 554 Artigo Original Análise da variabilidade da frequência cardíaca em indivíduos submetidos à manobra do IV ventrículo. Analysis of the heart rate variability in individuals submitted to CV4 maneuver. Laís Sousa Santos (1) , Érika Bona Coutinho (2) , Rafael Victor Ferreira do Bonfim(3). Resumo Introdução: A terapia craniossacral tem como preceito básico a existência de um ritmo palpável, decorrente da mobilidade existente entre os ossos cranianos. A técnica de compressão do quarto ventrículo (CV-4), reduz através de uma compressão suave essa mobilidade craniana através da placa occipital, aumentando a pressão hidráulica do fluido intracraniano, redirecionando o fluxo por outros caminhos disponíveis. O uso da técnica afeta a atividade do diafragma e o controle autônomo da respiração e parece relaxar o tônus do sistema nervoso simpático em grau significativo além de melhorar a circulação linfática pelo corpo. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo analisar a variabilidade da freqüência cardíaca em indivíduos submetidos à manobra do IV ventrículo. Método: A pesquisa foi realizada em 14 indivíduos do sexo masculino, na faixa etária de 18 (dezoito) a 30 (trinta) anos, clinicamente saudáveis. Estes indivíduos passaram por uma avaliação, que constava de um questionário e exame físico, foram monitorizadas com o Polar S810i® e submetidas ao experimento. Os sinais eletrocardiográficos foram transferidos para um computador equipado com o software Polar Precision Performance®, exportados em arquivo de texto e filtrados no Microsoft Excel. A análise da Variabilidade da freqüência cardíaca foi calculada através da transformada Wavelet Contínua (TWC) na plataforma Matlab 6.1®. Os dados obtidos foram submetidos ao teste de normalidade D’Agostino e foram comparados utilizando o teste T de Student com nível de significância de 5% (p < 0,05). Resultados: Os resultados encontrados evidenciam o predomínio da atividade nervosa parassimpática em todas as fases do estudo. Entre as fases de Repouso e realização da técnica observou-se uma diminuição significativa da potência espectral na faixa de baixa frequência (LF), com significante aumento após a retirada do estímulo. A análise das razões das faixas espectrais de baixa e alta freqüência (LF/HF) mostra uma redução significante da fase de repouso para a técnica e um aumento significante da técnica para recuperação. Conclusão: Os resultados deste estudo nas condições experimentais utilizadas permitem sugerir que o uso da manobra do IV ventrículo provoca uma diminuição da atividade simpática aumentando a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) dos indivíduos estudados. Palavras-Chaves: manobra do IV ventrículo, terapia crânio-sacral, variabilidade da frequência cardíaca Abstract Introdution: Craniosacral therapy is fundamentally based on the existence of a tactful rhythm originated from the mobility existent among cranial bones. The technique of the fourth ventricle compression (CV-4) reduces, through a light compression, this cranial mobility through an occipital plaque, increasing the hydraulic pressure of the intracranial fluid, redirecting the fluid throughtout other available ways. The use of the technique affects the activity of the diaphragm and the autonomous control of respiration, and seems to relax the tonus of the sympathetic nervous system in significative degree, besides it improves the linphatic circulation by the body. Objective: The present study aims to analyze the heart rate variability in individuals submitted to CV-4 manuever. Method: The research was performed in Artigo recebido em 10 de agosto de 2010 e aceito em 6 de outubro de 2010. 1 Graduada em Fisioterapia pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual do Piauí. ([email protected]) Teresina,PI, Brasil 2 Fisioterapeuta, mestre e docente do curso de fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas - FACIME ([email protected]) Teresina,PI, Brasil 3 Fisioterapeuta, mestre e docente do curso de fisioterapia da Faculdade Integral Diferencial – FACID ([email protected]) Teresina,PI, Brasil Ter Man. 2010; 8(40):554-560 terapia manual 40.indd 554 25/5/2011 16:38:05 555 Laís Sousa Santos, Érika Bona Coutinho, Rafael Victor Ferreira do Bonfim. 14 clinically healthy individuals, aging 18 to 30 years old. These individuals passed through an evaluation, which corresponded to a questionnaire and a physical exam, and were monitored with the Polar S810i and submitted to the experiment. The electrocardiographic signals were transferred to a computer equipped with the Polar Precision Performance Software exported in text files and filtered with Microsoft Excel. The analysis of heart rate variability was calculated through the continuous transformed Wavelet on Matlab platform 6.1. The obtained data were submitted to D’Agostino Normality Test and were compared using Student’s t-test with level of significance of 5% (p < 0,05). Results: The discovered results turned evident the predominance of parasympathetic nervous activity in all phases of the study. Between the phases of relax and performance of the technique, it was observed a significative decrease in spectral potention in the band of low frequence (LF)with significative increase after the withdraw of the stimulus. The analysis of the reasons of spectral bands of low and high frequence (LF/HF) shows a significative reduction in the relax phase for the technique and a significative increase in the technique for recovery. Conclusion: The results of this study in experimental conditions used permitted to suggest that the use of CV-4 maneuver provokes a decrease in sympathetic activity increasing the heart rate variability of the individuals studied. Keywords: CV4 maneuver, Heart rate variability, craniosacral therapy INTRODUÇÃO o controle autônomo da respiração nos ajustes do sistema cardiovas- Todo sistema nervoso cen- e parece relaxar o tônus do siste- cular sendo considerado o principal tral é envolvido por membranas fi- ma nervoso simpático em grau sig- meio pelo qual a freqüência cardía- brosas denominadas meninges. A nificativo além de melhorar a circu- ca é controlada camada mais externa, dura-má- lação linfática pelo corpo (1) . (5,6,7) . A freqüência cardíaca é a ve- ter, possui estreita relação com os O Sistema Nervoso autôno- locidade na qual o coração pulsa. ossos da caixa craniana, esta es- mo é dividido em sistema nervoso Quando se está relaxado, o cora- treita adesão permite que se use simpático e parassimpático, sendo ção pulsa mais lentamente e diante os ossos do crânio como suporte responsável pelo controle, total ou de um estímulo emocional ou ativi- para acesso ao sistema composto parcial das funções viscerais do dade de maior energia, pulsa mais pelas meninges e pelo líquor na te- corpo, entre elas a freqüência car- rápido rapia craniossacral. díaca (FC), tendo como principal A variabilidade da frequência (8) . A terapia craniossacral tem função a manutenção do equilíbrio cardíaca (VFC), caracteriza as flutu- como preceito básico a existência corporal, mantendo a homeostase. ações dos intervalos R-R, e reflete a de um ritmo palpável, decorrente O controle nervoso afeta as funções modulação da função cardíaca pelo da mobilidade existente entre os mais globais do sistema cardiovas- sistema autonômico e outros siste- ossos cranianos, que persiste ao cular, aumentando a força de con- mas fisiológicos, e é avaliada, de longo da vida e se distingue dos tração cardíaca, o volume de san- maneira não invasiva, por meio das ritmos fisiológicos relacionados à gue bombeado e a pressão de eje- variações instantâneas, batimento respiração e à atividade cardiovas- ção, podendo aumentar a freqüên- a batimento, da amplitude dos in- cular. Esta atividade rítmica apare- cia cardíaca com uma estimulação tervalos R-R eletrocardiográficos, ce no sacro como um suave movi- simpática, ou causar uma diminui- através da identificação da ativida- mento oscilante sobre o eixo trans- ção acentuada da freqüência cardí- de dos componentes do SNA sobre verso, esse movimento se correla- aca e ligeira diminuição da contra- o nodo sinoatrial do coração ciona ritmicamente a um alarga- tilidade do músculo cardíaco com a mento e estreitamento da dimen- estimulação parassimpática (2-3) . (9,10) . A VFC permite análises aprofundadas, que podem ser determi- são transversal da cabeça. Quan- Através da liberação de acetil- nadas através de registros eletro- do a cabeça se alarga, o vértice do colina pelo nervo vago, que causa a cardiográficos, resultando em sé- sacro se move na direção anterior despolarização diastólica e diminui ries de tempo (intervalos RR) que (flexão), o contrário é a extensão a frequência dos batimentos cardí- são geralmente analisados em do- do sistema craniossacro. acos, o sistema nervoso parassim- mínios freqüência e tempo. A ener- A técnica de compressão do pático altera a frequência cardíaca. gia em diferentes bandas de freqü- quarto ventrículo (CV-4) reduz a Em condições de repouso, existe ência corresponde à atividade de habilidade da placa occipital se aco- uma predominância parassimpática nervos simpáticos, de baixa freqü- modar, aumentando a pressão hi- no controle da homeostase (4) . ência (Low Frequency - LF) com va- dráulica do fluido intracraniano, re- O sistema nervoso autôno- riação de 0.04-0.15Hz e parassim- direcionando o fluxo por outros ca- mo, através dos seus componen- páticos, de alta freqüência (High minhos disponíveis. O uso da técni- tes simpático e parassimpático, Frequency - HF) com variação de ca afeta a atividade do diafragma e desempenha um importante papel 0.15-0.4Hz (11) . Ter Man. 2010; 8(40):554-560 terapia manual 40.indd 555 25/5/2011 16:38:05 556 Análise da variabilidade da frequência cardíaca em indivíduos submetidos à manobra do IV ventrículo. Os valores da VFC dependem O presente protocolo de pe- sicionado na cabeceira da maca da duração do intervalo RR, quan- squisa foi submetido e aprova- com os braços descansados sobre to menor o intervalo menor o limite do pelo Comitê de Ética e Pesqui- ela, as mãos estarão em concha, de variação que pode ser medido. sa da Faculdade Integral Diferen- de forma que os polegares façam Um aumento no impulso simpático, cial (FACID) sob o número 022/10. um “V”. O vértice do “V” deverá que reduz os intervalos RR também Este estudo foi conduzido confor- estar ao nível da segunda ou ter- reduz a VFC. A redução da freqü- me a Resolução nº 196/96 do Con- ceira vértebra cervical de modo ência cardíaca por um aumento na selho Nacional de Saúde (CNS). Os que as eminências tênares este- atividade parassimpática leva a um voluntários assinaram um termo jam laterais em relação ás protu- aumento dos intervalos RR e uma de consentimento autorizando a berâncias occipitais externas. De- sua participação no estudo. ve-se esperar então até se sinto- maximização da VFC (12,13) . Segun- do Petry(9), uma baixa variabilida- inici- nizar com o ritmo do movimento de da freqüência cardíaca indica a almente submetido a um questio- craniano do voluntário. Durante a existência de depressão da ativida- nário clínico e a uma avaliação físi- fase de extensão (expiração) o mo- de vagal e/ou exacerbação da ativi- ca. Logo após foi colocado o frequ- vimento deverá ser seguido pelas encímetro (equipamento que con- eminências tênares, quando o occi- Esta pesquisa, por sua vez, siste em uma cinta capaz de de- pital tenderá a se alargar durante a teve por objetivo estudar o com- tectar as variações da freqüência fase de flexão do ciclo, o terapeuta portamento nervo- cardíaca) junto à caixa torácica na deverá resistir a este alargamento. parassimpático, região do processo xifóide (Figu- Esta fase terá duração de 6 minu- através da análise da variabilida- ra 1) e o indivíduo foi posicionado tos. Por último, a Terceira fase ou de da freqüência cardíaca em jo- em decúbito dorsal. Durante todas fase de recuperação teve a dura- vens do sexo masculino submeti- as etapas do estudo os indivíduos ção de 6 minutos e foi caracteriza- dos à manobra do IV ventrículo, eram monitorizados pelo frequen- da pela retirada do estímulo (téc- uma vez que sabe-se que a ma- címetro POLAR S810i nica CV-4), com o indivíduo ainda dade simpática no coração so do simpático e sistema (9) . Cada voluntário foi nobra do quarto ventrículo promo- em decúbito dorsal. ve um relaxamento sistêmico após Durante todo o protocolo a ser realizada, e segundo Upledger freqüência e Vredevoogd(1) parece relaxar o rizada e os dados obtidos foram tônus do Sistema nervoso Simpá- convertidos no formato de arqui- tico e Parassimpático. No entanto, vo de texto (TXT) através do sof- até presente momento, não exis- tware Polar Precision Performan- tem dados que mensurem essa in- ce®. A análise da VFC foi realizada fluência da manobra sobre o siste- pelo domínio da frequência e calcu- ma nervoso autônomo. lada através da transformada Wa- cardíaca foi monito- velet Contínua (TWC) utilizando o MATERIAIS E MÉTODOS programa Este estudo foi realizado junto à Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual do Piauí, si- analisevfc desenvolvi- do pelo Instituto de Pesquisa e DeFigura 1 - Posicionamento do monitor cardíaco Polar S810i em um voluntário do estudo. tuada na cidade de Teresina – PI. O senvolvimento (IP&D) da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP). Com base na TWC foi calculado o universo desta pesquisa é compos- espectro médio em uma janela de to por 14 indivíduos do sexo mas- O protocolo foi dividido em tempo especificada e em seguida culino, na faixa etária de 17 (de- três fases realizadas na posição de foram calculados os parâmetros LF zessete) a 30 (trinta) anos, clini- decúbito dorsal. Na Primeira fase referente a área simpática (0,04 a camente saudáveis. Foram incluí- ou fase de repouso, o indivíduo se 0,15 Hz), o parâmetro HF referente dos na pesquisa voluntários sadios encontrava em decúbito dorsal re- a área -parassimpática (0,15 a 0,4 sem quaisquer anormalidades car- laxado, sem estímulos visuais, au- Hz) e relação LF/HF. diovasculares e distúrbios psico- ditivos e ou movimentação, por um Utilizou-se o teste D’Agostino motores, que não faziam uso de período de 6 minutos. A segun- para analisar a normalidade dos medicações cardiodepressoras ou da fase correspondeu à realização dados visando a escolha do tipo cardioestimuladoras, que concor- da técnica CV-4, que foi realiza- de teste estatístico a ser aplicado daram em participar deste estudo da com o indivíduo ainda em de- (paramétrico ou não paramétrico). e assinaram o Termo de Consenti- cúbito dorsal, para realização da Para verificar a existência de di- mento Livre e Esclarecido. técnica o terapeuta deve estar po- ferenças estatísticas entre as mé- Ter Man. 2010; 8(40):554-560 terapia manual 40.indd 556 25/5/2011 16:38:05 557 Laís Sousa Santos, Érika Bona Coutinho, Rafael Victor Ferreira do Bonfim. dias dos dados nas diferentes fases do experimento utilizou-se o teste Tabela 1 - Medidas descritivas das variáveis Idade, Peso, Altura. Variáveis n Mínimo Máximo Média Desvio Padrão Idade (anos) 14 17 27 20,92 2,61 Peso (Kg) 14 54,5 101 71,03 12,32 Altura (m) 14 1,69 1,94 1,75 0,06 T de Student, com nível de significância de 5% (p < 0,05). Para a análise estatística foi utilizado o software estatístico Bioestat 5.0. RESULTADOS Os resultados deste estudo estão apresentados em forma de Tabela 2 - Valores dos índices da VFC no domínio da freqüência durante as fases do protocolo. tabelas com a média + desvio pa- Variáveis Repouso Técnica Recuperação drão das variáveis. LF (m/s2) 255,39 ± 98,40 * 185.83 ± 58,33 # 277,40 ± 85,70 312,08 ± 108,19 269,71 ± 96,58 288,60 ± 104,15 1,00 ± 0,58 $ 0,85 ± 0,32 ≠ 1,12 ± 0,65 LF (un) 45,00 ± 17,36 40,79 ± 7,76 49,01 ± 20,67 HF (un) 54,99 ± 17,36 59,20 ± 7,76 50,98 ± 20,67 A Tabela 1 mostra as caracte2 rísticas antropométricas dos voluntários, com a finalidade de caracterizar a amostra estudada. HF (m/s ) LF/HF A Tabela 2 ilustra os valores de LF (banda de baixa freqüência corresponde a atividade simpática), HF (banda de alta freqüência - corresponde a atividade parassimpáti- Legenda: * Diferença significativa de LF da fase da Técnica em relação ao Repouso (p = 0,0452) # Diferença significativa de LF da fase da Técnica em relação à Recuperação (p = 0,005) $ Diferença significativa de LF/HF da fase da Técnica em relação ao Repouso (p = 0,0431) ≠ Diferença significativa de LF/HF da fase da Técnica em relação à Recuperação (p = 0,04) ca) e LF/HF - razão entre baixa e alta freqüência (corresponde ao balanço autonômico) em unidades absolutas (ms2) e normalizadas (un), expressas em média + desvio padrão, bem como os seus respectivos índices de significância obtidos entre as três fase do protocolo. Os resultados encontrados evidenciam o predomínio da atividade nervosa parassimpática em todas as fases do estudo. Quando realizada a análise estatística em unidade normaliza- Figura 2 - Traçados representativos da variabilidade da freqüência cardíaca durante todo o experimento de um voluntário. da, observou-se que durante a fase da técnica houve uma diminuição significante da atividade simpática, em relação a fase de repouso e em relação a fase de recuperação. A análise das razões das faixas espectrais de alta e baixa freqüência (LF/HF) mostra uma redução significante da fase de repouso para a técnica e um aumento significante da técnica para recuperação. A Figura 2 demonstra o Escalograma do sinal eletrocardiográfi- Figura 3 - Traçado representativo do espectro médio de um voluntário do estudo durante todo o experimento. co de um voluntário durante todas as fases do protocolo com uma duração total de 1080 segundos. cada intervalo de freqüência. velet Contínua que emergiu recen- A Figura 3 demonstra o gráfico GWS (Global Wavelet Spectrum), utilizada a Transformada de Wa- DISCUSSÃO temente como uma potente ferra- que é gerado por meio do cálculo Para interpretação dos dados menta de análise tempo-freqüên- da média de energias existentes em coletados pelo frequencímetro foi cia favorável à interpretação de si- Ter Man. 2010; 8(40):554-560 terapia manual 40.indd 557 25/5/2011 16:38:06 558 Análise da variabilidade da frequência cardíaca em indivíduos submetidos à manobra do IV ventrículo. nais não estacionários(14,15). Em um mulação com a manobra CV-4. Os balho, no entanto ambas utilizam estudo realizado por Conceição et resultados encontrados estão de o mesmo princípio da terapia cra- al.(16) sobre a análise da variabilida- acordo com o que diz Upledger e niossacral, na qual sustenta a idéia de da freqüência cardíaca no teste Vredevoogd(1), que o uso da téc- de que forças suaves aplicadas ao de espirometria através da Trans- nica de liberação do IV ventrícu- crânio podem liberar restrições nas formada Wavelet Contínua confir- lo afeta a atividade do diafragma suturas, fáscias, meninges e ou- mou que o uso desta Transforma- e o controle autônomo da respira- tros tecidos associados, promo- da, aplicada em sinais biológicos, ção, promovendo um relaxamento vendo uma restauração da flexibili- demonstrou ser uma ferramenta no tônus do sistema nervoso sim- dade autonômica, ou seja, melho- matemática eficiente para análise pático em grau significativo(1). ra na habilidade do sistema nervo- da variabilidade de sinais com características não-estacionárias(16). Todo o controle cardíaco e respiratório ocorre no bulbo, quando, so autônomo para responder efetivamente aos estímulos(1). De acordo com os valores em por exemplo, os impulsos que che- unidade normalizada, houve pre- gam ao bulbo aumentam, o bulbo Cantalino(24), avaliou 66 indivídu- domínio da área parassimpática por sua vez diminui o tônus simpá- os saudáveis submetidos às téc- durante as três fases do protocolo, tico, diminuído assim a freqüência nicas miofasciais na região crania- uma vez que em todas as fases os cardíaca(20). Mudanças relativas na na, executadas pela terapia de cra- indivíduos encontravam-se em re- freqüência e amplitude respirató- niossacral, encontrando através da pouso na posição de decúbito dor- ria devem ser levadas em conta ao VFC alterações no comportamen- sal, o que corrobora com o que diz avaliar a freqüência cardíaca pois to do sistema nervoso autônomo, Task Force , que sob condições de as características dos movimentos com aumento da atividade paras- repouso, ocorre um predomínio da respiratórios são capazes de alte- simpática e diminuição da ativida- atividade vagal(4). rar as variações cíclicas observa- de simpática(24). (4) Na posição supina o balanço autonômico é progressivamen- das entre as sucessivas ondas R do eletrocardiograma(21,22). Em um outro estudo, Durante a fase de recuperação, caracterizada pela ausência de te alterado em favor do sistema A razão da atividade simpáti- estímulo, houve um aumento signi- nervoso parassimpático, eviden- ca/parassimpática apresentou redu- ficante da baixa freqüência (LF) em ciado por uma marcante redução ção estatisticamente significante da unidades normalizadas, indicando da FC(17). Esse fenômeno é explica- fase de repouso para a fase da rea- aumento da atividade simpática. do por Barbosa et al.(18) onde rela- lização da técnica, com um valor de O mesmo ocorreu com a razão LF/ ta que a influência parassimpática 0,85. A razão (LF/HF) é considera- HF, que aumentou quando compa- excede os efeitos simpáticos pelo da uma forma de caracterizar o ba- radas à fase de repouso e estímulo, fato da liberação do neurotrans- lanço simpático-vagal, uma vez que denotando assim um maior predo- missor acetilcolina antagonizar os reflete as interações absolutas e re- mínio da atividade simpática após (18) efeitos adrenérgicos . lativas entre os componentes sim- a retirada do estímulo. Uma possí- Durante a realização da técni- páticos e parassimpáticos do siste- vel explicação para este resultado ca houve uma diminuição significa- ma nervoso autônomo do coração(6). seria a tentativa do sistema nervo- tiva da baixa frequência (LF), o que Valores iguais a 1 indicam que os so em restabelecer o equilíbrio do sugere redução da atividade sim- sistemas estão em equilíbrio, para tônus simpático-vagal, provocan- pática. Respostas simpáticas ex- valores acima de 1, há predomínio do um aumento da atividade sim- pressam-se com maior intensidade simpático e abaixo de 1 nos indi- pática, em contrapartida à ativação durante o estresse e situações de cam uma tendência de atuação pa- vagal prolongada. emergência(19). rassimpática, como apresentam os O coração é regulado sob controle da estratégia antagonista, nossos resultados(4). Tais resultados O coração é um órgão que recebe influências autonômicas na corroboram manutenção da homeostase e, ou seja, a ativação parassimpáti- com os encontrados por Purdy, para que isso ocorra há uma cons- ca provoca efeito contrário à ativa- Frank e Oliver (23) , que avaliou a tante modificação da freqüência de ção simpática, logo, quando a ati- resposta da atividade simpática seus batimentos(25). Em um dese- vidade de uma aumenta, a outra secundária a manipulações miofas- quilíbrio diminui(3). Sugerindo que no pre- ciais suaves da região sub-occipial, uma redução da atividade paras- sente estudo a diminuição da ativi- observando mudanças autonômi- simpática devido a uma depressão dade simpática seja resultante de cas favoráveis, com a redução do dos centros nervosos parassimpá- uma maior atividade vagal, provo- tônus simpático(23). A técnica utili- ticos concomitante à uma ativação cando nos indivíduos uma respos- zada pelo pesquisador não corres- simpática que é disparada por um ta de relaxamento diante da esti- ponde à utilizada no presente tra- esforço do sistema nervoso no sen- autonômico observa-se Ter Man. 2010; 8(40):554-560 terapia manual 40.indd 558 25/5/2011 16:38:07 559 Laís Sousa Santos, Érika Bona Coutinho, Rafael Victor Ferreira do Bonfim. tido de equilibrar-se diante de uma dade simpática provocando um au- condição adversa(26). mento da VFC. CONCLUSÃO ração do IV ventrículo. Pela falta de estudos publica- A Transformada Wavelet Con- dos na literatura atual relacionando a tínua (TWC) mostrou-se uma fer- manobra de liberação do IV ventrícu- Os resultados deste estudo ramenta útil para análise da varia- lo com as respostas autonômicas, su- nas condições experimentais utili- bilidade da freqüência cardíaca e gerimos que estudos futuros possam zadas permitem sugerir que a ma- que pode ser utilizada como méto- contribuir para um melhor entendi- nobra de liberação do IV ventrículo do para avaliar as respostas auto- mento sobre o efeito desta técnica provocou uma diminuição da ativi- nômicas frente à manobra de libe- sobre a saúde geral do indivíduo. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. UPLEDGER, J. E.; VREDEVOOGD, J.D. Terapia craneosacra I. 1. ed. Barcelona: Paidotribo, 2004. 2. GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Sistema Nervoso Autônomo. In: GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica, 11. ed. Rio de Janeiro: Elsevier , 2006. 3. LENT, R. O organismo sob controle: o sistema nervoso autônomo e o controle das funções orgânicas. In: Cem bilhões de neurônios – Conceitos fundamentais de neurociência. São Paulo: Editora Atheneu, 2001. Cap. 14, p. 452 - 482. 4. TASK FORCE. Of The European Society of Cardiology and The North American Society of Pacing and Electrophysiology. Heart Rate Variability: Standards of measuremente, physiological interpretation, and clinical use. Eur. Heart J., v. 17, p. 354-381, 1996. 5. GALLO Jr, L. et al. Quando o coração bate mais forte. Ciência Hoje, v. 21, p. 40-47, 1996. 6. CATAI, C. M. M. et al. Effects of aerobic exercise training on heart rate variability during wakefulness and sleep and cardiorespiratory responses of young and middle-aged healthy men. Braz J Med Biol Res; v.35, p. 741-52, 2002. 7. BERN, R. M.; LEVY, M. N. Physiology, 4. Ed, Mosby, p. 11431, 1998. 8. CARVALHO, J. L. A. et al. “Development of a Matlab Software for Analysis of Heart Rate Variability”, 6th International Conference on Signal Processing: Proceedings, vol. 2, p. 1488-1491, 2002. 9. PETRY, D. Sistema para Análise da Variabilidade de sinais fisiológicos: Aplicação em Variabilidade da Freqüência Cardíaca e Intervalo QT. 2006. 146 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. 10. ALONSO, D. O. et al. Comportamento da freqüência cardíaca e da sua variabilidade durante as diferentes fases do exercício físico progressivo máximo. Arquivo Brasileiro de Cardiologia,São Paulo, v.71, n.6, p.2-10, 1998. 11. AUBERT, A. E.; SEPS, B.; BECKERS, F. Heart Rate Variability in Athletes. Sports Med., v.33, n.12, p. 889-919, 2003. 12. MIGLIARO E. R, et al. Relative influence of age, reasting heart rate and sedentary life style in short term analysis of heart rate variability. Braz J Med Biol Res. v.34, p. 493-500. 2001. 13. KAWAGUCHI, L. Y. A. et al. Caracterização da variabilidade de freqüência cardíaca e sensibilidade do barorreflexo em indivíduos sedentários e atletas do sexo masculino. Rev. Bras. Med. Esporte, Niterói, v. 13, n. 4, 2007. 14. BOLZAN, M. J. A. Análise da transformada em ondeletas aplicada em sinal geofísico. Revista Brasileira de Ensino de Física. v. 26, n. 1, p. 37-41, 2004. 15. TORRENCE, C. ; COMPO, G. P. A Pratical Guide to Wavelet Analysis. Bulletin of the American Meteorological Society, v.79, n.1, p.61-78, 1998. 16. CONCEIÇÃO, K. M. Análise da variabilidade da frequência cardiaca em indivíduos na faixa etária de 55 a 65 anos, sedentários, treinados e destreinados durante o teste de espirometria. 2006. 71f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) - Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, 2006. 17. HOJGAARD, M.V.; HOLSTEIN-RATHLOU, N. H.; AGNER, E.; KANTERS, J.K. Dynamics of spectral components of heart variability during changes in autonomic balance. Am J Physiol. 1998; 275:213-9. 18. BARBOSA, E. C. et al. Repolarização precoce no eletrocardiograma do atleta. Bases iônicas e modelo vetorial. Arq. Bras. Cardiol. São Paulo, v.82, n.1, Jan. 2004. 19. KIERNAN, J.A. Neuroanatomia Humana de Barr. 7 ed. São Paulo: Manole, 2003. 20. BRADENBERGER, G.; BUCHHEIT, M.; EHRHART, J.; SIMON, C.; PIQUARD, F. Is slow wave sleep an appropriate recording condition for heart rate variability analysis? Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical. v.121, p.8586, 2005. Ter Man. 2010; 8(40):554-560 terapia manual 40.indd 559 25/5/2011 16:38:07 560 Análise da variabilidade da frequência cardíaca em indivíduos submetidos à manobra do IV ventrículo. 21. ARAI Y. et al. Modulation of cardiac autonomic active during and immediately after exercise. Am. J. Physiol., v. 256, (1 Pt 2), p.132-141, 1989. 22. BARBOSA, P.R.B.; FILHO, J.B.; CORDOVIL, I. Efeito da Respiração Oscilatória sobre a Variabilidade dos Intervalos RR e sua Importância Prognostica em Indivíduos com Disfunção Sistólica Global do Ventrículo Esquerdo. Arq Bras Cardiol, v. 80, n.5, 2003. 23. PURDY W.R.;FRANK J.J.; OLIVER B. Suboccipital dermatomyotomic stimulation and digital blood flow. J Am Osteopath Assoc, v. 96, p.285-289, 1996. 24. CANTALINO, J.L.R. Estudo do efeito da mobilização craniana sobre atividade autonômica, através da variabilidade da freqüência cardíaca. Dissertação (Mestrado em Bioengenharia) – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, SP, 2010. 25. RIBEIRO, T. F. et al. Estudo da variabilidade da frequência cardíaca em dois voluntários de meia-idade – um coronariopata e outro saudável – relato de caso. Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, v. 10, n. 1, 2000. 26. ALMEIDA, JB. Estudo da incidência de sonolência diurna e do comportamento do sistema nervoso autônomo através da análise da variabilidade cardíaca em acadêmicos do curso de Enfermagem da Universidade do Vale do Paraíba. Dissertação (Mestrado em Bioengenharia) – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, SP, 2006. Ter Man. 2010; 8(40):554-560 terapia manual 40.indd 560 25/5/2011 16:38:07 561 Artigo Original Caracterização de pacientes amputados em centro de reabilitação. Characterization of amputee patients in rehabilitation center. Luciana Akemi Tamura Ozaki(1), José Carlos Camargo Filho(2), Mario Hissamitsu Tarumoto(3), Regina Celi Trindade Camargo(4). Departamento de Fisioterapia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista. Resumo Introdução: As amputações de extremidades são um grande desafio a ser superado e uma importante complicação de doenças crônicas degenerativas. Objetivo: Caracterizar pacientes amputados que receberam atendimento fisioterapêutico no Centro de Estudos e de Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação no período de 1987 a 2008. Método: A coleta de dados foi realizada por meio da revisão de prontuários da população de estudo, num total de setenta prontuários. Resultados: Ocorreu predomínio do sexo masculino (74%), a idade média foi de 47,8 anos e o nível de amputação foi acima do joelho (38,6%). A principal etiologia foi enfermidade (51,4%), com maior incidência de alteração vascular (80,6%). Verificaram significativa demora para os pacientes iniciarem a reabilitação fisioterapêutica (média de 12,6 meses), estes apresentando complicações características do período agudo como dor fantasma e aderência cicatricial. A média de sessões foi de 44 (correspondente a cinco meses). Alguns fatores influenciaram o tempo de tratamento aumentando-o (hipoestesia e hipotrofia do coto) ou reduzindo-o (boa cicatrização do coto). Não houve diferença significativa quanto ao tempo médio de tratamento entre os amputados de diferentes níveis e as etiologias de amputação também não interferiram no tempo médio de tratamento. Conclusão: O encaminhamento do paciente amputado a um serviço de reabilitação, principalmente em estágio precoce, provavelmente reduziria o tempo de tratamento e aumentaria a possibilidade de sucesso da protetização. Palavras-chave: Epidemiologia, amputação, fisioterapia, reabilitação, prótese. Abstract Introduction: The extremity amputations are a major challenge to be overcome and na important complication of chronic degenerative diseases. Objective: To characterize the amputee patients who treated at the Center for Research and Care in Physical Therapy and Rehabilitation at the period 1987 to 2008. Method: The collection was performed by reviewing the medical records of the study population in a total of seventy files. Which predominated the male sex (74%), the mean age of 47.8 years and level of amputation above the knee (38.6%). The main etiology was the illness (51.4%), with major incidence of limb vasculature alteration (80.6%). There was identified delay in starting treatment for physical therapy rehabilitation (mean 12.6 months), the patients showed complications of acute pe- Artigo recebido em 5 de outubro de 2010 e aceito em 20 de dezembro de 2010. 1 Graduanda do 4º ano do Curso de Fisioterapia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista – FCT/ UNESP – Presidente Prudente, SP, Brasil. 2 Professor Doutor do Departamento de Fisioterapia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista – FCT/ UNESP – Presidente Prudente, SP, Brasil. 3 Professor Doutor do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista – FCT/ UNESP – Presidente Prudente, SP, Brasil. 4 Professora Assistente do Departamento de Fisioterapia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista – FCT/UNESP – Presidente Prudente, SP, Brasil. Endereço para Correspondência: Luciana Akemi Tamura Ozaki. Departamento de Fisioterapia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista – FCT/UNESP – Presidente Prudente. Rua Roberto Simonsen, 305. CEP 19060-900. Presidente Prudente, SP, Brasil. Tel: 18 3229 5388. Fax: 3229 5353. E-mail: [email protected]. Ter Man. 2010; 8(40):561-567 terapia manual 40.indd 561 25/5/2011 16:38:07 562 Caracterização de pacientes amputados. riod as phantom pain and scar adherence. The mean sessions was 44 (approximately five months). Some factors influenced the treatment time increasing it (hypoesthesia and atrophy of the stump) or reducing it (good healing of the stump). There was not significant difference in median time to treatment for amputees of different levels and the etiology of amputation did not affect the mean time of treatment. Conclusion: The patient referral to an amputee rehabilitation service, especially in the early stages, would likely reduce the treatment time and increase the possibility of successful prosthesis. Keywords: Epidemiology, amputation, physiotherapy, rehabilitation, prosthesis. INTRODUÇÃO As amputações de extremida- AFIR) da Faculdade de Ciências e tese equivalente ao teste Chi-qua- Tecnologia da UNESP. drado, mesmo em situações em des são um grande desafio a ser superado e são consideradas muito que o número de observações em MÉTODO cada célula é pequeno. Para o es- freqüentes, tornando-se importan- Este é um estudo do tipo epi- tudo do tempo de tratamento dos te problema de saúde pública no demiológico descritivo com a fina- pacientes, foram aplicadas técnicas Brasil e no mundo(1). As de mem- lidade de caracterizar a população de análise de sobrevivência, sendo bros inferiores representam um de amputados que recebeu trata- que para a avaliação de grupos de grande impacto socioeconômico, mento fisioterapêutico no CEAFIR pacientes, com acometimento do com perda da socialização, da ca- da Faculdade de Ciências e Tecnolo- membro superior ou inferior, ou em pacidade laborativa e da qualidade gia da UNESP no período de janeiro relação à causa da amputação, as de vida. Constituem numa das im- de 1987 a dezembro de 2008. estimativas das probabilidades de portantes complicações de doenças Para que a realização da coleta sobrevivência (tratamento) foram crônico degenerativas, associada à de dados foi requisitada autorização construídas através do método de significativa incapacidade, morbi- do Comitê de Ética em Pesquisa da Kaplan-Meier. dade e mortalidade(2). Faculdade de Ciências e Tecnologia Para a comparação entre estes O acompanhamento fisiote- desta instituição com parecer favo- grupos, foi utilizado o teste de log- rapêutico é de suma importância rável pelo processo no. 04/2009, rank. Por outro lado, para o estudo para que ocorra a reeducação fun- conforme a Resolução do Conselho das variáveis influentes no tempo de cional, todos os estágios do pro- Nacional de Saúde 196/96 além da sobrevivência foi construído o mo- grama de reabilitação do estágio autorização da direção do CEAFIR. delo de regressão Weibull, que nos pré ao pós-operatório, da educa- A coleta dos dados consistiu em re- permite a estimação dos tempos de ção de mobilidade pré e pós-proté- visão dos prontuários do arquivo vida considerando as informações tica e, se necessário, dos cuidados morto de todos os pacientes ampu- concomitantes(6). O nível mínimo de manutenção das funções mús- tados que receberam atendimento de significância para todos os tes- culo-esqueléticas. Assim sendo, a de fisioterapia no CEAFIR no referi- tes realizados foi de 5%. As análises presença do fisioterapeuta é im- do período. foram realizadas utilizando os softwares SAS (versão 9.2) e o R. portante no processo dinâmico, Os dados coletados dos pron- criativo, progressivo, educativo e, tuários foram: número de registro, objetiva a restauração ótima do in- sexo, idade, raça, extremidade e he- divíduo, sua reintegração à família, micorpo de referência, nível de am- A amostra consistiu em 70 comunidade e sociedade(3,4). putação, etiologia, data da avalia- prontuários de pacientes amputa- RESULTADOS Considerando que diversos fa- ção inicial e complicações presen- dos que receberam atendimento fi- tores podem influenciar no proces- tes, data do primeiro e último trata- sioterapêutico no CEAFIR. Destes, so de reabilitação: idade avançada, mento, data da alta, número de ses- o predomínio era do sexo masculi- nível da amputação, tempo de am- sões realizadas, doenças associadas, no (74,29%). putação, presença de doenças as- complicações presentes na avaliação sociadas, múltiplas complicações inicial da fisioterapia, tipo de alta. A idade média para ambos os sexos foi de 47,8 anos com des- da amputação(5), o objetivo deste Para a análise dos dados, em vio padrão de 18,7 anos, sendo o estudo foi caracterizar a população situações em que as variáveis são paciente mais jovem e mais idoso de amputados que recebeu tra- de classificação, para o teste da as- com idade de 14 e 88 anos respec- tamento fisioterapêutico no Cen- sociação entre elas foi utilizado o tivamente. Para o sexo masculi- tro de Estudos e de Atendimento Teste Exato de Fisher. Este nos per- no foi de 47,1 anos (desvio padrão em Fisioterapia e Reabilitação (CE- mite a obtenção do teste de hipó- 18,36), variando entre 14 a 88 Ter Man. 2010; 8(40):561-567 terapia manual 40.indd 562 25/5/2011 16:38:07 563 Luciana Akemi Tamura Ozaki, José Carlos Camargo Filho, Mario Hissamitsu Tarumoto, Regina Celi Trindade Camargo. anos, para o sexo feminino foi de tensão arterial 15,7%. Os pacientes terapêutica dos amputados foi a 49,8 anos (desvio padrão 20,0). diabéticos que sofreram re-ampu- dor fantasma (46%), e as demais tação constituíram 50% dos casos. estão demonstradas na Figura 1. Sessenta e dois pacientes eram de cor branca e quatro par- O tempo médio entre a ampu- Quanto ao tipo de alta do tra- dos, em outros quatro prontuários tação e a avaliação inicial fisiotera- tamento, 47% foram por abando- não constavam esta informação. pêutica no CEAFIR foi de 12,6 meses no, 35,7% tiveram os objetivos al- Quanto ao nível de amputa- (desvio padrão de 23,4 meses; com cançados, 18% tiveram outro moti- ção, o membro inferior foi predo- tempo mínimo de um mês e máxi- vo como saída do tratamento como minante em 53 casos (75,71%) e o mo de 13 anos). Observamos que o reamputação, reparação do coto, membro superior em 17 prontuários número médio de sessões dos am- falta de transporte, retorno para ci- (24,28%). Quanto ao hemicorpo da putados foi de 44 sessões (desvio dade de origem. O perfil dos pacien- amputação, 52,86% foram acometi- padrão 49,1 sessões; mínimo de 2 tes que abandonaram o tratamento dos do lado direito, 42,86% do lado e máximo de 249 sessões); o que foi composto pelo sexo masculino, esquerdo, bilateralmente. corresponde a cerca de cinco meses etiologia vascular e amplo número Não houve associação entre mem- de tratamento. Os pacientes que de sessões de tratamento. bro afetado e o lado afetado (teste passaram pelo processo de prote- Observou-se ainda que para exato de Fisher - valor p=0,811). tização corresponderam a apenas o tipo de alta e as complicações 19,7% (14 pacientes). da amputação, pode-se construir 4,29% Nas amputações de membro superior, o que prevaleceu foi A principal complicação en- um modelo paramétrico. Por meio o nível abaixo do cotovelo (94%) contrada na avaliação inicial fisio- desse modelo foi possível verificar sendo a amputação de falange a de maior prevalência (76%). Apresentamos a descrição dos níveis de amputações nos membros superiores na Tabela 1. Nos membros inferiores as amputações acima do joelho consistiram em vinte e oito casos, com Tabela 1 - Distribuição do nível de amputação no membro superior. Nível da amputação Número de pacientes MMSS n % Transumeral 1 6 Transradial 2 12 predominância do nível transfemo- Desarticulação do cotovelo 1 6 ral, vinte e duas abaixo do joelho Tranfalangeana 13 76 (31,43%), conforme a Tabela 2, em Total 17 100 que não constam as amputações bilaterais. Ocorreram três amputações de ambos os membros inferiores, uma bilateral ao nível trans- Tabela 2 - Distribuição do nível de amputação no membro inferior. Nível da amputação Número de pacientes MMII n % Desarticulação do quadril 2 4 tibial e duas da mesma forma, em diferentes níveis sendo o membro inferior esquerdo ao nível transfemoral e o direito transtibial. Quando observada a etiologia das amputações, vimos que a maior ocorrência foi 52% dos casos por enfermidade, tendo como principal agente causal neste estudo o vascular, sendo o membro inferior Transfemoral 27 54 Transtibial 16 32 Desarticulação do tornozelo 1 2 Parcial do pé 3 6 Artelhos Total 1 2 50 100 o mais acometido 41,4%, apresentando como média de idade, 62,05 Tabela 3 - Distribuição da etiologia por sexo e quanto à média de idade. anos e desvio padrão de 12,77 anos. A distribuição da etiologia Etiologia % Sexo de maior freqüência Média Idade (anos) Masculino 62,05 (±12,77) conforme o sexo de maior preva- Enfermidade lência e a média de idade encon- Vascular 41,4 Tumoral 5,7 Feminino 40,67 (±25,50) Infecciosa 4,3 Masculino 57 (±11,31) Traumatismo 48 Masculino 35,42 (±13,67) tra-se na Tabela 3. Quanto às doenças associadas, eram portadores de diabetes mellitus 21,43% dos casos e de hiper- 52 Ter Man. 2010; 8(40):561-567 terapia manual 40.indd 563 25/5/2011 16:38:07 564 Caracterização de pacientes amputados. as variáveis que mais influencia- drão de 21,60 dias). Os que foram tretanto apresentaram complica- ram o tempo de tratamento. As va- amputados de membro inferior, ções riáveis influentes e os valores esti- permaneceram no tratamento em agudo como dor fantasma e ade- mados para estes coeficientes ana- média 446,88 dias (com um des- rência cicatricial, o que indica que lisados por meio do modelo de re- vio padrão de 96,69 dias corres- não receberam tratamento anterior gressão Weibull foram: alta por pondendo a três meses). No teste ou mesmo orientações quanto aos abandono, hipoestesia, hipotrofia e de log-rank, o valor estatístico foi cuidados com o coto. Em decorrên- boa cicatrização. de 2,66 e valor p de 0,10; indi- cia desse fato, necessitaram de um Por meio da Tabela 4, pode- cando que não houve diferença no tempo prolongado de tratamento. se observar que os pacientes que tempo médio de tratamento entre No entanto, observamos significa- abandonaram o tratamento, ficaram os amputados de diferentes níveis. tivo progresso no processo de re- em média menos tempo no serviço O gráfico da Figura 3 ilustra a pro- abilitação dos pacientes amputa- (valor do coeficiente positivo). babilidade do tempo de tratamento dos atendidos no CEAFIR/UNESP, para cada nível de amputação. pois 35,7% dos amputados tive- A hipoestesia e a hipotrofia consistiram em fatores que influenciaram o tempo de tratamento, pois características do período ram seus objetivos de tratamento DISCUSSÃO atingidos. os pacientes que apresentaram uma A população de pacientes am- Muitos autores citam o predo- destas complicações tiveram maior putados deste estudo foi constituí- mínio masculino em seus estudos, tempo de tratamento do que os que da em sua maioria pelo sexo mas- não possuíam na avaliação inicial. culino, acima dos 40 anos, com variando entre 70% e 86%, como em nosso achados(5,7-9). Quanto à Pacientes que apresentaram boa ci- amputação ao nível transfemoral média de idade dos pacientes, em catrização tiveram menor tempo de de etiologia vascular. Estes pacien- nosso estudo foi de 47,8 anos e a tratamento daqueles que apresen- tes chegaram ao serviço em perí- média citada em literatura é su- taram alguma alteração cicatricial odo crônico pós-amputação, en- perior a 60 anos, a qual abrange como deiscência ou de sensibilidade exacerbada. Quando analisado o tempo de tratamento de acordo com a causa, pacientes com etiologia traumática permaneceram em média 412,99 dias (≈ 13 meses) com desvio padrão de 166,19 dias (5 meses), já os que apresentaram enfermidade como etiologia tiveram tempo médio de tratamento de 381,82 dias (≈ 13 meses) com desvio padrão de 98,43 dias (3 meses). No teste de logrank, o valor estatístico foi de 0,23 e valor p de 0,63, indicando que não houve diferença no tempo médio de tratamento entre os dois grupos. O Gráfico Kaplan-Meier da Figura 2 ilustra a probabilidade do tempo de tratamento, em que o ponto no alto à esquerda corresponde ao nú- Figura 1 - Distribuição das complicações dos pacientes decorrentes da amputação na avaliação inicial. mero total de pacientes e cada degrau corresponde a um paciente que deixou o serviço, de modo a ilustrar os dados de todos os pacientes. Com relação ao tipo de amputação, os pacientes que tiveram o membro superior amputado (abai- Tabela 4 - Variáveis influentes no tempo de tratamento, valor do coeficiente estimado e erro padrão. Variável Coeficiente Erro padrão Alta por abandono 1,5571 0,3985 Hipoestesia 1,5048 0,4859 tratando em média 119,20 dias (≈ Hipotrofia 1,1182 0,3980 quatro meses com um desvio pa- Boa cicatrização -1,0223 0,8759 xo do cotovelo), permaneceram Ter Man. 2010; 8(40):561-567 terapia manual 40.indd 564 25/5/2011 16:38:07 Luciana Akemi Tamura Ozaki, José Carlos Camargo Filho, Mario Hissamitsu Tarumoto, Regina Celi Trindade Camargo. 565 prevalência em paciente acima dos 60 anos, sendo que os homens são mais acometidos pela amputação do que as mulheres(11). A amputação de membro inferior ocorreu em maior freqüência do que a de membro superior, corroborando com os resultados de encontrados no estudo do Lar Escola São Francisco, sendo a etiologia vascular predominante em indivíduos do sexo masculino e com mais de 50 anos(2,5,10,12). Outro autor cita que as causas das amputações variam de acordo com o nível sócio-demográfico dos países, pois nos países em desenvolvimento, há maior incidência da amputação devido à insuficiência vascular, dado compatível com nossos achados(13). Das amputaFigura 2 - Gráfico Kaplan-Meier do tempo de tratamento dos pacientes de acordo com a etiologia da amputação. O início da linha no alto à esquerda representa todos os pacientes, que conforme deixavam o serviço representam degraus no gráfico. ções de membros inferiores, verificamos a predominância do nível transfemoral, bem como nos demais trabalhos(2,5,8,12,14). Em um estudo em que foram analisadas as amputações maiores de membros inferiores por doença arterial periférica obstrutiva e diabetes, encontrando maior incidência de amputação transfemoral de etiologia vascular, da amputação transtibial e do pé devido à diabetes mellitus(2). Há ainda outro autor que acrescenta que pacientes diabéticos representam maior porcentagem dentre os que necessitam de re-amputação(15). Esses trabalhos vêem reforçar os resultados encontrados em nosso estudo onde obtivemos 50% dos casos de reamputação em indivíduos portadores de diabetes. As comorbidades de maior incidência apontadas em nosso estudo foram diabetes mellitus e hiperten- Figura 3 - Gráfico Kaplan-Meier do tempo de tratamento dos pacientes de acordo com o nível de amputação. são que são compatíveis às encontradas por dois autores que citam: diabetes mellitus, hipertensão arte- apenas amputações de membros Taiwan, Espanha, Itália, América rial, tabagismo, acidente vascular inferiores(1,2,5,10). do Norte e Inglaterra coletou infor- encefálico, infarto agudo do miocár- nossos mações do período de 1995 a 1997 dio e insuficiência renal crônica(12,16). achados, um estudo global sobre a e verificou que a incidência de am- amputação de extremidade inferior putação proporcional- pacientes amputados do Lar Es- que abrangeu centros no Japão, mente com a idade, e que há maior cola São Francisco de três perío- Contribuindo com aumenta Ao analisarem prontuários dos Ter Man. 2010; 8(40):561-567 terapia manual 40.indd 565 25/5/2011 16:38:07 566 Caracterização de pacientes amputados. dos, as autoras verificaram que o aos cuidados com o coto no pós- cientes com amputação transfemo- tempo de tratamento foi propor- operatório imediato. Medidas como ral e transtibial que utilizavam pró- cional ao tempo de amputação, ou enfaixamento e orientações quan- tese verificaram que os indivíduos seja; quanto maior o tempo entre to ao posicionamento e à postura amputados de nível transfemoral a amputação e a entrada no servi- poderiam prevenir a dor, a sensa- relataram maior dificuldade na co- ço de reabilitação, maior o tempo ção fantasma, edema, contraturas, locação da prótese e uma taxa de de tratamento necessário para re- deformidades(21). queda significativamente maior(24). abilitação deste paciente. Encon- A presença de diversas com- A importância do uso da próte- traram que o tempo médio entre plicações resultou na necessidade se se deve à possibilidade de maior a amputação e o exame inicial no de maior tempo de tratamento, o mobilidade e independência dos centro de reabilitação foi de 19,6 que gerou maior índice de aban- amputados. Esse fato é reforçado meses, e tempo de tratamento dono do tratamento principalmen- pelo estudo em que os estudiosos de 10,7 meses(5). Os pacientes do te na fase anterior ao processo de compararam o gasto energético em nosso serviço iniciaram o tratamen- protetização. Foi identificado em paciente amputado transtibial com to após 12,6 meses de amputação e um trabalho sobre a freqüência, as prótese e muleta. E apontaram que necessitaram em média de 5 meses causas e fatores de risco da inter- há menor gasto energético na de- de tratamento, o que demonstrou rupção da reabilitação que houve ambulação com a prótese e, portan- a de 30% de interrupções da reabilita- to, o amputado pode percorrer uma menor tempo entre a amputação e ção e concluíram que o alto índice distância maior do que com as mu- menor tempo de tratamento. de interrupção do tratamento es- letas. Essas autoras ainda alertam mesma proporcionalidade, A dor fantasma foi a complica- tava associado com o gênero fe- que o risco cardiovascular deve ser ção de maior incidência em nossa minino, doença vascular periférica, considerado ao se prescrever mule- população de amputados (46%), decrescente tempo da amputação tas, pois resultará em uma menor percentual encontrado pela revi- para a reabilitação(22). Diferente- distância percorrida com um maior são de literatura sobre a incidência mente do nosso estudo em que en- gasto energético(25). da dor fantasma em pacientes sub- contramos que o perfil dos pacien- Em uma revisão da literatura metidos à amputação de membros, tes que abandonaram o tratamen- sobre a capacidade física e a ha- que encontraram uma porcentagem to composta pelo sexo masculino, bilidade de andar após a amputa- ampla variando de 26 a 80%. de etiologia traumática e com va- ção de membro inferior, os autores riados número de sessões de tra- apontaram que a amputação de tamento. membro inferior por si só apresen- Do total de 11 estudos, 8 apresentaram percentual acima dos 50%(17). A dor fantasma teve Devido ao prolongado tempo maior porcentagem em outros dois de tratamento, poucos são os pa- força muscular(26). Dado relevante estudos, ambos com 80%, e ape- cientes que concluem a reabilita- visto que nosso estudo encontrou nas um estudo citou que 67,7% ção protetizados, aproximadamen- a perda de força muscular em 37% relatam dor no coto e 62,3% dor te 20% neste estudo, percentu- dos pacientes amputados. lombar(18,19). Um estudo sobre a dor al próximo ao encontrado no es- A reabilitação em âmbito mul- fantasma e no coto de amputação tudo dos pacientes amputados do tidisciplinar consiste na possibilida- cita que a dor no coto ocorre em 15 Lar Escola São Francisco de três de do indivíduo portador de defi- a 66% dos que possuem dor fan- períodos(5). ciência superar suas dificuldades ta forte indício na deterioração da tasma quanto 50% dos sem dor Em um estudo sobre o uso da de ordem física, psicologia, social fantasma apresentam dor no coto prótese os autores citaram os fato- e profissional, visando participar sugerindo que ambas as complica- res que estavam associados a uma de forma mais completa e ativa de ções poderiam ter associação(20). maior utilização da prótese em pa- sua vida(27). Em nosso serviço, verificamos que as principais cientes com amputação de memCONCLUSÃO complicações bro inferior que constavam de in- da amputação na avaliação inicial divíduos mais jovens, com ampu- A partir desses dados observa- foram características do período tação distal, de etiologia traumáti- mos a importância do encaminha- agudo, apesar de uma significativa ca e sem dor fantasma, perfil esse mento do paciente amputado a um parcela iniciar o tratamento em pe- que difere do resultado por nós en- serviço de reabilitação principalmen- ríodo crônico. Esse fato sugere que contrado, o que poderia explicar a te em estágio precoce, o que prova- os pacientes amputados não reali- pequena porcentagem de proteti- velmente reduziria o tempo de tra- zaram tratamento antes desse pe- zados em nosso estudo(23). tamento e aumentaria a possibilida- ríodo quanto ao posicionamento e Os autores que analisaram pa- de de sucesso da protetização. Ter Man. 2010; 8(40):561-567 terapia manual 40.indd 566 25/5/2011 16:38:07 Luciana Akemi Tamura Ozaki, José Carlos Camargo Filho, Mario Hissamitsu Tarumoto, Regina Celi Trindade Camargo. 567 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Gamba MA, Gotlieb SLD, Bergamaschi DP, Vianna LAC. Amputações de Extremidades Inferiores por Diabetes Mellitus: estudo caso controle. Revista de Saúde Pública. 2004;38(3). 2. Spichler D, Miranda Junior F, Stambovsky SE, FrancoL J. Amputações maiores de membros inferiores por doença arterial periférica e diabetes melito no município do Rio de Janeiro. J Vasc Br 2004;3(2):111-22. 3. Sampol AV. Tratamento fisioterápico no amputado de membro inferior no período ambulatorial. Fisio Ter 2000; 2(1):16-30. 4. Schweitzer PB, Miquelluti DJ. Fisioterapia ortopédica e medicina ortopédica. Fisioter Bras 2004;5(5):375-9. 5. Cassefo V, Nacaratto DC, Chamliam TR. Perfil epidemiológico dos pacientes amputados do Lar Escola São Francisco – estudo comparativo de 3 períodos diferentes. Acta Fisiátrica. 10(2): 67-71, 2003. 6. Colosimo EA, Giolo SR. Análise de sobrevivência aplicada. Ed. Edgard Blücher. 2006. 7. Schoppen T, Boonstra A, Groothoff JW, Vries J, Goëken LN, Eisma WH. Physical, Mental, and Social Predictors of Functional Outcome in Unilateral Lower-Limb Amputees. Arch Phys Med Rehabil;2003(84). 8. Luccia N, Pinto MAGS, Guedes JPB, Albers MTV. Rehabilitation after amputation for vascular disease: a follow-up study. Prosthetics and Orthotics International, 1992,16,124-128. 9. Legro MW, Reiber GE, Czerniecki JM, Sangeorzan BJ. Recreational activities of lower-limb amputees with prostheses. Journal of Rehabilitation Research and Development. 2001:38(3). 10. Peng CW, Tan SG. Perioperative and rehabilitative outcomes after amputation for ischaemic leg gangrene. Ann Acad Med Singapore. 2000 Mar;29(2):168-72. 11. Leite CF, Frankini AD, DeDavid EB, Haffner J. Análise retrospectiva sobre a prevalência de amputações bilaterais de membros inferiores. J Vasc Br 2004;3(3)206-213. 12. O’Neill B. Cognition and mobility rehabilitation following lower limb amputation. In: Gallagher P, Desmond D, MacLachlan M. Psychoprosthetics: Springer London; 2008 p. 53-65. 13. Dillingham TR, Pezzin LE, Mackenzie EJ. Discharge destination after dysvascular lower-limb amputations. Arch Phys Med Rehabil. 2003 Nov;84(11):1662-8. 14. Global Lower Extremity Amputation Study Group. Epidemiology of lower extremity amputation in centres in Europe, North America and East Asia. The Global Lower Extremity Amputation Study Group. Br J Surg. 2000 Mar;87(3):328-37. 15. Carvalho FS, Kunz VC, Depieri TZ, Cervelini R. Prevalência de amputação em membros inferiores de causa vascular: análise de prontuários. Arq. Ciênc. Saúde Unipar, Umuarama. 2005;9(1), jan./abr. p.23-30. 16. Lim TS, Finlayson A, Thorpe JM, Sieunarine K, Mwipatayi BP, Brady A, Abbas M, Angel D. Outcomes of a contemporary amputation series. ANZ J Surg. 2006 May;76(5):300-5. 17. Probstner D, Thuler LCS. Incidência e prevalência de dor fantasma em pacientes submetidos à amputação de membros: revisão de literatura. Revista Brasileira de Cancerologia 2006; 52(4): 395-400. 18. Ephraim PL, Wegener ST, MacKenzie EJ, Dillingham TR, Pezzin LE. Phantom pain, residual limb pain, and back pain in amputees: results of a national survey. Arch Phys Med Rehabil. 2005 Oct;86(10):1910-9. 19. Schwarzer A, Zenz M, Maier C. Therapy of phantom limb pain. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther. 2009 Mar;44(3):174-80. 20. Teixeira MJ, Imamura M, Calvimontes RCP. Dor fantasma e no coto de amputação. Rev. Med., São Paulo. 1999;78 (2 pt.2):192-6. 21. Carvalho JA – Amputações de membros inferiores. Em busca da plena reabilitação. 2. ed. Ed. Manole, 2003. 22. Meikle B, Devlin M, Garfinkel S. Interruptions to amputee rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil. 2002 Sep;83(9):1222-8. 23. Raichle KA et al. Prosthesis use in persons with lower- and upper-limb amputation. J Rehabil Res Dev. 2008;45(7):961-72. 24. Gauthier-Gagnon C, Grisé MC, Potvin D. Enabling factors related to prosthetic use by people with transtibial and transfemoral amputation. Arch Phys Med Rehabil. 1999 Jun;80(6):706-13. 25. Gaspar AP, Ingham SJM, Chamlian TR. Gasto energético em paciente amputado transtibial com prótese e muletas. Acta Fisiátrica. 2003;10(1): 32-34. 26. van Velzen JM, van Bennekom CA, Polomski W, Slootman JR, van der Woude LH, Houdijk H. Physical capacity and walking ability after lower limb amputation: a systematic review. Clin Rehabil. 2006 Nov;20(11):999-1016. 27. Benedeto KM, Forgione MCR, Alves VLR. Reintegração corporal em pacientes amputados e a dor-fantasma. Acta Fisiátrica 2002;9(2):85-89. Ter Man. 2010; 8(40):561-567 terapia manual 40.indd 567 25/5/2011 16:38:07 568 Artigo Original Efeitos do relaxamento muscular progressivo em pacientes fibromiálgicos. Effects of progressive muscle relaxation in patients with Fybromialgia Syndrome. Felipe Ribeiro Cabral Fagundes(1), Amanda Guadix Viganó(1), Graziela Pilan(2), Vanessa Aparecida Miranda de Carvalho(2), Alex Sandra Oliveira de Cerqueira Soares(3), Areolino Pena Matos(3). Universidade de Taubaté – UNITAU – São Paulo – Departamento de Fisioterapia Resumo Introdução: A fibromialgia é descrita como uma síndrome dolorosa crônica não inflamatória caracterizada por dor em 11 de 18 pontos sensíveis à palpação persistente por mais de 90 dias. A redução da tensão muscular pode auxiliar na diminuição da dor e da ansiedade de portadores de fibromialgia fato que repercute de forma positiva na qualidade de vida desta população. Obejetivo: Assim este estudo teve como objetivo avaliar o efeito do relaxamento muscular sobre a qualidade de vida de mulheres portadoras de fibromialgia, por meio do questionário SF-36. Método: A amostra do presente estudo foi composta por 16 voluntárias com diagnóstico de fibromialgia clínico de fibromialgia. A intervenção incluiu um programa de relaxamento muscular progressivo com duração de quarenta minutos realizado três vezes por semana em dias alternados por um período de seis semanas. Os escores do SF-36 foram comparados pré e pós-intervenção fisioterapêutica, utilizando o método estatístico não – paramétrico de Wilcoxon para dados dependentes. Resultados: Os resultados da pesquisa revelam que cinco (capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor, vitalidade e saúde mental) dos oito domínios obtiveram melhora estatisticamente significante nas comparações entre a avaliação inicial e final. As exceções ocorreram nos domínios: estado geral de saúde, aspectos sociais e aspectos emocionais. Conclusão: O programa de relaxamento muscular progressivo executado neste estudo sugere promover melhora na qualidade de vida de mulheres com fibromialgia. Palavras-chave: fibromialgia, relaxamento muscular, qualidade de vida, fisioterapia Abstract Introdution: Fibromyalgia syndrome is described as a noninflammatory pain syndrome characterized by chronic pain in 11 of 18 tender points lasting for more than 90 days during palpation. The reduction of muscle tension may help in reducing pain and anxiety of patients with fibromyalgia, it can positively impacts this patients quality of life. Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of muscle relaxation on the quality of life in fibromyalgia women’s through the SF-36 quality of life questionnaire. Methods: Sixteen volunteers with clinical diagnosis of fibromyalgia syndrome. The intervention included a progressive muscle relaxation program with duration of forty minutes, performed three times a week for six weeks. The scores of SF-36 were compared before and after the physiotherapy intervention, using Wilcoxon test for dependent data. Results: The results showed that Five (functional capacity, limited by physical, pain, vitality and mental health) of the eight areas of the SF-36 had improvement statistically significant in comparisons between baseline and final. The exceptions were general health, social and emotional aspects. Conclusion: The progressive muscle relaxation program performed in this study suggests improves in quality of life of women with fibromyalgia. Key-words: Fibromyalgia, muscle relaxation, quality of life, physical therapy Artigo recebido em 9 de agosto de 2010 e aceito em 28 de outubro de 2010. 1 Discente do curso de Fisioterapia – Universidade de Taubaté – UNITAU, Taubaté, SP, Brasil 2 Fisioterapeuta formada pela Universidade de Taubaté, SP, Brasil 3 Mestre e docente do curso de Fisioterapia – Universidade de Taubaté – UNITAU, Taubaté, SP, Brasil Endereço para correspondência: Av. Marechal Arthur da Costa e Silva, 1055 - Taubaté,SP, Brasil - Cep: 12010-490 - Tel.: 12-3621-9400 - Email: [email protected] Ter Man. 2010; 8(40):568-572 terapia manual 40.indd 568 25/5/2011 16:38:07 Felipe R. C. Fagundes, Amanda G. Viganó, Graziela Pilan, Vanessa A. M. Carvalho, Alex Sandra O. C. Soares, Areolino P. Matos INTRODUÇÃO 569 comportar-se da melhor maneira de de vida utilizou-se o questioná- A fibromialgia é definida como para obter o máximo rendimento rio Brasil SF-36 composto de oito uma síndrome (identificada como com o mínimo gasto energético(17). domínios, perfazendo trinta e seis multifatorial mais do que uma dis- A partir desta afirmação Jacobsen(17) questões. Fazem parte do ques- função específica), dolorosa crôni- desenvolveu o relaxamento muscu- tionário dez questões para avalia- ca, não inflamatória(1,2). A caracte- lar progressivo o qual tem como ção da capacidade funcional, qua- rística clínica é a presença de dor objetivo diminuir a tensão muscu- tro para análise dos aspectos físi- generalizada (tanto no hemicor- lar por meio do trabalho dos prin- cos, duas para dor, cinco para o es- po direito como no esquerdo, tanto cipais grupos musculares de forma tado geral de saúde, quatro para acima quanto abaixo da linha da sistemática. A aplicação da técnica vitalidade, dois para aspectos so- cintura), referida nos ossos, ten- deve ultrapassar o tratamento clíni- ciais, três para aspectos emocio- dões, articulações e músculos. Sua co do paciente, assim esta deve ser nais, cinco de saúde mental e uma etiologia ainda é desconhecida, aprendida e praticada em momen- questão de avaliação comparati- mas há evidências de fatores parti- tos e situações que envolvam o au- va entre as condições de saúde cipantes na fisiopatologia da doen- mento do estresse e da tensão ça, como a desregulação neuromodulatória central (3,4,5,6) . A patologia ocorre com maior freqüência em mulheres (80% dos (15) . tuação final varia de 0 a 100 pon- jetivo avaliar o efeito do relaxa- tos, sendo zero pior e 100 melhor mento muscular em mulheres com resultado. fibromialgia. casos são mulheres entre os 30 e 55 anos), podendo acometer in- atual e de um ano atrás. A pon- Esta pesquisa teve como ob- Método METODOLOGIA Os questionários foram auto- divíduos jovens e idosos(2,7). Além Este estudo foi aprovado pelo respondidos pelas dezesseis volun- disso, a doença atinge principal- Comitê de Ética em Pesquisa da tárias, após leitura simultânea dos mente pessoas de nível social e Universidade de Taubaté sob o nú- itens por um pesquisador antes e educacional altos(7). mero 114/08, segundo as Diretri- após a intervenção fisioterapêuti- O critério de classificação da zes e Normas Regulamentadoras ca. fibromialgia se faz pela presença de Pesquisa envolvendo Seres Hu- de dor por mais de noventa dias à manos, constantes da Resolução tica adotada foi a aplicação da palpação digital em 11 dos 18 pon- do Conselho Nacional de Saúde técnica de relaxamento muscu- tos sensíveis específicos (tender 196/96 e Declaração de Helsinky lar progressivo descrita e conhe- points)(1,8). de 1975, revisada em 2000. Ini- cida na literatura como protocolo Os fibromialgicos devido ao im- cialmente as voluntárias foram es- de Jacobsen(17). As sessões de re- pacto severo dos sintomas, muitas clarecidas a respeito dos procedi- laxamento foram realizadas três vezes se apresentam desmotivados mentos adotados e após concor- vezes por semana em dias alterna- e incapacitados para a realização das darem em participar da pesquisa, dos num período de seis semanas tarefas diárias(9,10). Estes sofrem de assinaram um termo de consenti- de tratamento. Cada sessão teve a alterações do bem-estar, da funcio- mento livre e esclarecido. duração de quarenta minutos. So- nalidade física, social e cognitiva(11) fato que interfere na qualidade de vida dos portadores da doença. A intervenção fisioterapêu- mente um pesquisador aplicou o Casuística relaxamento durante todo o perío- Foram selecionadas 16 vo- do de tratamento. A sessão era ini- A redução da tensão muscular luntárias do sexo feminino (49±6 ciada com as participantes, orien- pode auxiliar na diminuição da dor e anos) com diagnóstico clínico de fi- tadas para o uso de roupas leves, da ansiedade dos portadores de fi- bromialgia há pelo menos um ano deitadas em um colchonete com bromialgia fatores que contribuem (tempo de diagnóstico: 3,5±1,5 braços e pernas estendidos. A ses- para o desenvolvimento de um es- anos) as quais não realizavam tra- são era sempre acompanhada por tado de tranqüilidade emocional tamento fisioterapêutico há no mí- músicas lentas. que repercute de forma positiva na nimo três meses. Todos os procedi- qualidade de vida desta população mentos adotados durante este es- (15,16) . Normalmente, estes pacientes tudo foram realizados na Clínica Es- Os escores do SF-36 foram apresentam dificuldade para relaxar cola do Departamento de Fisiotera- comparados pré e pós-interven- verdadeiramente fator que aponta a pia da Universidade de Taubaté. ção fisioterapêutica através do mé- necessidade da inclusão de técnicas Análise estatística todo estatístico não – paramétrico de relaxamento muscular no trata- Instrumentos de Avaliação e de Wilcoxon para dados dependen- mento desta patologia. Materiais utilizados tes. O nível de significância utiliza- Relaxar significa aprender a Para a avaliação da qualida- do foi 0,05. Ter Man. 2010; 8(40):568-572 terapia manual 40.indd 569 25/5/2011 16:38:07 570 Relaxamento muscular na fibromialgia. RESULTADOS dade e depressão e assim atuam DISCUSSÃO Os resultados deste traba- A fibromialgia é um uma sín- de forma importante nos aspectos lho foram obtidos através de es- drome ainda pouco compreendi- psicológicos relacionados a doen- cores, calculados de acordo com da deste modo, evidências cien- ça. Neste aspecto a técnica reper- as normas exigidas pelo questio- tíficas sobre a melhor abordagem cutiu de forma positiva nos aspec- nário SF-36, que possibilitaram a terapêutica não são consistentes. tos vitalidade e saúde mental, já análise dos oito domínios: capaci- A participação efetiva do paciente os aspectos emocionais e sociais e dade funcional (CF – p=0,007*), no tratamento é fundamental para o estado geral da saúde não apre- limitação físicos o tratamento da patologia para tal sentaram (LAF – p=0,009*), dor (DOR – este deve assumir uma postura vas. p=0,02*), estado geral de saúde ativa em relação a sua doença, por Na análise dos resultados no- (EGS – p=0,116), vitalidade (VIT meio da prática de esportes, da ta-se que estes últimos domínios – p=0,035*), aspectos sociais (AS mudança de seus hábitos de vida apresentavam – p=0,145), aspectos emocionais em conjunto com a associação da fato que levanta a hipótese que (LAE – p=0,171) e saúde mental terapia por medicamentos(6,7,15) . estes não se apresentavam clini- por aspectos Os resultados deste estudo (SM– p<0,001*). indicaram a eficácia da técnica de Tabela 1 - Escores SF-36. Momentos p-valor Pré CF 0,007* Pós Pré LAF 0,009* Pós Pré DOR 0,020* mudanças significati- escores maiores camente alterados no período préintervenção. relaxamento muscular progressivo De acordo com Vitorino et como proposta terapêutica para a al.(13) não foi possível encontrar na patologia. A melhora da qualida- literatura nenhum trabalho que de- de de vida das pacientes subme- finisse critérios mínimos de melho- tidas ao tratamento proposto cor- ra clínica utilizando o questioná- robora com os estudos de Brasio rio SF-36, sendo incorreto afirmar- et al.(18) e Paula et al.(16) que de- mos que esta ausência da diferen- fendem a hipótese de que a técni- ça no cálculo não signifique melho- ca de relaxamento possibilita a re- ra qualitativa de vida. dução do nível de estresse, ansie- A técnica de relaxamento Pós Pré EGS 0,116 Pós Pré VIT 0,035* Pós Pré AS 0,145 Pós Pré LAE 0,171 Pós Pré SM <0,001* Pós CF - Capacidade Funcional; LAF - Aspectos Físicos; EGS - Estado Geral de Saúde; VIT - Vitalidade; AS - Aspectos sociais; LAE - Aspectos Emocionais; SM - Saude Mental. Figura 1 - médias da pontuação de cada domínio do questionário SF-36 pré e pós intervenção. Como as voluntárias responderam ao questionário antes e Tabela 2 - Média e Mediana no pré e pós intervenção fisioterapêutica. após a intervenção, para cada um dos domínios obtiveram-se dois escores respectivamente. Por tratarmedianas de cada domínio, reprecritas com a média na Tabela 2: LAF DOR EGS VIT AS AE SM Média 47,81 18,75 21,94 53,94 45,31 50,00 27,09 48,75 Mediana 45 0 22 52,5 45 56,3 0 50 Média 62,19 56,25 37,94 61,94 57,81 57,81 43,74 63,00 Mediana 70 50 31 63,5 50 50 33,3 64 PRÉ se de valores, foram calculadas as sentadas no gráfico abaixo e des- CF PÓS Ter Man. 2010; 8(40):568-572 terapia manual 40.indd 570 25/5/2011 16:38:07 Felipe R. C. Fagundes, Amanda G. Viganó, Graziela Pilan, Vanessa A. M. Carvalho, Alex Sandra O. C. Soares, Areolino P. Matos 571 muscular progressivo, dentre ou- sessenta dias de aplicação da téc- tem sido reconhecida no campo da tros tratamentos propostos é um nica e assiduidade das voluntárias saúde como conhecimento científi- dos recursos que auxiliam na re- para garantir resultados expressi- co, permitindo uma avaliação mais dução da tensão muscular fato que vos após o uso do programa de re- objetiva de sintomas tão subjeti- trouxe resultados positivos para laxamento muscular progressivo(15). vos, como ansiedade, depressão, domínios ligados aos aspectos físi- Em função da menor periodicidade dor, entre outros(12,13,14). Como no cos, capacidade funcional e limita- da aplicação da técnica optou-se trabalho de Sabbag et al.(25)o pre- ção por aspectos físicos. Possivel- no presente estudo em aumentar a sente estudo também utilizou o mente a técnica foi capaz de pro- duração das sessões fato que pro- SF-36 traduzido e adaptado para a mover a diminuição da rigidez dos porcionou resultados positivos. população brasileira, composto por pontos gatilhos e, com isto, o mús- São diversos os estudos que oito domínios, cada um variando culo tornou-se novamente funcio- utilizam diferentes tipos de tera- de 0 – pior, a 100 – o melhor es- nal levando a maior independência pias, todos voltados para a melho- tado de saúde, tal estudo avaliou do indivíduo. ra da qualidade de vida de pacien- o efeito do condicionamento físi- Observou-se que a dor, quei- tes fibromiálgicos, Sim et al.(22) de- co em mulheres com fibromialgia xa freqüente e altamente incapaci- monstraram que além da atividade durante o período de 12 meses, tante, melhorou de forma significa- física, relaxamento e terapia psi- os resultados de capacidade fun- tiva, resultado que indica que me- cossocial devem ser incorporados cional aeróbica, dor e qualidade lhora nas condições físicas e psico- para adequado controle dos fatores de vida apresentaram melhora ao lógicas influenciam na redução de físicos e psicológicos. Richards(23) e final do período, entretanto, ape- uma das principais queixas destes Burnetti(24) demonstraram que o nas a capacidade funcional aeró- doentes. uso de exercícios aeróbicos no tra- bica apresentou melhora nos pri- Acredita-se que a técnica de tamento destes pacientes promo- meiros três meses. Em nosso es- relaxamento proporciona a tran- ve o alívio das tensões musculares. tudo obtivemos melhora na quali- qüilidade necessária para o indi- Segundo Provenza et al.(2)as ati- dade de vida e dor já no primeiro víduo se reorganizar e refletir o tudes do paciente são de extrema trimestre. significado da dor em sua vida(6). importância na evolução da doen- Certamente a ausência de um Assim, o programa de relaxamen- ça, por isso, ele deve assumir uma grupo controle é umas das limita- to muscular progressivo deve ser atitude positiva frente às propos- ções do presente estudo. Tal grupo praticado e incorporado no esti- tas estabelecidas pelo tratamento proporcionaria um maior poder de lo de vida do individuo, auxiliando e seus sintomas. comparação e análise dos resulta- e neutralizando os efeitos do es- A melhora de cinco domínios dos, fato que reconhecidamente tresse, beneficiando as sensações e a falta de significância estatísti- caracteriza uma limitação metodo- individuais e reduzindo a tensão ca para três, reforça o pensamento lógica desta pesquisa. Sugerimos muscular. dos presentes autores que acredi- avaliações seqüenciais destas pa- O tratamento medicamento- tam que a abordagem do paciente cientes por períodos maiores, para so aplicado como única alternativa com fibromialgia é um desafio, pois que se possa analisar qual a dura- não tem demonstrado resultados a literatura não aponta uma terapia ção do efeito da técnica e seus re- suficientes para o controle da sin- realmente eficaz. Assim, é neces- sultados em longo prazo. tomatologia da fibromialgia e me- sário um programa de tratamento O presente estudo tem sua lhora da qualidade de vida assim multidisciplinar composto por fisio- importância tendo em vista o baixo é necessário a sua associação com terapia, farmacoterapia, atividade custo da aplicação da técnica, além outros métodos terapêuticos como física e terapia psicossocial(25) de ser de fácil compreensão e exe- acupuntura, programas educacio- É fundamental que a decisão cognitivo-compor- para o tratamento seja tomada em tamental e fisioterapia que inclui conjunto entre o terapeuta e pa- massoterapia, alongamento mus- ciente, a opinião de ambos deve nais, terapias (19,20,21) cução na rotina clínica e no dia a dia das pacientes. CONCLUSÃO . ser considerada e é imprescindí- O programa de relaxamen- O tratamento fundamental exerce vel que possíveis benefícios, efei- to muscular progressivo executa- papel fundamental no controle dos tos colaterais, custos e prognósti- do neste estudo sugere promover sintomas. co sejam detalhadamente esclare- melhora na qualidade de vida de cidos ao paciente. mulheres com fibromialgia, quan- cular, exercícios aeróbicos Em relação a periodicidade do tratamento Chaitow afirma que A utilização de questionários é necessária o período mínimo de para avaliar a qualidade de vida do avaliadas pelo questionário SF-36. Ter Man. 2010; 8(40):568-572 terapia manual 40.indd 571 25/5/2011 16:38:08 572 Relaxamento muscular na fibromialgia. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. HIRAKUI, T. Acupuntura, uma terapêutica alternativa no tratamento da Fibromialgia. [2002] [online]. Disponível em: <http://www.interfisio.com.br/index.asp?fid=105&ac=1&id=6> . Acesso em 08 mar. 2008. PROVENZA, J.R.; POLLAK, D.F.; MARTINEZ, J.E.; PAIVA, E.S.; HELFENSTEIN, M.; HEYMANN, R.; MATOS, J.M.C.; SOUZA, E.J.R. Fibromialgia. Revista Brasileira de Reumatologia, v.44, n.6, p.443-449, 2004. BARBOSA, J. S.; DACH, F.; SPECIALI, J. G. Relação entre cefaléia primária e fibromialgia: Revisão de Literatura. Revista Brasileira de Reumatologia, v. 47, n.2, p. 114-120, mar/abr 2007. CABALLERO, C.V. Controversias en fibromialgia (FMS). Revista Colombiana de Reumatología, v. 6, n. 2, p. 186190, 1999. PAGANO, T.; MATSUTANI, L. A.; FERREIRA, E. A. G.; MARQUES, A. P.; PEREIRA, C. A. B. Assessment of anxiety and quality of life in fibromyalgia patients. São Paulo Medical Journal, v.122, n. 6, p. 252-258, 2004. VITORINO, D.F.M.; PRADO, G.F. Intervenções fisioterapêuticas para pacientes com fibromialgia atualização. Revista neurociências, v. 12, n. 3, p. 152-156, jul/set 2004(b). SCOTTON, A. S.; FRAGA, R. O. Como Diagnosticar e Tratar Fibromialgia. Revista Brasileira de Medicina [online]. 2000; 57(12). Disponível em: <http://www.cibersaude.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=583>. Acesso em: 19 out. 2008. PRIDMORE, S.; ROSA, M.A. Fibromialgia para o psiquiatra. Revista de Psiquiatria Clínica, v. 29, n .1, p. 33-41, 2002. MANNERKORPI, K.; AHLMEN, M.; EKDAHL, C. Six- and 24-month follow-up of pool exercise therapy and education for patients with fibromyalgia. Scandinavian Journal Rheumatology, v. 31, n. 5, p. 306-10, 2002. VALIN, V.; BARROS, T.L.; FELDMAN, D.; NATOUR, J. Fibromialgia e Exercícios Físicos. Sinopse de Reumatologia [online]. Nov. 1999, n.3. Disponível em: <http://www.cibersaude.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_ materia=2278>. Acesso em: 08 mar. 2008. SPIRDUSO, W.W.; CRONIN D.L. Exercise dose-response effects on quality of life and independent living in older adults. Med. Sc. Sports Exerc., v. 33, n. 6, p. 598-608, 2001. MARQUES, A.P.; SANTOS, A.M.B; ASSUMPÇÃO,A.; MATSUTANI, L.A.; LAGE, L.V.; PEREIRA, C.A.B. Validação da versão brasileira do Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ). Revista Brasileira de Reumatologia, v. 46, n. 1, p. 24-31, jan/fev. 2006. VITORINO, D.F.M.; MARTINS, F.L.M.; SOUZA, A.C.; GALDINO, D.; PRADO, G.F. Utilização do SF-36 em ensaios clínicos envolvendo pacientes fibromialgicos: determinação de critérios mínimos de melhora clínica. Revista neurociências, v. 12, n. 3, p. 147-151, Jul/Set 2004(a). CICONELLI, R. M.; FERRAZ, M. B.; SANTOS, W.; MEINÃO, I.; QUARESMA, M. R. Tradução para língua portuguesa e validação do questionário genérico de avaliação de qualidade de vida SF-36 (Brasil SF-36). Revista Brasileira de Reumatologia, v. 39, n. 3, p. 143-150, 1999. CHAITOW, L. Síndrome da Fibromialgia: Um guia para o tratamento. 1. ed., São Paulo: Manole, 2002. cap.12, p. 153-179. PAULA, A.A.D.; CARVALHO, E.C.; SANTOS, C.B.; The use of the “Progressive muscle relaxation” technique for pain relief in gynecology and obstetrics. Revista Latino-americana de Enfermagem, v. 10, n. 5, p. 654-9, 2002. PERSSON, A.L.; VEENHUIZEN, H.; ZACHRISON, L.; GARD, GUNVOR. Relaxation as treatment for chronic musculoskeletal pain – a systematic review of randomised controlled studies. Physical Therapy Reviews. v. 13, n. 5, p. 355-365, 2008. BRASIO, K.M.; LALONI, D.T.; FERNANDES, Q.P.; BEZERRA, T.L. Comparação entre três técnicas de intervenção psicológica para tratamento da fibromialgia: treino de controle de stress, relaxamento progressivo e reestruturação cognitiva. Rev. ciências médicas, v. 2, n. 4, p.307-318, 2003. WEIDEBACH, W.F.S. Fibromialgia: evidências de um substrato. Rev Assoc Med Bras, v. 48, n. 4, p. 275-96, 2002. BRESSAN, L. R.; MATSUTANI, L. A.; ASSUMPÇÃO, A.; MARQUES, A. P.; CABRAL, C. M. N. Efeitos do alongamento muscular e condicionamento físico no tratamento fisioterápico de pacientes com fibromialgia. Rev Bras Fisioter., v. 12, n. 2, p. 88-93, 2008. SARZI-PUTTINI, P.; BUSKILA, D.; CARABBA, M.; DORIA, A.; ATZENI, F. Treatment strategy in fibromyalgia syndrome: where are we now?. Pain. v. 37, n. 6, p. 353-365, 2008. SIM J.; ADAMS N. Systematic review of randomized controlled trials of nonpharmacological interventions for fibromyalgia. Clin J Pain. Sep-Oct; 18(5):324-36. 2002. RICHARDS, S.C.M.; SCOTT, D.L. Prescribed exercise in people with fibromyalgia: parallel group randomized controlled trial. BMJ, July, v. 325, p. 1-4, 2002. BURNETTI, C.N; GLENN, T.M. Princípios do exercício aeróbico. In: KISNER, C.; COLBY, L.A. Exercícios terapêuticos: Fundamentos e Técnicas. 3. ed. Barueri, Manole, 1998. p. 110-139. SABBAG, L. M. S.; PASTORE, C. A.; JÚNIOR, P. Y.; MIYAZAKI, M. H.; KAZIYAMA, H. H. S.; BATTISTELLA, L. R. Efeitos do Condicionamento Físico sobre Pacientes com Fibromialgia. Rev Bras Med Esporte, v. 13, n. 1, p. 6-10, jan/fev 2007. Ter Man. 2010; 8(40):568-572 terapia manual 40.indd 572 25/5/2011 16:38:08 573 Artigo Original Comparação do equilíbrio e qualidade de vida entre idosos institucionalizados e nãoinstitucionalizados. Comparison of the balance and quality of life between institutionalized and non-institutionalized elders. Antônio Francisco de Almeida Neto (1) , José Adolfo Menezes Garcia Silva (2) , Marcelo Tavella Navega (3) . Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”- Faculdade de Filosofia e Ciências, campus de Marília – Departamento de Educação Especial Resumo Introdução: os avanços feitos na área da saúde possibilitaram que a expectativa de vida dos brasileiros aumentasse. Sendo assim, mais pessoas ficam idosas, passando por diversos processos comuns ao envelhecimento, como a diminuição do equilíbrio. Resultante disso aumenta o risco de quedas, que são eventos que afetam negativamente a qualidade de vida. O fato de mais pessoas tornarem-se idosas fez com que aumentasse a taxa de institucionalização. Objetivos: comparar o desempenho do equilíbrio e qualidade de vida entre idosos institucionalizados e não-institucionalizados; correlacionar Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) com o teste Timed Up and Go (TUG) e com o questionário “The Medical Outcome Study 36 – Item Short-Form Health Survey” (SF-36). Métodos: Foram avaliados 20 sujeitos idosos, dez institucionalizados e dez não-institucionalizados. Para avaliar o equilíbrio foram utilizadas a EEB e o TUG, a qualidade de vida foi avaliada com o SF-36. Foi adotado nível de significância de 5% (p<0,05). O programa GraphPad Prism 5# foi utilizado para as análises. Para identificar o comportamento da distribuição dos dados, aplicou-se o teste de Shapiro-Wilk. Na comparação entre os grupos, os dados com distribuição normal foram analisados pelo teste t de Student não pareado. Os dados com distribuição não normal foram analisados com o teste não-paramétrico de MannWhitney. As correlações foram analisadas pelos testes Pearson (dados normais) e Spearman (não-normais). Resultados: A média de idade para cada grupo foi 72,8±8,36 anos (GI) e 67,4±3,53 anos (GNI). O GNI teve melhor desempenho que o GI tanto na EEB (p=0,0017), quanto no TUG (p=0,0002). Não houve diferença significativa em relação à qualidade de vida. Foi encontrada correlação entre EEB e TUG (r= -0,8907, p<0,05 para o GI e r= -0,7180, p<0,05 para o GNI) e entre EEB e o domínio Capacidade Funcional do SF-36 (r=0,7657, p<0,05 para o GNI). Conclusão: os idosos não-institucionalizados apresentaram melhor equilíbrio. Foi encontrado boa correlação entre os testes de equilíbrio TUG e EEB. Na amostra estudada, ser institucionalizado não influenciou a qualidade de vida. Palavras-chave: Idosos, equilíbrio postural, qualidade de vida, envelhecimento, instituição de longa permanência para idosos. Artigo recebido em 25 de junho de 2010 e aceito em 8 de setembro de 2010. 1 Fisioterapeuta formado pela Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” - Unesp- Departamento de Educação Especial, campus de Marília, Marília-SP, Brasil. 2 Fisioterapeuta formado pela Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” - Unesp- Departamento de Educação Especial, campus de Marília, Marília-SP, Brasil. Mestrando do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias, Unesp, Instituto de Biociências, Rio Claro-SP, Brasil. 3 Professor Assistente Doutor da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” – Unesp - Departamento de Educação Especial, campus de Marília, Marília-SP, Brasil. Docente do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias, Unesp, Instituto de Biociências, Rio Claro-SP, Brasil. Endereço para correspondência: Marcelo Tavella Navega, Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”-Unesp - Av. Hygino Muzzi Filho, 737 Caixa postal 181 CEP 17525- 900 Marília, SP, Brasil. Telefone: 14-3402-1331, FAX: 14-3402-1302 e-mail: [email protected] Ter Man. 2010; 8(40):573-577 terapia manual 40.indd 573 25/5/2011 16:38:08 574 Equilíbrio e qualidade de vida entre idosos. Abstract Introduction: the improvements on the health area increased the brazilians life expectative. Because of it, more people becomes elder, passing through various common processes of aging, as the balance decrease. Resulting form this the risk of fall increase, and this has a negative impact on the quality of life. As more people become elder the institutionalization tax increase. Objectives: compare the balance and quality of life between institutionalized and non-institutionalized elders; correlate the Berg Balance Scale (BBS) with the Timed Up and Go test (TUG) and with the questionnaire “The Medical Outcome Study 36 – Item Short-Form Health Survey” (SF-36). Methods: were evaluated 20 elders, ten institutionalized (GI) and ten non-institutionalized (GNI). To the balance assessment were used the BBS and the TUG, the quality of life was evaluated using the SF-36. The significance level was set to 5% (p<0,05). The GraphPad Prism 5# was used to analyze the data. To identify the distribution of the data was applied the Shapiro-Wilk test. In the comparison between groups, the normal distributed data were analyzed with the Unpaired Student t test. The non-normal distributed data were analyzed with the Mann-Whitney non-parametric test. The correlations were analyzed with the Pearson (normal data) and Spearman’s (non-normal data) tests. Results: the age average for each group was 72,8±8,36 years (GI) e 67,4±3,53 years (GNI). The GNI had a better performance than the GI in the BBS (*p=0,0017) as in the TUG (*p<0,0002). There wasn’t difference between the quality of life. There was correlation between EEB and TUG (-0,8907 for the GI and -0,7180 for the GNI) and between EEB and the functional capacity domain from the SF-36 (0,7657). Conclusion: the non-institutionalized elders presented best balance. It was found good correlation between TUG and BBS. In the studied sample, to be institutionalized didn’t influenced the quality of life. Keywords: Aged, Postural balance, Quality of life, Aging, Homes for the Aged. mente incapacitante para o idoso posto por oito domínios: Capacida- Uma das grandes conquistas tanto física como emocionalmente, de Funcional (CF), Aspectos Físicos da humanidade foi o aumento da ex- afetando negativamente sua quali- (AF), Dor, Estado Geral de Saúde pectativa de vida, com concomitan- dade de vida (4,5). (EGS), Vitalidade (Vit), Aspectos INTRODUÇÃO te melhora dos parâmetros de saúde Existem meios de avaliar ra- Sociais (AS), Aspectos Emocionais da população, ainda que esta faça- pidamente o equilíbrio, como por (AE) e Saúde Mental (SM). O esco- nha não seja distribuída de manei- exemplo, a Escala de Equilíbrio de re total vai de zero a 100, sendo que ra igual em países e situações sócio- Berg (EEB), composta por 14 itens zero indica a pior condição na quali- econômicas diferentes pelo mundo que exigem que a pessoa realize ati- dade de vida, e 100 a melhor (9). (1) . Em 1991, segundo o IBGE (2) a vidades comuns da vida diária, com Os objetivos do estudo são: expectativa de vida ao nascer era de pontuação de zero a quatro em cada comparar o equilíbrio e qualidade de 67 anos, em 2007 essa expectativa item e total de zero a 56 pontos e vida entre idosos institucionalizados aumentou para 72,57 anos, um au- que foi traduzida e validada para o e não-institucionalizados; verificar a mento de 5,57 anos nesse período. Brasil por Miyamoto et al.(5). correlação da EEB com o TUG e da O envelhecimento é tido como Outro instrumento usado é o um processo onde ocorre diminui- teste Timed Up and Go (TUG), que ção da capacidade de adaptação ao é um teste de equilíbrio e mobilida- meio ambiente e aumenta a pro- de sensível que envolve movimen- O estudo foi aprovado pelo Co- (3) EEB com os domínios SF-36. MÉTODOS . Ocorre declí- tos funcionais, e pode ser usado mitê de Ética em Pesquisa Envolven- nio na flexibilidade, força e massa como medida sensível para discri- do Seres Humanos da Faculdade de musculares, velocidade das rea- minar pessoas com risco de queda Medicina de Marília (CEP/FAMEMA) ções de proteção, massa óssea, e pessoas sem esse risco equilíbrio e propriocepção e tam- teste avalia-se o equilíbrio sentado, Foram bém ocorrem alterações posturais transferência de sentado para em (considerando-se pé, estabilidade na deambulação e com idade igual ou superior a 60 pensão a doenças e sensitivas (3,4) . Com esse proces- so diminui a capacidade funcional (6) . Nesse mudança da direção da marcha (7) . mediante o protocolo nº 220/09. avaliados 20 idosas idosos pessoas anos). Esses foram divididos em e aumenta a presença de morbi- Para avaliação da qualidade de dois grupos: Grupo de Idosos Ins- dades e doenças crônicas que são vida foi utilizado o The Medical Ou- titucionalizados (GI, n=10) e Grupo motivos que levam a família a ins- tcome Study 36 – Item Short-Form de Idosos Não-Institucionalizados titucionalizar o idoso(22,23). Health Surve, que foi traduzido e (GNI, n=10). Os idosos do GI re- validado para o português por Cico- sidiam no Lar São Vicente de Paulo Com essas alterações os ido- (8) sos tornam-se mais propensos a nelli et al. e é um instrumento de da cidade de Marília/SP. O GNI foi quedas, que são um evento alta- fácil aplicação e compreensão, com- composto por idosos que recebe- Ter Man. 2010; 8(40):573-577 terapia manual 40.indd 574 25/5/2011 16:38:08 575 Antônio Francisco de Almeida Neto, José Adolfo Menezes Garcia Silva, Marcelo Tavella Navega. ram atendimento de Fisioterapia RESULTADOS comparação dos resultados da EEB da Universidade Estadual Paulista – A Tabela 1 mostra as compa- UNESP – Campus de Marília. Foram rações feitas entre o GI e o GNI, as observados os seguintes critérios variáveis estão representadas em de inclusão e exclusão: Média±Desvio Padrão, valor de p, e o teste comparativo utilizado. Critérios de inclusão: As figuras 1 e 2 apresentam a e o TUG entre os grupos. A figura 3 mostra os resultados dos grupos no SF-36. A tabela 2 mostra as correlações significativas entre os instrumentos e seus respectivos grupos. - Ter 60 anos ou mais; - Residir pelo menos seis meses em uma instituição de longa Tabela 1 - Comparação das variáveis entre GI e GNI. Variáveis GI Média±DP GNI Média±DP Idade 72,8±8,36 67,4±3,53 0,0171* Teste t Não Pareado EEB 39±11,01 52,1±2,42 0,0017** Teste t Não Pareado Critérios de exclusão: TUG 18,56±6,52 8,1±3,00 0,0002*** - Presença de doenças neu- CF 63 ± 23,59 71 ± 22,82 0,2999 romusculares, ortopédicas, senso- AF 52,5 ± 38,09 60 ± 35,74 0,6682 Teste de Mann-Whitney riais e cognitivas que impossibili- DOR 67,75 ± 27,40 62,7 ± 25,00 0,7601 Teste de Mann-Whitney tassem a aplicação dos testes ou EGS 58,8 ± 17,64 65,6 ± 25,02 0,4953 Teste de Mann-Whitney influenciem no desempenho; Vit 62 ± 19,74 63,5 ± 17,95 0,9086 Teste de Mann-Whitney Teste de Mann-Whitney permanência (para o grupo institucionalizado). - Assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. - Pedir para ser retirado do estudo. A avaliação da qualidade de vida com o SF-36 foi feita por meio de entrevista com os participantes. A avaliação com a EEB foi feita de acordo com as instruções de Valor de p Teste Teste t Não Pareado Teste de Mann-Whitney AS 65 ± 21,88 82,5 ± 22,97 0,0767 AE 53,33 ± 39,12 53,33 ± 47,66 0,9064 Teste de Mann-Whitney SM 62 ± 20,59 74 ± 25,45 0,2253 Teste de Mann-Whitney EEB: Escala de Equilíbrio de Berg; TUG: Timed Up And Go; MEEM: Mini-Exame do Estado Mental; CF: Capacidade Funcional; AF: Aspectos Físicos; EGS: Estado Geral de Saúde; Vit: Vitalidade; AS: Aspectos Sociais; AE: Aspectos Emocionais; SM: Saúde Mental. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. Obs: o teste de Mann-Whitney foi utilizado para todas as Dimensões do SF-36 mesmo quando passaram no teste de normalidade por serem questionários subjetivos. Miyamoto et al.(5). O TUG foi realizado pedindo para o participante levantar da cadeira, andar três metros, retornar a cadeira e sentar, sendo o tempo necessário para a realização da tarefa cronometrado. Foram feitas três mediadas e a média foi utilizada para os cálculos. Para a análise estatística foi utilizado o software GraphPad Prism 5®. Para verificar o comportamen- Figura 1 - Comparação entre o resultado do GI x GNI - EEB. Figura 2 - Comparação entre o resultado do GI x GNI no TUG. *p<0,01. GI: Grupo Institucionalizado GNI: Grupo Não-Institucionalizado. EEB: Escala de Equilíbrio de Berg. *P<0,01. GI: Grupo Institucionalizado GNI: Grupo Não-Institucionalizado. TUG: Timed Up and Go to da distribuição dos dados foi realizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk e de acordo com seu resultado foi escolhido o teste comparativo adequado para a análise. Para comparações entre os grupos foi utilizado o teste t de Student não pareado (dados normais) e o teste de Mann-Whitney (não-normais). Para analisar a correlação entre dados normais foi utilizado o Teste de Correlação de Pearson. Quando a distribuição foi não-normal foi utilizado o Índice de Correlação de Spearman. O nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05). Figura 3 - Comparação entre o GI e GNI nos domínios do SF-36. GI: Grupo de Idosos Institucionalizados; GNI: Grupo de Idosos Não-Institucionalizados; CF: Capacidade Funcional; AF: Aspectos Físicos; EGS: Estado Geral de Saúde: Vit: Vitalidade; AS: Aspectos Sociais; AE: Aspectos Emocionais; SM: Saúde Mental. Ter Man. 2010; 8(40):573-577 terapia manual 40.indd 575 25/5/2011 16:38:08 576 Equilíbrio e qualidade de vida entre idosos. Tabela 2 - Correlações significativas entre as variáveis e seu respectivo grupo. Variável tudos que apontam que idosos institucionalizados apresentam maior Grupo p r EEB x TUG GI <0,001* -0,8907 saúde que tendem a piorar a quali- EEB x TUG GNI <0,05* -0,7180 dade de vida(27,28), que a diminuição EEB x CF GNI <0,05** 0,7657 de atividade física em idosos insti- fragilidade e fatores agravantes a EEB: Escala de Equilíbrio de Berg; TUG: Timed Up and GO; CF: Domínio Capacidade Funcional do SF-36. *Índice de Correlação de Pearson; **Índice de Correlação de Spearman. tucionalizados faz com que piore a qualidade de vida(29) e que a diminuição da capacidade funcional em tarefas funcionais pode ser expli- idosos institucionalizados dificulta O resultado na EEB e no TUG cado devido à maior inatividade e a realização de atividades de vida do GI indica que este grupo tem fragilidade desses idosos e tam- diária, o que afeta negativamen- um equilíbrio deficitário, o que não bém por estarem em um ambiente te a qualidade de vida(30,31,32). Isto DISCUSSÃO (7,19,20,20) ocorre no GNI uma vez que seu mais protegido . A presen- pode ser explicado pela dificulda- desempenho foi melhor. A nota de ça de doenças crônicas é apontada de de alguns idosos em entender o corte utilizada para a interpretação como fator que diminui a capacida- questionário aplicado. da EEB foi 45 pontos(10). Para o TUG de funcional(21) e é um dos motivos a pontuação considerada foi de 10 pelos quais a família opta por ins- institucionalizados segundos, sendo que na literatura titucionalizar o idoso, bem como o melhor equilíbrio. Foi encontrada foram encontrados valores de 10 a alto nível de dependência e a pre- boa correlação entre os testes de sença de morbidades(22,23). equilíbrio TUG e EEB. Na amostra 14 segundos (11, 12) . Conclui-se que os idosos nãoapresentaram Foi observada correlação ne- A diferença de idade é outro gativa entre EEB e TUG em ambos fator que pode ter influenciado os grupos, indicando que quan- no resultado, porém era esperada O estudo apresentou algu- to melhor o desempenho na EEB, essa diferença já que com o avan- mas limitações: diferença de idade menor é o tempo gasto na reali- çar da idade os idosos tornam-se entre os grupos, número reduzi- zação do TUG, e para o GNI ainda mais dependentes(29). Os idosos do da amostra e dificuldades por houve correlação entre o domínio não-institucionalizados mais parte dos idosos em compreender CF do SF-36 e a EEB, reforçando ativos(29). É comum hoje em dia o SF-36. Por isso sugere-se que o fato de que quanto menor a ve- grupos de atividade física para ido- novos estudos sejam feitos com locidade de marcha pior é o equi- sos em centros de saúde, propor- população maior e mais homogê- líbrio e quanto melhor o equilíbrio cionando a manutenção ou mesmo nea. Observou-se também a neces- melhor é a capacidade funcional. a melhora da capacidade funcional sidade de pesquisas que avaliem o Estes resultados estão de acor- desses idosos.(13,24,25,26,29). nível de compreensão que idosos são estudada, ser institucionalizado não influenciou a qualidade de vida. do com outros estudos da literatu Não houve diferenças quanto a possuem de ferramentas utiliza- ra(10,12,13,14,15,16,17,18,19). O fato do GI qualidade de vida entre os grupos, das para quantificar, por exemplo, a apresentar pior desempenho nas o que não está de acordo com es- percepção da qualidade de vida. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. LIMA-COSTA, M. F.; VERAS, R. Saúde pública e envelhecimento. Cad. Saúde Pública, 2003;19(3):700-701. 2. OLIVEIRA, L. A. P. Breves notas sobre a mortalidade no Brasil no período de 1991/2007. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2008. Disponível em: www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/ tabuadevida/2007/notastecnicas.pdf>. Acesso em 9 de fevereiro de 2009. 3. NETTO, F. L. M. Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento humano e suas implicações na saúde do idoso. Pensar a Prática. 2004;7(1):75-84. 4. PEREIRA, S. R. M.; BUKSMAN, S.; PERRACINI, M.; PY, L.; BARRETO, K. M. L.; LEITE, V. M. M. Quedas em idosos, Projeto Diretrizes da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina, p. 1-9, jun. 2001. Disponível em: <http//www.projetodiretrizes.org.br/projeto_diretrizes/082.pdf>. Acesso em: 04 de abril de 2009. 5. SANTOS, M. L. C.; ANDRADE, M. C. Incidência de quedas relacionada aos fatores de risco em idosos institucionalizados. Rev. Baiana Saúde Pública. 2005;29(1):57-68. 6. PAULA, F. L.; ALVES JUNIOR, E. D.; PRATA, H. Teste “timed up and go”: uma comparação entre os valores obtidos em ambiente fechado e aberto. Fisioter. Mov. 2007;20(4):143-148. Ter Man. 2010; 8(40):573-577 terapia manual 40.indd 576 25/5/2011 16:38:08 Antônio Francisco de Almeida Neto, José Adolfo Menezes Garcia Silva, Marcelo Tavella Navega. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 577 OLIVEIRA, D. L. C.; GORETTI, L. C.; PEREIRA, L. S. M. O desempenho de idosos institucionalizados com alterações cognitivas em atividades de vida diária e mobilidade: estudo piloto. Rev. Bras. Reumatol. 2006;10(1):91-96. CICONELLI, R. M.; FERRAZ, M. B.; SANTOS, W.; MEINÃO I.; QUARESMA, M. R. Tradução para a língua portuguesa e validação do questionário genérico de avaliação de qualidade de vida SF-36 (Brasil SF-36). Rev. Bras. Reumatol. 1999;39(3):143-150. LEMOS, M. C. D.; MIYAMOTO, S. T.; VALIM, V.; NATOUR, J. Qualidade de vida em pacientes com osteoporose: Correlação entre OPAQ e SF-36. Rev. Bras. Reumatol. 2003;46(5):323-328. SOUZA, M. C.; TUTIYA, G. C.; JONES, A.; LOMBARDI JUNIOR, I.; NATOUR, J. Avaliação do Equilíbrio Funcional e Qualidade de Vida em Pacientes com Espondilite Anquilosante. Rev. Bras. Reumatol. 2008;48(5):274-277. SHUMWAY-COOK, A.; BRAUER, S.; WOOLLACOTT, M. Predicting the Probability for Falls in Community-Dwelling Older Adults Using the Timed Up & Go Test. Phys. Ther. 2000;80(9):896-903. GONÇALVES, D. F. F.; RICCI, N. A.; COIMBRA, A. M. V. Equilíbrio funcional de idosos da comunidade: comparação em relação ao histórico de quedas. Rev. Bras. de Fisioter. 2009;13(4):316-323. ABREU, S. S. E.; CALDAS, C. P. Velocidade de marcha, equilíbrio e idade: um estudo correlacional entre idosas praticantes e idosas não praticantes de um programa de exercícios terapêuticos. Rev. Bras. de Fisioter. 2008;12(4):324-330. KANG, H. G.; DINGWELL, J. B. Dynamics and stability of muscle activations during walking in healthy young and older adults. J. Biomech. 2009;42:2232-2237. BRUIJN, S. M.; VAN DIEËN, J. H.; MEIJER, O. G.; BEEK, P. J. Is slow walking more stable? J. Biomech. 2009;42:1506-1512. SILVA, A.; ALMEIDA, G. J. M.; CASSILHAS, R. C.; COHEN, M.; PECCIN, M. S.; TUFIK, S.; MELLO, M. T. Equilíbrio, coordenação e agilidade de idosos submetidos à prática de exercícios físicos resistidos. Rev. Bras. de Med. Esporte. 2008;14(2):88-93. GREVE, P.; GUERRA, A. G.; PORTELA, M. A.; PORTES, M. S.; REBELATTO, J. R. Correlação entre mobilidade e independência funcional em idosos institucionalizados e não-institucionalizados. Fisioter. Mov. 2007;20(4):117-124. GAZZOLA, J. M.; PERRACINI, M. R.; GANANÇA, M. M.; GANANÇA F. F. Fatores associados ao equilíbrio funcional em idosos com disfunção vestibular crônica. Rev. Bras. Otorrinolaringol. 2006;72(5):683-690. FERRANTIN, A. C.; BORGES, C. F.; MORELLI, J. G. S.; REBELATTO, J. R. A execução das AVDs e mobilidade funcional em idosos institucionalizados e não-institucionalizados. Fisioter. Mov. 2007;20(3):115-121. SOARES, A. V.; MATOS, F. M.; LAUS, L. H.; SUZUKI, S. Estudo comparativo sobre a propensão de quedas em idosos institucionalizados e não-institucionalizados através do nível de mobilidade funcional. Fisioter. Bras. 2003;4(1):13-17. GUIMARÃES, J. M. N.; FARINATTI, P. T. V. Análise descritiva das variáveis teoricamente associadas ao risco de quedas em mulheres idosas. Rev. Bras. de Med. Esporte. 2005;11(5):299-305. RIBEIRO, M. T. F.; FERREIRA, R. C.; FERREIRA, E. F.; MAGALHÃES, C. S.; MOREIRA, A. N. Perfil dos cuidadores de idosos nas instituições de longa permanência de Belo Horizonte, MG. Ciênc. Saúde Coletiva. 2008;13(4):1285-1292. RIBEIRO, A. P.; SOUZA, E. R.; ATIE, S.; SOUZA, A. C.; SCHILITHZ, A. O. A influência das quedas na qualidade de vida de idosos. Ciênc. Saúde Coletiva. 2008;13(4):1265-1273. RIBEIRO, D. P.; MAZO, G. Z.; BRUST, C.; CARDOSO, A. S.; SILVA, A. H.; BENEDETTI, T. R. B. Programa de ginástica para idosos nos centros de saúde: avaliação da aptidão física. Fisioter. Mov. 2009;22(3):407-417. CASTRO, P. C.; TAHARA, N.; REBELATTO, J. R.; DRIUSSO, P.; AVEIRO, M. C.; OISHI, J. Influência da Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI) e do Programa de Revitalização (REVT) sobre a qualidade de vida de adultos de meia-idade e idosos. Rev. Bras. de Fisioter. 2007;11(6):461-467. REBELATTO, J. R.; CASTRO, A. P. Efeito do programa de revitalização de adultos sobre a ocorrência de quedas dos participantes. Rev. Bras. de Fisioter. 2007;11(5):383-389. TEIXIERA, D. C.; OLIVEIRA, I. L.; DIAS, R. C. Perfil demográfico, clínico e funcional de idosos institucionalizados com história de quedas. Fisioter. Mov. 2006;19(2):101-108. NAVEGA, M. T.; FAGANELLO, F. R.; OISHI, J. Comparação da qualidade de vida entre mulheres com osteoporose acometidas ou não por fratura de quadril. Fisioter. Mov. 2008;21(3):101-108. LOBO, A.; SANTOS, P.; CARVALHO, J.; MOTA, J. Relationship between intensity of physical activity and health-related quality of life in Portuguese institutionalized elderly. Geriatr Gerontol Int. 2008;8:284-290. DECHAMPS, A.; DIOLEZ, P.; THIAUDIÈRE, E.; TULON, A.; ONIFADE, C.; VUONG, T.; HELMER, C.; MARCHASSONBOURDEL, I. Effects of exercise programs to prevent decline in health-related quality of life in highly deconditioned institutionalized elderly persons: a randomized controlled trial. Arch Intern Med. 2010;170(2):162-169. KALFOSS, M. Quality of life among Norwegian older adults: focus group results. Res Gerontol Nurs. 2010;3(2):100-112. ANDERSEN, C. K.; WITTRUP-JENSEN, K. U.; LOLK, A.; ANDERSEN, K.; KRAGH-SORENSEN, P. Ability to perform activities of daily living is the main factor affecting quality of life in patients with dementia. Health Qual Life Outcomes. 2004;2(1):52-58. Ter Man. 2010; 8(40):573-577 terapia manual 40.indd 577 25/5/2011 16:38:08 578 INSTRUÇÕES AOS AUTORES A revista Terapia Manual ISSN 16775937 é um periódico internacional especializado que trabalha através de peer review (revisão externa). É publicado bimestralmente, divulgando contribuições científicas originais nacionais e internacionais sobre temas relevantes para a área da terapia manual, fisioterapia, ciências da saúde e reabilitação. As publicações podem ser artigos originais, revisões, atualizações, comunicações breves, relatos de caso e cartas ao editor. APRESENTAÇÃO E SUBMISSÃO DOS MANUSCRITOS Esta revista segue as normas propostas pelo International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), disponível em www.icmje.org e cuja tradução encontrase disponível integralmente em Ter Man 2009;7(33):323-344. Os artigos poderão ser submetidos em português, inglês, espanhol, italiano ou francês. Os manuscritos deverão ser encaminhados via eletrônica, no formato Microsoft Word®, obrigatoriamente através do e-mail [email protected] ou do site http:// www.revistaterapiamanual.com.br. Com o intuito de facilitar o processo de revisão, o texto deverá ser digitado na fonte Verdana, tamanho 10, espaço duplo em todas as partes do manuscrito, alinhamento justificado, mantendo as margens esquerda e superior de 3cm; direita e inferior de 2cm e numeração no canto superior direito desde a primeira página. O manuscrito deve ser estruturado na seguinte ordem, cada item em uma página: 1. Página de título: Deve conter as seguintes informações, consecutivamente, em uma mesma página: 1.a. Título do artigo, sua versão em inglês (em itálico) e uma versão abreviada com até 40 caracteres (running head) a ser descrito na legenda das páginas impressas do manuscrito. Somente a primeira letra da sentença deve estar com letra maiúscula, com exceção de siglas ou nomes próprios. 1.b. Nome do departamento e/ou instituição a qual o trabalho deve ser atribuído. 1.c. Nome completo e por extenso dos autores, consecutivamente e separados por vírgulas, com números arábicos sobrescritos e entre parênteses. 1.d. Legenda para os autores, contendo sua descrição e as instituições as quais cada autor é afiliado – por extenso, seguido da sigla, cidade, estado e país (exemplo: 1 discente e bolsista de iniciação científica do CNPq – Universidade Nove de Julho – UNINOVE, São Paulo, São Paulo, Brasil). 1.e. Endereço do autor correspondente, contendo nome, endereço, números de fax, telefone e endereço eletrônico, a ser publicado caso o manuscrito seja aceito. 1.f. Declaração de conflito de interesses e/ou fontes de suporte. É de responsabilidade do autor correspondente manter contato com todos os outros autores para atualizá-los sobre o processo de submissão e para intercambiar terapia manual 40.indd 578 possíveis solicitações como, por exemplo, envio e recebimento de documentos, entre outros. 2. Resumo: Deve mostrar o contexto do trabalho, contendo os objetivos, os procedimentos básicos, resultados e conclusões principais. As palavras-chave em português devem ser baseadas no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), publicados pela BIREME e disponíveis em http:// decs.bvs.br. O resumo deve estar estruturado da seguinte forma: Introdução / Objetivo / Método / Resultados / Conclusão, num mesmo parágrafo e deve conter, no máximo, 2300 caracteres (com espaços). 3. Abstract: Deve possuir o mesmo conteúdo do resumo e deve estar estruturado da mesma maneira: Introduction / Objective / Methods / Results / Conclusion. As palavras-chave em inglês (keywords) devem ser baseadas no MeSH (Medical Subject Headings) do Index Medicus, disponível em http://www.nlm.nih.gov/mesh/mbrowser.html. 4. Introdução: Deve conter somente a natureza do problema, sua significância, hipótese e/ou objetivo da pesquisa. 5. Método: Deve conter somente as informações sobre o protocolo utilizado, seleção e descrição dos participantes, informações técnicas e estatísticas. Toda pesquisa relacionada a seres humanos deve vir acompanhada do Certificado do Comitê de Ética em Pesquisa que a aprovou e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, segundo as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres Humanos, constantes da Resolução do Conselho Nacional de Saúde 196/96 e Declaração de Helsinky de 1975, revisada em 2000. Para os experimentos realizados com animais, consideram-se as diretrizes internacionais Pain, publicadas em: PAIN, 16:109-110, 1983 e a Lei nº 11.794, de 08/10/2008, da Constituição Federal Brasileira , que estabelece procedimentos para o uso científico de animais e cria o Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal (CONCEA) e as Comissões de Ética no Uso de Animais (CEUAs). 6. Resultados: Devem ser apresentados numa sequência lógica, com números referentes às tabelas/figuras em ordem de citação no texto, entre parênteses e em números arábicos. Restringir o número de tabelas e/ou figuras ao mínimo necessário para explicar os argumentos da investigação. 7. Discussão: Deve enfatizar os aspectos mais novos e importantes do estudo, comparando-o a estudos prévios e explorando novas hipóteses para pesquisas futuras. Ao longo do texto, evitar a menção a nomes de autores, dando sempre preferência às citações numéricas. 8. Referências: É preconizada a citação de 20 a 30 referências, sendo somente artigos originais atualizados. No texto, devem estar sobrescritas, entre parênteses e em números arábicos, aparecendo antes da pontuação. Nas referências, devem ser numeradas consecutivamente conforme são mencionadas no texto. Os títulos dos periódicos devem estar abreviados de acordo com o redigido no documento do ICMJE (citado acima). Exemplo de citação: “(...) o que explicaria a maior incidência de DPOC entre os homens(19,23,30)”. “(...) pelos efeitos da gravidade(2-4)”. Exemplo de formatação: Liposcki DB, Neto FR. Prevalência de artrose, quedas e a relação com o equilíbrio dos idosos. Ter Man. 2008;6(26):235-8. 9. Anexos: As tabelas e figuras devem estar no mesmo documento, mas separadas da redação, cada uma em uma página, seguindo as respectivas chamadas no texto, contendo um breve título escrito com fonte menor (8), em espaço duplo – no caso das tabelas, o título deve aparecer acima da tabela, no caso das figuras, o título deve aparecer abaixo. Gráficos e ilustrações devem ser chamados de figuras. Em relação às tabelas, não utilizar linhas horizontais e verticais internas; em relação às ilustrações, devem estar em formato JPEG, com alta qualidade e, se houver pessoas, estas não devem ser identificadas. Além disso, todas as abreviaturas e siglas empregadas nas figuras e tabelas devem ser definidas por extenso abaixo das mesmas. Todas as figuras, tabelas e gráficos devem ser enviados em preto e branco. A não observância das instruções editoriais implicará na devolução do manuscrito pela secretaria da revista para que os autores façam as correções pertinentes antes de submetê-lo aos revisores. A revista reserva o direito de efetuar adaptações gramaticais e de estilo. Os manuscritos encaminhados à revista Terapia Manual que atenderem às normas para publicação de artigos serão enviados a dois revisores científicos de reconhecida competência na temática abordada, os quais julgarão o valor científico da contribuição. O anonimato ocorre durante todo o processo de julgamento (peer review). Os artigos que não apresentarem mérito científico, que tenham erros significativos de metodologia e que não coadunem com a política editorial da revista serão rejeitados diretamente pelo conselho editorial, não cabendo recurso. Os artigos recusados serão devolvidos aos autores e os que forem aceitos serão encaminhados à publicação, após o preenchimento e envio do formulário de autoria da revista Terapia Manual por todos os autores para o e-mail [email protected], de acordo com o estilo da revista Terapia Manual. Situações não contempladas pelas Instruções aos Autores deverão seguir as recomendações contidas no documento supracitado – ICMJE, cuja tradução encontrase disponível integralmente na revista Terapia Manual 2009;7(33):323-344. Os autores são inteiramente responsáveis por eventuais prejuízos a pessoas ou propriedades ligadas à confiabilidade de métodos, produtos ou ideias expostas no material publicado. 25/5/2011 16:38:08 Agenda de Eventos Congresso Sul Americano de Fisioterapia Búzios Data: 23 a 26 de Junho de 2011 Local: Armação dos Búzios - RJ www.congressofisioterapiabuzios.com em VIII Encontro Nacionalde Gerenciamento em Enfermagem Data: 27 a 29 de junho de 2011 Local: Gran Hotel Stella Maris Resort-Salvador / BA Tel:(0xx11) 5081-7718 VI Congresso Norte-Nordeste Gerontologia Data: 27 a 30 de Julho de 2011 Local: Ipojuca - PE www.cobraesf.com.br de Geriatria III Congresso Brasileiro de Tratamento de Feridas Data: 11 a 14 de outubro de 2011 Local: Hotel Intercontinental | Rio de Janeiro Tel/Fax: (21) 2286-2846 http://www.jz.com.br 16º Congresso Multidisciplinar Multiprofissional em Diabetes Data: 29 a 31 de julho de 2011 Tel: (11) 55726559 www.anad.org.br especialidades VI Congresso Sul Brasileiro de Respiratória VI SULBRAFIR 2011 Data: 15 a 17 de setembro de 2011 Local: Londrina - PR www.assobrafir.com.br 39º Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular Data: 11 a 15 de outubro de 2011 Local: Anhembi - São Paulo, SP www.saopaulo2011.com.br IX Congresso Brasileiro de Estomaterapia IV Congresso Latino Americano de Estomaterapia VIII Semana Nacional de Estomaterapia IV Simpósio Internacional de Incontinências Data: 23 a 27 Outubro de 2011 Local: Plaza São Rafael - Hotel e Centro de Eventos Porto Alegre - RS Tel:(11)3081-0659 I Congresso Internacional de Fisioterapia e Bioética. Data: 03 a 05 de Novembro de 2011 Local: Vitória ES http://www.crefit.com.br Fisioterapia XIX Congresso Brasileiro de Fisioterapia Data: 9 a 12 de outubro de 2011 Local: Centro de Convenções de Florianópolis | SC Tel/Fax: (21) 2286-2846 www.jz.com.br coloridas_40.indd 5 III Congresso Brasileiro de Fisioterapia do Trabalho da ABRAFIT Data: 19 a 21 de outubro de 2011 Local: Salvador - Ba www.abrafit.fst.br e 10º Congresso Brasileiro de Enfermagem em Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização Data: 28 a 31 de julho de 2011 Local: Palácio das Convenções do Anhembi Tel: (11) 3341-4044 www.sobecc.org.br Congresso Brasileiro de Fisioterapêuticas - Cobraesf Data: 26 a 28 de agosto de 2011 Local: Fortaleza - CE www.cobraesf.com.br XII Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional e IX Congresso Latino Americano de Terapia Ocupacional Data: 11 e 14 de outubro de 2011 Local: São Paulo - SP www.atoesp.org.br III Congresso Internacional da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva Data: 11 a 14 de novembro de 2011 Local: Maceió – AL www.sonafe.org.br XIII Congresso Brasileiro do Sono Data: 12 a 15 de novembro de 2011 Local: Belo Horizonte - MG www.sbsono.com.br 2/6/2011 19:04:41 A SOBECC tem o prazer de convidá-lo a participar do A Assistência de Enfermagem e a Segurança do Cliente Cirúrgico 10 1 0o C Congresso ong gress so Brasileiro Brrasileiro de Enfermagem em mC Centro entro oC Cirúrgico, irú úrgic c Recuperação Re R ecup perraçã ão Anestésica An nestésica e Centro de Material Mate eriall e Esterilização Es sterriliiza açã De 28 a 31 de julho de 2011 Palácio das Convenções do Anhembi - SP São grandes os atrativos nos quatro dias de evento Além da programação científica, haverá várias atividades que serão desenvolvidas no decorrer do evento, visando consolidar o conhecimento do profissional em temas de interesse atual e do cotidiano. Confira no site www.sobecc.org.br a programação, os palestrantes, os detalhes das inscrições antecipadas em condições especiais e as empresas que já fazem parte da exposição tecnológica. Participe! Empresas Patrocinadoras: Apoio: Informações com a Secretaria Geral do Evento da SOBECC: coloridas_40.indd i b 6 21 28 i1 1 0800 777 4044 10/5/2011 2/6/2011 20 19:04:42 54 39 Livraria Terapia Manual www.livrariaterapiamanual.com.br Perícia Judicial para Fisioterapeutas Manuall dde e uutilização tilização dda aC CIF em Saúde Funcional 39 coloridas_40.indd 7 Fisioterapia do Trabalho Reabilitação Práticas Inclusivas e Estratégias para a Ação Fototerapia Aspectos Clínicos da Reabilitação Uma Abordagem Multidisciplinar sobre Pé Diabético Ortopedia para Fisioterapeutas Neurologia para Fisioterapeutas Reequilíbrio Somato Emocional (RSE) Envelhecimento e Institucionalização Saúde Integral Fisioterapia Corpo e Mente Eu sei Eletroterapia... 2/6/2011 19:04:45 coloridas_40.indd 8 2/6/2011 19:05:05
Download