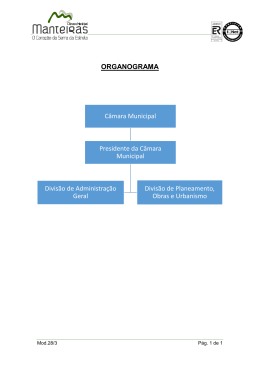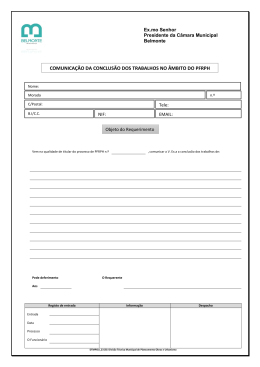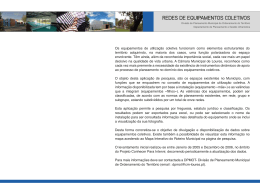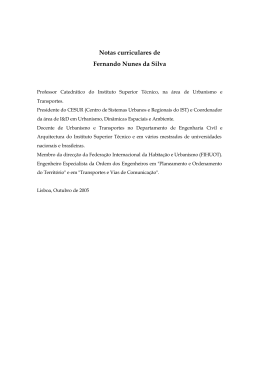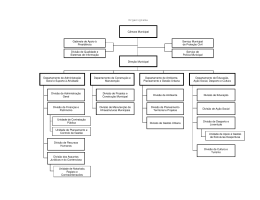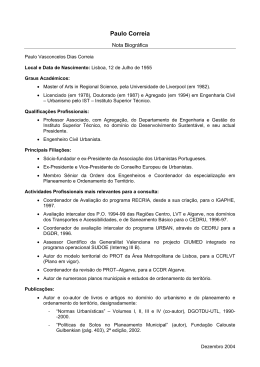Nota Explicativa Em março de 2010 publicamos, pelo CEJUR, na coleção de DIREITO REGIONAL E LOCAL – MONOGRAFIAS, o livro Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão. Os seus objetivos foram assumidamente modestos, pretendendo apenas fornecer os conceitos básicos e o enquadramento geral desta disciplina jurídica que é o direito do urbanismo. Dada a forte dinâmica que carateriza esta área jurídica, foi necessário, logo em 2010, proceder à atualização do texto (pp. 144, 152 a 185, 241, 245, 250 e 251, e 256), por força das alterações ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação operadas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, alterações que são agora disponibilizadas no final do livro, com a publicação das páginas modificadas, estando assinaladas a cor nas páginas acima referidas. A utilização desta obra suplantou largamente o interesse que tínhamos imaginado, designadamente por parte alguns cursos de ensino superior onde é lecionado o direito do urbanismo. Esgotada a edição do mesmo e tendo em conta que se encontram em vias de alteração alguns do diplomas mais relevantes deste domínio jurídico, designadamente, a Lei de Bases da Política do Ordenamento do Território e do Urbanismo, o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação e o Código das Expropriações não consideramos oportuno, antes da publicação daquele diplomas, proceder a uma nova edição (que pretendemos fazer pelo CEJUR). Reconhecemos, no entanto, a utilidade de disponibilizar esta obra a todos quantos o pretendam utilizar. É isso que é feito neste local. Fernanda Paula Oliveira Coimbra, maio de 2013 Direito do Urbanismo Do Planeamento à Gestão Título: Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão Autora: Fernanda Paula Oliveira Data: Março de 2010 Editor: CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do Minho Rua D. Pedro V, Braga Distribuidora:Coimbra Editora Rua do Arnado, Coimbra Impressão: Fabigráfica Pq. Industrial, Lugar da Devesa, Pousa, Barcelos ISBN: 978-989-96672-0-4 Depósito Legal: 307370/2010 Tiragem: 750 exemplares Nota da Autora O texto que ora se edita tem a sua origem no livro Direito do Urbanismo que, em 2000, publiquei pelo Centro de Estudos e Formação Autárquica, com o intuito de servir de base à disciplina de Gestão Urbanística que então leccionava naquele Centro, no âmbito do Curso de Especialização em Gestão Urbanística. Os então muito recentes Decretos-Lei n.os 380/99, de 22 de Setembro, e 555/99, de 16 de Dezembro, haviam sido causa imediata para a elaboração daquele texto que, com as sucessivas alterações a que os mesmos foram sendo submetidos – e a, desde então, “perturbante”, por excessiva, produção legislativa nas áreas do ordenamento do território e do urbanismo –, rapidamente se tornou desactualizado. Em 2003, procedeu-se a uma mera republicação daquele texto, o qual, há muito, se encontra esgotado. Sucede, porém, que a pequena obra que então elaborei tem, com alegria minha, servido como base de estudo a muitos curiosos e estudantes desta área do direito que buscam no mesmo uma referência básica a alguns dos seus principais instrumentos. Foi, por isso, com agrado (e gosto), que acolhi o convite do CEJUR e da Revista Direito Regional e Local para actualizar as reflexões constantes daquele texto inicial, procedendo à publicação que agora se dá à estampa. Trata-se, em todo o caso, de um texto que apenas fornece as noções fundamentais e as ferramentas básicas para trabalhar nesta área do direito, pelo que não dispensa a leitura dos mais relevantes textos doutrinais sobre a matéria. Dedico-o a todos os meus alunos (passados, presentes e futuros), ainda que apenas o sejam por estudarem por este livro. Coimbra, 14 de Fevereiro de 2010 Fernanda Paula Oliveira Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra Siglas CCDR – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional CE – Código das Expropriações CPA – Código do Procedimento Administrativo CRP – Constituição da República Portuguesa LBPOTU – Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo PDM – Plano Director Municipal PIMOT – Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território PMOT – Plano Municipal de Ordenamento do Território PNPOT – Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território PROT – Plano Regional de Ordenamento do Território RJIGT – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial RJUE – Regime Jurídico da Urbanização e Edificação STA – Supremo Tribunal Administrativo STJ – Supremo Tribunal de Justiça Parte I A Planificação Urbanística 1. Os planos territoriais no contexto geral da planificação administrativa O direito do urbanismo é entendido, por uma parte da doutrina portuguesa, como a disciplina jurídica que abrange “o conjunto das normas e institutos que disciplinam não apenas a expansão e renovação dos aglomerados populacionais mas também o complexo das intervenções no solo e das formas de utilização do mesmo que dizem respeito às edificações, valorização e protecção das belezas paisagísticas e dos parques naturais, à recuperação de centros históricos, etc.” (1). Esta não é, no entanto, uma noção generalizada. Há, de facto, quem defenda uma noção mais restrita de direito do urbanismo, limitada ao domínio da urbe (2), e outros, ainda, que partem de uma noção de direito do urbanismo que podemos designar de intermédia, situada a meio caminho entre as noções ampla e restrita, defendidas entre nós, respectivamente, por Alves Correia e Freitas do Amaral. É o caso de Cláudio Monteiro, para quem o direito do urbanismo integra o conjunto de normas e princípios jurídicos que disciplinam a actuação da Administração e dos particulares, com vista ao correcto ordenamento da ocupação, utilização e transformação dos solos para fins urbanísticos, isto é, para fins que excedam um aproveitamento agrícola, florestal, pecuário ou cinegético dos solos (3), e de António Cordeiro, para quem o direito do urbanismo se ocupa “…das regras sobre edificação dos solos e sobre a sua infra-estruturação” (4). (1) Cfr. Fernando A lves Correia, O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, Coimbra, Almedina, 1990, p. 51. Esta noção de direito do urbanismo é uma noção ampla, já que abrange o conjunto de normas respeitantes à ocupação, uso e transformação dos solos, não apenas para fins urbanísticos (de urbanização e de edificação), mas também para fins agrícolas, de valorização e protecção da natureza, de recuperação de centros históricos, etc. Cfr. ainda, do mesmo autor, Manual de Direito do Urbanismo, vol. I, 4.a ed., Coimbra, Almedina, 2008, p. 64. (2) Cfr. Diogo Freitas do A maral, “Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente: Objecto, Autonomia e Distinções”, in Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente, n.° 1, 1994, p. 17; Direito do Urbanismo (Sumários), ed. policopiada, Lisboa, 1993, p. 26; “Apreciação da Dissertação de Doutoramento do Licenciado Fernando Alves Correia, O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade”, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vol. XXXII, Lisboa, 1991, pp. 95-96. (3) Cfr. Cláudio Monteiro, O Embargo e a Demolição no Direito do Urbanismo, policopiado, Faculdade de Direito de Lisboa, 1995, pp. 5-10. (4) Cfr. A ntónio Cordeiro, Protecção de Terceiros em Face de Decisões Urbanísticas, Coimbra, Almedina, 1995, pp. 22-23. Fernanda Paula Oliveira Qualquer que seja a noção de que se parta, existe um consenso mínimo de que o direito do urbanismo é o ramo do direito que regula as mais importantes formas de intervenção nos solos, dele fazendo necessariamente parte as normas definidoras dos parâmetros urbanísticos, quer sejam emanadas pelo Estado quer pelas próprias autarquias locais, onde se incluem, com especial relevo, as normas de planeamento. O planeamento urbanístico afirma-se, deste modo, como um dos domínios de intervenção mais importantes do direito do urbanismo, apresentando com este uma relação de necessidade, por ser actualmente impensável uma administração e uma prática urbanísticas realizadas ao acaso, devendo estas, antes, ser devidamente enquadradas e orientadas por instrumentos de planeamento que procuram programar racionalmente a sua intervenção. Sendo o plano uma figura que não se enquadra nos quadros dogmáticos típicos de intervenção da Administração, a caracterização jurídica dos instrumentos de planeamento ainda hoje é amplamente debatida, muito embora haja consenso quanto à diferenciação de base entre planeamento-processo e plano-acto, assumido como resultado e conclusão lógica daquele. Neste ponto, assumimos um conceito mais complexo de planeamento enquanto processo que abrange não apenas a elaboração de planos (planeamento em sentido estrito) mas também a sua execução, seja ela material (concretização das determinações do plano que se traduzem em regras de ocupação e uso dos solos) ou jurídica (concretização das disposições do plano que implicam uma perequação de benefícios e encargos deles decorrentes), e a respectiva monitorização e avaliação. Passa-se, assim, actualmente, de uma visão estreita radicada no plano, enquanto resultado acabado de um processo de planeamento, para uma concepção mais aberta e iterativa do plano, enquanto processo contínuo que abrange o momento da sua execução, avaliação e monitorização. De entre os tipos de planos que a moderna Administração utiliza, realçam-se os planos económicos ou socio-económicos e os planos territoriais. Os primeiros visam o estabelecimento de opções relativas à evolução económica, definindo orientações para a mesma, enquanto os segundos têm o território por objecto com o intuito de intervir directamente sobre ele. 10 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão Apesar da diversidade das figuras de planeamento que se colocam à disposição da Administração, com funções por vezes bem distintas, é possível formular-se um conceito unitário de plano. Este é o instrumento que visa a realização de um certo fim, estabelecendo, para esse efeito, um leque de medidas que permitam alcançá-lo. Dito de outro modo, o plano é um “acto de um órgão administrativo que, através de diferentes medidas interligadas, visa a realização de uma situação de ordenamento”(5). Os planos urbanísticos integram-se, como será fácil de perceber, nos planos territoriais (6), mas estes são uma categoria mais extensa, abrangendo um conjunto de outros instrumentos de planeamento. Dada a importância desse conjunto de planos no nosso ordenamento jurídico, é sobre eles que nos debruçaremos de seguida. 2. A Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBPOTU) (7): o sistema de gestão territorial 2.1. A tipicidade dos instrumentos de gestão territorial a) Vigora no ordenamento jurídico português um princípio que assume uma importância fundamental no regime jurídico dos instrumentos de planeamento: o princípio da sua tipicidade. De acordo com este princípio, a Administração não pode elaborar os planos que entender mas apenas aqueles que a lei prevê de um modo típico (8). Dito de outro modo, o sistema de planeamento territorial está concebido como um conjunto articulado de planos tipificadamente identificados pelo legislador (quer quanto ao seu conteúdo, quer quanto aos respectivos (5) Cfr. Fernando A lves Correia, O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, cit., pp. 171-181, e Manual de Direito do Urbanismo, cit., pp. 361-363. (6) Isto, não obstante esta diferenciação ser meramente teórica, na medida em que os planos territoriais assumem cada vez mais importantes objectivos de desenvolvimento económico-social e os planos de desenvolvimento económico-social têm importantes repercussões no território. (7) Lei n.° 48/98, de 8 de Agosto, alterada pela Lei n.° 54/2007, de 31 de Agosto, doravante, LBPOTU. (8) Cfr. Fernando A lves Correia, O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, cit., p. 287, e Manual de Direito do Urbanismo, cit., pp. 649 e segs. 11 Fernanda Paula Oliveira efeitos, quer, ainda, quanto ao procedimento da sua elaboração) que a Administração deverá utilizar consoante a finalidade que pretenda atingir. Antes da entrada em vigor da LBPOTU, o legislador identificava como os mais relevantes tipos de planos os planos regionais de ordenamento do território, os planos especiais de ordenamento do território e os planos municipais de ordenamento do território, cada um objecto de uma regulamentação legal própria e autónoma. Com a entrada em vigor da Lei n.° 48/98, de 11 de Agosto, que aprovou as Bases da Política de Ordenamento do Território e do Urbanismo, o sistema de gestão territorial tornou-se, em alguns aspectos, substancialmente diferente do anterior. Com efeito, esta lei veio introduzir uma alteração na tipologia de instrumentos de planeamento, com a criação, por um lado, de novos tipos de planos, e com a reformulação, por outro lado, do regime jurídico de alguns dos planos já existentes. b) De entre os novos tipos de planos criados pela LBPOTU contam-se, em primeiro lugar, o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT). Trata-se de um instrumento de carácter estratégico elaborado pelo Governo, mas cuja aprovação compete à Assembleia da República e que visa fixar as directivas e orientações fundamentais que traduzem o modelo de organização espacial que tenha em conta o sistema urbano, as redes de infra-estruturas e equipamentos de interesse nacional, bem como as áreas de interesse nacional em termos agrícolas, ambientais e patrimoniais [artigo 9.°, n.° 1, alínea a), da LBPOTU]. Em segundo lugar, surgem os planos intermunicipais de ordenamento do território (PIMOT), de elaboração facultativa para os municípios envolvidos e que visam a articulação estratégica entre áreas territoriais que, pela sua interdependência, necessitam de coordenação integrada [artigo 9.°, n.° 1, alínea c), da LBPOTU]. Para além da criação destas novas tipologias de instrumentos de planeamento, a LBPOTU procedeu ainda a uma alteração do regime aplicável a alguns dos instrumentos de planeamento até então já existentes. Foi o que sucedeu, designadamente, com os planos regionais de ordenamento do território (PROT) que, ao contrário do que acontecia 12 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão à luz do Decreto-Lei n.° 176-A/88, de 18 de Maio, passaram a vincular apenas as entidades públicas, deixando de ser directamente vinculativos para os particulares (artigo 11.° da LBPOTU), recuperando os termos iniciais da sua institucionalização (9). Os três tipos de instrumentos de gestão territorial acabados de referir (PNPOT, PIMOT e PROT) integram uma categoria mais genérica que a LBPOTU designa de instrumentos de desenvolvimento territorial, que se traduzem em instrumentos estratégicos e de definição das grandes opções com relevância para a organização do território, estabelecendo as directrizes de carácter genérico sobre o modo de uso do mesmo e consubstanciando o quadro de referência a ter em consideração na elaboração dos instrumentos de âmbito territorial [artigo 8.°, alínea a), da LBPOTU]. c) Para além da criação de novos instrumentos de planeamento e da alteração do regime jurídico de outros, a LBPOTU procedeu ainda ao enquadramento, dentro do novo sistema de gestão territorial por ela definido, de alguns instrumentos que existiam já no nosso ordenamento jurídico. Foi o que aconteceu com os designados instrumentos de planeamento territorial ou planos municipais de ordenamento do território [que abrangem o plano director municipal, o plano de urbanização e o plano de pormenor (artigos 8.°, alínea b), e 9.°, n.° 2, alíneas a), b) e c), da LBPOTU)] e com os instrumentos de natureza especial ou planos especiais de ordenamento do território [os planos de ordenamento de áreas protegidas, os planos de albufeiras de águas públicas e os planos de ordenamento da orla costeira (artigos 8.°, alínea d), 9.°, n.° 4, e 33.° da LBPOTU), a que a Lei da Água (artigo 98.°, n.° 3, da Lei n.° 58/2005, de 29 de Setembro) veio acrescentar os planos especiais de ordenamento dos estuários]. d) Por fim, o sistema de gestão territorial definido pela LBPOTU prevê ainda instrumentos de natureza sectorial ou planos sectoriais, (9) Sobre as consequências que resultaram desta alteração de regime, vide os nossos “Alguns Aspectos do Novo Regime Jurídico dos Planos Regionais de Ordenamento do Território. Em Especial a Questão da sua Eficácia Jurídica”, in Revista Jurídica de Urbanismo e Ambiente, n.° 11/12, Junho/Dezembro de 1999, e “Evolução do Quadro Legal dos PROT’s”, in Sociedade e Território, Revista de Estudos Urbanos e Regionais, n.° 34, Setembro de 2002. 13 Fernanda Paula Oliveira que programam ou concretizam as políticas de desenvolvimento económico e social com incidência espacial, determinando o respectivo impacto territorial. Nesta perspectiva, são planos sectoriais os planos com incidência territorial da responsabilidade dos diversos sectores da Administração central, nomeadamente nos domínios dos transportes, das comunicações, da energia e recursos geológicos, da educação e da formação, da cultura, da saúde, da habitação, do turismo, da agricultura, comércio e indústria, das florestas e do ambiente [artigos 8.°, alínea c), e 9.°, n.° 3, da LBPOTU]. e) De acordo com o que vimos de dizer, é o seguinte o quadro de instrumentos tipificados na LBPOTU: Instrumentos de desenvolvimento territorial – Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território – Plano Regional de Ordenamento do Território – Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território Instrumentos de planeamento sectorial – Planos Sectoriais Instrumentos de planeamento especial – Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas – Planos de Albufeiras de Águas Públicas – Planos de Ordenamento da Orla Costeira – Planos de Ordenamento dos Estuários Instrumentos de planeamento territorial ou planos municipais de ordenamento do território – Plano Director Municipal – Plano de Urbanização – Plano de Pormenor O sistema de gestão territorial definido na LBPOTU veio a ser desenvolvido pelo Decreto-Lei n.° 380/99, de 22 de Setembro, que fixou o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (doravante, RJIGT) (10). Com a referência, pela LBPOTU, aos instrumentos de gestão territorial que a Administração pode elaborar no ordenamento jurídico (10) Diploma sucessivamente alterado pelo Decreto-Lei n.° 53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.° 310/2003, de 10 de Dezembro, pela Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei n.° 56/2007, de 31 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.° 316/2007, de 19 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.° 46/2009, de 20 de Fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.° 181/2009, de 7 de Agosto. 14 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão português, o legislador acabou por “fechar” o princípio da tipicidade dos planos ao determinar, no seu artigo 34.°, que todos os instrumentos de natureza legal ou regulamentar com incidência territorial actualmente existentes deverão ser reconduzidos, no âmbito do sistema de planeamento, ao tipo de instrumento de gestão territorial que se revele adequado à sua vocação (11). 2.2. A classificação dos planos 2.2.1. Os critérios de classificação da LBPOTU e do RJIGT Na LBPOTU e no RJIGT encontra-se a referência directa a dois critérios de classificação dos instrumentos de gestão territorial: o do âmbito dos interesses prosseguidos e o da eficácia jurídica das respectivas normas. Vejamo-los mais em pormenor. 2.2.1.1. Âmbito dos interesses prosseguidos De acordo com o critério do âmbito dos interesses públicos que com cada plano se visa prosseguir (artigos 7.° da LBPOTU e 2.° do RJIGT), o sistema de gestão territorial organiza-se, num quadro de interacção coordenada, em três âmbitos distintos: nacional, regional e municipal. No primeiro, incluem-se os instrumentos de planeamento que visam a prossecução de interesses comuns a todo o território nacional e que definem o quadro estratégico para o ordenamento do mesmo, estabelecendo as directrizes a considerar no ordenamento regional e municipal e a compatibilização entre os diversos instrumentos de po- (11) Para efeitos de aplicação deste normativo, o artigo 154.° do Decreto-Lei n.° 380/99 atribuiu às comissões de coordenação e desenvolvimento regional a competência para, no prazo de um ano a contar da sua entrada em vigor, identificar quais as normas que se pretendiam directamente vinculativas dos particulares e que, por isso, teriam de se integrar quer nos planos municipais quer nos planos especiais de ordenamento do território, após o que, no prazo de 180 dias, as entidades responsáveis por estes (câmaras municipais e Governo) os deveriam alterar, de forma a absorverem aquelas normas. Isto significa que a vinculação dos particulares apenas passou a ser possível através da conversão de normas então existentes em PMOT e PEOT, cumpridas as regras relativas à respectiva elaboração. 15 Fernanda Paula Oliveira lítica sectorial com incidência territorial [artigo 7.°, n.° 2, alínea a), da LBPOTU]. Enquadram-se neste âmbito o PNPOT, os planos sectoriais e os planos especiais de ordenamento do território. No segundo, surgem os instrumentos de cariz regional, que definem o quadro estratégico para o ordenamento do espaço regional em estreita articulação com as políticas nacionais de desenvolvimento económico e social, estabelecendo as directrizes orientadoras do ordenamento municipal [artigo 7.°, n.° 2, alínea b), da LBPOTU]. Neste âmbito enquadra a LBPOTU os planos regionais de ordenamento do território (cfr. também n.° 3 do artigo 2.° do RJIGT). Por fim, e no terceiro nível, encontram-se os instrumentos de âmbito municipal, que definem, de acordo com as directrizes de âmbito nacional e regional e com as opções próprias de desenvolvimento estratégico, o regime de uso do solo e a sua programação [artigo 7.°, n.° 2, alínea c), da LBPOTU]. Neste âmbito integram-se os planos intermunicipais e os planos municipais de ordenamento do território. A classificação aqui referida pode ser traduzida no seguinte quadro explicativo: Âmbito nacional –������������������������������������������������ Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território –������������������ Planos Sectoriais –���������������������������������������������� Planos Especiais de Ordenamento do Território Âmbito regional –���������������������������������������������� Planos Regionais de Ordenamento do Território Âmbito municipal –���������������������������������������������������� Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território –����������������������������������������������� Planos Municipais de Ordenamento do Território 2.2.1.2. Eficácia das respectivas normas O critério da eficácia das normas dos planos pretende diferenciá-los em função dos respectivos destinatários. Com efeito, sendo, embora, os planos instrumentos dotados de importantes efeitos jurídicos e, por isso, de eficácia vinculativa, as suas normas nem sempre visam alcançar ou se dirigem aos mesmos destinatários. Estes podem ser a própria entidade responsável pela sua elaboração (autoplanificação), 16 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão outras entidades públicas (heteroplanificação) ou os particulares (planificação plurisubjectiva) (12). Nos termos da lei, todos os instrumentos de planeamento têm as características da autoplanificação e da heteroplanificação, mas apenas os planos municipais e os planos especiais de ordenamento do território têm eficácia plurisubjectiva, ou seja, vinculam directa e imediatamente os particulares (vide artigo 11.° da LBPOTU). Directamente vinculativos para privados Directamente vinculativos para entidades públicas • Planos municipais • Planos especiais • Todos 2.2.2. Outros critérios de classificação (13) Outros critérios importantes de classificação dos instrumentos de gestão territorial que não encontram consagração directa na LBPOTU nem no RJIGT são o do âmbito territorial de aplicação, o da finalidade e o do grau analítico das normas destes instrumentos de planeamento. Vejamo-los, resumidamente. 2.2.2.1. Âmbito territorial de aplicação O critério aqui em referência reporta-se à área territorial de incidência do plano. De acordo com esta classificação, é possível “arrumar” os instrumentos de planeamento em cinco níveis distintos: o nível nacional, o regional, o supramunicipal, o municipal e o inframunicipal. No nível nacional (referente aos instrumentos que têm por objecto todo o território nacional), integra-se o PNPOT previsto no artigo 9.°, n.° 1, alínea a), da LBPOTU e nos artigos 26.° e segs. do RJIGT. segs. (12) Cfr. Fernando A lves Correia, Manual de Direito do Urbanismo, cit., pp. 384 e (13) Para um desenvolvimento mais consistente desta matéria cfr. Fernando A lves CorO Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, cit., pp. 187-217, e Manual de Direito do Urbanismo, cit., pp. 369 e segs. reia, 17 Fernanda Paula Oliveira No nível regional, encontram-se os planos regionais de ordenamento do território. Nos termos da LBPOTU, a região abrangida por este tipo de planos coincidiria com as regiões administrativas. Considerando, porém, que o processo de regionalização não avançou, o RJIGT veio determinar que a área territorial de aplicação destes instrumentos de gestão territorial passa a corresponder à área de actuação das respectivas comissões de coordenação e desenvolvimento regional, podendo estas propor ao Governo que o mesmo seja estruturado em unidades de planeamento correspondentes a espaços sub-regionais integrados na respectiva área de actuação, susceptíveis de elaboração e aprovação faseadas [artigos 9.°, n.° 1, alínea b), da LBPOTU e 51.°, n.os 2 e 3, do RJIGT] (14). No nível supramunicipal, encontram-se os planos intermunicipais de ordenamento do território, que abrangem a totalidade ou parte das áreas territoriais pertencentes a dois ou mais municípios vizinhos, desde que se trate de áreas que, pela interdependência dos seus elementos estruturantes, necessitam de uma coordenação integrada [artigos 9.°, n.° 1, alínea c), da LBPOTU e 60.° do RJIGT]. No nível municipal, estão os planos directores municipais, que abrangem todo o território do município [artigos 9.°, n.° 2, alínea a), da LBPOTU e 84.°, n.° 1, do RJIGT]. Por fim, no nível inframunicipal, encontram-se os planos de urbanização (PU) e os planos de pormenor (PP). Os primeiros abrangem qualquer área do território municipal integrada no perímetro urbano e solo rural complementar que se revele necessário para estabelecer uma intervenção integrada de planeamento (15), bem como, agora, outras (14) Entretanto, a Lei n.° 10/2003, de 13 de Maio, veio conferir às grandes áreas metropolitanas (GAM) competência para a elaboração de planos regionais, o que significou a atribuição a este nível de organização administrativa de um poder de planeamento sem que, todavia, se tivesse excluído a relevância do disposto no RJIGT, que comete a competência da sua elaboração às comissões de coordenação e desenvolvimento regional, na sequência da decisão de elaboração tomada por intermédio de Resolução do Conselho de Ministros. Esta solução não deixou de causar perplexidades, na medida em que a admissão de elaboração de um mesmo tipo de instrumento de planeamento por distintas entidades não deixaria de funcionar como pólo de potenciais conflitos, a reclamar uma intervenção reguladora do direito. A Lei n.° 10/2003 veio, no entanto, a ser revogada pela Lei n.° 45/2008, de 27 de Agosto, tendo esta questão deixado de se colocar. (15) A integração de solo rural complementar na área de incidência de planos de urbanização não constava da versão inicial do RJIGT, tendo a ela sido aditada pelo Decreto-Lei 18 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão áreas do território municipal (solo rural) que, de acordo com os objectivos e prioridades do plano director municipal, possam ser destinadas a usos e funções urbanas, como sucede com áreas destinadas a parques industriais, logísticos ou de serviços e, ainda, a empreendimentos turísticos e equipamentos e infra-estruturas associadas (artigo 87.° do RJIGT). Os planos de pormenor tratam em detalhe áreas contínuas do território municipal correspondentes, designadamente, a uma unidade ou subunidade operativa de planeamento e gestão, ou a parte delas [artigos 9.°, n.° 2, alínea c), da LBPOTU e 90.°, n.° 3, do RJIGT]. 2.2.2.2. A finalidade dos instrumentos de planeamento Este critério visa sistematizar os planos territoriais de acordo com os objectivos que os mesmos visam prosseguir. Nesta óptica, distinguem-se os planos globais – que estabelecem um ordenamento integral do território por eles abrangido (aplicando-se, por isso, à totalidade do seu território) e disciplinam todos os usos e destinos do solo ou espaço, com vista à satisfação dos vários interesses com repercussão nessa área (16) – dos planos sectoriais, que visam apenas a disciplina ou a prossecução de um interesse público específico. Por visarem uma função ou finalidade específica, os planos sectoriais abrangem somente a área territorial que interessa a essa finalidade. No ordenamento jurídico português, e de acordo com esta classificação, podem ser reconduzidos à categoria dos planos sectoriais os planos especiais de ordenamento do território, na medida em que visam a fixação de princípios e regras de ocupação, uso e transformação do solo nas áreas por eles abrangidas, com vista à satisfação de um interesse público concreto (em regra de ordem ambiental). O mesmo vale para os planos sectoriais propriamente ditos (artigo 9.°, n.° 3, da LBPOTU). n.° 310/2003, de 10 de Dezembro, que recuperou a redacção que constava no Decreto-Lei n.° 69/90, de 2 de Março. (16) É o caso dos planos directores municipais, planos de urbanização e planos de pormenor. 19 Fernanda Paula Oliveira 2.2.2.3. O grau analítico das suas disposições É também possível classificar os planos em função do maior ou menor grau de concretização das respectivas normas. O fundamento para esta classificação repousa na ideia de que a planificação territorial se realiza segundo um processo de concretização progressiva, havendo planos com um maior grau de analiticidade ou concretização do que outros. Desta forma, os planos podem ser classificados em planos projectivos, planos determinativos e planificação-acto. Os primeiros caracterizam-se por terem um grau de abstracção elevado (é o caso do PNPOT e dos PROT). Os planos determinativos caracterizam-se por possuírem um grau de analiticidade intermédio: desenvolvem, tanto sob o ponto de vista territorial como do ponto de vista das matérias, o conteúdo dos planos projectivos e, por outro lado, são recebidos em planos de maior concreteza. São exemplos deste tipo de planos, os planos directores municipais, os planos de urbanização e os planos especiais de ordenamento do território. A planificação-acto compreende os planos que possuem o mais elevado grau de analiticidade ou concretização, no sentido de que as suas previsões não encontram ulterior concretização em outras etapas planificatórias. É o caso dos planos de pormenor. 3. Breve estudo dos instrumentos de gestão territorial (17) A tarefa a que nos propomos de seguida é a indicação e análise, ainda que necessariamente sumária, dos regimes jurídicos específicos de cada um dos instrumentos de gestão territorial indicados, com maior enfoque para aqueles que assumem especial relevo na ocupação do território: os planos municipais. (17) As referências feitas no presente capítulo a artigos sem expressa indicação do respectivo diploma legal, devem considerar-se feitas ao RJIGT. Na exposição da presente matéria, seguimos essencialmente a sistematização do próprio RJIGT que, para cada tipo de instrumento de gestão territorial define sucessivamente os seguintes aspectos: noção; área territorial; objectivos; conteúdo (material e documental); e procedimento (elaboração, acompanhamento, concertação, participação, aprovação, registo e publicação). 20 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão 3.1. O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 3.1.1. Noção: o PNPOT é o documento que estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território nacional, consubstanciando o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial, e constitui um instrumento de cooperação com os demais Estados-membros para a organização do território da União Europeia (artigo 26.°). Trata-se de um instrumento essencialmente orientador, ou seja, que define as directivas e orientações fundamentais em matéria da organização do território nacional. 3.1.2. Âmbito territorial: o PNPOT é um instrumento de aplicação a todo o território nacional. 3.1.3. Objectivos: são objectivos do PNPOT definir o quadro para o desenvolvimento integrado, harmonioso e sustentável do país; garantir a coesão territorial do país, atenuando as assimetrias regionais e garantindo a igualdade de oportunidades; estabelecer a tradução espacial das estratégias de desenvolvimentos económico e social; articular as políticas sectoriais com incidência na organização do território; racionalizar o povoamento, a implantação de equipamentos estruturantes e a definição das redes; estabelecer parâmetros de acesso às funções urbanas e às formas de mobilidade; e, por fim, definir princípios orientadores da disciplina de ocupação do território (artigo 27.°). 3.1.4. Conteúdo material: o PNPOT, nos termos do artigo 28.°, tem, como conteúdo material: – fixar o modelo de organização espacial, designadamente as opções e as directrizes relativas à conformação do sistema urbano, das redes das infra-estruturas e equipamentos de interesse nacional, bem como à salvaguarda e valorização das áreas de interesse nacional em termos ambientais, patrimoniais e de desenvolvimento rural; – determinar os objectivos e os princípios assumidos pelo Estado, numa perspectiva de médio e de longo prazo, quanto à localização das actividades, dos serviços e dos grandes investimentos públicos; 21 Fernanda Paula Oliveira – estabelecer os padrões mínimos e os objectivos a atingir em matéria de qualidade de vida e da efectivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais; – determinar objectivos quantitativos e qualitativos a atingir em matéria de estruturas de povoamento bem como de implantação de infra-estruturas e de equipamentos estruturantes; – fixar as orientações para a coordenação entre as políticas de ordenamento do território e de desenvolvimento regional, em particular para as áreas em que as condições de vida ou a qualidade do ambiente sejam inferiores à média nacional; – estabelecer as medidas de articulação entre as políticas de ordenamento do território que assegurem as condições necessárias à concretização de uma estratégia de desenvolvimento sustentado e de utilização parcimoniosa dos recursos naturais; – determinar as medidas de coordenação dos planos sectoriais com incidência territorial. Apesar de ser um instrumento de âmbito e de aplicação nacional, o PNPOT pode, em todo o caso, criar directrizes aplicáveis a certo tipo de áreas ou de temáticas com incidência territorial (n.° 2 do artigo 28.°). 3.1.5. Conteúdo documental: no que concerne ao respectivo conteúdo documental, o PNPOT é constituído, nos termos do artigo 29.°, por um relatório (que define os cenários de desenvolvimento territorial e fundamenta as orientações estratégicas, as opções e as prioridades da intervenção político-administrativa em matéria de ordenamento do território, sendo acompanhado de peças gráficas ilustrativas do modelo de organização espacial estabelecido) e por um programa de acção que fixa, designadamente, os objectivos a atingir a médio ou longo prazos; os compromissos do Governo em matéria de medidas legislativas, de investimentos públicos ou de aplicação de outros instrumentos de natureza fiscal ou financeira, para a concretização da política de desenvolvimento territorial; as propostas do Governo para a cooperação neste domínio com as autarquias locais e as entidades privadas, incluindo o lançamento de programas de apoio específico; e os meios financeiros das acções propostas. 22 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão 3.1.6. Elaboração: a elaboração do PNPOT é determinada por Resolução do Conselho de Ministros (18) divulgada, designadamente, através da comunicação social [cfr. alínea a) do n.° 3 do artigo 6.°] e é da competência do Governo, sendo elaborado sob coordenação do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território (artigo 30.°). A sua elaboração é acompanhada por uma comissão consultiva composta por representantes das regiões autónomas, das autarquias locais e dos interesses económicos, sociais, culturais e ambientais relevantes (artigo 31.°). O PNPOT está sujeito a um período formal de discussão pública (artigo 33.°), devendo ainda a sua proposta ser submetida à avaliação crítica e a parecer de, pelo menos, três entidades universitárias ou científicas nacionais com uma prática relevante nas áreas do ordenamento do território. O PNPOT é aprovado por Lei da Assembleia da República (artigo 34.°) que, conjuntamente com o relatório e todas as peças gráficas ilustrativas, é publicada na I.a Série do Diário da República (artigo 148.°), devendo ainda ser objecto de publicação em dois jornais diários e num semanário de grande expansão nacional e na página Internet do Governo (artigo 149.°) e depositado na Direcção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (artigo 150.°). O diploma nada refere quanto ao prazo de vigência do PNPOT. 3.1.7. Eficácia jurídica: o PNPOT vincula todas as entidades públicas mas não é directamente vinculativo para os particulares (artigo 3.°, n.° 1). 3.1.8. Situação actual: de previsão legal, o PNPOT transformou-se, desde 4 de Agosto de 2007, numa realidade jurídica. Com efeito, a Lei n.° 58/2007, de 4 de Setembro (19), aprovou o primeiro Programa Nacional de Ordenamento do Território em Portugal, alterando os pressupostos do sistema de planeamento português, que passou a dispor de (18) Desta resolução devem constar, nomeadamente, os princípios orientadores do PNPOT, bem como a metodologia definida para a compatibilização das disciplinas dos diversos instrumentos de desenvolvimento territorial e a articulação das intervenções de âmbito nacional, regional e local; as competências relativas à elaboração do programa nacional e os prazos da sua elaboração [cfr. alíneas a), b) e c) do n.° 2 do artigo 30.°]. (19) Rectificada posteriormente pelas Declarações de Rectificação n.° 80-A/2007, de 7 de Setembro, e n.° 103-A/2007, de 2 de Novembro. 23 Fernanda Paula Oliveira um instrumento enquadrador da política de ordenamento do território e, ao mesmo tempo, coordenador dos restantes instrumentos com repercussão territorial, fornecendo uma visão integrada deste. Mais, a referida aprovação correspondeu a uma manifestação da dinâmica de elaboração de instrumentos de gestão territorial da responsabilidade da Administração central. Com efeito, esta ocorreu ao mesmo tempo que o Governo “acelerava” os procedimentos tendentes à aprovação de planos regionais de ordenamento do território. Esta dinâmica teve a sua primeira manifestação com publicação da revisão do Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve imediatamente seguida da publicação do PNPOT, encontrando-se em elaboração os planos regionais de ordenamento do território do Alentejo, do Norte e do Centro. O PNPOT é constituído por um Relatório – que, para além do enquadramento territorial das políticas nacionais e regionais, integra ainda a estratégia e o modelo territorial a adoptar, fornecendo, entre outras coisas, o diagnóstico do ordenamento do território em Portugal nos últimos anos – e por um Programa de Acção – que enumera os objectivos estratégicos (na sequência da sua previsão pela Resolução de Conselho de Ministros n.° 76/2002, de 11 de Abril), concretizando-os em objectivos específicos, fornecendo ainda, a propósito de cada um dos referidos objectivos (estratégicos e específicos), orientações, directivas e medidas a adoptar para a respectiva concretização: o próprio PNPOT facilita a tarefa aos seus aplicadores ao incluir quadrossíntese, indicando quais as áreas de acção governativa e quais os tipos de intervenção exigida. Os seis objectivos estratégicos a que se refere o PNPOT são: 1. Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os riscos; 2. Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu e global; 3. Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra-estruturas de suporte à integração e à coesão territoriais; 4. Assegurar a equidade territorial no provimento de infra-estruturas e de equipamentos colectivos e a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social; 24 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão 5. Expandir as redes e infra-estruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública; 6. Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, activa e responsável dos cidadãos e das instituições. 3.2. Os planos sectoriais 3.2.1. Noção: os planos sectoriais são instrumentos de planeamento que programam ou concretizam as políticas de desenvolvimento económico e social com incidência espacial, determinando o respectivo impacto territorial. Nesta perspectiva, são planos sectoriais os planos, programas ou estratégias de desenvolvimento respeitantes aos diversos sectores da Administração central, nomeadamente nos domínios dos transportes, das comunicações, da energia, e recursos geológicos, da educação e da formação, da cultura, da saúde, da habitação, do turismo, da agricultura, comércio e indústria, das florestas e do ambiente [artigos 8.°, alínea c), e 9.°, n.° 3, da LBPOTU] (20). Em termos práticos, trata-se de instrumentos que existiam já no nosso ordenamento jurídico (pense-se, por exemplo, no Plano Rodoviário Nacional) mas que, ao não estarem expressamente inseridos ou regulados pelo sistema de planeamento, levantavam dúvidas, designadamente, quanto à sua relação e articulação com os restantes instrumentos. Tal aspecto é agora clarificado com a recondução dos planos sectoriais ao sistema de gestão territorial (21). A par destes, consideram-se ainda planos sectoriais, os regimes territoriais definidos ao abrigo de lei especial (o caso da Rede Natura 2000) (22) e as decisões sobre a localização e a realização de grandes empreendimentos públicos com incidência territorial (artigo 35.°, n.° 2). (20) Apenas na medida em que cada um destes instrumentos tenha uma incidência directa ou indirecta sobre o território podem os mesmos ser considerados planos sectoriais. (21) Sobre a relação destes planos sectoriais com os restantes instrumentos de gestão territorial, cfr. infra. (22) Sobre a questão de saber se a Reserva Ecológica Nacional deve ser reconduzida a esta categoria de planos sectoriais (regimes especiais definidos ao abrigo de lei especial) e a aparente não consideração da mesma neste sentido pela legislação a ela referente, vide o nosso 25 Fernanda Paula Oliveira Para além das situações expressamente previstas no artigo 35.° do RJIGT, devem ainda ser reconduzidos à tipologia dos planos sectoriais todos os instrumentos de natureza legal ou regulamentar com incidência territorial existentes à data da entrada em vigor do RJIGT e que não tenham, nos termos definidos nos n.os 2 e 3 do seu artigo 154.°, sido reconduzidos (adaptados) à tipologia “fechada” nele prevista. Com efeito, estes instrumentos, desde que da responsabilidade da Administração estadual, continuam em vigor, mas com a natureza de planos sectoriais: assim o determina expressamente o n.° 4 do artigo 154.° do RJIGT, o que significa ser esta uma categoria residual de instrumentos de gestão territorial. A qualificação de um instrumento com incidência territorial como plano sectorial tem como consequência imediata a impossibilidade de o mesmo poder produzir efeitos directos e imediatos em relação aos particulares e de dever ficar sujeito aos princípios basilares de elaboração deste tipo de instrumentos de gestão territorial, designadamente em matéria de acompanhamento, participação e publicação. Por se ter determinado a recondução dos vários instrumentos (quer de natureza legal ou regulamentar) à tipologia de instrumentos de gestão territorial prevista na LBPOTU e no RJIGT, sob pena de passarem a ter natureza de planos sectoriais, consideramos que se mantêm em vigor, mas com esta natureza, designadamente os regulamentos das áreas protegidas definidores das regras aplicáveis às mesmas enquanto não estiverem em vigor os respectivos planos de ordenamento. “A Reserva Ecológica Nacional e o planeamento do território: a necessária consideração integrada de distintos interesses públicos”, in Revista Jurídica de Urbanismo e Ambiente, n.° 27/28, 2007. Já no que concerne ao Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional e à delimitação da mesma, em causa parece estar um instrumento de natureza híbrida que a aproxima mais da figura dos planos sectoriais (regimes territoriais definidos ao abrigo de lei especial), mas que com ela não coincide completamente. Assim, embora a referida delimitação possa ocorrer no âmbito do procedimento de planeamento municipal – numa lógica de hierarquia flexível que liga os planos municipais aos sectoriais –, não se torna necessário, ao contrário do que acontece com este tipo de instrumentos de gestão territorial, que o plano municipal seja levado a ratificação para que a delimitação se considere efectuada, bastando que o parecer favorável da Comissão da Reserva Agrícola Nacional necessário para o efeito seja emanado no âmbito do procedimento de elaboração do plano municipal (em momento anterior ao desfecho da fase de acompanhamento/concertação). Neste sentido, aponta o artigo 32.°, n.os 1 e 4, do Regime da Reserva Agrícola Nacional, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 73/2009, de 31 de Março. 26 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão 3.2.2. Âmbito territorial: os planos sectoriais abrangem a área territorial necessária para a respectiva intervenção, sendo em regra uma área supramunicipal. 3.2.3. Conteúdo: os planos sectoriais estabelecem, nomeadamente, as opções sectoriais e os objectivos a alcançar, no quadro das directrizes nacionais aplicáveis; a expressão territorial da política sectorial definida e as acções de concretização dos objectivos territoriais estabelecidos (artigo 36.°). Do ponto de vista documental, os planos sectoriais integram as peças gráficas necessárias à representação da respectiva expressão territorial, sendo acompanhados por um relatório, que procede ao diagnóstico da situação territorial sobre que intervém e à fundamentação técnica das opções e os objectivos estabelecidos (artigo 37.°). 3.2.4. Elaboração: a elaboração dos planos sectoriais é determinada por despacho do ministro competente em razão da matéria, cabendo a elaboração às entidades públicas que integram a Administração estadual directa ou indirecta (artigo 38.°). No que diz respeito ao acompanhamento, este é feito por intermédio da mera emissão de pareceres por parte da CCDR, entidades e serviços da Administração central representativas de interesses a ponderar e câmaras municipais abrangidas, tendo deixado de ser feito por uma comissão que integre os representantes de cada uma daquelas entidades. No entanto, a entidade responsável pela elaboração do plano pode optar por promover uma conferência de serviços entre todas aquelas entidades (artigos 39.°, n.° 3, e 75.°-B). Os planos sectoriais estão sujeitos a avaliação ambiental estratégica quando sirvam de enquadramento para a futura aprovação de projectos sujeitos a avaliação de impacte ambiental. Assim, quando em causa esteja, por exemplo, a decisão sobre a localização e realização de grandes empreendimentos públicos com incidência territorial [alínea c) do n.° 2 do artigo 35.°], correspondendo estes empreendimentos a um daqueles que, nos termos e de acordo com os critérios constantes do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 197/2005, de 8 de Novembro, estejam sujeitos, na respectiva concretização, a avaliação de impacte ambiental, então, a 27 Fernanda Paula Oliveira elaboração do plano sectorial estará sujeita a avaliação ambiental estratégica. Para além disso, os planos sectoriais estão sujeitos a discussão pública (artigo 40.°) e são aprovados por Resolução do Conselho de Ministros, salvo quando uma norma especial determine a sua aprovação por decreto-lei ou por decreto regulamentar (artigo 41.°). A Resolução do Conselho de Ministros ou, se for o caso, o decreto-lei ou o decreto regulamentar que aprovam os planos sectoriais são publicados na I.a Série do Diário da República [artigo 148.°, n.° 2, alínea e)], devendo ainda ser objecto de publicação em dois jornais diários, num semanário de grande expansão nacional e na página Internet da entidade responsável pela sua elaboração (artigo 149.°) e depositados na Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (artigo 150.°). 3.2.5. Eficácia jurídica: os planos sectoriais vinculam todas as entidades públicas mas não são directamente vinculativos para os particulares (artigo 3.°, n.° 1, do RJIGT). 3.2.6. Os planos sectoriais na prática: Uma análise da prática administrativa e jurisprudencial referente aos planos sectoriais permite-nos concluir pela dificuldade que as mesmas têm tido em lidar com uma tipologia de instrumentos de gestão territorial tão abrangente e variada, à qual se reconduzem instrumentos com conteúdos tão distintos e com graus de precisão tão diferenciados (desde planos, programas e estratégias de desenvolvimento, de cariz mais genérico, até decisões sobre a localização e realização de grandes empreendimentos públicos com incidência territorial, de cariz concreto e determinado). Por isso, e em especial, quando estão em causa instrumentos de planeamento de grau mais preciso, aquela prática tem vindo a esquecer que estes instrumentos não dispõem de eficácia plurisubjectiva – o que obriga a que a sua opção seja “transposta” para a escala do planeamento municipal para que possa ser oposta directamente aos particulares –, embora reconheça sempre a sua superioridade hierárquica em relação aos planos municipais. Na nossa óptica, esta prática não traduz mais do que a necessidade de se reponderar e, eventualmente, reconsiderar o tipo de eficácia 28 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão que deve ser reconhecida aos planos sectoriais. É que, em nossa opinião, o que deve determinar se um instrumento de gestão territorial deve ter ou não eficácia plurisubjectiva não é propriamente a tipologia a que o mesmo se reconduz, mas o seu conteúdo material: um plano de natureza estratégica, que traduz as grandes opções com relevância para a organização do espaço, que define directrizes de carácter genérico sobre o modo de uso do mesmo e que se destina, no seu essencial, a servir de enquadramento e de referência para outras opções planificadoras (como o são os instrumentos de gestão territorial reconduzidos à categoria genérica dos instrumentos de desenvolvimento territorial) apenas deve vincular entidades públicas (que são as destinatárias das suas normas); instrumentos de gestão territorial com conteúdo preciso, que afectam parcelas do território a fins concretos e determinados, como o fazem muitos dos planos sectoriais, devem ser dotados de eficácia plurisubjectiva. A lógica do sistema actual, com a necessidade de fazer reconduzir (integrar ou transpor) para os planos municipais de ordenamento do território, em especial, para o plano director municipal, todas as opções dos níveis superiores que se pretende que sejam directamente vinculativas dos particulares (por não serem dotadas deste tipo de eficácia), embora tenham óbvias vantagens da perspectiva da segurança jurídica (já que os interessados passam a saber que as regras – todas – que podem afectar a sua esfera jurídica, estão neles integradas), acaba por fazer dos planos directores municipais um repositório das mais variadas matérias, da responsabilidade dos mais distintos sectores, fazendo perder de vista aquilo que lhe é essencial. Por isso, consideramos fundamental que, pelo menos em relação a determinado tipo de planos sectoriais, seja repensado o tipo de eficácia que lhes é reconhecida. 3.3. Planos Especiais de Ordenamento do Território 3.3.1. Noção e tipos: os planos especiais de ordenamento do território são instrumentos de natureza regulamentar, elaborados pela Administração central e que constituem um meio supletivo de intervenção do Governo, tendo em vista a prossecução de objectivos de interesse nacional com repercussão espacial, estabelecendo regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e assegurando a permanência dos 29 Fernanda Paula Oliveira sistemas indispensáveis à utilização sustentável do território. (n.os 1 e 2 do artigo 42.°). Integram a categoria genérica dos planos especiais de ordenamento do território os planos de ordenamento de áreas protegidas, os planos de albufeiras de águas públicas, os planos de ocupação da orla costeira e os planos de ordenamento de estuários: os três primeiros, tipificados como tal na versão inicial do RJIGT, o último aditado a este diploma pelo artigo 98.°, n.° 3, da Lei n.° 58/2005 (Lei da Água) e, posteriormente pelo Decreto-Lei n.° 316/2007 (23). 3.3.2. Área territorial: os planos especiais abrangem a área necessária para o interesse específico a prosseguir. Por isso, em regra, a área territorial da sua abrangência não faz parte da sua caracterização tipológica. Nem sempre, porém, tal sucede. Veja-se o caso dos planos de ordenamento das áreas protegidas, que têm o seu âmbito de aplicação legalmente delimitado: aplicam-se à área como tal classificada. Com efeito, ao contrário dos restantes planos especiais de ordenamento do (23) Nos termos do artigo 22.° da Lei da Água, os planos de ordenamento dos estuários visam a protecção das suas águas, leitos e margens e dos ecossistemas que as habitam, assim como a valorização social, económica e ambiental da orla terrestre envolvente, e, nomeadamente: a) asseguram a gestão integrada das águas de transição com as águas interiores e costeiras confinantes, bem como dos respectivos sedimentos; b) preservam e recuperam as espécies aquáticas e ribeirinhas protegidas e os respectivos habitats; c) ordenam a ocupação da orla estuarina e salvaguardam os locais de especial interesse urbano, recreativo, turístico e paisagístico; d) indicam os usos permitidos e as condições a respeitar pelas várias actividades industriais e de transportes implantadas em torno do estuário. O regime particular deste tipo de planos foi remetido pela Lei da Água para diploma específico, o qual veio a ser aprovado pelo Decreto-Lei n.° 129/2008, de 21 de Julho. Deste consta, o âmbito de intervenção, os objectivos e as regras procedimentais específicas de aprovação destes planos especiais de ordenamento do território. Também os planos de ordenamento de parques arqueológicos aparecem referenciados no artigo 75.°, n.° 7, da Lei n.° 107/2001, de 10 de Setembro, e no artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 131/2002, de 11 de Maio, como detendo natureza especial. A doutrina colocou, desde logo, dúvidas sobre esta sua efectiva natureza, na medida em que, de acordo com as suas características, se enquadrava melhor na categoria aberta dos planos sectoriais. No entanto, e não obstante o princípio da tipicidade consagrado no artigo 33.° da LBPOTU, concluía-se pela sua integração na categoria dos planos especiais, na medida em que a Lei n.° 107/2001 se apresenta igualmente, tal como a Lei n.° 48/98, como uma lei de bases (que estabelece as bases do sistema de protecção do património cultural). Assim o defende Fernando A lves Correia, Manual de Direito do Urbanismo, cit., pp. 374 e segs., em nota. Contudo, existe um “desencontro legislativo” no que a este aspecto particular diz respeito, na medida em que o Decreto-Lei n.° 316/2007, que veio introduzir alterações ao RJIGT, 30 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão território – que têm a área territorial que em cada caso se revele necessária à prossecução dos respectivos objectivos [sendo a mesma devidamente identificada na Resolução do Conselho de Ministros que determina a sua elaboração, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 46.° do RJIGT] –, o mesmo não sucede com os planos de ordenamento das áreas protegidas, os quais, estabelecendo as regras que visam o ordenamento das referidas áreas, vêem a sua incidência territorial coincidir com o âmbito territorial de abrangência destas, tal como se encontram delimitadas no acto da sua concreta criação. No que concerne aos planos de ordenamento da orla costeira, embora a respectiva área territorial de abrangência não se encontre previamente delimitada, os mesmos incidem sempre sobre as águas costeiras e interiores e respectivos leitos e margens, com faixas de protecção a definir no âmbito de cada plano (zona terrestre de protecção), cuja largura máxima, contudo, não pode exceder os 500 metros contados da linha que limita a margem das águas do mar, abrangendo ainda a faixa marítima de protecção, que tem como limite máximo a batimétrica -30. Tal significa que, embora conferindo às entidades competentes alguma margem na conformação da respectiva área territorial, se estabelece um limite a esse poder. 3.3.3. Objectivos: os planos especiais visam a salvaguarda de objectivos de interesse nacional com incidência territorial delimitada, bem como a tutela de princípios fundamentais consagrados no PNPOT e não assegurados por plano municipal de ordenamento do território (artigo 43.°). 3.3.4. Conteúdo material: os planos especiais estabelecem regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais, fixando os usos e o regime de gestão compatível com a utilização sustentável do território (artigo 44.°). Embora dotados de eficácia plurisubjectiva, não lhes cabe proceder à classificação e qualificação dos solos (tarefa que está reservada tendo integrado os planos de ordenamento dos estuários na categoria dos planos especiais, não dispensou o mesmo tipo de tratamento aos planos de ordenamento de parques arqueológicos, o que deixa dúvidas quanto à sua verdadeira intenção relativamente a estes. 31 Fernanda Paula Oliveira para os planos municipais de ordenamento do território), já que correspondem a um meio subsidiário, supletivo e sectorial de intervenção no território – ao contrário dos planos municipais que se apresentam, como veremos, como instrumentos de carácter global e de regulação normal de ocupação do espaço. Assim, embora seja verdade que os planos especiais também são, de acordo com o sistema em vigor, directamente vinculativos dos particulares, esta vinculatividade advém-lhes não da capacidade de fixação de regras de ocupação e uso do espaço – tarefa que cabe aos planos municipais –, mas da determinação de regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e de regimes de gestão das suas áreas compatíveis com a utilização sustentável do território. O que significa que os planos especiais apenas podem proceder à indicação das actividades permitidas, condicionadas e proibidas com vista à salvaguarda dos recursos e dos valores naturais das áreas sobre que incidem: os usos nele regulados são apenas aqueles que se consideram compatíveis com a utilização sustentável do território. Este é o sentido da alteração que o Decreto-Lei n.° 316/2007 veio introduzir ao artigo 44.° do RJIGT, dele retirando a expressão “usos”, de modo a clarificar as distintas funções que eles assumem comparativamente com os planos municipais: àqueles compete a identificação dos usos compatíveis com vista à referida salvaguarda; aos municipais a delimitação dos perímetros urbanos (classificação dos solos) e a identificação das categorias em função do uso dominante que neles pode ser estabelecido (qualificação dos mesmos) (24). Ou seja, e concluindo, não obstante a importância, no sistema de gestão territorial português, dos planos municipais e dos planos especiais de ordenamento do território, dada a eficácia directa e imediata das suas prescrições quer em relação a entidades públicas quer aos particulares, os primeiros assumem maior relevo por comparação com os segundos, que se apresentam como instrumentos de carácter meramente sectorial (atentos os fins que visam prosseguir), supletivo e (24) Neste sentido, vide o nosso “Planos Especiais de Ordenamento do Território: tipicidade e estado da arte”, in RevCEDOUA, n.° 17, 2007, pp. 76-77, e O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. As Alterações do Decreto-Lei n.° 316/2007, de 19 de Setembro, Coimbra, Almedina, 2008, pp. 54 e segs. 32 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão transitório (por se destinarem a vigorar enquanto se mantiver a indispensabilidade de tutela daqueles valores por instrumentos de âmbito nacional) (25). 3.3.5. Conteúdo documental: os planos especiais são constituídos por um regulamento e pelas peças gráficas necessárias à representação da respectiva expressão territorial. São acompanhados por um relatório que justifica a disciplina definida, uma planta de condicionantes, que identifica as servidões e as restrições de utilidade pública em vigor, sendo os demais elementos definidos por portaria do Ministro do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território (artigo 45.°). 3.3.6. Elaboração: a elaboração dos planos especiais é da competência do Governo (artigo 46.°), sendo acompanhada por uma comissão de acompanhamento. Existe a obrigatoriedade de publicitação da abertura do procedimento de elaboração dos planos especiais para permitir a participação preventiva dos particulares, prevendo-se, ainda, uma consulta formal ao público antes da aprovação. Esta segunda fase de participação é devidamente publicitada (artigo 48.°). Finda a participação dos particulares, a entidade responsável está obrigada a um dever de resposta perante todos aqueles que invoquem desconformidade do plano especial com outros instrumentos de gestão territorial eficazes; incompatibilidade com planos, programas ou projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração; desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis e eventual lesão de direitos subjectivos (artigo 48.°, n.° 5). Os planos especiais são aprovados por Resolução do Conselho de Ministros, vigorando enquanto se mantiver a indispensabilidade de tutela, por instrumentos de âmbito nacional, dos interesses públicos a salvaguardar (artigos 49.° e 50.°). A Resolução do Conselho de (25) É isso que determina o artigo 50.° do RJIGT, bem como a parte final da alínea d) do artigo 8.° da LBPOTU, que caracteriza os planos especiais como instrumentos transitórios de salvaguarda de princípios fundamentais do PNPOT. A tendência é, assim, para os seus regimes serem absorvidos pelos planos municipais como seus determinantes heterónomos, à margem, por isso, de uma modificação unilateral por parte do município numa futura revisão ou alteração destes instrumentos de planeamento da sua responsabilidade. 33 Fernanda Paula Oliveira Ministros que aprova o plano especial de ordenamento do território é publicada na I.a Série do Diário da República, sendo o plano objecto de publicação em dois jornais diários e num semanário de grande expansão nacional e na página Internet da entidade responsável pela sua elaboração [artigos 148.°, n.° 2, alínea g), e 149.°, n.° 1]. O plano é depositado ainda na Direcção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (artigo 150.°). 3.3.7. Eficácia jurídica: os planos especiais de ordenamento do território vinculam entidades públicas e também, de forma directa e imediata, os particulares (artigo 3.°, n.° 2). 3.3.8. A situação actual dos planos especiais de ordenamento do território: o território nacional encontra-se já abrangido por uma multiplicidade de planos especiais de ordenamento do território. Em algumas situações, existe mesmo uma sobreposição territorial de alguns deles (como sucede com alguns planos de ordenamento da orla costeira que integram áreas protegidas). No que concerne aos planos de ordenamento da orla costeira, estão em vigor o de Caminha-Espinho (Resolução do Conselho de Ministros n.° 25/1999, de 7 de Abril) – cuja área de abrangência integra, Parque Natural do Litoral Norte –, o de Ovar-Marinha Grande (Resolução do Conselho de Ministros n.° 142/2000, de 20 de Outubro) – que abrange a Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto –, o de Alcobaça-Mafra (Resolução do Conselho de Ministros n.° 11/2002, de 17 de Janeiro), o de Sintra-Sado (Resolução do Conselho de Ministros n.° 86/2003, de 25 de Junho) – que incide sobre a área do Parque Natural de Sintra-Cascais, da Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica e do Parque Natural da Arrábida –, o da Cidadela-S. Julião da Barra (Resolução do Conselho de Ministros n.° 123/1998, de 24 de Setembro), o do Sado-Sines (Resolução do Conselho de Ministros n.° 136/99, de 2 Outubro) – que incide sobre a área da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha –, o de Sines-Burgau (Resolução do Conselho de Ministros n.° 152/1998, de 30 de Dezembro) – que abrange áreas do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina –, o de Burgau-Vilamoura (Resolução do Conselho de Ministros n.° 33/1999, de 27 de Março) e o de Vilamoura-Vila Real de St.° António (Resolução 34 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão do Conselho de Ministros n.° 103/2005, de 27 de Junho) – e que tem incidência sobre a área do Parque Natural da Ria Formosa. No que diz respeito às áreas protegidas, das 29 áreas classificadas, apenas quatro ainda não dispõem de plano de ordenamento: a área de Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo, a área de Paisagem Protegida do Corno de Bico (Discussão Pública de 22.09.2009 a 03.11.2009), a área de Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos (Discussão Pública de 22.09.2009 a 03.11.2009) e a área de Paisagem Protegida da Serra de Montejunto (26). Todos os restantes têm já em vigor (alguns já revistos), os respectivos planos de ordenamento: Parque Nacional da Peneda-Gerês (Resolução do Conselho de Ministros n.° 134/95, de 11 de Novembro, em curso de revisão); Parque Natural do Alvão (Resolução do Conselho de Ministros n.° 62/2008, de 7 de Abril); Parque Natural da Arrábida (Resolução do Conselho de Ministros n.° 141/2005, de 23 de Agosto); Parque Natural do Douro Internacional (Resolução do Conselho de Ministros n.° 120/2005, de 29 de Julho); Parque Natural do Litoral Norte (Resolução do Conselho de Ministros n.° 175/2008, de 24 de Novembro); Parque Natural de Montesinho (Resolução do Conselho de Ministros n.° 179/2008, de 24 de Novembro); Parque Natural da Ria Formosa (Resolução do Conselho de Ministros n.° 78/2009, de 2 de Setembro); Parque Natural da Serra da Estrela (Resolução do Conselho de Ministros n.° 83/2009, de 9 de Setembro); Parque Natural da Serra de São Mamede (Resolução do Conselho de Ministros n.° 77/2005, de 21 de Março); Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (Portaria n.° 21/88, de 12 de Janeiro, estando em curso de revisão); Parque Natural de Sintra-Cascais (Resolução do Conselho de Ministros n.° 1A/2004, de 8 de Janeiro), Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Decreto Regulamentar n.° 33/95, de 11 de Dezembro, alterado pelo Decreto Regulamentar n.° 9/99, de 15 de Junho, estando em curso de revisão com medidas preventivas aprovadas pela Resolução do Conselho de Ministros n.° 19/2008, de 4 de Fevereiro); Parque Natural do Tejo Internacional (26 ) http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007/O+ICNB/Ordenamento+e+Gestão/ Planos+de+Ordenamento+da+Orla+Costeira+%28POOC%29/POOCs.htm, consultado em 14.02.2010. 35 Fernanda Paula Oliveira (Resolução do Conselho de Ministros n.° 176/2008, de 24 de Novembro); Parque Natural do Vale do Guadiana (Resolução do Conselho de Ministros n.° 161/2004, de 10 de Novembro); Reserva Natural das Berlengas (Resolução do Conselho de Ministros n.° 180/2008, de 24 de Novembro); Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto (Resolução do Conselho de Ministros n.° 77/2005, de 21 de Março); Reserva Natural do Estuário do Sado (Resolução do Conselho de Ministros n.° 182, de 24 de Novembro); Reserva Natural do Estuário do Tejo (Resolução do Conselho de Ministros n.° 177/2008, de 24 de Novembro); Reserva Natural das Lagoas de St.° André e da Sancha (Resolução do Conselho de Ministros n.° 117/2007, de 23 de Agosto, com Declaração de Rectificação n.° 90/2007, de 16 Outubro); Reserva Natural do Paul de Arzila (Resolução do Conselho de Ministros n.° 75/2004, de 19 de Junho); Reserva Natural do Paul do Boquilobo (Resolução do Conselho de Ministros n.° 50/2008, de 19 de Março); Reserva Natural do Sapal de Castro Marim-Vila Real de St.° António (Resolução do Conselho de Ministros n.° 181/2008, de 24 de Novembro); Reserva Natural da Serra da Malcata (Resolução do Conselho de Ministros n.° 80/2005, de 29 de Março); Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica (Resolução do Conselho de Ministros n.° 178/2008, de 24 de Novembro); Paisagem Protegida da Serra do Açor (Resolução do Conselho de Ministros n.° 183/2008, de 24 de Novembro) (27). No que concerne às albufeiras de águas públicas, são as seguintes as que dispõem de planos aprovados (28): Alqueva e Pedrógão (Resolução do Conselho de Ministros n.° 96/2006, de 4 de Agosto); Alto Lindoso e Touvedo (Resolução do Conselho de Ministros n.° 27/2004, de 8 de Março); Alvito (Resolução do Conselho de Ministros n.° 151/98, de 26 de Dezembro); Azibo (Despacho Conjunto, de 8 de Junho de 1993); Bravura (Resolução do Conselho de Ministros n.° 71/2004, de 12 de Junho); Cabril, Bouçã e St.a Luzia (Resolução do Conselho de Ministros n.° 45/2002, de 13 de Março); Caia (Despacho Conjunto, de 13 de Julho de 1993); Campilhas (Resolução do Conselho de Ministros n.° 17/2007, (27 ) http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007/O+ICNB/Ordenamento+e+Gestão/ Planos+de+Ordenamento+das+Áreas+Protegidas+%28POAP%29/poap.htm, consultado em 14.02.2010. (28) http://www.inag.pt/inag2004/port/a_intervencao/planeamento/poa/poa_ situa. html#aprovados, em 14.02.2010. 36 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão de 5 de Fevereiro); Caniçada (Resolução do Conselho de Ministros n.° 92/2002, de 7 de Maio); Castelo do Bode (Resolução do Conselho de Ministros n.° 69/2003, de 10 de Maio); Cova do Viriato (Resolução do Conselho de Ministros n.° 42/2004, de 31 de Março); Divor (Resolução do Conselho de Ministros n.° 115/2005, de 6 de Julho); Enxoé (Resolução do Conselho de Ministros n.° 167/2006, de 15 de Dezembro); Fonte Serne (Resolução do Conselho de Ministros n.° 15/2007, de 31 de Janeiro); Gameiro (Despacho Conjunto, de 17 de Agosto de 1993); Maranhão (Resolução do Conselho de Ministros n.° 117/99, de 6 de Outubro); Montargil (Resolução do Conselho de Ministros n.° 94/2002, de 8 de Maio); Monte Novo (Resolução do Conselho de Ministros n.° 120/2003, de 14 de Agosto); Monte da Rocha (Resolução do Conselho de Ministros n.° 154/2003, de 29 de Setembro); Pego do Altar (Resolução do Conselho de Ministros n.° 35/2005, de 24 de Fevereiro); Póvoa e Meadas (Resolução do Conselho de Ministros n.° 37/98, de 9 de Março); Régua e Carrapatelo (Resolução do Conselho de Ministros n.° 62/2002, de 23 de Março); Santa Águeda e Pisco (Resolução do Conselho de Ministros n.° 107/2005, de 28 de Junho); Tapada Grande (Resolução do Conselho de Ministros n.° 114/2005, de 4 de Julho); Vigia (Resolução do Conselho de Ministros n.° 50/98, de 20 de Abril); e Vilar (Resolução do Conselho de Ministros n.° 158/2004, de 5 de Novembro). 3.4. Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) 3.4.1. Noção: os PROT são instrumentos que definem a estratégia regional de desenvolvimento territorial e constituem o quadro de referência para a elaboração dos planos municipais de ordenamento do território (artigo 51.°, n.° 1). 3.4.2. Âmbito territorial: o PROT abrange, em princípio, a área correspondente à respectiva CCDR que o elabora, mas esta pode propor ao Governo que o PROT seja estruturado em unidades de planeamento sub-regionais integradas na respectiva área de actuação susceptíveis de elaboração e aprovação faseada (artigo 51.°, n.° 3). 3.4.3. Objectivos: os PROT têm por objectivo desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do PNPOT e dos planos secto37 Fernanda Paula Oliveira riais; traduzir, em termos espaciais, os grandes objectivos de desenvolvimento económico e social sustentável formulados no plano de desenvolvimento regional; equacionar medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento intraregional; e servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial e de quadro de referência para a elaboração de planos especiais, intermunicipais e municipais de ordenamento do território (artigo 52.°). 3.4.4. Conteúdo material e documental: no que diz respeito ao conteúdo material do PROT, ele define um modelo territorial de organização do território regional, estabelecendo, nomeadamente, a estrutura regional do sistema urbano, das redes, das infra-estruturas e dos equipamentos de interesse regional, assegurando a salvaguarda e a valorização das áreas de interesse nacional em termos económicos, agrícolas, florestais, ambientais e patrimoniais. Define ainda os objectivos e os princípios assumidos a nível regional quanto à localização das actividades e dos grandes investimentos públicos; as medidas de articulação, a nível regional, das políticas estabelecidas no PNPOT e nos planos sectoriais preexistentes, e das políticas de relevância regional contidas nos planos intermunicipais e nos planos municipais de ordenamento do território abrangidos; bem como a política regional em matéria ambiental, incluindo a delimitação da estrutura regional de protecção e valorização ambiental e a recepção, a nível regional, das políticas e das medidas estabelecidas nos planos especiais de ordenamento do território. Por fim, o PROT define ainda as directrizes relativas aos regimes territoriais definidos ao abrigo de lei especial, designadamente áreas de reserva agrícola, domínio hídrico, reserva ecológica e zonas de risco e medidas específicas de protecção e conservação do património histórico e cultural. No que concerne ao seu conteúdo documental, é constituído por três grandes grupos de documentos. Em primeiro lugar, pelas opções estratégicas, normas orientadoras e um conjunto de peças gráficas ilustrativas das orientações substantivas nele definidas. Em segundo lugar, por um esquema representando o modelo territorial proposto, com identificação dos principais sistemas, redes e articulações de nível regional. Por fim, o PROT é acompanhado por um relatório que contém os estudos sobre a caracterização biofísica, a dinâmica demográfica, a 38 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão estrutura de povoamento e as perspectivas de desenvolvimento económico, social e cultural da região; a definição de unidades de paisagem; a estrutura regional de protecção e valorização ambiental; a identificação dos espaços agrícolas e florestais com relevância para a estratégia regional de desenvolvimento rural; a representação das redes de acessibilidades e dos equipamentos; o programa de execução com disposições indicativas sobre a realização das obras públicas a efectuar na região, bem como de outros objectivos e acções de interesse regional, indicando as entidades responsáveis pela respectiva concretização e a identificação das fontes e estimativa de meios financeiros (artigo 54.°). Os PROT são ainda acompanhados de um relatório ambiental, por se encontrarem sempre sujeitos a avaliação ambiental estratégica. 3.4.5. Elaboração: a elaboração do PROT compete à CCDR na sequência de proposta aprovada pelo Governo por Resolução de Conselho de Ministros (artigo 55.°), sendo acompanhada por uma comissão consultiva (artigo 56.°). O PROT está sujeito a um período formal de discussão pública (artigo 58.°) e é aprovado por Resolução do Conselho de Ministros, sendo esta publicada na I.a Série do Diário da República e objecto de publicação em dois jornais diários, num semanário de grande expansão nacional e na página Internet do Governo [artigos 148.°, n.° 2, alínea g), e 149.°, n.° 1] e é depositado na Direcção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (artigo 150.°). 3.4.6. Eficácia jurídica: as normas dos planos regionais vinculam, por um lado, o ente público que o aprova (o Estado) bem como todas as restantes entidades públicas. Trata-se, por isso, de um plano que se enquadra nos conceitos de auto e de heteroplanificação. No conjunto das entidades públicas que devem obediência aos planos regionais estão os municípios, que devem respeitar, na elaboração dos planos municipais de ordenamento do território, as suas normas e os princípios. Não vinculam, no entanto, de um modo directo e imediato, os particulares dado as suas normas apenas definirem o quadro estratégico, as directrizes orientadoras de carácter genérico, e as orientações para o ordenamento do território. Deste modo, tendo um grau analítico 39 Fernanda Paula Oliveira pouco denso, as suas disposições não podem servir de base para decisões concretas da Administração em relação aos particulares. Não obstante este facto, é possível descortinar nos planos regionais normas com um maior grau de precisão, como as que identificam a rede regional de infra-estruturas e a rede regional de equipamentos, que têm, em regra, uma espacialização (territorialização) relativamente precisa. Estas não podem, no entanto, ser opostas aos particulares, designadamente para impedir que estes levem a cabo utilizações ou ocupações dos solos incompatíveis com elas, dado o carácter não vinculativo das respectivas normas em relação a eles. A imposição de tais regras apenas poderá operar com a sua integração nos planos municipais de ordenamento do território, a qual será efectivada por intermédio de uma alteração destes por adaptação (cfr. n.° 2 do artigo 59.° e alínea c) do n.° 1 do artigo 97.°). 3.4.7. Ponto da situação: dos vários PROT mais recentemente previstos (Algarve, Norte, Centro, Alentejo e Oeste e Vale do Tejo), apenas dois se encontram já em vigor: o do Algarve (Resolução do Conselho de Ministros n.° 102/2007, de 3 de Agosto, rectificado pela Declaração de Rectificação n.° 85-C/2007, de 2 de Outubro) e o do Oeste e Vale do Tejo (Resolução do Conselho de Ministros n.° 64A/2009, de 6 de Agosto, e Declaração de Rectificação n.° 71-A/2009, de 2 de Outubro). O da Área Metropolitana de Lisboa (aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.° 68/2002, de 8 de Abril, e alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.° 13/2007, de 24 de Janeiro) encontra-se em curso de revisão. Para além destes, encontram-se ainda em vigor os planos regionais de ordenamento do território da Zona Envolvente da Albufeira do Alqueva (Resolução do Conselho de Ministros n.° 70/2002, de 9 de Abril); da Zona dos Mármores (Resolução do Conselho de Ministros n.° 93/2002, de 23 de Março), da Zona Envolvente do Douro (Decreto Regulamentar n.° 60/91, de 20 de Outubro); do Litoral Alentejano (Decreto Regulamentar n.° 26/93, de 27 de Agosto); e da Zona Envolvente das Albufeiras da Aguieira Coiço e Fronhas (Decreto Regulamentar n.° 22/92, de 25 de Setembro, rectificado pela Declaração de Rectificação n.° 187/92, de 31 de Outubro). 40 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão 3.5. Os Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território 3.5.1. Noção: os planos intermunicipais são um instrumento de desenvolvimento territorial que asseguram a articulação entre o plano regional e os planos municipais de ordenamento do território, no caso de áreas territoriais que, pela interdependência dos seus elementos estruturantes, necessitam de uma coordenação integrada (artigo 60.°, n.° 1). 3.5.2. Âmbito territorial: os planos intermunicipais abrangem a totalidade ou parte de áreas territoriais pertencentes a dois ou mais municípios vizinhos (artigo 60.°, n.° 2). 3.5.3. Objectivos: os planos intermunicipais visam articular estratégias de desenvolvimento económico e social dos municípios envolvidos, designadamente, a nível da estratégia intermunicipal de protecção da natureza e da garantia da qualidade ambiental; o estabelecimento de objectivos de racionalização do povoamento a médio e longo prazos; a definição de objectivos em matéria de acesso a equipamentos e serviços públicos; e a coordenação da incidência intermunicipal dos projectos de redes, equipamentos, infra-estruturas e distribuição das actividades industriais, turísticas, comerciais e de serviços constantes do PNPOT, dos planos regionais de ordenamento do território e dos planos sectoriais aplicáveis (artigo 61.°). 3.5.4. Conteúdo material e documental: os planos intermunicipais estabelecem as directrizes para o uso integrado do território abrangido, a definição das redes intermunicipais de infra-estruturas, de equipamentos, de transportes e de serviços e os padrões mínimos a atingir em matéria ambiental (artigo 62.°). São constituídos por um relatório e por um conjunto de peças gráficas ilustrativas das orientações substantivas, podendo ser acompanhados, em função dos respectivos âmbito e objectivos, por uma planta de enquadramento, abrangendo a área de intervenção e a restante área abrangida de todos os municípios; a identificação dos valores culturais e naturais a proteger; a identificação dos espaços agrícolas e florestais com relevância para a estratégia intermunicipal de desenvolvimento rural. São ainda constituídos por programas de acção territorial rela41 Fernanda Paula Oliveira tivos, designadamente, à execução das obras públicas determinadas e por um plano de financiamento (artigo 63.°). 3.5.5. Elaboração: os planos intermunicipais são elaborados pelos municípios associados para o efeito ou por associações de municípios, após aprovação da sua proposta pelas respectivas assembleias municipais interessadas ou pela assembleia intermunicipal (artigo 64.°). O acompanhamento é feito por uma comissão consultiva, aplicando-se, quanto a este, à concertação e à participação, as regras relativas ao plano director municipal com as necessárias adaptações (artigo 65.°). Significa que, pese embora estarmos perante um instrumento de desenvolvimento territorial não directamente vinculativo dos particulares, o legislador optou por, no que concerne a este aspecto, o sujeitar às regras próprias dos planos directores municipais directamente vinculativos daqueles, o que parece ter lógica pelo facto de, tal como estes, a sua elaboração e aprovação ter uma base municipal. Concluída a versão final, a proposta do plano intermunicipal é objecto de parecer da CCDR que se pronuncia apenas sobre a sua conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes e a compatibilidade ou conformidade com instrumentos de gestão territorial eficazes, embora o referido parecer não tenha carácter vinculativo (artigo 66.°). Os planos intermunicipais são aprovados por deliberação das assembleias municipais interessadas quando se trate de municípios associados para o efeito, ou por deliberação da assembleia intermunicipal, após audição de todas as assembleias municipais envolvidas, no caso de associação de municípios (artigo 67.°). À sua publicação e depósito aplica-se as disposições constantes dos artigos 148.° a 151.°. 3.5.6. Eficácia jurídica: os planos intermunicipais vinculam todas as entidades públicas mas não são directamente vinculativos para os particulares (artigo 3.°, n.° 1). 3.5.7. Situação actual quanto aos Planos Intermunicipais: até ao momento, foi apenas aprovado o Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.° 150/2003, de 22 de Setembro. 42 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão 3.6. Planos Municipais de Ordenamento do Território 3.6.1. Noção e tipos: os planos municipais de ordenamento do território são instrumentos de natureza regulamentar que estabelecem o regime de uso do solo, definindo modelos de evolução previsível da ocupação humana e da organização das redes e sistemas urbanos e, na escala adequada, parâmetros de aproveitamento do solo e de garantia de qualidade ambiental (artigo 69.°). O regime de usos do solo é definido nos planos municipais através das tarefas da respectiva classificação e qualificação. Pela primeira, o plano define o destino básico dos solos, através da recondução das várias parcelas às classes do solo urbano e rural. Pela segunda, o plano municipal determina, dentro de cada uma daquelas classes, as diversas categorias em função do uso dominante nelas admitido (isto é, do uso que predominantemente pode ser instalado e desenvolvido), fixando ainda, quando possível, a respectiva edificabilidade (artigos 71.° a 73.°) (29). São categorias de solos rurais os espaços agrícolas ou florestais afectos à produção ou à conservação; os espaços de exploração mineira; os espaços afectos a actividades industriais directamente ligadas às utilizações anteriores; os espaços naturais; e os espaços destinados a infra-estruturas ou a outro tipo de ocupação humana que não impliquem a classificação como solo urbano, designadamente, permitindo usos múltiplos em actividades compatíveis com espaços agrícolas, florestais ou naturais (cfr. n.° 2 do artigo 73.°). No que concerne ao solo urbano, o mesmo integra ora categorias funcionais (estabelecidas em função da utilização dominante (30)) ora categorias operativas, estas (29) Não obstante as tarefas de classificação e qualificação dos solos envolverem uma ampla margem de discricionariedade por parte dos municípios, esta encontra-se condicionada pelo Decreto Regulamentar n.° 11/2009 que fixa os critérios gerais (uniformes) a que os municípios se devem ater para o efeito. (30) Nos termos do Decreto Regulamentar n.° 11/2009 (artigo 21.°), são as seguintes as categorias de solo urbano: espaços centrais – áreas que se destinam a desempenhar funções de centralidade para o conjunto do aglomerado urbano, com concentração de actividades terciárias e funções residenciais –; espaços residenciais – áreas que se destinam preferencialmente a funções residenciais, podendo acolher outros usos desde que compatíveis com a utilização dominante –; espaços de actividades económicas – áreas que se destinam preferencialmente ao acolhimento de actividades económicas com especiais necessidades de afectação e organização do espaço urbano –; espaços verdes – áreas com funções de equilíbrio ecológico e de acolhimento de actividades ao ar livre de recreio, lazer, desporto e cultura, agrícolas ou florestais, 43 Fernanda Paula Oliveira últimas estabelecidas para efeitos de execução do plano, com base no grau de urbanização do solo, no grau de consolidação morfo-tipológica e na programação da urbanização e edificação (31). Dada esta importante tarefa, os planos municipais de ordenamento do território apresentam-se como instrumentos de carácter global e de regulação normal de ocupação do espaço, isto é, de tratamento tendencialmente total e integrado da sua área de intervenção. A categoria genérica dos planos municipais de ordenamento do território integra os seguintes tipos: planos directores municipais (artigos 84.° e segs.), planos de urbanização (artigos 87.° e segs.) e planos de pormenor (artigos 90.° e segs.). Estes últimos, por sua vez, podem ainda adoptar modalidades específicas, às quais o legislador associa conteúdos materiais próprios em função de determinadas finalidades correspondentes a regimes legais relativos à salvaguarda de certos interesses públicos: os planos de pormenor de salvaguarda, os planos de intervenção em espaço rural e os planos de pormenor de reabilitação urbana (artigo 91.°-A). 3.6.2. Âmbito espacial: o plano director municipal estabelece a estrutura espacial de todo o território municipal, constituindo uma síntese da estratégia de desenvolvimento e ordenamento local prosseguida, integrando opções de âmbito nacional e regional com incidência na respectiva área de intervenção (artigo 84.°, n.° 1). O plano de urbanização define a organização espacial de parte determinada do território municipal integrada no perímetro urbano, coincidindo no todo ou em parte com a estrutura ecológica municipal –; espaços de uso especial – áreas destinadas a equipamentos ou infra-estruturas estruturantes ou a outros usos específicos, nomeadamente de recreio, lazer e turismo, devendo as suas funções ser mencionadas na designação das correspondentes categorias ou subcategorias –; espaços urbanos de baixa densidade – áreas edificadas com usos mistos às quais o plano municipal de ordenamento do território atribui funções urbanas prevalecentes e que devem ser objecto de um regime de uso do solo que garanta o seu ordenamento numa óptica de sustentabilidade e a sua infra-estruturação com recurso a soluções apropriadas. (31) De acordo com o disposto no artigo 22.° do referido decreto regulamentar, integram as categorias operativas do solo urbano o solo urbanizado (o que se encontra dotado de todas as infra-estruturas urbanas e é servido por equipamentos de utilização colectiva) e o solo urbanizável (o que de destina à expansão urbana e no qual a ocupação é sempre precedida de urbanização e que no RJIGT tem a designação de solo de urbanização programada). A estas categorias o RJIGT acrescenta a estrutura ecológica urbana (cfr. n.° 4 do artigo 73.°). 44 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão podendo englobar solo rural complementar que exija uma intervenção integrada de planeamento [alínea a) do n.° 2 do artigo 87.°]. Após as alterações legislativas promovidas ao RJIGT pelo Decreto-Lei n.° 316/2007, de 19 de Setembro, os planos de urbanização podem agora incidir também sobre outras áreas do território municipal (solo rural) que, de acordo com os objectivos e prioridades do plano director municipal, possam ser destinadas a usos e funções urbanas, como sucede com áreas destinadas a parques industriais, logísticos ou de serviços e ainda a empreendimentos turísticos e equipamentos e infra-estruturas associadas, sem que tal implique uma reclassificação do solo como urbano [alínea b) do n.° 2 do artigo 87.°]. Por fim, o plano de pormenor desenvolve e concretiza propostas de organização espacial de qualquer área específica do território municipal que apresente continuidade física, área essa que pode ser mais extensa ou mais limitada em função dos objectivos que se pretendam atingir (artigo 90.°). 3.6.3. As funções dos planos municipais de ordenamento do território: são várias as funções que se podem apontar aos planos municipais. A primeira consiste na inventariação da realidade existente. Todos os planos devem fazer um levantamento da situação existente e respectivas causas no que concerne à utilização do território a que se aplica, ou seja, devem fazer a caracterização dos solos, dos subsolos e dos recursos hídricos; o estudo dos aspectos de carácter económico; a análise social dos aglomerados urbanos e da rede urbana da área em causa, etc. Esta importante função decorre, desde logo, do artigo 4.° que determina que os instrumentos de gestão territorial devem explicitar os fundamentos das respectivas previsões com base no conhecimento sistematicamente adquirido das características físicas e morfológicas do território; dos recursos naturais e do património arquitectónico e arqueológico; da dinâmica demográfica e migratória; das transformações económicas, sociais, culturais e ambientais; das assimetrias regionais e das condições de acesso às infra-estruturas, aos serviços e às funções urbanas. Neste sentido, o plano director municipal deve integrar, no seu conteúdo material, entre outros aspectos, a caracterização económica, social e biofísica da área de intervenção, bem como a identificação das redes urbana, viária, de transportes e de equipamentos de educação, de 45 Fernanda Paula Oliveira saúde, de abastecimento público e de segurança, bem como os sistemas de comunicações, de abastecimento de energia, de captação de tratamento e abastecimento de água, de drenagem e tratamento de efluentes e de recolha, depósito e tratamento de resíduos [artigo 85.°, alíneas a) e b)], dele constando ainda uma planta de condicionantes que identifica as servidões e restrições de utilidade pública em vigor [artigo 86.°, n.° 1, alínea c)] e estudos de caracterização do território municipal [artigo 86.°, n.° 2, alínea a)]. Por sua vez, os planos de urbanização e os planos de pormenor devem conter, tal como o plano director municipal, uma planta de condicionantes [artigos 89.°, n.° 1, alínea c), e 92.°, n.° 1, alínea c)], devendo ainda definir e caracterizar a área de intervenção, identificando valores culturais e naturais a proteger [artigos 88.°, alínea a), e 91.°, n.° 1, alínea a)]. Uma outra importante tarefa dos planos municipais é a conformação do território já que é por seu intermédio que se define a localização das várias funções e das actividades humanas sobre o mesmo (através das tarefas da classificação e qualificação dos solos). Para uma parte da doutrina, esta função tem implícita uma outra: a da conformação do direito de propriedade, já que ao determinar a localização das actividades (e definindo, assim, o que se pode ou não fazer em cada parcela dos território), o plano define o conteúdo do direito de propriedade, isto é, as respectivas faculdades (32). A função conformadora do território (e, para quem assim o entenda, sobre o direito de propriedade dos solos) exercida pelos planos vai aumentando a sua intensidade e eficácia vinculativa à medida que os planos vão sendo mais concretos. (32) Sobre a relação estrita entre estas duas funções, cfr. Fernando A lves Correia, Manual de Direito do Urbanismo, cit., pp. 366 e segs. Em sentido contrário se pronuncia Gonçalo R eino Pires, por considerar que as tarefas de classificação e qualificação dos solos são tarefas eminentemente reais definidoras do estatuto jurídico de uma coisa, apenas indirectamente incidindo sobre a esfera jurídica do particular, a qual somente é afectada por intermédio de actuações administrativas posteriores que, fundadas nos planos, actuem sobre os direitos de propriedade privada ou sobre direitos de outra natureza. Cfr. Gonçalo R eino Pires, A Classificação e a Qualificação dos Solos por Planos Municipais de Ordenamento do Território. Contributo para o seu Regime Substantivo e para a Determinação do Regime da sua Impugnação Contenciosa, Dissertação de Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas, 2005, policopiado, pp. 398 e segs. 46 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão Por fim, uma outra importante tarefa dos planos municipais consiste na definição das bases para a gestão do território (33), definindo o quando e o modo da concretização das suas disposições e opções, isto é, os termos da respectiva execução. Por isso, os planos directores municipais e os planos de urbanização contêm um programa, do qual constam as disposições indicativas sobre a execução das intervenções municipais previstas bem como sobre os meios de financiamento das mesmas [artigos 86.°, n.° 2, alínea d), e 89.°, n.° 2, alínea c)], e os planos de pormenor integram um programa de execução das acções previstas e um plano de financiamento respectivo [artigo 92.°, n.° 2, alínea d)]. Por outro lado, o plano director municipal deve definir unidades operativas de planeamento e gestão, para efeitos de programação da execução do plano, estabelecendo para cada uma das mesmas os respectivos objectivos [artigo 85.°, alínea l)]. Da mesma forma, os planos de urbanização definem unidades operativas de planeamento e gestão – artigo 88.°, alínea i) –, e os planos de pormenor identificam o sistema de execução a utilizar na área de intervenção [artigo 91.°, n.° 1, alínea j)] (34). Ora, tudo isto significa que o plano visa, não apenas, a “sistematização do que já existe, mas também a normatividade do desenvolvimento futuro” (35). Podemos afirmar, neste sentido, com Tomás R ámon-Fernández, que o plano urbanístico assume uma dupla natureza enquanto instrumento jurídico: é, por um lado, um instrumento estático, cuja função consiste na determinação normativa do regime de uso, transformação, (33) Gestão do território ou gestão urbanística é toda a actividade de intervenção nos solos e de desenvolvimento da sua ocupação. Trata-se de um aspecto dinâmico do direito do urbanismo. (34) De forma a garantir o cabal cumprimento desta específica função dos planos municipais, o Decreto Regulamentar n.° 11/2209 determina, no seu artigo 22.°, que a programação da urbanização do solo, que se processa através da delimitação de unidades de execução, pressupõe a prévia inscrição do correspondente programa de execução no plano de actividades municipal e, quando aplicável, no orçamento municipal. Mais, determina, no seu n.° 3, que a delimitação num plano municipal de ordenamento do território de solo urbanizável implica para o município a obrigação de promover a sua urbanização durante o período a que respeita a respectiva programação, bem como a responsabilidade de garantir os meios técnicos e financeiros necessários para esse efeito, quer por recursos próprios devidamente inscritos nos planos de actividades e nos orçamentos municipais, quer por recurso à contratualização com os interessados. (35) Federico Spantigati, Manual de Derecho Urbanistico (trad. Espanhola), Madrid, Montecorvo, 1973. 47 Fernanda Paula Oliveira classificação e ocupação dos solos, tendo, por outro lado, uma “…vocação de cumprimento, pelo que é absolutamente imprescindível contemplá-lo no seu aspecto dinâmico, como algo que caminha em direcção à sua realização efectiva” (36). Com isto quer afirmar-se que o plano urbanístico existe essencialmente para ser cumprido, sob pena de se tornar num instrumento morto. O que implica a necessidade de transformar em obras as normas do plano, através da realização de operações urbanísticas por ele previstas e que com ele se conformem. Isto significa que o problema de execução dos planos urbanísticos se torna cada vez mais no centro da realidade do direito do urbanismo, já que é por seu intermédio que se efectiva a concretização do modelo de ocupação dos solos neles estabelecido. 3.6.4. Conteúdo material: o plano director municipal tem por função o estabelecimento da estratégia de desenvolvimento territorial, da política municipal de ordenamento do território e de urbanismo e das demais políticas urbanas, integrando e articulando as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional e regional e estabelecendo o modelo de organização espacial do território municipal. Apresenta-se, assim, como um instrumento de matriz híbrida, simultaneamente estratégico – faceta reforçada pelos Decretos-Lei n.os 310/2003 e 316/2007 –, e regulamentar – no sentido de que lhe compete a especificação qualitativa e quantitativa dos índices, indicadores e parâmetros de referência de uso do solo que, na ausência de planos mais concretos, serão aplicáveis de forma supletiva. Surgem, assim, como instrumentos que visam enquadrar e ser con(36) Tomás R ámon fernández, Manual de Derecho Urbanistico, 21.a ed., Madrid, La Ley, 2008, p. 156. De resto, a ideia do plano como um instrumento dinâmico que tende essencialmente à sua execução, vem na esteira do desenvolvimento do próprio conceito do direito do urbanismo. A passagem de um urbanismo de regulamentação ou de salvaguarda para um urbanismo operacional tem vindo a acentuar-se nos últimos anos, conduzindo a um direito que compreende, não só o estabelecimento de regras de planificação, mas que visa igualmente a sua própria realização. Vide, Diogo Freitas do A maral, Aspectos Jurídicos do Ordenamento do Território, Urbanismo e Habitação (sumários das lições proferidas na cadeira de Direito Administrativo do 2.° ano da Licenciatura em Direito da Universidade de Lisboa, em 1970-71), p. 12; A ndré de Laubadère, “L’Évolution de la Notion Juridique de l’Urbanisme”, in Revue Juridique et Économique du Sud-Ouest, Bordeaux, 1963, pp. 69 e segs; e A ndré Hubert Mesnard, “Les Instruments Juridiques de Planification Urbaine”, in Droit et Ville, n.° 34, 1992, p. 125. 48 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão cretizados pelos demais planos de âmbito municipal, em vez de serem orientados para a gestão urbanística concreta (37). Por isso, determina o n.° 2 do artigo 84.° serem os mesmos instrumentos de referência para os demais planos municipais e para o estabelecimento de programas de acção territorial, bem como para o desenvolvimento das intervenções sectoriais da Administração do Estado no território do município. Do ponto de vista do seu conteúdo material, o plano director municipal define um modelo de organização municipal do território estabelecendo, nomeadamente, a caracterização económica, social e biofísica da área de intervenção; a definição e caracterização da área de intervenção; a definição dos sistemas de protecção dos valores e recursos naturais, culturais, agrícolas e florestais, identificando a estrutura ecológica municipal; os objectivos de desenvolvimento estratégico a prosseguir e os critérios de sustentabilidade a adoptar, bem como os meios disponíveis e as acções propostas; a referenciação espacial dos usos e das actividades; a identificação das áreas e a definição de estratégias de localização, distribuição e desenvolvimento das actividades industriais, turísticas, comerciais e de serviços; a definição de estratégias para o espaço rural identificando aptidões, potencialidades e referências aos usos múltiplos possíveis; a identificação e delimitação dos perímetros urbanos; a definição de programas na área habitacional; a especificação qualitativa e quantitativa dos índices, indicadores e parâmetros de referência urbanísticos ou de ordenamento a estabelecer em plano de urbanização e de pormenor, bem como os de natureza supletiva aplicáveis na ausência destes; a definição de unidades operativas de planeamento e gestão para efeitos de programação e execução do plano; a programação e execução das opções de ordenamento estabelecidas; a identificação de condicionantes; as condições de actuação sobre áreas críticas, situações de emergência ou de excepção bem como áreas degradadas em geral; as condições de reconversão das áreas urbanas (37) Ainda mesmo na sua configuração anterior, já se vinha afirmando não serem os “…PDM os instrumentos de planeamento que mais favorecem uma correcta gestão urbanística do território municipal…” dada a escala a que são elaborados, o que lhes permite praticamente delimitar apenas perímetros urbanos e aglomerados, dificultando “…a apreciação de loteamentos e edificações, cujas orientações só podem emanar de forma mais precisa de planos de escala inferior: de urbanização e de pormenor.” Cfr. A ntónio José M agalhães Cardoso, Gestão Territorial, Coimbra, 2001, pp. 6-7. 49 Fernanda Paula Oliveira de génese ilegal; a identificação das áreas de interesse público para efeitos de expropriação; os critérios de definição de áreas de cedência e respectiva gestão; os critérios de perequação compensatória de benefícios e encargos decorrentes da gestão urbanística a concretizar nos instrumentos de planeamento previstos nas unidades operativas de planeamento e gestão; a articulação do modelo de organização municipal do território com a disciplina consagrada nos demais instrumentos de gestão territorial aplicáveis e o prazo de vigência e as condições de revisão (artigo 85.°). Por sua vez, os planos de urbanização, apresentam-se como instrumentos de planeamento municipal cuja caracterização não depende já, como vimos, da área territorial a que se aplicam (o perímetro urbano), tendo antes passado a assentar nas finalidades que regulamentam: finalidades urbanas. Passaram, assim, a assumir uma função de estruturação de uma determinada área do território municipal, independentemente de se tratar de solo urbano ou rural, destinando-se a articular funções e redes sobre a sua área de intervenção, estruturando o espaço, definindo regimes de uso do solo e critérios para a respectiva transformação e estabelecendo, ainda, uma programação para a sua ocupação (38). Nos termos da lei, o plano de urbanização prossegue o equilíbrio da composição urbanística estabelecendo nomeadamente, a definição da caracterização da área de intervenção identificando os valores culturais e naturais a proteger; a concepção geral da organização urbana a partir da qualificação do solo, definindo a rede viária estruturante, a localização de equipamentos de uso e interesse colectivo, a estrutura ecológica, bem como o sistema urbano de circulação de transporte público e privado e de estacionamento; a definição do zonamento para a localização das diversas funções urbanas, designadamente habitacionais, comerciais, turísticas, de serviços e industriais, e também a identificação das áreas a recuperar ou reconverter; a adequação do perímetro urbano definido no plano director municipal em função do zonamento e da concepção geral da organização urbana definidos; os indicadores e os parâmetros urbanísticos aplicáveis a cada uma das categorias e as subcategorias de espaços; a estruturação das acções de (38) Neste sentido, vide Guia das alterações ao Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, DGOTDU, 2007, Documentos de Orientação 03/2007. 50 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão perequação compensatória a desenvolver nas áreas de intervenção; e as unidades operativas de planeamento e gestão (artigo 88.°). De todos, o plano de pormenor foi aquele que mais alterações sofreu do ponto de vista da sua caracterização material. De entre os planos municipais, ele é o que apresenta um conteúdo mais concreto, designadamente, por incidir sobre áreas territoriais menos abrangentes. Cabe-lhe, com efeito, entre outras funções, desenvolver e concretizar detalhadamente propostas de organização espacial de qualquer área específica do território municipal; definir o desenho urbano, parâmetros urbanísticos e indicadores relativos às cores e materiais; identificar as operações de demolição, conservação e reabilitação de edificações existentes; estabelecer a estruturação das acções de perequação compensatória e indicar o sistema de execução que deve ser utilizado na totalidade ou em partes da área global coberta pelo plano (artigo 91.° do RJIGT). É este o plano que procede a uma concreta e exaustiva definição da situação fundiária da área de intervenção, actuando sobre ela e permitindo proceder, quando necessário, à sua transformação, razão pela qual é o plano de pormenor o instrumento de planeamento territorial que, pela caracterização feita, maiores consequências determinará na conformação do território e do direito de propriedade sobre os solos dos respectivos proprietários (39). No que diz respeito a este tipo de planos municipais, o legislador reconhece-lhes agora um conteúdo material mais flexível (e, por isso, mais variado), no que depende das condições da área territorial a que se aplica (que terá de ser uma área contígua do território municipal) e dos objectivos que com o mesmo os municípios pretendem alcançar (39) Esta mesma dimensão conformadora e constitutiva dos planos de pormenor é confirmada pelo disposto no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (aprovado pelo Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de Dezembro, e alterado sucessivamente pelo Decreto-Lei n.° 177/2001, de 4 de Junho, pela Lei n.° 15/2002, de 22 de Fevereiro, pela Lei n.° 60/2007, de 4 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, e pelo Decreto-Lei n.° 116/2008, de 4 de Junho) que, nos termos do seu artigo 4.°, faz corresponder a figura procedimental mais aligeirada e célere da comunicação prévia da realização de operações urbanísticas (anteriormente, autorização) às áreas cobertas por plano de pormenor que contenha a maioria das menções previstas no artigo 91.° do RJIGT. O desencadeamento de procedimentos de controlo preventivo das operações de transformação fundiária previstas nos planos de pormenor é mesmo desnecessário em certas circunstâncias: quando se trate de planos de pormenor com efeitos registais [cfr. artigo 92.°-A do RJIGT, em especial, os seus n.os 3 e 10 do artigo 131.°]. 51 Fernanda Paula Oliveira (objectivos esses explicitados nos respectivos termos de referência e na deliberação da sua elaboração). Por esse motivo, deixou de fazer sentido a referência expressa aos planos de pormenor com conteúdo simplificado: o conteúdo do plano de pormenor há-de depender sempre da conjugação daqueles dois factores, pelo que “um conteúdo simplificado” pode ser “o conteúdo normal” de um plano de pormenor. Assim, se o objectivo do município for o de intervir numa rua (área territorial) para regular os alinhamentos e as cérceas dos edifícios nelas implantados e a implantar (objectivos), o plano de pormenor assumirá a configuração de um plano de alinhamentos e cérceas, não tendo de constar do mesmo outras prescrições ou parâmetros para além destes. Atenta a área territorial de intervenção e os objectivos que com ele se pretendem alcançar, o plano de alinhamentos e cérceas apresenta-se, assim, como um plano de pormenor “normal”. O que se prevê agora é, como se referiu, modalidades específicas de planos de pormenor, aos quais o legislador associa conteúdos materiais próprios em função de determinadas finalidades correspondentes a regimes legais relativos à salvaguarda de certos interesses públicos. São eles os planos de pormenor de salvaguarda, os planos de intervenção em espaço rural e os planos de pormenor de reabilitação urbana. Os planos de pormenor de salvaguarda estabelecem as orientações estratégicas de actuação e as regras de uso e ocupação do solo e edifícios necessárias à preservação e valorização do património cultural existente na sua área de intervenção, desenvolvendo as restrições e os efeitos estabelecidos pela classificação do bem imóvel e pela zona especial de protecção, podendo abranger solo rural e solo urbano correspondente à totalidade ou parte de um bem imóvel classificado e respectiva zona de protecção (cfr. Decreto-Lei n.° 309/2009, de 23 de Outubro). Por sua vez, os projectos de intervenção em espaço rural estão essencialmente destinados a regular a urbanização, a edificação e os usos complementares às actividades autorizadas em solo rural, que não são apenas agrícolas, mas podem ser também urbanas, como as turísticas, tendo deixado de privilegiar o ordenamento do solo rural. Por fim, os planos de pormenor de reabilitação urbana incidem sobre uma área do território municipal que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infra-estruturas, dos equipamentos de utilização colectiva e dos espaços urbanos e verdes, 52 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou salubridade, justifique uma intervenção integrada, podendo corresponder a áreas e centros históricos, património cultural imóvel classificado ou em vias de classificação e respectivas zonas de protecção, áreas urbanas degradadas ou zonas urbanas consolidadas. Estes encontram a sua regulamentação específica no Decreto-Lei n.° 307/2009, de 23 de Outubro, que aprovou o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. Particularmente inovatório no que concerne ao regime dos planos de pormenor é o facto de os mesmos, em certas condições, poderem proceder directamente à transformação fundiária da sua área de incidência, dispensando posteriores actos de controlo preventivo das operações urbanísticas que a visam alcançar (artigos 92.°-A e 131.°, n.° 10). Com efeito, está agora prevista na lei, de forma expressa, a possibilidade de os planos de pormenor com um conteúdo suficientemente denso (que identifica com precisão as operações a concretizar, ou seja, que contém as mesmas prescrições que um alvará de loteamento), poderem fundar directamente operações de transformação fundiária, relevantes para efeitos de registo predial e inscrição dos novos prédios assim constituídos (cfr. artigos 92.°-A e 92.°-B), dispensando-se, nestes casos, um subsequente procedimento administrativo de controlo prévio em sede de licenciamento ou de aprovação de operação de loteamento ou de reparcelamento, sendo bastante, para proceder à transformação da situação fundiária da área do plano e ao respectivo registo, a certidão deste acompanhada dos correspondentes contratos de urbanização ou de desenvolvimento urbano. 3.6.5. Conteúdo documental: do ponto de vista do seu conteúdo documental, o plano director municipal é constituído por um regulamento, uma planta de ordenamento (que representa o modelo da estrutura espacial do território municipal, de acordo com a classificação e a qualificação dos solos, bem como as unidades operativas de planeamento e gestão definidas), uma planta de condicionantes (que identifica as servidões e restrições de utilidade pública em vigor que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de aproveitamento), sendo ainda acompanhado por estudos de caracterização do território municipal, um relatório fundamentado das so53 Fernanda Paula Oliveira luções adoptadas, um relatório ambiental e um programa contendo disposições indicativas sobre a execução das intervenções municipais previstas, bem como sobre os meios de financiamento das mesmas. O plano de urbanização é constituído por um regulamento, uma planta de zonamento (que representa a organização urbana adoptada), uma planta de condicionantes (que identifica as servidões e restrições de utilidade pública em vigor que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de aproveitamento), sendo ainda acompanhado por um relatório fundamentado das soluções adoptadas, um relatório ambiental, no caso de a respectiva elaboração ter estado sujeita a avaliação ambiental estratégica, e um programa contendo disposições indicativas sobre a execução das intervenções municipais previstas e sobre os meios de financiamento das mesmas. O plano de pormenor é constituído por um regulamento, uma planta de implantação, uma planta de condicionantes (que identifica as servidões e restrições de utilidade pública em vigor que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de aproveitamento), sendo ainda acompanhado por um relatório fundamentado das soluções adoptadas, um relatório ambiental, no caso de a respectiva elaboração ter estado sujeita a avaliação ambiental estratégica, de peças escritas e desenhadas que suportem as operações de transformação fundiária previstas e um programa de execução das acções previstas e o respectivo plano de financiamento. Nas situações em que se pretenda atribuir ao plano de pormenor efeitos registais, as peças escritas e desenhadas que o acompanham consistem: 1) na planta do cadastro original; 2) no quadro com a identificação dos prédios, natureza, descrição predial, inscrição matricial, áreas e confrontações; 3) na planta da operação de transformação fundiária com a identificação dos novos prédios; 4) no quadro com a identificação dos novos prédios ou fichas individuais, com a indicação da área destinada à implantação dos edifícios e das construções anexas, área de construção, volumetria, cércea e número de pisos acima e abaixo da cota de soleira para cada um dos edifícios, número de fogos e utilização dos edifícios e dos fogos; 5) na planta com as áreas de cedência para o domínio municipal; 54 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão 6) no quadro com a descrição das parcelas a ceder, sua finalidade e área de implantação e de construção dos equipamentos de utilização colectiva; 7) no quadro de transformação fundiária explicitando o relacionamento entre os prédios originários e os prédios resultantes da operação de transformação fundiária (n.° 3 do artigo 92.°). 3.6.6. Elaboração a) A tramitação procedimental A lei distribuiu as várias competências em matéria de elaboração dos planos municipais de ordenamento do território entre a câmara municipal e a assembleia municipal. Na repartição de tarefas entre estes dois órgãos autárquicos, incumbe à câmara municipal a deliberação de elaboração do plano, que terá de ser devidamente publicitada para efeitos de participação dos interessados (cfr. artigos 74.°, n.° 1, e 77.° n.° 2, do RJIGT), devendo aquele órgão, logo nessa sede, estabelecer os prazos de elaboração do plano e justificar a oportunidade da sua elaboração e os respectivos termos de referência (isto é, os grandes objectivos ou mesmo soluções já delineadas no âmbito dos planos de urbanização e dos planos de pormenor (artigo 74.°, n.° 2). A elaboração propriamente dita (isto é, a definição das principais opções no que concerne à ocupação dos solos) é também responsabilidade da câmara municipal, que a pode realizar directamente – através dos respectivos departamentos de planeamento – ou com precedência de um contrato de concepção – através da colaboração com as equipas projectistas adjudicatárias, escolhidas no seguimento de um procedimento contratual próprio (40). (40) Note-se que embora o legislador admita, actualmente, a possibilidade de, em determinadas circunstâncias, os instrumentos de planeamento municipal poderem ser objecto de contratualização com privados (artigo 6.°-A do RJIGT), tal não significa a admissibilidade de, por intermédio destes contratos, ser directamente atribuida àqueles a elaboração dos planos e, implicitamente, a contratação das equipas técnicas. Sobre esta questão vide o nosso Contratos para Planeamento – da Consagração Legal de Uma Prática às Dúvidas do Enquadramento Legal, Coimbra, Almedina, 2009. 55 Fernanda Paula Oliveira Esta elaboração será acompanhada, assumindo o acompanhamento uma diferente configuração consoante se trate de elaboração (e revisão) de plano director municipal ou a elaboração (alteração ou revisão) de plano de urbanização e de plano de pormenor ou a alteração de plano director municipal (41). Assim, na primeira situação, o acompanhamento é efectuado por uma comissão de acompanhamento, cujos membros são exclusivamente públicos (42), tendo-se instituído uma forma específica de funcionamento destes organismos ad hoc. Efectivamente, estas comissões funcionam em conferência de serviços – uma vez que procedem à reunião de todas entidades administrativas envolvidas no acompanhamento, com vista à emissão de um único parecer sobre a proposta de plano, o qual substitui todos os pareceres que aquelas entidades devessem emitir (artigos 75.°-A e 75.°-B) –, sendo os seus membros verdadeiros representantes das entidades a que pertencem ao abrigo de um sistema de delegação de poderes expressamente previsto (artigo 75.°-B). No que concerne à elaboração (alteração e revisão) de planos de urbanização e de planos de pormenor e à alteração do plano director municipal, o Decreto-Lei n.° 316/2007 veio, numa lógica de descentralização e reforço da responsabilização municipal, atribuir às câmaras municipais o controlo da fase de acompanhamento, sendo este órgão que decide se a promove ou não, havendo sempre, no entanto, concluída que esteja a elaboração técnica do projecto de plano, lugar a uma conferência de serviços, no âmbito da qual se obtém um único parecer final que congrega a posição de todas as entidades que sobre o mesmo obrigatoriamente tenham de se pronunciar (incluindo a da comissão de coordenação e desenvolvimento regional). Ou seja, e dito de outro modo, verifica-se agora, em matéria de elaboração (alteração ou revisão) de planos de urbanização e de pormenor, bem como de alteração (41) O n.° 2 do artigo 96.° manda aplicar às alterações aos planos directores municipais as regras de acompanhamento e de concertação previstas para a elaboração dos planos de urbanização e de pormenor consagradas no artigo 75.°-C do RJIGT. (42) As restantes entidades representativas de interesses privados de ordem económica, social ou ambiental que podiam integrar as comissões mistas de coordenação, passam a intervir nas fases especificamente previstas para a intervenção do público em geral (participação preventiva, participação ao longo do procedimento e discussão pública), por se considerar que a sua intervenção naqueles organismos mistos não se traduziu numa maior eficácia dos mesmos tendo, pelo contrário, tornado o seu funcionamento mais pesado e, por isso, tendencialmente mais moroso. 56 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão do plano director municipal, a desnecessidade de acompanhamento da elaboração técnica do plano, a qual não se traduz, contudo, numa equivalente dispensa de as entidades externas se pronunciarem acerca do mesmo, mantendo-se esta, aliás, como formalidade essencial do procedimento. O que mudou, e em resposta ao vector da maior autonomia e descentralização – com a correspectiva maior responsabilização – dos municípios e ao vector da simplificação dos procedimentos que nortearam as alterações legislativas mais recentes, foi o paradigma subjacente à forma de emissão dos pareceres das referidas entidades. A diferença reside na maior liberdade que é dada aos municípios na tarefa da elaboração da proposta do plano, não os amarrando a reuniões formais e delongadas de acompanhamento, cabendo-lhes assegurar e responsabilizar-se que, no plano sectorial – naquilo que na prática justifica a intervenção das entidades –, tudo está em conformidade com as normas legais e regulamentares em vigor. Atribui-se, assim, às câmaras municipais o controlo desta fase procedimental. No entanto, a intervenção das entidades sectoriais continua a ter de ocorrer, embora, em vez de intervenções parcelares e desgarradas, as mesmas se processem de uma só vez e a uma só voz, em sede de conferência de serviços, a realizar em fase posterior à elaboração técnica do projecto do plano. Após a aprovação pela câmara municipal da proposta do plano, deve aquele órgão proceder à abertura da discussão pública, finda a qual promove as correcções que entenda necessárias em função da ponderação que faça das reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento apresentados pelos particulares (cfr. artigo 77.°, n.os 3 e segs.). Deve ainda, nesta fase, responder a todos aqueles que tenham invocado desconformidade do plano municipal com outros instrumentos de gestão territorial eficazes; incompatibilidade com planos, programas ou projectos que devessem ser ponderados em fase de elaboração; desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis e eventual lesão de direitos subjectivos (artigo 77.°). Segue-se a submissão do projecto do plano, quando esteja em causa a elaboração de um plano director municipal a parecer final da comissão de coordenação e desenvolvimento regional (artigo 78.°), fase a que se não tem de dar cumprimento quando esteja em causa a elaboração de um plano de urbanização ou de pormenor por, nestes casos, a pronúncia da comissão de coordenação e desenvolvimento regional ter sido antecipada para a fase de acompanhamento à elaboração do plano. 57 Fernanda Paula Oliveira De seguida, o projecto de plano é apresentado à assembleia municipal, que é o órgão competente para a respectiva aprovação, sendo este o verdadeiro acto constitutivo deste procedimento (artigo 79.°). Deve, ainda, ser dado cumprimento a uma fase integrativa da eficácia que conta sempre com a publicação do plano aprovado, nos termos do disposto no artigo 148.° do RJIGT, e, dependendo do tipo de planos municipais, das circunstâncias da sua elaboração e do seu conteúdo material, com a sua prévia ratificação por Resolução do Conselho de Ministros, de acordo com o artigo 80.° do mesmo diploma, e com o seu depósito na Direcção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, que se traduz num repositório centralizado, com funções de cadastro e de publicitação de todos os instrumentos de gestão territorial, com vista a potenciar a consulta dos mesmos por todos os interessados (artigos 150.° e 151.°). Refira-se, ainda, no que concerne ao procedimento de elaboração de planos municipais, que, não obstante se ter integrado no procedimento atinente ao plano director municipal e, em determinadas circunstâncias, no atinente aos planos de urbanização e de pormenor, a avaliação ambiental estratégica, a mesma não se traduz na criação de novas fases procedimentais. Com efeito, de forma a não colocar em causa a intencionada simplificação dos procedimentos de planeamento que se visou alcançar com as alterações efectuadas ao RJIGT, em 2007, os trâmites referentes à avaliação ambiental estratégica, destinados a garantir uma mais adequada ponderação dos interesses ambientais nos processos de planeamento, foram integrados nos (ou articulados com os) trâmites dos procedimentos de planeamento já existentes. Os trâmites daquele procedimento, articulados com este, são: (1) pedido de definição do âmbito da avaliação ambiental estratégica (obrigatório); (2) elaboração de um Relatório Ambiental (que é mais uma peça documental que passa a compor o plano); (3) integração, no acompanhamento à elaboração do plano, das entidades às quais, em virtude das suas competências ambientais, possam interessar os efeitos ambientais, que exercem aí as suas competências consultivas (43); (4) participação (43) No caso dos planos de urbanização e dos planos de pormenor, que não têm uma fase obrigatória de acompanhamento, estas entidades são convocadas para a conferência de serviços, pronunciando-se, no seu seio, sobre o relatório ambiental (artigo 75.°-C, n .° 4). 58 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão pública, que é feita em conjunto com a participação pública do projecto do plano; (5) ponderação do relatório ambiental e dos resultados das consultas sobre o mesmo para a definição da versão final do plano a aprovar; e (6) declaração ambiental (artigo 151.°-A) (44). b) A ratificação governamental dos planos municipais Uma das principais novidades introduzidas em 2007, em matéria do procedimento planificador municipal, diz respeito à ratificação governamental dos planos municipais. Esta, enquanto acto de trâmite do procedimento de elaboração de planos municipais de ordenamento do território, passou a ter carácter excepcional. Com efeito, a regra é, agora, precisamente por o PNPOT se encontrar em vigor e grande parte dos planos regionais se encontrarem em fase final de elaboração, a de os planos municipais não ficarem sujeitos a ratificação governamental: apenas a ela se encontram subordinados os planos directores municipais quando pretendam alterar as opções constantes de um plano regional de ordenamento do território ou de um plano sectorial, tendo a Resolução do Conselho de Ministros que ratifica o plano por função, nestes casos, aprovar também as alterações àqueles instrumentos de gestão territorial. Fora destas hipóteses, entende-se que o município se encontra dentro do âmbito da sua decisão própria (autónoma) devendo, por este motivo, ficar à margem de um novo controlo de legalidade das suas disposições. E, por isso, também se compreende que os planos de urbanização ou de pormenor possam alterar o plano director municipal, ainda que tal alteração consista numa reclassificação dos solos (45), sem que a mesma se encontre sujeita a ratificação governamental, uma vez que se traduz na alteração de uma opção que, também ela, não esteve (nem está) submetida a este trâmite procedimental. (44) Da declaração ambiental devem constar a forma como foram integradas as considerações ambientais no plano, as observações das entidades com responsabilidade ambiental, os resultados da discussão pública, as razões que fundamentaram a aprovação do plano à luz de outras alternativas razoáveis abordadas durante a sua elaboração e as medidas de controlo (artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 232/2007). Para mais desenvolvimentos sobre a avaliação ambiental estratégica no âmbito dos procedimentos de planeamento, vide Fernando A lves Correia, Manual de Direito do Urbanismo, cit., p. 414. (45) O único limite que se verifica a este propósito decorre do princípio da excepcionalidade da reclassificação do solo como urbano, consagrado no artigo 72.°, n.° 3, do RJIGT. 59 Fernanda Paula Oliveira De acordo com estas alterações, verifica-se, no que à ratificação diz respeito, uma degradação da sua função de tutela de legalidade. Esta passa a funcionar como um mecanismo de aproveitamento do procedimento de elaboração do plano municipal para simultaneamente se proceder à alteração de planos de hierarquia superior (planos regionais de ordenamento do território ou planos sectoriais). Assume-se, assim, a ratificação, como um mecanismo de intervenção excepcional, com funções específicas no âmbito da flexibilização do princípio da hierarquia dos planos, funcionando a Resolução do Conselho de Ministros que ratifica o plano director municipal como um acto contextual no âmbito do qual se procede também à aprovação da alteração ao plano de hierarquia superior (46). No que concerne à ratificação dos planos directores municipais, determina o artigo 80.°, n.° 2, que a mesma ocorre a solicitação da câmara municipal quando no âmbito do procedimento da sua elaboração e aprovação for suscitada pelos serviços e entidades com competências consultivas no âmbito da elaboração e acompanhamento a incompatibilidade com planos regionais ou sectoriais. De acordo com este normativo, ainda que as referidas entidades suscitem questões de incompatibilidade do plano director municipal com aqueles instrumentos de gestão territorial, a ratificação apenas terá lugar se for solicitada pela câmara municipal. Com efeito, pode a incompatibilidade com aqueles instrumentos corresponder a uma mera divergência de posições (v.g., a CCDR considera que está a ser posta em causa uma orientação do plano regional e a câmara entende que aquela orientação é suficientemente genérica para admitir a sua opção), situação em relação à qual, como já referimos anteriormente, se admite que a câmara assuma a sua responsabilidade própria, avançando para a aprovação do plano sem necessidade de ratificação (porque entende que não contende com o plano regional). (46) Esta solução, se não coloca problemas quando em causa está uma alteração a planos regionais de ordenamento do território, já deles pode não estar isenta quando em causa esteja um plano sectorial. Com efeito, embora, em regra, a aprovação de planos sectoriais seja feita por Resolução de Conselho de Ministros (a mesma forma do acto de ratificação), pode uma norma especial determinar a sua aprovação por decreto-lei ou decreto regulamentar (artigo 41.°), e actos mais formais e solenes que a Resolução de Conselho de Ministros. Nestes casos, consideramos não ser suficiente a ratificação por Resolução do Conselho de Ministros para que se possam considerar derrogadas as normas do plano sectorial incompatíveis com a opção municipal. 60 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão Nas situações em que, não obstante aquela desconformidade, a intenção do município é conseguir alcançar, pela via do seu plano, uma alteração ou derrogação de normas daqueles instrumentos de gestão territorial, deve então solicitar a ratificação do plano, sendo no entanto a sua apreciação pelo Governo suscitada através da competente CCDR para o que deve emitir parecer devidamente fundamentado (47). 3.6.7. Eficácia jurídica: as normas dos planos municipais de ordenamento do território vinculam, desde logo, o próprio município que o elabora, de acordo com a máxima “tu patere legem quam ipse fecisti”. Com efeito, a Administração não pode deixar de estar vinculada pelas regras de direito, incluindo as suas próprias. Há, inclusive, normas dos planos directores municipais que só vinculam os municípios, designadamente as que definem a política municipal de ordenamento, a programação urbanística e o plano de financiamento. A vinculação dos próprios órgãos do município ao plano municipal manifesta-se em três frentes: obrigação de controlo de todas as operações urbanísticas, de modo a garantir a sua adequação ao conteúdo destes planos; dever de observância das determinações daquele documento em todas as obras a promover pela Administração municipal; obrigação de observância das prescrições dos planos municipais de ordem superior pelos instrumentos de planeamento sucessivos (plano de urbanização em relação ao plano director municipal, ou plano de pormenor em relação aos dois anteriores), isto sem prejuízo de os planos municipais de ordem inferior poderem alterar as disposições dos planos municipais hierarquicamente superiores. As disposições dos planos municipais, em especial, as respeitantes ao zonamento do espaço municipal, são igualmente obrigatórias para o Estado e demais entes públicos, que devem observar as suas prescrições nas obras da sua iniciativa que decorram no município (v.g., a construção de vias de comunicação e edifícios públicos). Não faria, de facto, sentido que o Estado pudesse construir um edifício público numa área destinada pelo plano director municipal à conservação da natureza e à protecção da paisagem. (47) A alteração e revisão do plano director municipal encontra-se sujeita a ratificação nas mesmas situações que a ela está sujeita a sua elaboração inicial (n.° 6 do artigo 80.°). 61 Fernanda Paula Oliveira As disposições dos planos municipais também vinculam directamente os administrados, sobretudo as respeitantes ao zonamento do território municipal que definem as áreas destinadas a diversos fins e procedem à classificação dos solos (cfr. artigo 3.°). 3.6.8. Situação actual dos PMOT: o território nacional continental encontra-se, no momento actual, coberto por planos directores municipais (no presente momento, apenas Lagos não dispõe deste instrumento de planeamento por o mesmo ter sido declarado ilegal pelo Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 23 de Fevereiro de 1999, proferido no âmbito do processo n.° 44 087, por não se ter promovido a repetição do período de discussão pública, na sequência de alterações introduzidas ao regime do solo definido na primeira versão da proposta do mesmo plano). Dos planos directores municipais em vigor, alguns são ainda da “primeira geração”, decorrendo, em relação a muitos deles, o procedimento da sua revisão (de harmonia com o disposto no artigo 98.°, n.° 3, os planos directores municipais são obrigatoriamente revistos decorrido que seja o prazo de 10 anos após a sua entrada em vigor ou após a sua última revisão). Outros, embora já de “segunda geração”, não foram ainda elaborados à luz da nova legislação (o procedimento de revisão de muitos deles estava já em curso quando o novo regime jurídico foi publicado) e a maior parte deles foi objecto de alterações por intermédio de planos de urbanização e de pormenor, o que pode colocar problemas quanto à manutenção da coerência global do plano director municipal que os enquadra. Acresce ainda ter havido, relativamente a uma grande parte de disposições de muitos dos planos directores municipais em vigor, a sua suspensão, encontrando-se a respectiva área sujeita a medidas cautelares (designadamente, medidas preventivas). 4. Relação entre os instrumentos de gestão territorial Tendo em consideração a complexa tipologia de instrumentos de gestão territorial em vigor, o facto de estes serem imputáveis a distintas entidades públicas e, ainda, a possibilidade de ocorrência de sobrepo62 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão sição territorial entre eles, torna-se indispensável identificar as formas de relacionamentos entre eles, de modo a evitar colisões de normas e conflitos normativos, que se apresentam sempre como negativos para uma política que se pretenda eficaz, como é a política de ordenamento do território 4.1. Os princípios de relacionamento entre planos São dois os princípios fundamentais da planificação territorial com relevo a nível das relações jurídicas entre os diversos instrumentos de gestão territorial: o princípio da hierarquia e o princípio da articulação dos planos. No sistema de planeamento anterior à LBPOTU e ao RJIGT, as relações entre os mais importantes instrumentos de planificação territorial (planos regionais, planos especiais e planos municipais) era regida, essencialmente, pelo princípio da hierarquia. O legislador tinha instituído um sistema de planeamento segundo um modelo de ordenação hierárquica, o que significava que as disposições de um plano de hierarquia inferior deviam respeitar as determinações dos planos hierarquicamente superiores (48). (48) Daqui não resultava, porém, uma pirâmide de planos em que a função dos planos hierarquicamente inferiores fosse a de executar as determinações dos planos hierarquicamente superiores. Para que a planificação urbanística pudesse ser vista como um conjunto de planos executivos uns dos outros, era necessário que a planificação funcionasse de um modo perfeito, como um conjunto harmónico e sem falhas. No nosso país não era, no entanto, nem é isso que acontece. De facto, a sobreposição de vários planos urbanísticos em relação ao mesmo território nem sempre se verifica, já que, na prática, alguns dos degraus do sistema concebido pelo legislador são frequentemente omitidos. E isto é possível uma vez que os diferentes degraus de planificação não estão entre si numa relação de necessidade: é perfeitamente possível que o plano inferior possa ser aprovado antes da aprovação ou mesmo elaboração do plano superior. O plano superior não é visto como uma conditio necessária para a aprovação do plano imediatamente inferior. Assim, a nossa legislação não fazia, nem faz depender os planos regionais da prévia existência do PNPOT, os planos directores municipais podem ser aprovados antes dos planos regionais, os planos de urbanização não necessitam aguardar os planos directores municipais para entrarem em vigor e os planos de pormenor podem antecipar-se aos planos de urbanização. A não consagração, entre nós, do princípio da necessidade teve a vantagem de tornar a planificação urbanística mais flexível e operacional, dadas as demoras que normalmente acompanham a elaboração dos planos de âmbito territorial mais vasto. Teve, no entanto, o inconveniente de dificultar uma planificação global e harmónica do território, fomentando o aparecimento de planos que incidem sobre a mesma área territorial consagradores de soluções tantas vezes descoordenadas e contraditórias. 63 Fernanda Paula Oliveira A subordinação de um plano a outro hierarquicamente superior poderá ser entendida com base nos princípios da compatibilidade ou da conformidade, termos que a nossa legislação utilizou indistintamente, como se fossem uma e mesma coisa. Trata-se, no entanto, de conceitos jurídicos diversos: a obrigação de compatibilidade é menos rigorosa do que a obrigação de conformidade. Enquanto a conformidade exclui qualquer diferença entre os elementos da comparação, a relação de compatibilidade exige somente que não haja contradição entre eles. A compatibilidade implica um controlo do juiz menos apertado do que a conformidade, resultando da não contrariedade dos dados em presença ou do respeito por uma orientação. Isto significa, em resumo, que a conformidade exige ou define uma relação positiva entre os dados da comparação, enquanto a compatibilidade expressa uma relação negativa, resultante da não contradição entre eles. Tendo este facto em consideração, terá de se concluir que a compatibilidade e a conformidade estão directamente ligadas ao grau de precisão dos planos urbanísticos que se encontram em relação (49). 4.2. Do relacionamento entre planos antes da LBPOTU De acordo com o regime anterior à LBPOTU, um plano municipal nunca podia ser incompatível com o plano regional (trata-se de uma relação de compatibilidade), nem desconforme com os planos especiais (trata-se de uma relação de conformidade). Por sua vez, se um plano regional ou um plano especial posteriores tornassem o plano municipal incompatível ou desconforme com as suas opções, este teria de ser alterado ou revisto, de forma a adaptar-se às prescrições daqueles. Entre os planos regionais e os planos especiais não existia propriamente hierarquia: aquele que primeiro fosse elaborado determinava os limites que deviam ser respeitados pelo plano posterior. Não significava isto que o plano posterior não pudesse estabelecer disposições contrárias ao primeiro mas, neste caso, este teria de ser alterado ou (49) Sobre as relações de compatibilidade e de conformidade, vide Fernando A lves Correia, O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, cit., pp. 194-197, nota 53, e As Grandes Linhas da Recente Reforma do Direito do Urbanismo Português, Coimbra, Almedina, 1993, pp. 20-23. 64 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão revisto para evitar que sobre a mesma área estivessem em vigor planos com disposições contraditórias. Nas relações entre os planos municipais vigorava um princípio de hierarquia mitigada. É que, não obstante a relação de hierarquia entre estes planos, em casos excepcionais admitia-se que os planos de urbanização e os planos de pormenor não se conformassem com o plano director municipal ratificado, ou que o plano de pormenor se desviasse, em algumas das suas regras, do estatuído no plano de urbanização. Quando tal sucedesse, esses planos hierarquicamente inferiores que contivessem regras desconformes com os planos municipais superiores estariam sujeitos a ratificação governamental. O princípio da articulação vigorava, por exemplo, entre dois ou mais planos de urbanização que abrangessem diferentes áreas urbanas de um mesmo município, bem como de planos municipais que abrangessem territórios de municípios vizinhos. 4.3. Do relacionamento entre planos após a LBPOTU Com a entrada em vigor da LBPOTU, as relações entre os instrumentos de gestão territorial tornaram-se mais complexas, designadamente, por se terem introduzido novas figuras de planeamento. O artigo 10.° da LBPOTU, que rege as relações entre os instrumentos de planeamento, foi, entretanto, desenvolvido pelos artigos 24.° e 25.° do RJIGT. Na nossa perspectiva, se bem que continue a vigorar, tal como antes da LBPOTU, o princípio da hierarquia entre os vários instrumentos de gestão territorial, este encontra-se bastante mais mitigado, traduzindo a ideia de que mais importante do que a existência de uma hierarquia de planos – em que os planos inferiores devem obediência aos planos superiores – é a articulação entre eles e a coordenação das entidades responsáveis pelos diferentes instrumentos, por forma a que não estejam em vigor sobre uma mesma área planos com soluções de ordenamento do território opostas, suscitadoras de conflitos institucionais, mas antes, pelo contrário, soluções que são ponderadas e discutidas entre as várias entidades responsáveis na matéria. Assim, o que se pretende acentuar, de acordo com os novos normativos sobre esta matéria, é a capacidade que as várias entidades res65 Fernanda Paula Oliveira ponsáveis pela elaboração dos instrumentos de gestão territorial têm de coordenar entre si as suas actuações. Vejamos, pois, como é que os instrumentos de gestão territorial se relacionam entre si. 4.3.1. Relações com o PNOPT De uma leitura atenta dos artigos 23.° a 25.° do RJIGT resulta, em primeiro lugar, que a relação entre todos os instrumentos de gestão territorial com o PNPOT é uma relação de hierarquia pura (compatibilidade) que não admite qualquer excepção (50). 4.3.2. Relações entre planos sectoriais, planos especiais e planos regionais No que diz respeito às relações entre estes tipos de instrumentos de gestão territorial – ou seja, entre instrumentos de planeamento da responsabilidade da Administração (directa ou indirecta) do Estado –, o RJIGT estabelece um aparente vínculo de superioridade hierárquica dos planos sectoriais e dos planos regionais em relação aos planos especiais, ao determinar no n.° 1 do artigo 25.° que “…os planos sectoriais e os planos regionais de ordenamento do território devem indicar quais as formas de adaptação dos planos especiais (…) de ordenamento do território preexistentes determinadas com a sua aprovação”. O artigo 25.°, n.° 2, do RJIGT, admite, no entanto, de forma expressa, que um plano especial altere ou contrarie disposições de um plano sectorial ou regional preexistente, devendo, neste caso, indicar expressamente as normas daqueles que são alteradas ou revogadas. De onde se conclui que um plano especial posterior não está impedido de contrariar as opções estabelecidas em planos sectoriais e planos regionais de ordenamento do território preexistentes em vigor na mesma (50) Em relação aos planos especiais, o PNPOT estabelece as regras e os princípios da disciplina a definir por aqueles (artigo 23.°, n.° 2, do Decreto-Lei n.° 380/99), implicando a alteração de planos especiais anteriores que com ele se não compatibilizem (artigo 23.°, n.° 3). No que concerne a relação com os planos sectoriais, o PNPOT condiciona a sua elaboração, devendo estes desenvolver e concretizar as orientações definidas naquele (artigo 23.°, n.° 4, 1.a parte). Em relação aos planos regionais, estes devem integrar as opções definidas no PNPOT (artigo 23.°, n.° 5, 1.a parte). Por fim, os planos municipais e intermunicipais de ordenamento do território devem desenvolver o quadro estratégico definido no PNPOT (artigo 24.°, n.° 1). 66 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão zona, embora, quando tal aconteça, tenha de indicar expressamente que está a alterar ou revogar as normas dos planos anteriores, identificando essas normas. Por sua vez, determina o artigo 23.°, n.° 4, 2.a parte, que os planos sectoriais posteriores devem compatibilizar-se com os planos regionais já em vigor, determinando, o artigo 23.°, n.° 5, 2.a parte, que os planos regionais devem integrar as opções definidas pelos planos sectoriais preexistentes. Uma leitura atenta de todas estas disposições permite concluir que, estando em causa planos da responsabilidade da Administração estadual (sendo elaborados no âmbito da direcção ou superintendência do Governo), o legislador confiou na possibilidade de os vários sectores da Administração estadual se articularem entre si, tendo dado preferência ao princípio da articulação em detrimento do princípio da hierarquia. Tal é o que decorre do disposto no n.° 1 do artigo 23.° de acordo com o qual “…os planos sectoriais, os planos especiais de ordenamento do território e os planos regionais de ordenamento do território traduzem um compromisso recíproco de compatibilização das respectivas opções”. Já no que concerne às relações entre vários planos sectoriais que se sobreponham ou entre vários planos especiais que incidam sobre a mesma área territorial, não obstante se aplique também o princípio da articulação, o legislador veio determinar que o plano posterior desconforme com o plano em vigor só será válido se indicar expressamente quais as normas do plano anterior que revoga (artigo 23.°, n.° 6). 4.3.3. Relação dos planos de âmbito municipal com os outros instrumentos de gestão territorial a) Os planos municipais de ordenamento do território O legislador estabeleceu, claramente, uma relação de inferioridade hierárquica dos planos municipais em relação aos restantes instrumentos de gestão territorial (51). (51) O artigo 24.°, n.os 1 e 2, 1.a parte, estabelece a relação com o PNPOT e os PROT; o artigo 24.°, n.° 2, 2.a parte, estabelece a relação com os planos intermunicipais; o artigo 24.°, 67 Fernanda Paula Oliveira Trata-se, no entanto, exceptuando a relação com o PNPOT e com os planos especiais (onde vigora uma hierarquia pura), de uma hierarquia mitigada, na medida em que o artigo 80.° admite que o plano director municipal possa contrariar as disposições de um plano regional ou de um plano sectorial, situação (única, aliás) em que os mesmos serão sujeitos a ratificação governamental, determinando a automática revogação ou alteração das disposições constantes dos instrumentos de gestão territorial afectados por forma a que traduzam a actualização da disciplina vigente (artigo 80.°, n.° 5). Nas relações entre si dos planos municipais, continua a manter-se uma relação de hierarquia mitigada que vigorava já no Decreto-Lei n.° 69/90, de 2 de Março. b) Os planos intermunicipais Os planos intermunicipais devem desenvolver o quadro estratégico definido pelo PNPOT e pelos planos regionais (artigo 24.°, n.° 1), devendo acautelar a programação e a concretização das políticas de desenvolvimento económico, social e de ambiente com incidência espacial, promovidas pela Administração central através de planos sectoriais (artigo 24.°, n.° 3, do RJIGT). Os planos especiais prevalecem sobre os planos intermunicipais (artigo 24.°, n.° 4, do RJIGT) que, por sua vez, fornecem directivas para a definição da política municipal de gestão territorial a ser definida pelos planos municipais (artigo 24.°, n.° 2, do RJIGT). A este propósito, refira-se o facto de não se prever agora, ao contrário do que sucedia antes, à luz da flexibilização do princípio da hierarquia, que os planos intermunicipais possam, mediante sujeição a ratificação, conter opções incompatíveis ou desconformes respectivamente com planos regionais de ordenamento do território ou planos sectoriais. Por sua vez, também já não resulta directamente da lei, se podem, e em que condições, os planos intermunicipais ser alterados pela via de planos directores municipais, situação que anteriormente era admitida mediante ratificação destes [alínea c) do n.° 3 do artigo 80.°]. Esta solução compreendia-se por os planos intermunicipais se enconn.° 3, regula a relação com os planos sectoriais; e o artigo 24.°, n.° 4, define a relação com os PEOT. 68 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão trarem sempre sujeitos a ratificação, motivo pelo qual a sua alteração por intermédio de outro plano municipal teria de passar sempre pelo cumprimento deste trâmite procedimental. Ora, considerando agora o facto de os planos intermunicipais não estarem sujeitos a ratificação, de em causa estarem apenas interesses municipais e de continuar a valer no nosso ordenamento jurídico um princípio de hierarquia flexível, não vemos por que negar esta possibilidade, desde que com o consentimento dos restantes municípios e a correspondente alteração de regulamentos e plantas, por forma a que traduzam a actualização da disciplina vigente. 4.3.4. Conclusão De tudo quanto foi afirmado, decorre que as relações entre os vários instrumentos de gestão territorial se tornaram mais flexíveis, sendo o estabelecimento de relações de hierarquia mitigada – ou seja, de uma hierarquia entre instrumentos de gestão territorial que admite desvios – o modo encontrado pelo legislador para flexibilizar e tornar mais operativa e célere a planificação territorial, garantindo, apesar de tudo, uma maior articulação e coordenação das várias entidades públicas envolvidas. A única consequência negativa que pode resultar de toda esta teia de relações possíveis entre os instrumentos de gestão territorial, é a de, por vezes, se tornar mais difícil determinar quando é que um plano é nulo por violação de outro com o qual devesse ser compatível (artigo 102.°, n.° 1). 5. Da perequação de benefícios e encargos decorrentes dos planos Uma das questões mais relevantes que se colocam a propósito do planeamento territorial é o da perequação dos benefícios e encargos dele decorrentes (52). (52) Sobre a criação de desigualdades pelos instrumentos de planeamento, cfr. A ntónio Cândido de Oliveira, “A situação actual da gestão urbanística em Portugal”, in Direito Regional e Local, n.° 02 (Abril/Junho de 2008), pp. 11 e segs. 69 Fernanda Paula Oliveira Antes de mais, a perequação de benefícios e encargos é uma consequência do princípio jurídico da igualdade, princípio que assume relevo constitucional a três níveis diferentes: como um princípio estruturante do Estado de Direito Democrático; como um direito fundamental dos cidadãos com um regime típico dos direitos, liberdades e garantias (que se traduz numa força jurídica própria decorrente da sua aplicabilidade directa sem necessidade de qualquer lei regulamentadora e na sua vinculatividade imediata para todas as entidades públicas – legislativas, judiciais e administrativas); e, ainda, como um princípio de acção administrativa (artigo 267.°, n.° 2, da CRP). Em matéria de planeamento, este princípio deve ser perspectivado, como defendeu Alves Correia, em duas distintas dimensões (53): igualdade imanente ao plano (ou proibição do arbítrio) e igualdade transcendente ao plano que se divide, por sua vez, em igualdade perante encargos públicos (expropriações do plano) e igualdade perante benefícios. Assumindo as expropriações dos planos carácter excepcional (a regra é a do carácter não indemnizatório das restrições dos planos – artigo 143.°, n.° 1, do RJIGT), o princípio da igualdade perante benefícios e encargos exige a implementação de medidas de perequação, com vista à concretização do princípio da neutralidade de interesses, princípio este que pretende tornar os interesses envolvidos no planeamento (em especial, os interesses privados) indiferentes perante as opções do plano, libertando este de todo o tipo de pressões susceptíveis de pôr em causa as escolhas imparciais pelas melhores soluções de ordenamento [cfr. alínea e) do artigo 137.° do RJIGT]. Tais medidas devem, pois, ser implementadas com o intuito de corrigir ou, pelo menos, atenuar as desigualdades introduzidas pelos instrumentos de planeamento territorial. Tendo a perequação constituído uma das principais lacunas de regulamentação no nosso ordenamento jurídico, ela foi consagrada legalmente com a aprovação da LBPOTU bem como com o RJIGT [cfr. artigos 5.°, alínea e), e 18.°, n.° 1, da LBPOTU e artigos 135.° a 142.° do RJIGT). (53) Cfr. Fernando A lves Correia, O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, cit., pp. 729 e segs. 70 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão Nos termos deste último diploma, a perequação de benefícios e encargos é perspectivada como um direito fundamental dos cidadãos (artigo 135.° do RJIGT) e como um dever para a Administração (de prever, nos instrumentos de planeamento que venha a elaborar, mecanismos deste tipo – artigo 136.°, também do RJIGT), facto que, conciliado com o direito a uma tutela judicial efectiva, deve poder ser exercido judicialmente (54). Nos termos do RJIGT, a perequação só pode funcionar convenientemente na e aquando da execução dos planos. Os mecanismos de perequação que venham a ser criados têm necessariamente de ter em conta este aspecto fundamental. Ora, como o RJIGT prevê, sistemas e instrumentos de execução dos planos, aqueles mecanismos de perequação têm de se adequar a estes, devendo existir necessariamente uma articulação entre execução e perequação [cfr., designadamente, o facto de os referidos sistemas de execução funcionarem dentro de unidades de execução (cfr. n.° 2 do artigo 119.° do RJIGT), que são também um dos âmbitos dentro do qual o legislador dá prevalência ao funcionamento dos mecanismos de perequação (o outro é o plano de pormenor) – n.° 2 do artigo 136.°]. Isto implica a necessidade de o funcionamento dos mecanismos de perequação dever ser articulado com a execução das concretas operações urbanísticas previstas nos planos (55). Note-se que, ao lado dos mecanismos directos de perequação (criados com esse propósito específico), a lei admite a possibilidade de utilização de mecanismos indirectos, ou seja, de mecanismos criados com outros propósitos, mas que permitem igualmente alcançar o objectivo da perequação, como acontece com as taxas urbanísticas (56). (54) Para A lves Correia, uma via adequada para reagir no caso de os instrumentos de planeamento territorial não darem cumprimento à obrigação de prever mecanismos de perequação, é a declaração de ilegalidade por omissão. Cfr. Manual de Direito do Urbanismo, cit., pp. 739 e segs. (55) Sobre a ligação fundamental entre a execução e a perequação, cfr. o nosso trabalho, Sistemas e Instrumentos de Execução dos Planos, Cadernos do CEDOUA, Coimbra, Almedina, 2002. Esta ligação é de tal modo fundamental que, em Espanha, ao lado da execução material dos planos, se fala na sua execução jurídica que corresponde, precisamente, à perequação. (56) Sobre a utilização das taxas como possível mecanismo de perequação, vide Jorge de Carvalho/Fernanda Paula Oliveira, Perequação, Taxas e Cedências. A Administração Urbanística em Portugal, Coimbra, Almedina, 2003. 71 Fernanda Paula Oliveira Tendo em consideração a regulamentação expressa no RJIGT, o legislador parece ter optado por dar preferência a mecanismos de perequação intra-planos ou intra-zonas do mesmo plano (n.° 2 do artigo 136.°). Com efeito, determina aquele diploma que os mecanismos de perequação funcionam no âmbito de planos de pormenor ou de unidades de execução, de acordo com os critérios definidos no PDM, o que significa que o seu funcionamento pressupõe a elaboração prévia de um plano de pormenor ou, no mínimo, a delimitação de uma unidade de execução, a qual deve ser promovida nos termos do artigo 120.° do RJIGT. Tal não significa, na nossa óptica, a impossibilidade e, por vezes a necessidade, de funcionamento de mecanismos inter-planos. De facto, pensamos que o artigo 136.°, n.° 2, do RJIGT visa apenas determinar que os planos de pormenor ou de unidades de execução são os âmbitos preferenciais, mas não exclusivos, de aplicação dos referidos mecanismos. Refira-se, ainda, que a perequação visa corrigir as desigualdades que decorrem do plano, isto é, as desigualdades por ele introduzidas e que não existiam antes dele, e não uniformizar os solos. Tal significa que os mecanismos de perequação devem ter em conta que os terrenos podem ser substancialmente diferentes à partida, isto é, podem ter aptidões e enquadramentos urbanos distintos, bem como distintas capacidades ou vocações funcionais, o que implica a necessidade de os mecanismos de perequação considerarem diferenciadamente os solos quando tal se justifique, o que deve acontecer, por exemplo, nas situações de vinculação situacional dos solos, ou seja, nas situações em que um regime restritivo de uso dos solos decorre da sua especial situação factual ou das suas características intrínsecas (57). Assim, para garantir que apenas se fará perequação das desigualdades (e só dessas) que foram introduzidas pelos planos, devem os respectivos mecanismos de ter em consideração as preexistências (localização, configuração, aptidão edificatória), sendo naturalmente de rejeitar que, por intermédio deles, se trate de forma igual situações substancialmente diferentes à partida. (57) A definição de índices médios de utilização diferenciados em função das diversas características intrínsecas dos solos é uma forma de dar cumprimento a esta exigência. 72 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão Note-se que os instrumentos de perequação que venham a ser criados não têm de se enquadrar nos mecanismos previstos no RJIGT. Como determina expressamente este diploma legal, os mecanismos de perequação podem ser outros que não os que se encontram ali referidos, existindo, pois, discricionariedade na sua criação. Esta discricionariedade traduz-se na opção pelo instrumento de perequação que se entenda mais adequado à situação em causa, no recurso combinado a mais do que um (que podem ser os previstos neste diploma ou quaisquer outros que venham a ser criados) ou ainda na determinação das formas do seu funcionamento. Apenas se exige que os mecanismos que se venham a criar sejam verdadeiros mecanismos de perequação, logo, que não sejam meros expedientes de obtenção de receitas municipais ou de solos pelos municípios. Efectivamente, embora estes dois objectivos venham também indicados no artigo 137.° do RJIGT como objectivos da perequação, esta deve, desde logo, ter como objectivo imediato (que necessariamente terá de ser cumprido) a redistribuição das mais-valias (bem como das menos-valias (58)) atribuídas pelos planos [alínea a)] e não apenas aqueles dois objectivos anteriormente referidos. Por outro lado, e na mesma linha de raciocínio, os mecanismos de perequação não podem funcionar unidireccionalmente (v.g., não podem dar uma edificabilidade superior à média apenas com o intuito de exigir o pagamento de compensações, não prevendo qualquer compensação por parte do município aos proprietários dos terrenos que tenham uma edificabilidade inferior à média). Os mecanismos de perequação, podem, contudo, funcionar também como instrumentos de arrecadação de receitas e como instrumentos de política dos solos, desde que o objectivo previsto na alínea a) do referido artigo 137.° (redistribuição das mais e das menos-valias) esteja cumprido. A lei fornece alguns exemplos de mecanismos de perequação que podem ser mobilizados pelos municípios. O primeiro é o “índice médio de utilização”, previsto no artigo 139.°. Como na maioria dos planos são fixados, para toda a área compreendida pelo mesmo, índi- (58) Não obstante a alínea a) do artigo 137.° se referir apenas a redistribuição das mais-valias atribuídas pelos planos, a verdade é que para que estejamos perante verdadeiros mecanismos de perequação de benefícios e encargos eles terão de operar a redistribuição não apenas das mais-valias (os benefícios), mas também das menos-valias (os encargos). 73 Fernanda Paula Oliveira ces máximos de edificabilidade (ou mesmo, no âmbito dos planos de pormenor, edificabilidades precisas para cada futuro lote), é possível a identificação do direito abstracto de construção no âmbito desse mesmo plano e, bem assim, “jogos” de reequilíbrio (em numerário ou em espécie, para mais ou para menos) da posição patrimonial dos destinatários do plano. Por seu lado, os mecanismos da “área de cedência média” e da “repartição dos custos de urbanização” (artigos 141.° e 142.° do RJIGT), também promovem este mesmo objectivo de equidade patrimonial, e implicam, igualmente, que se divise a área de cedência média e o custo médio de urbanização por unidade de terreno (m2) ou do seu valor, para permitir a sua repartição posterior em função da área ou do valor do solo recebido. No âmbito do funcionamento dos mecanismos de perequação de benefícios e encargos, prevê-se expressamente o recurso a figuras contratuais, como é o exemplo daquelas em que município intervém adquirindo, de acordo com o previsto em regulamento municipal, por permuta ou por compra, a parte do terreno menos edificável ou da área de cedência em excesso (artigos 139.°, n.° 6, e 141.°, n.° 4), ou daquelas em que apenas intervêm os particulares, ainda que sob o controlo municipal, como sucede com a possibilidade de compra e venda do índice médio de utilização (artigo 140.°). Nas situações em que as compensações sejam feitas com intervenção activa da câmara, normalmente através da criação e gestão de um fundo de compensação, nos termos previstos no artigo 125.° do RJIGT, a transferência de índices dar-se-á no momento da emissão do alvará que titula operações urbanísticas (devendo dele constar se a compensação deve ser prestada e em que termos ou se esta não é devida), sendo estas operações ou os actos que versem sobre a sua transferência ou oneração sujeitos a registo predial. Na hipótese de compra e venda do índice médio de utilização entre privados, é o próprio artigo 140.°, n.° 2, do RJIGT que estabelece deverem tais transacções ser inscritas no registo predial. 74 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão 6. Apreciação global do sistema de gestão territorial 6.1. O sistema instituído pela LBPOTU e pelo RJIGT: síntese Tendo em consideração tudo quanto foi referido anteriormente, podemos, de uma forma sumária, apontar, em síntese, os seguintes pontos caracterizadores do sistema de gestão territorial estabelecido pela LBPOTU e pelo RJIGT. a) Os níveis de planeamento/níveis de interesses A LBPOTU veio instituir o que entendeu designar por um sistema de gestão territorial (sistema de ordenamento do território e de urbanismo) assente em instrumentos de planeamento estruturados em três níveis distintos – nacional, regional e municipal –, tendo em conta o nível dos interesses prosseguidos por cada um deles. O nível nacional corresponde aos instrumentos de gestão do território que definem o quadro estratégico para o ordenamento do espaço nacional, estabelecendo as directrizes a considerar no ordenamento regional e municipal e a compatibilização entre os diversos instrumentos de política sectorial com incidência territorial, podendo ainda integrar instrumentos de natureza especial [artigo 7.°, n.° 2, alínea a), da LBPOTU], integrando o PNPOT, os planos sectoriais e os planos especiais de ordenamento do território. Os instrumentos de âmbito regional definem o quadro estratégico para o ordenamento do espaço regional em estreita articulação com as políticas nacionais de desenvolvimento económico e social, estabelecendo as directrizes orientadoras do ordenamento municipal [artigo 7.°, n.° 2, alínea b), da LBPOTU], enquadrando, assim, este diploma, os planos regionais de ordenamento do território. É, por fim, no âmbito municipal que se definem, de acordo com as directrizes de âmbito nacional e regional e com as opções próprias de desenvolvimento estratégico, o regime de uso do solo e a sua programação [artigo 7.°, n.° 2, alínea c), da referida lei]. Neste âmbito, integram-se os planos municipais de ordenamento do território, mas pertencem também ao nível municipal, embora com uma função distinta, os planos intermunicipais de ordenamento do território. 75 Fernanda Paula Oliveira Do ponto de vista das atribuições no âmbito deste sistema, o nível nacional foi conferido ao Estado, o regional às regiões administrativas (sendo a regionalização um pressuposto desta lei) e o escalão municipal aos municípios. E isto é assim, não obstante o nosso sistema de ordenamento do território prever uma actuação coordenada e concertada entre os diversos níveis da Administração do território na elaboração de planos. b) A diferenciada função e eficácia jurídica dos instrumentos de gestão territorial Cada um dos referidos instrumentos de gestão territorial desempenha, nos termos da LBPOTU, uma função própria que se diferencia daquela que é desempenhada pelos restantes. Assim, enquanto uns se apresentam como instrumentos de desenvolvimento territorial – definidores de uma estratégia e de grandes orientações e directrizes sobre a forma de ocupação do território (o PNPOT, os planos regionais e os planos intermunicipais) –, outros definem as regras concretas para aquela ocupação, através das tarefas básicas de classificação e qualificação dos solos (os planos municipais). Precisamente por isso, os primeiros não integram normas directamente vinculativas dos particulares, enquanto os últimos detêm este tipo de eficácia, característica que os planos municipais partilham com os planos especiais de ordenamento do território. Apesar de os planos municipais e os planos especiais serem, ambos, dotados de eficácia plurisubjectiva, são aqueles que apresentam maior relevo no sistema de gestão territorial criado pela LBPOTU, dado tratarem-se – ao contrário dos planos especiais, que têm carácter subsidiário, supletivo e sectorial – de instrumentos de tratamento tendencialmente global e integrado da área territorial da respectiva intervenção. Efectivamente, as previsões dos planos municipais de ordenamento do território têm carácter global, uma vez que tomam em consideração todos os interesses que confluem na sua área de incidência e estabelecem métodos de harmonização entre os referidos interesses quando em relação de conflito real ou potencial. O especial relevo dos planos municipais advém-lhes, precisamente, da tendência actual de preterição de uma planificação sectorial do território – que o olha 76 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão apenas da perspectiva do interesse que a justifica – em favor de um planeamento que permita uma visão integrada e global daquele (59). Para além do mais, embora seja verdade que os planos especiais de ordenamento do território assumem, no sistema de planeamento português instituído pela LBPOTU, uma superioridade hierárquica relativamente aos planos municipais, não é menos verdade disporem estes dois tipos de instrumentos de gestão territorial de um âmbito material de incidência diferenciado, sendo aos planos municipais (e não aos planos especiais) que a lei confere a tarefa essencial de classificação e de qualificação dos solos e, portanto, de identificação dos perímetros urbanos e de delimitação das várias categorias de solos em função do seu uso dominante. De facto, embora ambos detenham natureza regulamentar, o que lhes confere uma eficácia directa e imediata em relação aos particulares, esta, no que concerne aos planos especiais, advém-lhes não da capacidade de fixação de regras de ocupação e uso do espaço – tarefa que cabe aos planos municipais –, mas da determinação de regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e de regimes de gestão das suas áreas compatíveis com a utilização sustentável do território. Isto é, e dito de outro modo, ainda que seja possível, aos planos especiais, fixar usos do solo, estes devem traduzir-se, tão-só, na indicação das actividades permitidas, condicionadas e proibidas com vista à salvaguarda dos recursos e dos valores naturais das áreas sobre que incidem: os usos nele regulados são apenas aqueles que se consideram compatíveis com a utilização sustentável do território. Ou seja, e concluindo, não obstante a importância, no sistema de gestão territorial português instituído pela LBPOTU, dos planos municipais e dos planos especiais de ordenamento do território, dada a eficácia directa e imediata das suas prescrições quer em relação a entidades públicas quer aos particulares, os primeiros assumem maior relevo por comparação com os segundos que se apresentam como instrumentos de carácter meramente sectorial (atentos os fins que visam prosseguir), (59) No sentido da necessidade de superar uma planificação sectorializada e descoordenada por outra, que integre as planificações sectoriais e que permita a coordenação horizontal e vertical entre os diversos níveis administrativos territoriais de planificação, vide José Miguel Fernández Güell, Planificación Estratégica de Ciudades, Barcelona, Editorial Gustavo Gilli, 1997, p. 52. 77 Fernanda Paula Oliveira supletivo e transitório (por se destinarem a vigorar enquanto se mantiver a indispensabilidade de tutela daqueles valores por instrumentos de âmbito nacional). Pelo contrário, os planos municipais de ordenamento do território apresentam-se como instrumentos de carácter global e de regulação normal de ocupação do espaço, isto é, de tratamento tendencialmente total e integrado da sua área de intervenção, assumindo, deste modo, um relevo particular de entre todos os restantes instrumentos de gestão territorial. A consideração de que apenas os planos municipais e os especiais produzem efeitos directos em relação aos particulares e de que os primeiros são os instrumentos de planeamento global e integrado do território levou à opção legislativa (que decorre da LBPOTU e do RJIGT) de as opções constantes dos restantes instrumentos de gestão territorial terem de ser concretizadas ou integradas (absorvidas) nestes, se se pretender que sejam directamente vinculativas dos particulares. c) A integração das decisões sectoriais no sistema Ainda em matéria de tipificação dos instrumentos de gestão territorial, a LBPOTU veio integrar, pela primeira vez e de forma expressa, os planos sectoriais no sistema de gestão territorial. Não se tratando de instrumentos novos, a sua integração no sistema permitiu dar-lhes visibilidade e definir as regras de relacionamento dos mesmos com os restantes instrumentos de gestão territorial. Com efeito, a sua ausência do sistema tornava particularmente difícil determinar como esta relação se processava (designadamente, se os mesmos prevaleciam ou não sobre os restantes). d) Um sistema fechado Com a identificação dos instrumentos de gestão territorial que a Administração pode elaborar, o legislador da LBPOTU pretendeu “fechar” o princípio da tipicidade dos planos ao determinar, no seu artigo 34.°, que todos os instrumentos de natureza legal ou regulamentar com incidência territorial existentes à data da sua entrada em vigor deveriam ser reconduzidos, no âmbito do sistema de planeamento, ao tipo de instrumento de gestão territorial que se revelasse adequado à sua vocação (o procedimento a desencadear para o efeito veio a ser estabelecido no artigo 154.° do RJIGT). O “fecho” do sistema (dos instru78 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão mentos que podem ser integrados no sistema) era uma intenção clara da LBPOTU. e) A execução material e jurídica dos planos Ainda no que se refere às novidades da LBPOTU, pela primeira vez no ordenamento jurídico português, o legislador veio explicitar a importância da execução dos planos, quer material quer jurídica. No que concerne à execução material dos planos instituiu-se que a mesma deve ser programada e coordenada, devendo utilizar-se, para o efeito, meios de política dos solos e instrumentos contratuais, de entre os quais se realçam os programas de acção territorial. Estes apresentam-se como mecanismos de contratualização para a execução programada dos planos, mas também para a contratualização da definição da política de ordenamento do território e urbanismo. No que diz respeito à execução jurídica dos planos, em causa estão as questões da perequação de benefícios e encargos deles decorrentes e das expropriações de sacrifício por eles provocadas, fornecendo a LBPOTU, com a sua consagração legal expressa, resposta, pela primeira vez no nosso ordenamento jurídico, às exigências de equidade (igualdade) no planeamento urbanístico. f) A muniturização Por fim, a LBPOTU integrou a necessidade de desenvolvimento dos mecanismos de muniturização da política de ordenamento do território, através, designadamente, da elaboração de relatórios de estado do ordenamento do território (nos três níveis de estruturação do sistema de gestão territorial). 6.2. A avaliação do sistema O que dizer deste sistema, mais de dez anos volvidos sobre a sua institucionalização? Uma análise atenta do mesmo e, em especial, da sua aplicação prática, permite-nos identificar um conjunto de críticas ao (e dificuldades no) seu funcionamento que aqui apenas enumeramos de modo sucinto. a) A dificuldade resultante da falta de concretização de um dos seus pressupostos: a regionalização administrativa que, não tendo avançado, obrigou à reorganização, do ponto de vista das atribuições, 79 Fernanda Paula Oliveira do sistema instituído, permanecendo o nível regional de planeamento na responsabilidade do Estado. De um sistema de gestão territorial em três níveis, passamos a ter, como antes, um sistema em dois níveis. b) A dificuldade decorrente da opção de apenas os planos municipais e especiais serem directamente vinculativos dos particulares, não detendo este tipo de eficácia, em circunstância alguma, os planos regionais de ordenamento do território. Por este motivo, as suas opções têm de ser concretizadas ou até integradas nos planos municipais para terem aquele tipo de eficácia, o que suscita particulares dificuldades sempre que exista resistência dos municípios em proceder àquela adequação. Assim, embora os planos directores municipais, se não forem adaptados aos planos regionais, sejam ilegais, continuam em vigor enquanto tal ilegalidade não for declarada. Para além de que, ainda que o Estado possa, ao abrigo dos poderes que a lei lhe confere, suspender os planos directores municipais por motivos de interesse regional e nacional, esta suspensão gera um “vazio” normativo por não obrigar à adopção de medidas preventivas e não determina a paralisação da gestão urbanística, que continua a ocorrer sem aplicabilidade das regras dos planos regionais, por não conferir efeitos directos às suas normas. c) A difícil gestão da figura dos planos municipais de ordenamento do território por força da opção de verter para estes não apenas as opções municipais, mas também as dos outros níveis que se pretende que sejam directamente vinculativos dos particulares (resultante da opção, já referida, de apenas estes, enquanto instrumentos de carácter global, produzirem efeitos em relação aos particulares). Com efeito, a lógica do sistema actual de fazer reconduzir (integrar ou transpor) para os planos municipais de ordenamento do território, em especial, para o plano director municipal, todas as opções dos níveis superiores que se pretendam directamente vinculativas dos particulares (por não serem dotadas deste tipo de eficácia), embora tenham óbvias vantagens da perspectiva da segurança jurídica daqueles (já que sabem que todas as regras que podem afectar a sua esfera jurídica devem estar neles contidos), acaba por fazer dos planos directores municipais um repositório das mais variadas matérias, da responsabilidade dos mais distintos sectores, fazendo perder de vista aquilo que lhe é essencial. Mais, tem levado ao exagero de se pretender verter para os planos municipais matérias de outros níveis de planeamento que nada têm que ver com a 80 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão definição de regras de ocupação do território (v.g., gestão e limpeza de áreas florestais). d) As particulares dificuldades decorrentes da tipologia aberta que os planos sectoriais apresentam. Com efeito, a esta tipologia se reconduzem não apenas os planos, programas e estratégias de desenvolvimento respeitantes aos diversos sectores da Administração central, como também os planos de ordenamento sectorial (v.g., os planos regionais de ordenamento florestal), os regimes territoriais definidos ao abrigo de lei especial (o caso da Rede Natura 2000) e as decisões de localização e realização de grandes empreendimentos públicos com incidência territorial. Acresce, a estes, (expressamente previstos no artigo 35.° do RJIGT), todos os instrumentos de natureza legal ou regulamentar com incidência territorial existentes à data da entrada em vigor do RJIGT e que não tenham, nos termos definidos nos n.os 2 e 3 do seu artigo 154.°, sido reconduzidos (adaptados) à tipologia “fechada” nele prevista. e) A desadequação de grande parte dos planos especiais de ordenamento do território ao sistema de gestão territorial, na medida em que, em vez de se limitarem a definir regimes de salvaguarda, classificam e qualificam os solos, quer por via da alteração de perímetros urbanos definidos nos instrumentos de planeamento, quer pela definição das categorias às quais se encontram associadas utilizações e parâmetros de ocupação (e também unidades operativas de planeamento e gestão que remetem para a necessária elaboração, por parte dos municípios, de planos de pormenor), gerando conflitos de atribuições desnecessários. f) As dificuldades em “fechar o sistema”. Com efeito, embora o legislador da lei de bases tenha pretendido “fechar” a tipicidade dos instrumentos de gestão territorial, obrigando à recondução, aos tipos nela previstos, de todos os instrumentos com incidência e repercussão territorial, o legislador ordinário não a tem estado a cumprir, em especial quando se coloca a questão do reconhecimento de efeitos directos às prescrições destes instrumentos de intervenção territorial. Assim, embora o legislador sectorial tenha quase sempre consciência de que a qualificação de um instrumento como plano sectorial não lhe confere eficácia directa e imediata em relação aos particulares, acaba por encontrar expedientes que lhe permitem fugir a esta limitação. Veja-se, a 81 Fernanda Paula Oliveira título de exemplo, o caso do planeamento previsto na Lei da Água, que reconhece ao Plano Nacional da Água, aos planos de gestão de bacia hidrográfica e aos planos específicos de gestão da água a natureza de planos sectoriais. Considerando a limitação que esta qualificação produz em termos de eficácia jurídica das suas normas, vem o artigo 27.° da Lei da Água determinar que “no caso de um instrumento de planeamento das águas concluir pela necessidade de submeter algumas actividades dos administrados aos condicionamentos ou restrições autorizados por lei, impostos pela protecção e boa gestão das águas, são fixadas em regulamento, aprovado por portaria do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, as normas que estabeleçam tais condicionamentos e restrições”, prescrição esta com o objectivo claro de conseguir conferir eficácia plurisubjectiva às opções constantes daqueles instrumentos de planeamento sectorial por uma outra via (a aprovação de um regulamento), mas esquecendo a determinação da LBPOTU e do RJIGT de que todos os instrumentos de natureza legal e regulamentar (como no caso) não reconduzidos à tipologia neles prevista permanece em vigor como plano sectorial, logo sem aquele tipo de eficácia. Em vez de um sistema fechado, o mesmo tem, pois, vindo a ser sucessivamente aberto, já que o legislador tem estado a reconhecer outros instrumentos de definição de regras sobre o território, sem os reconduzir ao sistema. g) Pouca implementação da LBPOTU em matéria de execução e dos mecanismos de programação (verifica-se, por exemplo, uma quase total ausência de programas de acção territorial) e unidades de execução. h) Inexistência de uma avaliação da política de ordenamento do território (de elaboração dos relatórios do estado do ordenamento do território) a partir do momento em que esta se tornou uma exigência legal. 6.3. A evolução mais recente do sistema O sistema de gestão territorial instituído pela LBPOTU (e desenvolvido pelo RJIGT) foi recentemente objecto de uma revisão que visou: a) A simplificação e agilização dos procedimentos, traduzido, designadamente, na redução de prazos e na simplificação dos trâmites 82 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão dos procedimentos de planeamento, em especial, em matéria de acompanhamento, concertação e controlos finais da legalidade dos planos municipais de ordenamento do território pelas CCDR. b) A descentralização de competências para os municípios, associada à correspondente maior responsabilização e autonomia destes, traduzida designadamente, na ausência de carácter vinculativo dos controlos de legalidade efectuados pelas CCDR e na desnecessidade de ratificação dos planos directores municipais – que só cede perante incompatibilidades com planos regionais de ordenamento do território ou planos sectoriais – bem como dos planos de urbanização e dos planos de pormenor que alterem planos municipais de hierarquia superior. Esta solução concretiza a previsão da LBPOTU de excepcionalidade da ratificação após a aprovação do PNPOT e dos novos planos regionais de ordenamento do território (artigo 32.°, n.° 2). c) A desconcentração de competências no âmbito da Administração central, designadamente, reforçando o papel das CCDR neste domínio. Assim, são estes órgãos desconcentrados do Estado que procedem à verificação final da legalidade dos planos municipais, devendo pronunciar-se, designadamente, na fase de acompanhamento, sobre o cumprimento, por estes, de normas legais e sobre a conformidade ou compatibilidade deles com outros instrumentos de gestão territorial, sendo ainda as CCDR que suscitam ao Governo a apreciação de pedidos de ratificação de planos directores municipais nas situações a que a ela haja lugar. d) O reforço dos mecanismos de concertação dos interesses públicos e destes com os interesses privados subjacentes aos processos de planeamento. O cumprimento deste vector, em especial, na vertente da concertação com interesses privados, tem particular tradução na previsão legal da possibilidade de se celebrarem contratos sobre o exercício dos poderes de planeamento (contratos para planeamento). e) A clarificação e diferenciação de conceitos da dinâmica dos planos, em especial, no que concerne à melhor diferenciação entre revisão e alteração e à precisão dos distintos procedimentos integrados nesta última figura de dinâmica. f) A clarificação da finalidade, conteúdo e tipologia dos instrumentos de gestão territorial, com particular relevo no que concerne aos planos municipais de ordenamento do território. 83 Fernanda Paula Oliveira Os objectivos finais que se pretenderam alcançar com estas alterações foram os da eficiência dos processos de planeamento, da qualificação das práticas técnicas administrativas e da qualificação dos próprios instrumentos de gestão territorial, tendo-se considerado ser este o momento adequado para os promover, dado estar já em vigor o PNPOT (que serve de enquadramento a todos os instrumentos de gestão territorial e às várias políticas com repercussão no território) e encontrarem-se em processo avançado de elaboração (ou de revisão) os vários planos regionais de ordenamento do território que definem a estratégia de referência para os planos municipais. 6.4. O que repensar no sistema: alguns tópicos de reflexão Tendo em consideração tudo quanto referimos até ao presente momento, resta-nos enumerar algumas dúvidas e alguns tópicos que não poderão deixar de ser tidos em conta numa reflexão, que se pretenda séria, do sistema de gestão territorial em vigor desde a LBPOTU. São eles: a) Os instrumentos de planeamento devem ser os únicos instrumentos de gestão do território? b) O sistema de gestão territorial deve ser aberto ou fechado? c) Deve ser reconhecida eficácia directa a determinado tipo de planos sectoriais (com opções precisas de ocupação territorial)? Na resposta a esta questão deve ter-se em consideração que o que deve determinar se um instrumento de gestão territorial deve ter ou não eficácia plurisubjectiva não é propriamente a tipologia a que o mesmo se reconduz, mas o seu conteúdo material: um plano de natureza estratégica, que traduz as grandes opções com relevância para a organização do espaço, que define directrizes de carácter genérico sobre o modo de uso do mesmo e que se destina, no seu essencial, a servir de enquadramento e de referência para outras opções planificadoras (como o são os instrumentos de gestão territorial reconduzidos à categoria genérica dos instrumentos de desenvolvimento territorial), apenas deve vincular entidades públicas (que são as destinatárias das suas normas); instrumentos de gestão territorial com conteúdo preciso, que afectam parcelas do território a fins concretos e determinados, como o fazem muitos planos sectoriais, devem ser dotados de eficácia plurisubjectiva. 84 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão d) Deve ser reconhecida, em certas circunstâncias, eficácia directa aos planos regionais, em especial, para algumas das suas disposições mais concretas quando não atempadamente integradas ou “transpostas” para os planos municipais? Para além da reflexão que as questões colocadas suscitam, deverá ainda proceder-se a um melhor esclarecimento sobre o conteúdo e os efeitos dos contratos para planeamento. A que acresce a necessidade de ponderação das consequências de algumas das novas opções de reforço da autonomia dos municípios (v.g., ausência de ratificação dos planos municipais), que pode conduzir à substituição de um sistema de gestão de conflitos a priori (antes dos planos produzirem efeitos) para um sistema de gestão de conflitos a posteriori (depois de os mesmos estarem em vigor). Refira-se, por fim, a necessidade de tornar operativa a parte do sistema referente à execução dos instrumentos de gestão territorial, quer material quer jurídica, que tem tido pouca implementação prática. 85 Parte II A Gestão Urbanística Capítulo I Gestão urbanística sem planos, com planos, mas sem os contrariar e como execução de planos 1. Noção e lógicas distintas de gestão urbanística A gestão urbanística corresponde, grosso modo, ao conjunto das actividades relacionadas com a concreta ocupação, uso e transformação dos solos, quer sejam realizadas directamente pela Administração Pública, quer pelos particulares sob a direcção, promoção, coordenação ou controlo daquela (60). Num momento em que praticamente todo o território nacional se encontra abrangido pelos mais diversos instrumentos de gestão territorial e, em especial, coberto por planos municipais de ordenamento do território – aqueles que classificam e qualificam os solos –, falar em gestão urbanística significa falar na execução de planos municipais, nas mais variadas dimensões em que esta tarefa se traduz. Não se pode, pois, falar já, actualmente, de uma gestão urbanística sem planos, mas de uma gestão urbanística assente em instrumentos de planeamento. Nesta perspectiva, existe uma estrita relação entre a elaboração e a execução dos planos municipais, entre planeamento e gestão urbanística, fazendo ambos parte de uma mesma realidade iterativa (61). Tal não significa que planear e executar sejam actividades equivalentes, já que não há como negar que se trata de duas realidades que, pelo menos do ponto de vista lógico e cronológico, se apresentam como distintas e sucessivas (62). No entanto, tal não poderá significar que no (60) Cfr. Fernando A lves Correia, As Grandes Linhas da Recente Reforma do Direito do Urbanismo Português, cit., p. 65. (61) Em causa está a perspectivação do planeamento como um processo contínuo que abrange não apenas o momento da sua elaboração, mas também o da respectiva concretização, a qual se apresenta como o fim último do plano, já que este apenas tem a sua razão de ser se for para ser executado. Por isso referimos supra que quando o plano é elaborado tem de integrar já disposições atinentes ao quando e ao modo da respectiva execução. (62) Por isso, afirma A ntónio Cândido de Oliveira que “executar não é o mesmo que planear. A invenção, a imaginação, a criação são naturais e encontram a sua expressão no Fernanda Paula Oliveira planear está a inovação e no executar a mera a aplicação subsuntiva de normas predeterminadas. É que à execução do plano deve ser reconhecido também, em doses adequadas, espaços de conformação e de decisão por parte das entidades públicas envolvidas. Por isso, o projecto que está na base da gestão urbanística não deve ser visto como uma mera reprodução das opções constantes do plano, devendo antes ser-lhe reconhecido um papel “criador” e “integrador” das previsões deste (63). O que significa também um diferente entendimento das funções que devem ser reservadas aos planos, os quais não têm de se apresentar como instrumentos que tudo prevêem e disciplinam, não sendo a sua função reguladora necessariamente posta em causa apenas porque a gestão urbanística é chamada a concretizar ou adaptar as suas normas à realidade concreta através de juízos próprios de oportunidade e de mérito. Não obstante o que afirmámos – de que hoje em dia a gestão urbanística não pode ser desligada do planeamento –, deve, no entanto, ter-se em atenção que uma coisa há-de ser uma gestão urbanística a partir de planos (isto é, sem os contrariar) outra, completamente distinta, a gestão urbanística como execução de planos. Do primeiro tipo é a gestão urbanística que foi levada a cabo pelos municípios nos últimos anos e que cujas características mais relevantes assentam nos seguintes pressupostos: – Planos municipais com amplas admissibilidades construtivas, não sujeitas a condicionantes ou programação, promovendo licenciamentos dispersos e desgarrados (desde que conformes com os planos); – Ausência de iniciativas públicas fundiárias (directas, ou de dinamização de processos societários); – Administração municipal que se limita a guardar as iniciativas privadas, apreciando os respectivos projectos e licenciando-os desde que não contrariem os planos; planeamento não na execução. Se a execução é altura para inventar, então não é actividade de execução, é actividade de planeamento”. A ntónio Cândido de Oliveira, “Problemática jurídica da execução dos planos directores municipais”, in CEDOUA/APDU/FDUC, A Execução dos Planos Directores Municipais, Coimbra, Almedina, 1998, p. 25. (63) Assim se vem defendendo que, para que um projecto urbanístico esteja de acordo com as disposições de um plano e, por isso, não o viole, não é necessário que reproduza estrita e rigorosamente o que nele está previsto, bastando que, no conjunto ou no seu todo, o projecto urbanístico licenciado dê cumprimento às exigências significativas ou expressivas constantes do plano. 90 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão – Iniciativas privadas e fechadas no limite de cada propriedade (isto é, com total ausência de processos associativos). As consequências deste tipo de gestão traduzem-se: – Numa ocupação dispersa e desgarrada no território, como marca de um licenciamento casuístico de operações urbanísticas que cumprem (não contrariam) as opções dos planos directores municipais; – Numa irracional expansão das infra-estruturas pelo território, que permanecem, muitas vezes, subaproveitadas; – Num crescimento casuístico, fragmentado e disperso, entrecruzado com terrenos expectantes, mais ou menos abandonados; – Em insuficiências, quantitativas e qualitativas, de infra-estruturas, equipamentos e espaços verdes, de espaço público em geral. Tudo resultado de um casuísmo e na pequena dimensão de muitas das operações urbanísticas, a que acresce a falta de meios: os promotores têm em regra um contributo insuficiente e os proprietários imobilistas têm uma contribuição quase nula. A solução para alguns destes problemas passa pela assunção, por parte dos municípios, de uma atitude mais proactiva, programando as operações privadas em função das suas prioridades; condicionando as operações urbanísticas a soluções de conjunto; e promovendo parcerias entre privados e destes com a Administração na concretização dos planos. Tudo a apontar para uma nova lógica de gestão urbanística, onde os municípios programam, coordenam e controlam operações que, de forma integrada, executem os planos, em vez de se limitarem a controlar, por intermédio dos procedimentos legalmente previstos, operações urbanísticas casuísticas e desgarradas com o único intuito de garantir que não contrariem os planos. 2. Os instrumentos de gestão urbanística Do exposto resulta existirem várias lógicas, distintas, de perspectivar a gestão urbanística, sendo que em função de cada uma delas se apresentam como prioritários diferentes instrumentos postos à disposição da Administração municipal. 91 Fernanda Paula Oliveira A lógica mais tradicional é, já o dissemos, a que é feita pelos municípios “a reboque” de iniciativas privadas: situação típica em que os interessados, designadamente proprietários dos solos, lhe apresentam, para apreciação e controlo prévios, projectos para a concretização das mais variadas operações urbanísticas (loteamentos urbanos, obras de urbanização, obras de edificação, etc.), procedendo a Administração municipal à emissão dos correspondentes actos de controlo e fiscalizando, posteriormente, a sua concretização. Os mais relevantes actos que se reconduzem a este tipo de gestão urbanística (actos administrativos de gestão urbanística) são os que se encontram regulados no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (doravante, RJUE (64)) – licenciamentos, admissões de comunicações prévias, autorizações, actos de tutela de legalidade, etc. –, embora aí também se enquadrem actos em que a iniciativa da ocupação do território é das entidades públicas, designadamente, dos municípios, já que, por vezes, a intervenção urbanística nos solos é promovida pela própria Administração mediante a realização de obras de urbanização, construção de equipamentos colectivos, construção de habitação social e económica, etc., necessitando, para o efeito, de um conjunto de instrumentos, designadamente de aquisição de solos quando não os disponha em condições adequadas aos fins a servir. A este propósito, assume especial relevo a expropriação por utilidade pública e o direito de preferência da Administração nas transmissões, a título oneroso, entre os particulares. Uma lógica mais recente de gestão urbanística aponta para um papel mais activo e programador dos municípios, que passam a programar e a coordenar as várias intervenções no território, assumindo a este propósito especial relevância as formas de execução sistemática dos planos por intermédio da delimitação de unidades de execução. Tendo presente tudo quanto foi referido, procederemos, na presente Parte, a um tratamento sistemático dos vários modelos de gestão urbanística referidos, começando pelo regime da execução sistemática (64) Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de Dezembro, alterado sucessivamente pelo Decreto-Lei n.° 177/2001, de 4 de Junho, pela Lei n.° 15/2002, de 22 de Fevereiro, pela Lei n.° 60/2007, de 4 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, e pelo Decreto-Lei n.° 116/2008, de 4 de Junho. 92 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão dos planos (Capítulo II), passando pela análise do instrumento jurídico das expropriações por utilidade pública (Capítulo III), terminando com a análise do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (Capítulo IV). 93 Fernanda Paula Oliveira Capítulo II A gestão urbanística e execução sistemática de planos (65) 1. Os planos de pormenor e as unidades de execução Para a concretização de um novo modelo de gestão territorial, as palavras de ordem são, actualmente, como se referiu, as de programação, de promoção ou condicionamento das operações urbanísticas a soluções de conjunto e de promoção de parcerias entre privados e destes com a Administração na concretização dos planos. A legislação actualmente em vigor aponta claramente nesse sentido, exigindo, designadamente, uma gestão urbanística que promova a contenção (consolidação) dos perímetros urbanos e o preenchimento de espaços vazios dentro dos perímetros existentes, bem como o reforço e revitalização dos centros das cidades. De entre os instrumentos legalmente previstos, destacam-se, como os mais adequados para a consecução dos referidos objectivos, os planos de pormenor e as unidades de execução que se apresentam, não obstante as devidas diferenças, como instrumentos intercambiais do ponto de vista funcional. Com efeito, e desde logo, os planos de pormenor, por apontarem, em regra, para um desenho urbano “desligado” da divisão fundiária da sua área de intervenção, são um instrumento adequado para que o município promova intervenções não limitadas ao interior da propriedade de cada um (forçando, portanto, intervenções de conjunto), “empurrando”, assim, os proprietários abrangidos para processos associativos (contratualizados), sem os quais não poderão concretizar nos seus terrenos qualquer operação urbanística. Para além do mais, os planos de pormenor programam a sua própria concretização, dispondo de um programa de execução e de um plano de financiamento. (65) Segue-se aqui, de perto o nosso “As Virtualidades das Unidades de Execução num Novo Modelo de Ocupação do Território: Alternativa aos Planos de Pormenor ou Outra Via de Concertação de Interesses no Direito do Urbanismo?”, in Direito Regional e Local, n.° 02 (Abril/Junho de 2008), pp. 17 e segs. 94 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão A par destes, e como uma novidade na legislação mais recente, surgem as unidades de execução delimitadas pelas câmaras municipais, por iniciativa própria ou dos interessados (n.° 2 do artigo 119.° do RJIGT). A sua admissão surge conjuntamente com a previsão, pelo artigo 118.°, de que a execução dos planos é tarefa dos órgãos municipais, cabendo aos particulares o dever de adequar as suas pretensões às metas e prioridades estabelecidas pelo município, para além do dever de participar no financiamento da infra-estrutura geral. A responsabilidade dos municípios pela execução dos planos traduzir-se-á não apenas (e não especialmente) na execução directa das prescrições neles previstas, mas antes, e prioritariamente, na programação, coordenação e o controlo das operações privadas em que se traduz a sua execução. Em causa está, pois, já não uma execução casuística (operação urbanística a operação urbanística) dos instrumentos de planeamento territorial (execução assistemática), mas antes uma execução programada e integrada dos mesmos (execução sistemática). Esta será, assim, concretizada através da delimitação, pela câmara municipal, de unidades de execução no âmbito das quais funciona um de três sistemas legalmente previstos: de compensação, de cooperação ou de imposição administrativa. De acordo com o disposto no artigo 122.°, o sistema de compensação é da responsabilidade de todos os proprietários abrangidos pela unidade de execução respectiva, que para o efeito se deverão associar. Caber-lhes-á proceder à perequação, entre si, dos encargos e benefícios, face à valorização prévia de cada propriedade, prestar ao município as compensações regulamentarmente previstas e executar as previsões do plano na área respectiva. O sistema de cooperação, previsto no artigo 123.° do mesmo diploma, é concebido como sistema de iniciativa municipal, mas aberto à máxima cooperação dos proprietários interessados. Poderá traduzir-se, se todos os proprietários se mostrarem interessados, num processo idêntico ao da compensação, mas poderá ocorrer uma maior intervenção municipal substituindo, através da expropriação, os proprietários que não subscreverem o acordo, e/ou assumindo as tarefas de urbanizar, com ou sem participação de um promotor. Por sua vez, no sistema de imposição administrativa (artigo 124.°), o município assume como tarefa exclusivamente sua a de urba95 Fernanda Paula Oliveira nizar, actuando directamente ou concessionando a urbanização através de um concurso público. Neste caso, os proprietários poderão subscrever o acordo proposto pelo município, ou outro acertado, em prazo fixado, caso não o façam deverão ser expropriados (66). A delimitação de unidades de execução – no interior das quais funcionam os referidos sistemas – deve, de acordo com o disposto no artigo 120.°, cumprir um conjunto de exigências, a saber: assegurar um desenvolvimento urbano harmonioso; garantir a justa repartição de benefícios e encargos pelos proprietários; e disponibilizar terrenos destinados a espaço público, equipamentos e zonas verdes. Precisamente por serem estes os objectivos das unidades de execução, as mesmas apresentam-se como um instrumento adequado para garantir intervenções de conjunto, programação e contratualização entre proprietários. É que, e desde logo, ainda que de iniciativa dos interessados, cabe sempre à câmara municipal a sua delimitação, devendo esta garantir, em primeiro lugar, que a área da unidade de execução proposta tem uma dimensão adequada para permitir um projecto urbano integrado e harmonioso bem como uma justa repartição de benefícios e encargos pelos proprietários. Tal significa que a área da unidade de execução não pode corresponder (ou não deve corresponder, em regra) ao limite da propriedade de um só interessado (67). Para além do mais, a mesma deve ser delimitada, de forma a garantir a disponibilização de terrenos destinados a espaço público, equipamentos e zonas verdes onde os mesmos sejam necessários, pelo que a sua localização deve ser decidida em estreita articulação com a hierarquia de prioridades e a programação da ocupação territorial da competência da câmara, devendo ser acompanhada de um programa que reflicta uma estratégia de desenvolvimento que identifique as (66) Jorge de Carvalho/Fernanda Paula Oliveira, Perequação, Taxas e Cedências. A Administração Urbanística em Portugal, cit., pp. 24 e segs. (67) Admitimos que uma unidade de execução possa corresponder a um só prédio, da propriedade do mesmo titular, quando aquele tenha uma dimensão, em termos de área, adequada à concretização de um projecto urbano (intervenção urbanística) que, do ponto de vista da ocupação da urbe, se possa considerar integrada e potenciadora de um crescimento urbano harmonioso. Numa situação destas não terá, naturalmente, de ocorrer, no interior da unidade de execução, a repartição de benefícios e encargos. Esta situação deve, contudo, ser excepcional e devidamente fundamentada. 96 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão funções desejáveis, públicas e privadas. Nesta óptica, deve a Administração municipal, na sua tarefa de programação e de controlo dos processos urbanísticos através da delimitação de unidades de execução, distinguir as áreas em que importa ou é prioritário intervir, para uma maior estruturação e qualificação da cidade existente, das outras em que, mesmo admitidas pelo plano, é despiciente ou negativa qualquer intervenção (68). O relacionamento entre a delimitação das unidades de execução e a programação ou ordem de prioridades das intervenções urbanísticas previstas no plano e definidas pela câmara municipal deve determinar a adopção do sistema de imposição administrativa para aquelas intervenções que, nos termos do mesmo, assumam uma prioridade absoluta (embora esta opção não deva fechar as portas à possibilidade de se poder promover a execução da intervenção urbanística pelos interessados no caso de os mesmos assim o pretenderem, optando-se, nestes casos, por um sistema de compensação ou, pelo menos, de cooperação) (69). Tratando-se, por sua vez, de intervenções desejáveis, o sistema a adoptar deverá ser, tendencialmente, o da cooperação (disponibilizando-se a Administração para substituir os proprietários que se não queiram associar). No caso das intervenções apenas admissíveis, mas que, na óptica do município, apenas devam ser realizadas em determinadas condições, o sistema a adoptar deverá ser o da compensação, não se disponibilizando o ente autárquico para substituir qualquer proprietário. Tal significa que o licenciamento da intervenção urbanística deverá ficar condicionado à associação entre a totalidade dos proprietários, que, a acontecer, obrigará a soluções de conjunto e determinará a obrigatoriedade de estes arcarem com os custos de infra-estruturação da (68) Neste sentido, vide mais desenvolvidamente Jorge de Carvalho, Ordenar a Cidade, Coimbra, Quarteto, 2003, p. 413. (69) Assim, sempre que existe uma área em que importa intervir de uma forma integrada e com uma solução de conjunto, de forma a prosseguir um interesse público imediato (v.g., a abertura de uma via estruturante), a delimitação de uma unidade de execução sujeita ao sistema de imposição significa que, caso os proprietários se não associem para realizar a operação urbanística conjunta – reparcelamento ou loteamento conjunto – num determinado prazo (no âmbito da qual cederão para o domínio público municipal os terrenos a afectar àquela via e, eventualmente, a executarão), a Administração se substituirá a estes, de modo a garantir a realização da estrutura viária em causa. 97 Fernanda Paula Oliveira intervenção urbanística a realizar na unidade de execução. Caso tal associação não se alcance (o que será frequente), evita-se o surgimento de intervenções não desejáveis (70). A delimitação de uma unidade de execução nestes termos – isto é, de acordo e em consonância com a programação municipal – obriga a projectos conjuntos para áreas com uma dimensão adequada (em vez de intervenções limitadas ao interior da propriedade de cada um, normalmente muito fraccionada), projectos que, por corresponderem a reparcelamentos (loteamentos conjuntos), remetem para os particulares a obrigação de infra-estrutrar toda a área da unidade de execução, cumprindo, em relação a ela, as exigências que legalmente se admite no âmbito dos loteamentos urbanos. Se se compararem as unidades de execução com os planos de pormenor – aqui sugeridos como intercambiais nos objectivos que visam prosseguir –, terá de se concluir que aquelas se apresentam, em regra, como mais céleres e mais flexíveis. Mais céleres porque são execução, enquanto o plano de pormenor, por ser um instrumento de planeamento, não dispensa, em regra, a fase posterior de concretização e licenciamento das operações urbanísticas de reparcelamento que o concretizam (repetem). Mais flexíveis, porque o desenho urbano (que identifica os lotes a distribuir) é o resultado da contratualização entre os vários intervenientes, feito, por isso, à medida do que terá de ser distribuído [em função dos benefícios a que cada um tem direito e dos encargos que tenha de (ou possa) assumir], enquanto o plano de pormenor, por ter natureza regulamentar, apresenta um desenho urbano fechado que inibe ou dificulta a concertação, para além de que qualquer (70) Este deverá ser o sistema a adoptar naquelas situações em que para a Administração municipal não é prioritário que uma determinada área do seu território, embora tal seja admitido pelo plano, venha a ser objecto de intervenções urbanísticas, permitindo, contudo, que as mesmas possam ocorrer, desde que realizadas em parceria pelos vários proprietários da unidade de execução. Ou seja, embora não desejada a sua ocorrência, o município admite intervenções urbanísticas de conjunto, empurrando, nestes casos, a delimitação de unidades de execução, os proprietários para processos associativos, sem que a Administração se proponha substituir aqueles que não se queiram associar. Com estas condições, o mais certo é que, na unidade de execução para a qual se apontou o sistema de compensação, nada venha a ocorrer (basta que um dos proprietários se oponha), mas, se acontecer, será nos termos pretendidos pelo município, impedindo que as intervenções se limitem ao interior da propriedade de cada um. Neste sentido, vide Jorge de Carvalho, Ordenar a Cidade, cit., pp. 413-414. 98 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão desvio às suas previsões (desenhadas ao pormenor) implica a necessidade de desencadear um procedimento de alteração envolto em alguma morosidade (71), ou determina a nulidade por violação de plano. Porém, tendo em consideração a possibilidade actualmente admitida de o conteúdo prescritivo dos planos de pormenor poder ser objecto de concertação (contratualização) com os proprietários da sua área de abrangência (artigos 6.°-A e 6.°-B do RJIGT), aliada à circunstância de os mesmos, em certas condições (em especial, quando aquele acordo definiu já, entre todos os interessados, os termos da execução do plano), poderem proceder directamente à transformação fundiária desta área, dispensando posteriores actos de controlo preventivo das operações urbanísticas que a visam alcançar (artigos 92.°-A e 131.°, n.° 10, do RJIGT), coloca os planos de pormenor que se encontrem nestas circunstâncias a par das unidades de execução em celeridade e flexibilidade. 2. Admissibilidade de execução assistemática? Como tivemos oportunidade de afirmar a outro propósito (72), uma leitura atenta dos normativos do RJIGT atinentes à execução dos planos permite concluir que o legislador definiu, neste diploma legal, aquela que considera ser a situação ideal em matéria de planeamento e que pressupõe: a) a elaboração, por todos os municípios, para a respectiva área territorial, dos três níveis de planeamento que lhes compete: planos directores municipais, planos de urbanização e planos de pormenor; b) a identificação pelo município, logo aquando da elaboração do plano director municipal, das unidades operativas de planeamento e gestão para efeitos de programação da sua execução, identificando-se, logo aí, os planos de urbanização e de pormenor que para cada uma delas serão elaborados e identificando os respectivos termos de referência; (71) O procedimento de alteração dos planos de pormenor (como aliás o próprio procedimento da sua elaboração) surge, após as alterações introduzidas ao RJIGT em 2007, mais simplificado. (72) Cfr. O nosso Sistemas e Instrumentos de Execução dos Planos, cit. 99 Fernanda Paula Oliveira c) a assunção dos planos de pormenor, dada a escala a que são elaborados, como os instrumentos de planeamento que mais se encontram vocacionados para a execução; por este motivo, a delimitação de unidades de execução deve corresponder a áreas abrangidas por estes ou, no mínimo, a áreas para as quais se encontram já delimitadas unidades operativas de planeamento e gestão, que exigem a posterior elaboração daquele tipo de planos; d) que qualquer operação executiva, designadamente as operações urbanísticas – loteamentos, nas suas múltiplas formas (loteamento propriamente dito, reparcelamento) ou obras de edificação –, apenas pode ocorrer dentro de unidades de execução previamente delimitadas; e) que, por tudo isto, a perequação de benefícios e encargos apenas deve funcionar para áreas com plano de pormenor em vigor ou unidades de execução delimitadas. Por ter em consideração estas exigências legais, alguma doutrina vem defendendo a tese de que se apresenta como uma clara violação do direito do urbanismo vigente em Portugal a gestão urbanística municipal que prescinde de unidades de execução (73). Quanto a nós, embora uma realidade como a apontada apresente óbvias vantagens, quanto aos efeitos que terá na ocupação do território, nada aponta no sentido de que ela tenha de ser cumprida em todas as circunstâncias ou que aos municípios não sejam deixadas outras alternativas viáveis. Até porque, em muitas situações, a solução apontada pela lei, embora sendo a que ocorrerá tendencialmente em regra no futuro, não é imediatamente exequível. A este propósito, uma das questões referidas com maior pertinência no que toca ao tema em apreciação é a de saber se com o RJIGT todas as operações urbanísticas (forma mais importante de execução dos instrumentos de planeamento) terão de ocorrer necessariamente integradas em unidades de execução previamente delimitadas e no âmbito das quais funcionam sistemas de execução – execução sistemática – ou se ainda se admite a concretização das mesmas à sua margem – execução assistemática. (73) Cfr. A ntónio Cândido de Oliveira, “A situação actual da gestão urbanística em Portugal”, cit., pp. 9 e segs. Para este autor, ainda que não seja absolutamente necessário recorrer sempre às unidades de execução, os municipios não podem continuar a prescindir delas na gestão urbanística. 100 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão A dúvida é pertinente, já que nos termos do artigo 119.° do RJIGT, não apenas os planos, mas também as operações urbanísticas (74), são executados através de sistemas, para o funcionamento dos quais são delimitadas previamente unidades de execução. Uma leitura meramente literal do referido dispositivo legal poderia levar-nos a concluir que apenas aquela é possível: (1) este diploma apenas refere a execução sistemática; (2) esta é a única que permite alcançar um dos principais objectivos apontados pelo RJIGT – o de impedir a disseminação das operações urbanísticas pelo território; e (3) é esta a execução que melhor permite o funcionamento dos mecanismos de perequação, garantindo que a mesma é promovida entre os proprietários abrangidos pela mesma unidade de execução (75). Por todos estes motivos, a execução sistemática é apresentada como a forma normal de execução dos planos e de operações urbanísticas, não fazendo a lei referência a uma execução à sua margem. Pensamos, contudo, que esta não deve ser afastada embora devam ser bem delimitados os pressupostos em que pode ocorrer. Quanto a nós, e a este propósito, consideramos que a delimitação das situações em que a execução deve ser feita de forma sistemática e aquela em que se admite execução assistemática, deve relacionar-se com a distinção, no que às categorias do solo urbano diz respeito, entre solo urbanizado (consolidado ou infra-estruturado) e solos cuja urbanização seja possível programar: a execução sistemática surge como a forma de execução regra dos solos integrados nesta última categoria (correspondendo as unidades de execução a uma forma de programação da intervenção) e a assistemática como a regra para os solos integrados na primeira categoria. Com efeito, nas zonas já consolidadas e urbanizadas, a execução do plano deve processar-se, dominantemente, através da realização avulsa das operações urbanísticas previstas no RJUE, embora esta possibilidade seja de afastar sempre que o próprio plano determine em sentido contrário ou o município condicione o aproveitamento urbanís- (74) Estas são, relembra-se, as operações que se encontram reguladas pelo RJUE (cfr. artigo 2.° deste diploma legal). (75) Cfr. o nosso Sistemas e Instrumentos de Execução dos Planos, cit., pp. 29 e segs. 101 Fernanda Paula Oliveira tico nestas zonas consolidadas através de delimitação de unidades de execução, por entender justificar-se que as intervenções sejam suportadas por uma solução integrada de conjunto (quando, por exemplo, existe um espaço vazio no centro da cidade que deva ser preenchido por um projecto conjunto). Por sua vez, em zona de urbanização programada a execução do plano deve processar-se, essencialmente, através da delimitação prévia de unidades de execução (de acordo com a ordem de prioridades do município), admitindo-se, contudo, que se possam, em circunstâncias excepcionais, autorizar operações urbanísticas avulsas (v.g., quando digam respeito a parcelas situadas em contiguidade com a zona urbanizada ou com áreas que tenham adquirido características semelhantes àquela através de acções de urbanização ou edificação, e desde que o município considere que as soluções propostas asseguram uma correcta articulação formal e funcional com a zona urbanizada e não prejudicam o ordenamento urbanístico da área envolvente. 3. A área relativamente à qual podem ser delimitadas unidades de execução Como referimos anteriormente, o RJIGT assume claramente como ideal a situação em que o plano de pormenor é o instrumento que serve de base a qualquer operação de execução (76). Por este motivo, prevê dever ser a partir destes que as referidas unidades de execução devem ser delimitadas (o n.° 3 do artigo 120.° do RJIGT determina que estas podem coincidir com áreas abrangidas por plano de pormenor ou parte dela), tendo em consideração que aquelas unidades são-no para executar e não para planear. No entanto, naquelas situações em que em que tais planos não existam, a lei permite a sua delimitação a par- (76) É com efeito frequente afirmar-se que “…não são ainda os PDM os instrumentos de planeamento que mais favorecem uma correcta gestão urbanística do território municipal…”, dada a escala a que estes planos são elaborados, o que lhes permite praticamente delimitar apenas perímetros urbanos e aglomerados, dificultando “…a apreciação de loteamentos e edificações, cujas orientações só podem emanar de forma mais precisa de planos de escala inferior: de urbanização e de pormenor.” Cfr. A ntónio José M agalhães Cardoso, Gestão Territorial, cit., pp. 6-7. 102 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão tir de unidades operativas de planeamento e gestão que, mesmo que não apelem para a necessidade de posterior plano de pormenor, podem servir de base à delimitação daquelas unidades (cfr. o mesmo n.° 3 do artigo 120.° do RJIGT). Com efeito, mesmo que estas unidades operativas de planeamento e gestão não exijam a posterior elaboração de planos de pormenor, a sua vocação intrínseca para a execução (servem para programar esta) e a identificação dos objectivos que, deste ponto de vista, devem ser cumpridos na mesma, conferem-lhe uma capacidade para fundamentar a execução do plano e, por isso, a delimitação daquelas unidades. No entanto, tendo em consideração serem facultativos os planos de pormenor e poderem os planos directores municipais definir regras concretas de ocupação dos solos imediatamente vinculativas dos particulares e, por isso, imediatamente exequíveis mesmo fora das áreas das unidades operativas de planeamento e gestão, não vemos por que impedir a possibilidade de uma execução que decorra imediatamente destes, ou seja, a delimitação de unidades de execução para áreas apenas abrangidas por estes ou por planos de urbanização. Esta possibilidade deve ser particularmente admitida a propósito de planos municipais elaborados antes da entrada em vigor do RJIGT que obedeciam a uma lógica distinta. Nestas situações, em nossa opinião, não deverá estar impedida a delimitação de unidades de execução relativamente a áreas para as quais não existam planos de pormenor ou prévia delimitação de unidades operativas de planeamento e gestão, embora as mesmas careçam, aí, de uma fundamentação acrescida. Com efeito, o enquadramento e a justificação das unidades de execução, nestes casos, são um trabalho que terá de ser cuidadosamente desenvolvido pela câmara municipal, visto que a deliberação que aprovar a delimitação da unidade de execução tem a natureza jurídica de acto administrativo sujeito a todos os requisitos formais e materiais a que em geral os mesmos estão submetidos, com especial relevo para a exigência da fundamentação. Esta terá de incidir na necessidade e essencialidade daquela área para a implementação das opções fixadas nos planos, pois apenas desta forma a mesma poderá ser devidamente enquadrada na problemática da execução dos mesmos. Assim, admite-se que essas unidades de execução sejam “extraídas” do plano director municipal (ou de plano de urbanização), sem 103 Fernanda Paula Oliveira que medeie um nível de planeamento mais concreto, ainda que o n.° 4 do artigo 120.° exija, na falta de um plano de pormenor aplicável à área abrangida pela unidade de execução, a abertura de um período de discussão pública em momento prévio à aprovação da delimitação da unidade de execução. 4. Objecto da discussão pública na delimitação da unidade de execução E é sobretudo nas unidades de execução não precedidas de plano de pormenor que mais se colocam dúvidas, designadamente, quanto aos elementos que devem fazer parte da deliberação da sua delimitação. Isto porque, estando em causa a delimitação de uma unidade de execução a partir de um plano director municipal, deste não resultará a vinculação do município e dos proprietários a um projecto mais ou menos determinado, apenas o imprescindível respeito dos parâmetros e índices fixados no plano que, acrescente-se, admitem um conjunto amplo de concretizações possíveis. A este propósito, deve acentuar-se as seguintes notas fundamentais: Embora a lei não se refira, no que ao modelo legal das unidades de execução diz respeito, à necessidade de aprovação prévia do projecto ou projectos concretos a adoptar nas mesmas, torna-se necessário, aquando da sua delimitação, uma definição, ainda que nos seus traços essenciais e característicos, da intervenção a levar a cabo. Com efeito, apenas desta forma se torna possível, designadamente no âmbito da discussão pública a desencadear, aferir se a mesma respeita os objectivos enunciados no n.° 2 do artigo 120.°, em especial, se a mesma assegura um desenvolvimento urbano harmonioso e a justa repartição de benefícios e encargos. É, assim, indispensável, aquando da delimitação da unidade de execução, da sua discussão pública e respectiva aprovação, que exista uma previsão dos usos multifuncionais e compatíveis a concretizar na mesma; uma explicitação – ainda que não necessariamente identificação em termos de localização territorial – das áreas a afectar a espaços 104 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão públicos ou equipamentos previstos nos planos de ordenamento; e uma definição dos encargos e da dimensão ou extensão desejável dos mesmos a ser assumidos pelos vários intervenientes nas operações urbanísticas a levar a cabo para a sua concretização. Conclui-se, assim, que a delimitação da unidade de execução deve ir além da mera delimitação, em planta cadastral, dos limites físicos da mesma, estabelecendo uma solução (programa) urbanístico de base na qual o município garanta, ainda, um traçado regulador que estabeleça as desejáveis articulações com envolvente e preexistências (77). Não tem a mesma, contudo, de ter o conteúdo de um plano de pormenor. Com efeito, estando, como estamos, não no âmbito da elaboração de um instrumento de planeamento (em relação ao qual o município disporia de poderes para determinar, de forma unilateral, ainda que com participação pública, o desenho urbano da zona), mas da sua execução, e considerando que esta pressupõe o desencadeamento posterior de operações urbanísticas (um ou vários loteamentos/reparcelamentos) que exigem o requisito prévio da legitimidade (que o município não tem por não ser o proprietário da totalidade da área em causa), nunca poderia a delimitação da unidade de execução pressupor um projecto concreto que não aquele que vier a ser acertado com os interessados. De facto, exigir que, no momento da delimitação das unidades de execução – ou mesmo em momento posterior, mas referido ainda ao preenchimento de tais unidades –, se defina, com concretização, o projecto a adoptar tornaria impossível, desde logo, o correcto funcionamento dos sistemas de execução, de acordo com o modelo legal destes. É que a contratualização e celebração dos contratos de urbanização entre proprietários e município pode levar a que se redesenhe o projecto preliminarmente divisado, tendo em consideração o princípio da procura da máxima cooperação com privados. O sistema da imposição administrativa que pareceria excluir liminarmente este momento de concertação com privados, acaba por, na prática, não ser tão impositivo, já que o que a legislação determina é que a adopção deste sistema deve corresponder a situações em que a programação e execução do desenvolvimento urbanístico de determinadas áreas sejam imperio(77) Jorge de Carvalho/Fernanda Paula Oliveira, Perequação, Taxas e Cedências. A Administração Urbanística em Portugal, cit., p. 26. 105 Fernanda Paula Oliveira sas e não que esse desenvolvimento não possa ser concertado com os proprietários. Aliás, estes podem, na ausência de meios próprios para o efeito, pretender contratualizar com a Administração os termos em que o município pode desenvolver, sob sua própria responsabilidade e iniciativa, a execução da unidade da execução, ao que corresponderá a definição da repartição de encargos e benefícios entre proprietário e município, enquanto mecanismo substitutivo de uma eventual expropriação por utilidade pública. Isto significa que, embora o município, conjuntamente com a delimitação da unidade de execução, deva apresentar uma solução urbanística de base, a mesma terá de ter, sempre, carácter indicativo e revisível em face da maior ou menor margem de conformação dos proprietários no âmbito da unidade de execução, ficando sempre dependente da aprovação do projecto através dos mecanismos idóneos para o efeito, maxime os actos de controlo prévio ao abrigo do disposto do RJUE (78). 5. O reparcelamento como instrumento de execução sistemática: remissão Tendo em consideração o facto de uma unidade de execução integrar, em regra, solos pertencentes a vários e distintos proprietários, a sua concretização pressupõe inevitavelmente a concretização de uma operação de reparcelamento. No entanto, uma vez que na sua configuração mais corrente esta pode ser reconduzida à noção mais genérica de loteamento urbano, tratá-lo-emos quando nos referirmos a este tipo de operação urbanística. (78) Neste sentido de identificação dos traços essenciais do projecto a aprovar, vide Fernanda Paula Oliveira, “Os Caminhos a Direito para um Urbanismo Operativo”, in Revista do Centro de Estudos do Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, n.° 14, Ano VII – 2.04, 2006, pp. 25 a 27. 106 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão Capítulo III As expropriações por utilidade pública (79) 1. Conceito de expropriação (80) A expropriação pode ser entendida em dois sentidos distintos: em sentido clássico e como expropriação de sacrifício. A expropriação em sentido clássico significa a privação ou subtracção de um direito e a sua apropriação por um sujeito diferente para a realização de um fim público. Implica, por isso, um momento privativo e um momento apropriativo de um direito e uma relação tripolar entre o expropriado, o beneficiário da expropriação e a entidade expropriante (81). Trata-se, pois, de um procedimento de aquisição de bens com vista à prossecução de um interesse público ou um fim de utilidade pública. No âmbito da gestão urbanística, fala-se, a este propósito, nas expropriações acessórias aos planos, isto é, nas expropriações promovidas com vista à aquisição dos terrenos necessários à concretização dos destinos previstos nos instrumentos de planeamento em vigor. (79) Para um estudo mais desenvolvido desta matéria, vide Fernando A lves Correia, “A Jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre Expropriações por Utilidade Pública e o Código das Expropriações de 1999”, in Separata da Revista de Legislação e Jurisprudência, Coimbra, 2000. (80) Cfr. Fernando A lves Correia, O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, cit., pp. 473-475 e 491 e segs.; As Garantias do Particular na Expropriação por Utilidade Pública, Coimbra, Separata do volume XXIII do Suplemento do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1983, pp. 77-86; “A Jurisprudência do Tribunal Constitucional…”, cit., pp. 12 e segs. (81) Do ponto de vista subjectivo, ou seja, das entidades que intervêm num procedimento expropriativo, para além das entidades referidas no texto – expropriado, isto é, o sujeito que é privado do bem ou do direito; o beneficiário da expropriação (aquele que integra, na sua esfera jurídica, o bem ou o direito objecto de expropriação) e a entidade expropriante (aquela que declara a utilidade pública do bem ou do direito para efeitos expropriativos, isto é, a que é dotada de poder expropriativo) –, é possível identificar, ainda, as entidades procedimental e contenciosamente expropriantes (as entidades que desencadeiam o procedimento e o processo expropriativos e que, em regra, coincidem com a entidade beneficiária da expropriação, mas que pode não suceder) e ainda aos demais interessados – titulares de qualquer direito real ou ónus sobre o bem, que não expropriados, e os arrendatários (em condições especiais – artigo. 30.°). 107 Fernanda Paula Oliveira Mas o conceito das expropriações ainda pode ser entendido num sentido diferente: como toda e qualquer actividade das entidades públicas que destroem ou limitam uma posição jurídica garantida como propriedade pela Constituição da República Portuguesa. Designam-se estas de expropriações de sacrifício e distinguem-se das expropriações em sentido clássico por lhes faltarem os momentos privativo e apropriativo do direito e a relação tripolar antes referidas. Estamos, nestes casos, perante actuações de entidades públicas cuja finalidade não é a aquisição de bens para a realização de um interesse público (não determinando, por isso, a perda da titularidade de um direito), mas que provocam uma limitação de tal forma intensa no direito de propriedade que devem ser qualificadas como expropriativas, dando origem, por isso, a uma obrigação de indemnização (privam apenas algumas faculdades decorrentes do direito de propriedade). Exemplo típico destas situações no direito do urbanismo são as previstas no artigo 143.° do RJIGT que podem ser designadas de expropriações do plano. Estas surgiram referidas pela primeira vez na legislação portuguesa na LBPOTU (artigo 18.°, n.° 2) (82). Até aí, na falta de regulamentação legal expressa, a doutrina identificava como danos provocados pelos planos susceptíveis de gerar indemnização: os decorrentes de uma proibição ou grave limitação à utilização que o proprietário vinha habitualmente efectivando no seu terreno, como o exercício de uma actividade agrícola, para a qual a área em causa tinha especiais aptidões (1); os resultantes de uma diminuição ou subtracção de uma modalidade de utilização do solo conferida por um plano (v.g., edificação), por efeito da alteração, revisão ou suspensão deste (2); os provenientes (82) O n.° 2 do artigo 18.° determina que “Existe o dever de indemnizar sempre que os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares determinem restrições significativas de efeitos equivalentes a expropriação, a direitos de uso dos solos preexistentes e juridicamente consolidados que não possam ser compensados nos termos do número anterior”. A lei define, assim, os pressupostos para atribuição de uma indemnização aos proprietários afectados pelas disposições dos planos: tem de tratar-se de restrições significativas (1); de efeitos equivalentes a uma expropriação (2); a direitos de usos do solo preexistentes e juridicamente consolidados (3) e que não possam ser compensados pelos mecanismos de perequação (4). Trata-se, como se pode facilmente verificar pela utilização de conceitos vagos ou indeterminados (“restrições significativas”, “efeitos equivalentes a uma expropriação”), de uma disposição que necessita de ser concretizada, o que veio a suceder com o artigo 143.° do RJIGT. 108 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão de disposições do plano que reservam terrenos particulares para equipamentos públicos (3); e os causados pelas prescrições dos planos que destinam certas parcelas de terrenos a espaços verdes privados, desde que situados numa área edificável ou numa área com vocação edificatória – a qual é definida tendo em conta um complexo de elementos certos e objectivos, relativos à localização do próprio terreno, à sua acessibilidade, ao desenvolvimento urbanístico da zona, à presença de serviços essenciais e à existência de infra-estruturas urbanísticas, que atestam a sua vocação para a edificabilidade (4) (83). Esta matéria encontra actualmente regulamentação no artigo 143.° do RJIGT o qual, embora determine o carácter subsidiário das indemnizações decorrentes de restrições dos planos (84), identifica as situações de expropriação do plano. De acordo com o n.° 2 do referido artigo 143.°, são indemnizáveis as restrições singulares às possibilidades objectivas de aproveitamento do solo preexistentes e juridicamente consolidadas, que comportem uma restrição significativa na sua utilização de efeitos equivalentes a uma expropriação. Na nossa óptica, este número abrange as duas primeiras situações supra identificadas pela doutrina: as disposições dos planos que ponham em causa autorizações de loteamento ou de construção válidas emitidas antes da sua entrada em vigor (e ainda outros actos constitutivos de direitos, como informações prévias favoráveis e aprovações de projectos de arquitectura) e a proibição ou grave limitação à utilização que o proprietário vinha habitualmente efectivando no seu terreno para a qual a área em causa tem especiais aptidões. A primeira situação enquadra-se na previsão legal de restrições singulares às possibilidades objectivas de aproveitamento dos solos juridicamente consolidadas (85) e a segunda, na previsão legal de restrições (83) Cfr. Fernando A lves Correia, Estudos de Direito do Urbanismo, Coimbra, Almedina, 1997, p. 47, nota 9, e O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, cit., pp. 506-528. (84) O carácter subsidiário da indemnização pelas restrições do plano decorre do facto de, quer a LBPOTU (artigo 18.°, n.° 2, in fine) quer o RJIGT (artigo 143.°, n.° 1) determinarem expressamente que a Administração deve, em primeiro lugar, fazer a distribuição equitativa dos benefícios e encargos decorrentes dos planos através da utilização/aplicação dos mecanismos de perequação. Só quando, através deles, não seja possível superar-se a desigualdade de tratamento introduzida entre os proprietários dos solos pelas normas dos planos, é que tal superação deve ser feita através do pagamento de uma indemnização aos proprietários atingidos. (85) Este artigo não é, só por si, no que diz respeito às situações juridicamente consolidadas, muito claro. Efectivamente, poderia perguntar-se quando é que um direito está juridi- 109 Fernanda Paula Oliveira singulares às possibilidades objectivas de aproveitamento do solo preexistentes. Por sua vez, o n.° 3 do artigo 143.° consagra as indemnizações decorrentes das modificações dos planos, determinando que as restrições provocadas pela revisão (alteração ou suspensão) de um plano apenas acarretam o dever de indemnizar se a modificação ocorrer dentro do período de cinco anos e desde que determinem a caducidade ou a alteração das condições de um licenciamento prévio válido. Na nossa óptica, os requisitos do decurso do prazo de cinco anos e da caducidade ou alteração das condições de um licenciamento prévio válido referidos neste normativo não funcionam de modo cumulativo, de onde decorre haver lugar a indemnização por modificação de um plano quando esta ocorra dentro do período de cinco anos a contar da sua entrada em vigor (mesmo que o particular não seja titular de qualquer licença) e ainda quando a revisão (independentemente do tempo que tiver decorrido desde a sua entrada em vigor) determine a caducidade ou a alteração das condições de um licenciamento prévio válido (86). Na segunda situação, visa compensar-se a perda de uma faculdade conferida pela Administração, na primeira, a confiança legítima que os administrados depositam na actuação da Administração (no plano). Admite-se ainda a indemnização dos danos originados pela perda de utilidade de despesas efectuadas na concretização de uma modalidade de utilização prevista no plano, em consequência da alteração ou supressão desta por efeito da alteração, revisão ou suspensão do plano. O artigo 143.°, n.° 2, não integra as hipóteses de reserva dos terrenos particulares para construção de equipamentos e infra-estruturas camente consolidado: apenas com a emanação da licença ou também noutras situações, como por exemplo, quando o proprietário do terreno era já titular de uma informação prévia favorável relativa uma operação urbanística que pretende levar a cabo, na medida em que tal informação é constitutiva de direitos? A nós parece-nos que também neste caso há um direito juridicamente consolidado, não o direito à construção, como é óbvio, mas o direito ao licenciamento, à autorização ou à comunicação prévia se o respectivo pedido coincidir com aquele que foi apreciado em sede de informação prévia. O mesmo deve entender-se relativamente à aprovação de projecto de arquitectura, como veremos mais adiante. (86) Parece-nos que este número abrange igualmente as situações de caducidade de informações prévias favoráveis e de aprovação de projecto de arquitectura. Em sentido diverso do defendido no texto, sustentando, no entanto, a inconstitucionalidade da norma, cfr. Fernando A lves Correia, Manual de Direito do Urbanismo, cit, pp. 780 e segs. 110 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão urbanísticas, o que, perante a ausência ou não imperatividade do programa de execução das acções previstas no plano, agravada, muitas vezes, pela falta de fundamentação técnica e de viabilidade das mesmas, geraria um vínculo de inedificabilidade de duração indefinida. A solução poderá passar pela aplicação analógica do artigo 106.° da Lei n.° 2110, de 19 de Agosto de 1961, admitindo que se converta essa expropriação do plano em expropriação em sentido clássico após cinco anos da entrada em vigor do Plano e, reconhecendo, sempre, o direito de indemnização se essa reserva se prolongar por mais de três anos (87). Refira-se, a terminar, apenas mais três pequenos apontamentos: Nos casos de expropriação do plano, o valor da indemnização corresponde à diferença entre o valor do solo antes e depois das restrições provocadas pelos instrumentos de gestão territorial, sendo calculado nos termos do Código das Expropriações (CE) (88) com as devidas adaptações (artigo 143.°, n.° 4, do RJIGT), ou ao valor das despesas efectuadas (artigo 143.°, n.° 5, do RJIGT). Responsável pelo pagamento da indemnização é a pessoa colectiva que aprovar o instrumento de gestão territorial que determina directa ou indirectamente os danos indemnizáveis, caducando o direito à indemnização no prazo de três anos a contar da entrada em vigor do instrumento de gestão territorial ou da sua revisão, alteração ou suspensão. 2. Objecto da expropriação (89) O artigo 1.° do Código das Expropriações (90) define, como objecto da expropriação, os bens imóveis e os direitos relativos a bens imóveis (91). segs. (87) Cfr. Fernando A lves Correia, Manual de Direito do Urbanismo, cit., pp. 775 e (88) Aprovado pela Lei n.° 168/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei n.° 56/2008, de 6 de Setembro. (89) Fernando A lves Correia, As Garantias do Particular na Expropriação por Utilidade Pública, cit., pp. 87-99. (90) As referências feitas, no presente capítulo, a artigos sem expressa indicação do respectivo diploma legal, devem considerar-se feitas ao Código das Expropriações. (91) O objecto da expropriação não se circunscreve apenas aos bens e direitos referidos neste artigo. Devido ao alargamento do conceito de expropriação, este acto ablatório pode ter 111 Fernanda Paula Oliveira A expropriação dos bens imóveis significa a subtracção dos bens objecto do direito de propriedade (terrenos, edifícios). Por sua vez, a expropriação de direitos relativos a bens imóveis significa a expropriação de direitos reais distintos do direito de propriedade (direitos reais limitados de gozo – usufruto, servidões, uso e habitação – e de garantia – hipoteca) e direitos obrigacionais ou de crédito (arrendamento) que incidem sobre aqueles bens. Quando a expropriação incide sobre o bem imóvel, extinguem-se automaticamente os direitos que o oneravam (92), devendo ser paga uma indemnização ao proprietário e uma indemnização a cada um dos titulares dos outros direitos (93). A expropriação só pode incidir sobre bens privados. Não obstante, o Código das Expropriações admite, em certas circunstâncias, que certos bens do domínio público, designadamente, das autarquias locais, sejam afectados a outros fins de utilidade pública. Não se trata, no entanto, nestes casos, de uma expropriação, que só pode incidir sobre bens privados, mas de uma mutação dominial ou transferência de domínio (artigo 6.°) (94). hoje como objecto quaisquer direitos privados de carácter patrimonial. Ficam assim apenas excluídos os direitos subjectivos não patrimoniais e os interesses ou meras expectativas. O Código das Expropriações de 1999 prevê, aliás, de forma expressa, a possibilidade de expropriação de bens móveis (artigo 91.°). (92) Tal assim é por, como referimos, a expropriação corresponder a uma forma de aquisição originária de direitos, procedendo à extinção de todos aqueles que incidem sobre o bem objecto da expropriação. (93) Os direitos relativos a bens imóveis podem ser objecto de expropriação independentemente da subtracção do bem a que se referem e que oneram. Tal acontece em duas situações distintas. A primeira verifica-se quando o sujeito que promove a expropriação é já o proprietário do imóvel mas este está onerado com direitos reais limitados ou com um direito obrigacional, como o arrendamento. A segunda acontece quando, por meio da expropriação, se pretendem constituir direitos reais limitados, como uma servidão (artigo 8.° do CE) ou um direito de superfície. Neste último caso, estamos já, porém, quanto a nós, perante uma expropriação de sacrifício. (94) Cfr. M arcello Caetano, Direito Administrativo, 10.a ed., Coimbra, Almedina, 1990, pp. 953-955. 112 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão 3. Pressupostos de legitimidade da expropriação por utilidade pública (95) A expropriação obedece a um conjunto de pressupostos de que depende a sua legitimidade: legalidade, utilidade pública, proporcionalidade e indemnização. Vejamo-los resumidamente. 3.1. Princípio da legalidade Nos termos deste princípio, a expropriação só pode ser efectuada com base na lei (artigo 62.°, n.° 1, da CRP). No entanto, expropriação, ainda que prevista directamente na lei ou em regulamento administrativo, deve ser sempre concretizada através de um acto administrativo “que individualize os bens a expropriar…” bem como o “…fim da expropriação” (artigos 13.°, n.° 2, e 17.°, n.° 3). 3.2. Princípio da utilidade pública O acto expropriativo assenta numa prevalência do interesse público sobre o direito de propriedade privada, pelo que desaparecerá o seu fundamento se o fim da expropriação não for a realização de uma utilidade pública específica. Para dar cumprimento ao princípio da utilidade pública é sempre necessária a emanação de um acto que o concretize especificamente, o qual é considerado como o verdadeiro acto constitutivo da expropriação (ou acto-chave do procedimento expropriativo): a declaração de utilidade pública (96). (95) Fernando A lves Correia, O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, cit., pp. 483-491; As Garantias do Particular na Expropriação por Utilidade Pública, cit., pp. 100-122. (96) Trata-se de uma posição que não é pacífica. De facto, a declaração de utilidade pública pode ser entendida como uma simples formalidade preliminar da expropriação, como um pressuposto do procedimento expropriativo ou como acto constitutivo da expropriação por utilidade pública. Sobre as diferentes teorias relativas à natureza jurídica do acto de declaração de utilidade pública, vide Fernando A lves Correia, As Garantias do Particular na Expropriação por Utilidade Pública, cit., pp. 107-116. 113 Fernanda Paula Oliveira 3.3. Princípio da proporcionalidade em sentido amplo ou princípio da “proibição do excesso” A expropriação, como medida de carácter ablatório, está subordinada, como todas as medidas ablatórias, ao princípio da proporcionalidade em sentido amplo (artigo 18.°, n.° 2, e 266.°, n.° 2, da CRP). Aquele princípio desdobra-se em três subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. No domínio da expropriação, assume particular relevo o princípio da necessidade. Este pode ser entendido em várias dimensões. Em primeiro lugar, a necessidade pode ser vista numa dimensão instrumental – a expropriação, como instrumento de aquisição de bens, só deve ser utilizada quando não seja possível adquirir os bens por qualquer outra via. A expropriação é, assim, vista como uma ultima ratio ou como um instrumento de carácter subsidiário em relação aos instrumentos jurídico-privados de aquisição de bens. Esta dimensão está traduzida no Código das Expropriações, no artigo 11.°, que estabelece uma espécie de pré-procedimento expropriativo que consiste na obrigação de se proceder, antes de se dar início ao procedimento expropriativo, à tentativa de aquisição do bem pela via do direito privado. A declaração de utilidade pública só pode ser emanada, em princípio, depois de a entidade interessada na expropriação ter provado que desenvolveu as diligências necessárias à aquisição do bem pela via do direito privado, indicando as razões do seu inêxito [artigo 12.°, alínea b)]. O princípio da necessidade pode ser visto também numa dimensão territorial (com o sentido de que só deve proceder-se à expropriação da totalidade do terreno se o fim da expropriação não puder ser alcançado com a expropriação de uma parte dele) (97), numa dimensão modal (no sentido de que se o fim público da expropriação não exigir a subtracção do direito de propriedade e for perfeitamente realizável através da constituição de um direito real limitado, deve ser preferido o meio que menor dano cause ao particular) e numa dimensão tempo(97) O Código das Expropriações admite um desvio ao princípio da proporcionalidade na sua dimensão territorial, já que, nos termos do artigo 3.°, n.° 2, embora não sendo necessário expropriar mais de uma parte do terreno, pode o expropriado, quando se verifiquem as circunstâncias previstas nas alíneas a) e b), requerer a expropriação total do imóvel. Sobre a expropriação parcial, vide artigos 55.° a 57.° do CE. 114 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão ral (no sentido de que a expropriação só deve ocorrer quando o bem ou direito a expropriar sejam necessários para satisfazer um interesse público que se faz sentir naquele preciso momento) (98). A possibilidade de caducidade do acto de declaração de utilidade pública, se o procedimento de expropriação não for concluído num determinado lapso temporal (artigo 13.°, n.° 3), e o direito de reversão dos bens expropriados, se estes não forem utilizados num certo período de tempo para o fim que determinou a expropriação (artigo 5.°, alínea d)), são manifestações do princípio da necessidade na sua dimensão temporal. Todas estas dimensões encontram-se previstas no artigo 3.°. No que diz respeito ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, exige-se, com base nele, que a entidade expropriante proceda a um balanço dos “custos-benefícios” resultantes da expropriação. Segundo este princípio, meios (expropriação) e fins (o interesse público a satisfazer) são colocados em confronto por forma a avaliar e ponderar as desvantagens dos meios em relação às vantagens dos fins (99). Ora, está a Administração obrigada a fazer um raciocínio deste tipo antes de emitir a declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação. Naturalmente que o juiz não decidirá pela invalidade de uma medida expropriativa assim que detecte um qualquer desequilíbrio entre os custos e os benefícios, mas apenas quando o balanço for claramente negativo, resultando daí inconvenientes nítidos e excessivos, com uma desproporção incontestável (100). (98) Admite-se, igualmente, um desvio ao princípio da proporcionalidade em sentido temporal, uma vez que, devendo a expropriação limitar-se ao necessário para a realização de um fim imediato de utilidade pública, ela pode atender, contudo, a exigências futuras, de acordo com um programa de execução faseada e devidamente calendarizada, o qual não poderá ultrapassar o limite máximo de seis anos (artigo 3.°, n.° 1, do CE). Tratando-se de execução de plano municipal de ordenamento do território ou de projectos de equipamentos e de infra-estruturas de interesse público, a expropriação pode ser feita parcelarmente ou de uma só vez (artigo 4.° do CE). (99) Uma das teorias que visão explicar o princípio da proporcionalidade foi a do “bilan coût/avantages” aplicada pela primeira vez pela decisão do Conseil d’Etat, de 28 de Maio de 1971, Ville Nouvelle Est. Esta teoria pressupõe que se coloque em balanço, por um lado, o interesse ou importância na adopção de uma medida administrativa restritiva ou limitativa de direitos (activo) e, por outro lado, os inconvenientes ou custos que ela apresenta para os administrados (passivo). (100) Não seria possível exigir da Administração um equilíbrio rigoroso entre as vantagens da sua acção e os seus inconvenientes, pois, com isso, estar-se-ia a encarcerar a Adminis- 115 Fernanda Paula Oliveira O erro manifesto de apreciação constitui uma aplicação implícita do princípio da proporcionalidade. Para que o juiz possa dar relevo ao erro, é necessário que tal desproporção seja manifesta, isto é, simultaneamente evidente e grave. Assim, muitas vezes os juízos de proporcionalidade ficam reduzidos aos casos de desproporcionalidade manifestamente grosseira, não abrangendo as situações em que a medida tomada é uma medida possível, embora possa ser discutível se é a mais proporcionada (101). 3.4. Indemnização O artigo 62.°, n.° 2, da CRP determina que a expropriação só pode ser efectuada mediante o pagamento de uma indemnização. A indemnização a que o expropriado tem direito aquando da expropriação não é, no entanto, uma indemnização qualquer, mas uma indemnização justa. Ao estabelecer que a expropriação só pode ser efectuada com base na lei e mediante o pagamento de uma justa indemnização, a CRP consagra claramente o princípio da indemnização como um pressuposto de legitimidade do acto expropriativo. Dado, porém, o facto de a mesma se apresentar, igualmente, como um elemento integrativo da expropriação – sendo ainda o seu pagamento considerado como um dos requisitos constitucionais da expropriação – e uma das mais relevantes garantias dos expropriados, a ela voltaremos mais adiante de forma mais desenvolvida, quanto tratarmos estas matérias. tração numa impossibilidade de decidir. Jean-Paul Costa, “Le Principe de la Proportionnalité dans la Jurisprudence du Conseil d’Etat”, in Actualité Juridique. Droit Administratif, 1988, p. 436. (101) Cfr. M ário Esteves de Oliveira /Pedro Gonçalves/Pacheco A morim, Código do Procedimento Administrativo, Comentado, vol. I, Coimbra, Almedina, 2.a ed., 1997, p. 155. Sendo esta situação de erro manifesto também uma vertente do princípio da proporcionalidade, ela não se deve confundir com aquela outra do bilan coût/avantages, pois é possível que numa decisão administrativa não tenha havido erro manifesto e, mesmo assim, ela importe inconvenientes financeiros e sociais tão relevantes que se torna, em todo o caso, desproporcionada. 116 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão 4. O procedimento expropriativo: linhas gerais A expropriação, mais do que um acto ablatório ou limitador do direito de propriedade, é um procedimento de aquisição de bens, com vista à realização de um interesse público. O procedimento de expropriação é composto por dois momentos distintos: um procedimento administrativo, que consiste no conjunto de actos que gravitam em torno do acto de declaração da utilidade pública, e um processo judicial, que é de ocorrência eventual (apenas quando não tenha havido acordo quanto ao montante expropriativo) que abrange os actos relacionados com a discussão litigiosa do valor da indemnização, de competência dos tribunais comuns. 4.1. O procedimento administrativo A expropriação é, genericamente, um acto de autoridade aniquilador ou destruidor do direito de propriedade privada de conteúdo patrimonial com base em motivos de utilidade pública ou de interesse geral. Falar em procedimento expropriativo significa, pois, falar num procedimento administrativo que desencadeia num acto de autoridade, ou seja, num acto administrativo. A expropriação aparece, assim, como o resultado de uma potestas administrativa emergente de disposições legais e não de relações jurídicas concretas de tipo negocial com os particulares. Nesta perspectiva, o acto principal do procedimento, o seu momento constitutivo ou o acto-chave é a declaração de utilidade pública, na medida em que é este o acto que contém em si o sacrifício do direito de propriedade do particular. De acordo com o que vimos de dizer, a expropriação (em sentido clássico) é um instrumento jurídico de direito público de aquisição de bens, distinguindo-se, desde logo, dos meios jurídico-privados. Daqui decorre, desde logo, que a designada “aquisição por via de direito privado” referida no artigo 11.° não se encontra ainda no procedimento expropriativo, embora apenas possa ser compreendido em função dela. Relacionada com esta questão está uma outra, relevante e que tem empenhado a doutrina, que é a de saber em que momento ou qual o acto que dá início ao procedimento expropriativo. Para o efeito, deve 117 Fernanda Paula Oliveira ter-se em consideração que a noção de procedimento administrativo não abrange todos os actos jurídicos eventualmente relacionados com a decisão a produzir. Em sentido técnico, não entram no procedimento actos que a sua instauração pressupõe, mas apenas aqueles que são praticados em função da decisão final (102). Ora, de acordo com esta concepção, não nos parece que a referida “aquisição pela via de direito privado” possa ser já considerada como um trâmite do procedimento administrativo de expropriação, na medida em que ela não visa, de forma imediata, a declaração da utilidade pública (acto que, como referimos, é o acto central do procedimento expropriativo), mas sim, como o próprio nome indica, tem por objectivo imediato a aquisição do bem por uma via diferente da via expropriativa. Claro que, tratando-se de uma aquisição prévia ao desencadear de um procedimento administrativo (expropriativo), compreende-se que esteja sujeita a regras precisas e definidas na lei. A isto voltaremos um pouco mais à frente. Por agora, pretendemos apenas realçar que, para uma parte da doutrina, iniciando-se o procedimento expropriativo com o requerimento a pedir a declaração de utilidade pública, todos os actos jurídicos que o Código das Expropriações obriga que tenham lugar antes da sua remessa, na medida que se trata de actos que o procedimento de expropriação pressupõe, devem ser integrados numa fase que pode ser apelidada de pré-procedimento expropriativo (103). 4.1.1. Pré-procedimento expropriativo a) A “resolução de expropriar” O pré-procedimento expropriativo, para Alves Correia, é constituído por um conjunto de actos promovidos, em regra, pela entidade que pretende beneficiar da expropriação e que antecede o início deste. No Código de 1991, inseria-se na fase pré-procedimental apenas a aquisição do bem pela via do direito privado. Com o actual código, o legislador veio autonomizar a resolução de requerer a declaração de (102) Cfr. M ário Esteves de Oliveira /Pedro Gonçalves/Pacheco A morim, Código do Procedimento Administrativo, cit., pp. 292-293. (103) Cfr. Fernando A lves Correia, “A Jurisprudência do Tribunal Constitucional…”, cit., pp. 93 e segs. 118 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão utilidade pública, resolução essa que deve ser fundamentada, mencionando expressa e claramente a causa de utilidade pública a prosseguir e a norma habilitante, os bens a expropriar, os proprietários e demais interessados conhecidos, a previsão do montante dos encargos a suportar com a expropriação e a indicação do que se encontra previsto para os imóveis a expropriar em instrumento de gestão territorial (artigo 10.°). Esta resolução deve ser notificada ao expropriado e demais interessados mediante carta ou ofício registados. Do ponto de vista da respectiva natureza jurídica, a referida resolução não é, quanto a nós, como defendem alguns, um acto administrativo. Com efeito, trata-se apenas de um acto através do qual a entidade que pretende beneficiar da expropriação exterioriza a sua vontade de dar início ao procedimento expropriativo, o que pode não chegar a acontecer se o bem acabar por ser adquirido pela via do direito privado. Para estarmos perante um acto administrativo, necessário seria que todos os elementos caracterizadores da sua definição estivessem presentes, ou seja, seria necessário que estivéssemos perante uma estatuição autoritária, relativa a um caso concreto, manifestada por um agente da Administração no uso de poderes do Direito Administrativo, pela qual se produzem efeitos jurídicos externos, positivos ou negativos (104). Ora, em primeiro lugar, nem sempre se verifica, quanto à resolução de requerer a declaração de utilidade pública, o requisito orgânico, visto que nem sempre se trata de um acto praticado por um órgão administrativo ou por sujeitos privados com poderes públicos administrativos (caso dos concessionários). Por outro lado, mesmo que se entenda, ao contrário de nós, tratar-se de uma estatuição autoritária, não vemos como é que esta resolução pode produzir efeitos jurídicos externos. A resolução de requerer a declaração de utilidade pública não cria, modifica ou extingue a situação jurídica do particular, que em nada é afectada por ela. Assim, sendo o acto administrativo uma estatuição autoritária que define a situação jurídica dos particulares no caso concreto, tra(104) Rogério Soares, Direito Administrativo, Lições ao Curso Complementar de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Coimbra ao Ano Lectivo de 1977/78, pp. 76 e segs. 119 Fernanda Paula Oliveira tando-se de um acto que produz efeitos jurídicos externos (por contraposição àqueles que esgotam a sua eficácia no interior da Administração), criando, modificando ou extinguindo situações jurídicas, não nos parece que estas características existam na referida resolução de expropriar. Ela traduz apenas uma intenção de dar início a um procedimento administrativo, exigindo-se que quem pretenda beneficiar da expropriação tenha já identificado o bem a expropriar e os possíveis afectados com a expropriação, a causa de utilidade pública, bem como a previsão do montante da indemnização. Isto serve para dois efeitos: para que na fase de tentativa de aquisição do bem pela via do direito privado, o particular tenha conhecimento de que se trata de uma tentativa de aquisição do bem que precederá, caso ela não tenha êxito, um procedimento expropriativo que fica, desde logo, dotado da identificação de todos os elementos relevantes para o efeito; por outro lado, para que, no caso do inêxito desta tentativa de aquisição do bem, do requerimento previsto no artigo 12.° do Código das Expropriações conste já um conjunto de dados necessários para que a entidade competente possa decidir sobre a declaração de utilidade pública, designadamente a previsão do montante dos encargos a suportar com a expropriação, isto na medida em que o requerimento deve ser instruído com a cópia da referida resolução e respectiva documentação. Ou seja, serve para, em caso de procedimento expropriativo, facilitar a sua instrução. Tem ainda por finalidade definir o fim do contrato que venha a ser celebrado nos termos do artigo 11.° do Código das Expropriações. Para uma certa doutrina, com quem tendemos a concordar (105), a imprescindibilidade da resolução de expropriar na condução do procedimento expropriativo ou na instrução do procedimento (106) confere-lhe a natureza de acto que verdadeiramente inicia e “orienta” todo o procedimento expropriativo, apresentando-se este como um acto (105) Cfr. Dulce Lopes, “O Procedimento expropriativo: complicação ou complexidade?”, Seminário Avaliação do Código das Expropriações, Associação Nacional de Municípios/ /Instituto de Estradas de Portugal, 2003, pp. 19 e segs. (106) Essa imprescindibilidade advém-lhe do facto de ela ser um acto que tem de ser praticado em todos os procedimentos, inclusivamente os urgentes (sendo, neste caso, notificado o requerimento conjuntamente com a resolução de expropriar), de ser o momento da sua prática o momento relevante para se aferir da boa ou má-fé do expropriado aquando da determinação do montante indemnizatório [cfr. as alíneas c) e d) do artigo 23.°], e ainda de ser o valor divisado na mesma que vai ser objecto de dotação orçamental, caução ou depósito. 120 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão prejudicial na condução dos demais passos que integram este procedimento. Mais, para esta doutrina, a actual configuração da resolução de expropriar serve dois procedimentos distintos: dependendo das circunstâncias do caso, é um acto propulsivo e conformador apenas do procedimento expropriativo, embora em conjunto com o requerimento (desde logo, se o procedimento for urgente, situação em que se dispensa a tentativa prévia de aquisição “por via do direito privado”), apenas do procedimento contratual de aquisição do bem ou de transferência do direito (se houver acordo e celebração do contrato para que este tende), ou de ambos (se o procedimento de aquisição por via do direito privado não for bem sucedido e se revele necessário lançar mão de um acto de autoridade que o “substitua”). b) A tentativa de aquisição do bem pela via do direito privado Após a resolução de requerer a declaração de utilidade pública, segue-se a tentativa de aquisição do bem pela via do direito privado, salvo nos casos em que seja atribuído carácter de urgência à expropriação (107) (artigo 15.° do CE) ou seja materialmente impossível a aquisição por essa via (artigo 11.° do CE). Com a previsão deste trâmite pretende dar-se cumprimento ao princípio da necessidade em sentido instrumental, que significa, como se referiu, que a expropriação, como instrumento jurídico-público de aquisição de bens, só deve ser utilizada quando não seja possível adquiri-los por qualquer outra via, designadamente a via privada. (107) A atribuição do carácter de urgência à expropriação é da competência da entidade responsável pela declaração da utilidade pública, ocorrendo apenas aquando da emissão desta (artigo 15.°). No entanto, ao determinar que nos casos de expropriação com carácter de urgência o beneficiário da expropriação está dispensado da tentativa de aquisição do bem pela via de direito privado, o Código está a permitir que seja o beneficiário da expropriação, numa fase prévia à declaração de utilidade pública, a decidir se se trata ou não de uma expropriação urgente, podendo, desta forma, autodispensar-se deste trâmite prévio que é a tentativa de aquisição do bem pela via do direito privado. A única forma de se conciliar o artigo 15.° (que estatui ser na declaração de utilidade pública que se atribui carácter de urgência à expropriação), com o artigo 11.°, n.° 1, 2.a parte (que a dispensa nos casos de expropriação urgente), é a de permitir que o beneficiário da expropriação requeira a declaração de utilidade pública com carácter de urgência, dispensando-se, assim, da tentativa de aquisição pela via do direito privado, mas impondo, ao mesmo tempo, que a entidade competente pela declaração de utilidade pública, entendendo não se tratar de uma situação de urgência, remeta o processo ao beneficiário da expropriação para que dê cumprimento a esta fase. 121 Fernanda Paula Oliveira Ao colocarmos a tentativa de aquisição numa fase pré-procedimento expropriativo pretendemos afirmar que, a ter êxito tal tentativa, não chega sequer a iniciar-se um procedimento expropriativo, não sendo, obviamente, a aquisição pelo direito privado nenhuma expropriação amigável. Com efeito, tal como dissemos supra, sendo a expropriação um processo de aquisição de bens de natureza jurídico-pública, ela pressupõe a prática de um acto de autoridade, o que não acontece neste caso, em que a aquisição é feita pela via negocial. Não podemos, no entanto, esquecer que não se trata de uma qualquer aquisição pela via do direito privado, como aquela que pode decorrer entre particulares ou entre entidades públicas e particulares, mas de uma aquisição por via de direito privado que antecede um procedimento expropriativo (e apenas no seu âmbito pode ser entendida). O particular não está aqui na mesma posição que está, em regra, nas negociações de carácter privado, uma vez que, se não vender o bem ao potencial beneficiário da expropriação, sabe que será desencadeado um procedimento de carácter público e coactivo para a sua aquisição. Daí que se compreendam as várias cautelas e restrições a que o CE veio subordinar esta fase, designadamente, sujeitando o cálculo do preço da aquisição a regras restritivas (determinando que a proposta de aquisição seja feita com base em relatório de perito da lista oficial), por forma a garantir-se que o particular que “cede” o bem à Administração pela via do direito privado não seja tratado de forma menos favorável do que aqueles que, por não terem “cedido” o bem por tal via, vão ser expropriados. É, aliás, por isso que certa doutrina tem vindo a defender uma posição que nos parece acertada: a de que o ambiente que envolve a celebração deste contrato confere-lhe uma natureza verdadeiramente pública e não privada (108). Também não concordamos com aqueles que defendem que a previsão de uma tentativa de aquisição do bem pela via do direito privado é uma forma de garantir a participação do expropriado no procedimento expropriativo. Primeiro, porque não está ainda a decorrer qualquer procedimento expropriativo e, depois, porque a posição do potencial expropriado numa tentativa de aquisição do seu bem pela via do direito (108) Cfr. Dulce Lopes, “O Procedimento expropriativo: complicação ou complexidade?”, cit., p. 22. 122 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão privado não é a mesma que ele tem quando a Administração desencadeou já um processo tendente a adquirir, de forma unilateral e coactiva, o seu bem. Na primeira situação, o particular estará essencialmente preocupado em conseguir o melhor preço, não se preocupando com a legalidade ou oportunidade de uma eventual expropriação que pode nem chegar a desencadear-se (109). Apenas se tal aquisição falhar é que é necessário garantir que o particular venha ao procedimento expropriativo para se pronunciar sobre a sua legalidade e oportunidade. 4.1.2. Subprocedimento administrativo O procedimento expropriativo propriamente dito inicia-se, pois, em nosso entender, com o requerimento (ainda que articuladamente com a resolução de expropriar) que é remetido ao órgão competente pela declaração de utilidade pública. No caso de ter sido dado cumprimento à tentativa de aquisição pela via do direito privado e não tendo esta resultado, a lei determina que a entidade interessada na expropriação pode formular o requerimento notificando desse facto os proprietários e demais interessados. Com isto se dá cumprimento ao previsto no artigo 55.° do Código do Procedimento Administrativo quanto à notificação do início do procedimento. Quando se trate de expropriação que dispensa a tentativa de aquisição pela via do direito privado, nada dizendo a lei a este propósito, parece-nos que também aí se deve dar cumprimento a esta exigência da notificação do início do procedimento. Claro que sempre se poderia dizer não ser necessário dar cumprimento a esta exigência na medida em que o particular foi já notificado, nos termos do n.° 5 do artigo 10.° do CE, da resolução de requerer a declaração de utilidade pública. Parece-nos, contudo, que a previsão de uma notificação da resolução de requerer a declaração de utilidade pública como diferente da notificação do requerimento apenas tem razão de ser naquelas situações em que seja necessário dar-se cumprimento à tentativa de “aquisição (109) Ou porque a aquisição pela via do direito privado tem êxito ou porque o potencial beneficiário da expropriação desiste desta (cfr. artigo 88.°). 123 Fernanda Paula Oliveira pela via do direito privado”, na medida em que tal notificação funciona simultaneamente como proposta de aquisição do bem por essa via. Naquelas situações em que não haja lugar à tentativa de aquisição do bem pela via do direito privado, não vemos porque é que há-de publicitar-se a resolução de requerer a declaração de utilidade pública e não o próprio requerimento. Nestes casos, entendemos que o particular deve ser notificado do requerimento que, por ter de conter cópia daquela resolução, pressupõe também a notificação desta. No que concerne à declaração de utilidade pública, ela corresponde ao momento constitutivo do procedimento, uma vez que é o acto que produz directamente o sacrifício na esfera jurídica do particular. Com efeito, embora a declaração de utilidade pública não opere a extinção do direito na esfera jurídica do expropriado (a qual apenas ocorrerá com a adjudicação do bem após o pagamento da indemnização), a partir dela o bem expropriado fica adstrito ao fim específico da expropriação (110), não havendo, no entanto, um completo consenso na doutrina quanto aos reais efeitos deste acto, divergindo esta quanto à maior ou menor manutenção de alguns poderes, designadamente de disposição, que o expropriado detém sobre o bem objecto de declaração de utilidade pública (111). Em todo o caso, após a sua emanação, o beneficiário da expropriação fica com o poder de promover os actos necessários para se apoderar do bem (a posse administrativa). Nos termos do artigo 14.° do CE, a declaração de utilidade pública é da competência do ministro a cujo departamento compete a apreciação final do processo, mas, quando se trate de expropriações de iniciativa da Administração local autárquica, para efeitos de concretização de plano de urbanização ou de plano de pormenor eficaz, a competência pertence à assembleia municipal (112). (110) Fernando A lves Correia, As Garantias do Particular na Expropriação por Utilidade Pública, cit., p. 113. (111) Assim, por exemplo, enquanto para M arcello Caetano e M arques Guedes a declaração de utilidade pública, como acto constitutivo da expropriação, determina a extinção do direito de livre disposição do proprietário, ficando este obrigado a ceder o bem à entidade beneficiária da expropriação, para Fernando A lves Correia este acto converte de imediato o direito de propriedade (que se extingue) num direito de indemnização e para Osvaldo Gomes opera uma oneração, em termos reais, dos bens nela identificados. (112) A deliberação de declaração de utilidade pública da assembleia municipal deve ser tomada pela maioria dos seus membros em efectividade de funções e comunicada ao membro do Governo responsável pela área da Administração local (cfr. n.os 4 e 5 do artigo 14.°). 124 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão Em caso de competência do governo, não sendo possível determinar o departamento a que compete a apreciação final do processo, é competente o Primeiro-Ministro, com faculdade de delegação no ministro responsável pelo ordenamento do território (113). Tratando-se de declaração de utilidade pública em beneficio de entidade de direito privado – a qual terá de ter visto reconhecida utilidade pública à respectiva actividade –, é sempre competente o Governo, ainda que para a concretização de um plano de urbanização ou de pormenor. No actual Código, não se prevê expressamente qualquer fase onde se permita que o expropriado e demais interessados se possam pronunciar sobre a legalidade e a oportunidade da expropriação. Pelo contrário, o Código de 1991 previa a necessidade de o requerimento da declaração de utilidade pública ser dado a conhecer aos titulares dos bens ou direitos a expropriar, devendo ainda ser tornado público através de edital afixado na sede do município da localização dos bens a expropriar, prevendo-se que qualquer interessado pudesse pronunciar-se sobre a legalidade e a oportunidade da expropriação mediante exposições escritas apresentadas à entidade requerente, exposições essas que deveriam ser enviadas à entidade competente pela declaração da utilidade pública em anexo ao respectivo requerimento (artigo 14.°). Desta forma cumpriam-se simultaneamente três objectivos: a publicitação do início do procedimento, a audiência prévia dos interessados, dando-se, ainda, cumprimento a uma espécie de inquérito público à expropriação pretendida. Ora, não obstante o silêncio do actual código quanto à necessidade da audiência prévia dos interessados, parece-nos que ela deve, ainda assim, ter lugar. Primeiro, porque, como decorre do n.° 5 do artigo 2.° do CPA, as normas nele previstas que concretizam preceitos constitucionais, como é o que acontece com os artigos 100.° e segs. do CPA, (113) Existem alguns casos especiais de detenção de poderes expropriativos por outras entidades que não as referidas no artigo 14.°. É o caso do disposto no n.° 3 do artigo 61.° do Decreto-Lei n.° 307/2009, de 23 de Outubro, nos termos do qual a “expropriação por utilidade pública inerente à execução da operação de reabilitação urbana rege-se pelo disposto no Código das Expropriações, com as seguintes especificidades: a) A competência para a emissão da resolução de expropriar é da entidade gestora; b) A competência para a emissão do acto administrativo que individualize os bens a expropriar é da câmara municipal ou do órgão executivo da entidade gestora, consoante tenha havido ou não delegação do poder de expropriação; c) As expropriações abrangidas pelo presente artigo possuem carácter urgente”. 125 Fernanda Paula Oliveira relativos à audiência prévia dos interessados, são aplicáveis a toda e qualquer actuação da Administração Pública, e portanto, também, aos procedimentos expropriativos. Em segundo lugar, porque se há procedimentos onde mais se justifica a audiência prévia dos interessados, é precisamente nos procedimentos ablativos de direitos, como acontece com a expropriação. Deste modo, entendemos que antes de declarar a utilidade pública da expropriação, a entidade competente deve promover a audiência prévia dos interessados. A declaração da utilidade pública é, por fim, publicada na II.a Série do Diário da República e notificada ao expropriado e demais interessados conhecidos por carta ou ofício registados, prevendo-se ainda que ela seja publicitada mediante aviso afixado na entrada principal do prédio, quando exista (artigo 17.° do CE) (114). É, no entanto, necessário ter em conta que sendo, embora, a declaração de utilidade pública o acto central do procedimento expropriativo, ela não opera do direito a adjudicação ao beneficiário da expropriação. Tal apenas ocorrerá com o pagamento da indemnização que, desta forma, deve ser considerada como um elemento constitutivo e não um efeito da expropriação. No procedimento de expropriação, a determinação do montante da indemnização pode ser feita mediante acordo ou em via litigiosa. No primeiro caso, é escusada a intervenção do juiz para a adjudicação da propriedade. Esta opera-se mediante escritura pública de expropriação amigável ou auto de expropriação amigável (artigos 36.° e 37.° do CE). 4.1.3. Processo judicial A adjudicação judicial da propriedade só é exigível naqueles casos em que não há acordo quanto ao montante da indemnização e o litígio tiver de ser decidido por arbitragem com possibilidade de recurso para o tribunal de comarca e deste para a Relação. Neste caso, o (114) Praticado o acto de declaração de utilidade pública, este deve ainda ser averbado no registo predial (artigo 17.°, n.° 1, do CE). A necessidade deste averbamento – e a concomitante impossibilidade de inscrição deste acto na conservatória do registo predial – prende-se com a natureza do mesmo, na medida em que não é ele que opera a adjudicação do prédio em questão, logo, não é ele que determina a aquisição dos direitos de propriedade sobre os prédios em causa, para efeitos do disposto no artigo 2.°, n.° 1, alínea a), do Código do Registo Predial. 126 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão juiz não realiza nenhum juízo sobre a legalidade ou a conveniência da expropriação: realiza apenas um acto de controlo preventivo, de âmbito limitado, verificando tão-só a regularidade formal do procedimento expropriatório. Ao adjudicar a propriedade, o juiz limita-se a emitir como que um “visto” que desencadeia a eficácia do acto de declaração da utilidade pública, que é o acto constitutivo do procedimento expropriatório (115). Assim, apenas haverá lugar ao processo judicial quando exista litígio relativamente ao montante da indemnização (artigo 51.° do CE). Neste aspecto, o Código das Expropriações de 1991 (seguido agora pelo Código de 1999) simplificou o procedimento expropriativo, uma vez que o Código de 1976 dispunha que a adjudicação da propriedade tinha de ser sempre determinada pelo juiz, mesmo quando o expropriado e o beneficiário da expropriação chegassem a acordo quanto ao montante da indemnização. Os expropriados são os principais beneficiados com esta simplificação do procedimento expropriativo já que poderão dispor, desde logo, após a assinatura da escritura pública ou do auto de expropriação amigável, do valor da indemnização, não suportando, assim, os efeitos nefastos das demoras que, por vezes, se verificavam em juízo. No que concerne ao processo expropriativo, o mesmo pode ser sistematizado nos seguintes momentos: – A constituição e funcionamento da arbitragem, que compete à entidade beneficiária da expropriação, mesmo se de direito privado (artigo 42.°); – Designação dos árbitros pelo Juiz Presidente do Tribunal da Relação; – Após a recepção do acórdão, a entidade beneficiária da expropriação remete o processo para o tribunal de comarca da situação do bem expropriado ou da sua maior extensão acompanhado dos elementos referidos no artigo 51.°, n.° 1, do CE, e será o juiz deste tribunal que adjudicará a propriedade e a posse sobre o bem à entidade beneficiária da expropriação, salvo, neste último caso, se a declaração de utilidade (115) Fernando A lves Correia, As Garantias do Particular na Expropriação por Utilidade Pública, cit., p. 114. 127 Fernanda Paula Oliveira pública tiver sido proferida com carácter de urgência e este não tiver caducado ou se não tiver sido desencadeado e concluído um subprocedimento de tomada de posse administrativa (artigo 51.°, n.° 5, do CE); – A adjudicação da propriedade é comunicada pelo tribunal ao conservador do registo predial para efeitos de registo oficioso, independentemente de haver recurso da decisão arbitral, uma vez que esta se centra, tão-só, na fixação do valor da indemnização (artigo 51.°, n.° 6, do CE). Havendo recurso, o mesmo será intentado no tribunal de 1.a instância do lugar da situação dos bens ou da sua maior extensão, tendo efeito meramente devolutivo (artigo 38.° do CE). O juiz atribui aos interessados o montante sobre o qual se verifique acordo, ou a totalidade do montante arbitrado, a requerimento do interessado, se este prestar garantia de montante correspondente (artigo 52.°, n.os 2 e 3, do CE). Admite-se um segundo grau de recurso para o Tribunal da Relação, com efeito meramente devolutivo (artigo 66.° do CE), mas já não de recurso para o STJ, excepto para uniformização de jurisprudência (artigo 66.°, n.° 5, do CE). 5. As principais garantias dos particulares face à expropriação A primeira garantia de que dispõem os particulares face à expropriação é uma garantia de carácter geral. Com efeito, sendo o acto de declaração de utilidade pública um acto administrativo, o particular por ele lesado dispõe, tal como acontece em relação a qualquer acto administrativo, do direito à impugnação contenciosa, com fundamento em ilegalidade (artigo 268.°, n.° 4, da CRP). Mas o CE prevê, ainda, algumas garantias específicas dos particulares perante a expropriação. São elas a caducidade da declaração de utilidade pública, a indemnização e o direito de reversão. 5.1. Caducidade do acto de declaração de utilidade pública A declaração de utilidade pública caduca se o beneficiário da expropriação não tiver promovido a constituição da arbitragem no prazo de um ano ou se o processo não for enviado a tribunal competente 128 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão no prazo de 18 meses, em ambos os casos contados a partir da data de publicação no Diário da República daquele acto (artigo 13.°, n.° 3, do CE). Com esta garantia, o expropriado não vê o processo de expropriação prolongar-se indefinidamente (116). A declaração de utilidade pública caducada pode ser renovada em casos devidamente fundamentados e no prazo máximo de um ano a contar do termo dos prazos referidos (artigo 13.°, n.° 5, do CE). Renovada a declaração de utilidade pública, o expropriado é notificado para optar pela fixação de nova indemnização ou pela actualização da anterior, aproveitando-se, neste caso, os actos praticados (artigo 13.°, n.° 6, do CE). Tratando-se de obra contínua, a caducidade não pode ser invocada depois de aquela ter sido iniciada em qualquer local do respectivo traçado, salvo se os trabalhos forem suspensos ou estiverem interrompidos por prazo superior a três anos (artigo 13.°, n.° 7, do CE). 5.2. O direito de reversão Determina o n.° 1 do artigo 5.° do CE que o direito de reversão tem a sua origem no facto de os bens expropriados não terem sido aplicados ao fim que determinou a expropriação e ainda se tiver cessado a aplicação a esse fim. Uma leitura imediata deste normativo parece apontar, como tem sido já afirmado por várias vezes na nossa jurisprudência, que em causa estão dois casos distintos de reversão, por motivos igualmente distintos e com pressupostos diferentes também: o primeiro, a reversão decorrente da não afectação do bem expropriado aos fins da expropriação até ao prazo de dois anos após a adjudicação; o segundo, o direito de reversão por alteração do fim expropriativo. Repressão da inércia do (116) A declaração de caducidade pode ser requerida pelo expropriado ou por qualquer outro interessado ao tribunal competente para conhecer do recurso da decisão arbitral ou à entidade que declarou a utilidade pública e a decisão que for proferida é notificada a todos os interessados. Sendo estabelecida a favor do expropriado e demais interessados e visando o sancionamento da inércia da Administração, esta figura não opera ope legis nem é de declaração oficiosa pelas entidades referidas. Opera, no entanto, erga omnes, sendo, por esse motivo, notificada a todos os interessados. 129 Fernanda Paula Oliveira expropriante, no primeiro caso, repressão do desvirtuamento do objectivo da expropriação, no segundo (117). Ora, a este propósito, e na nossa óptica, o n.° 1 do artigo 5.° não identifica duas situações distintas que podem dar origem ao direito de reversão, mas três: a) a não utilização do bem ao fim da expropriação por omissão, isto é, porque o bem não foi, pura e simplesmente, utilizado; b) a não utilização do bem ao fim da expropriação por acção, ou seja, porque o bem foi efectivamente utilizado, mas para um fim distinto do que consta da declaração de utilidade pública; e c) a cessação da utilização ao fim, no sentido de que o bem foi afecto ao fim de utilidade pública que justificou a expropriação e usado para ele, mas tal fim cessou (118). Ou seja, e dito de outro modo, são três os factos que originam a reversão e não dois: não utilização do bem ao fim da expropriação no prazo de dois anos; utilização para um fim diferente do que consta da declaração de utilidade pública e cessação da utilização ao fim (estes últimos independentemente de qualquer prazo). Com o direito de reversão estabelece-se uma importante garantia do particular e, ao mesmo tempo, um importante instrumento de moralização da actividade expropriativa. Daqui decorre que o interesse público ou a causa de utilidade pública que dá origem à expropriação acompanha-a mesmo para além da sua consumação (119) (120). O funda(117) Cfr., a título de exemplo, o Acórdão do Pleno do STA, de 26 de Junho de 1998, no Processo n.° 32 775, e o Acórdão do STA, de 3 de Abril de 2001, no âmbito do Processo n.° 43 635. (118) O que sucedeu, por exemplo, com os terrenos onde esteve instalado o antigo estádio das Antas (expropriados para o efeito) que, por aquele estádio ter sido deslocalizado no âmbito da execução do Plano de Pormenor das Antas, deixaram de ser utilizados para o fim que justificou a expropriação. (119) Fernando A lves Correia, As Garantias do Particular na Expropriação por Utilidade Pública, cit., p. 163. Segundo este Autor, várias são as teses quanto à natureza jurídica da reversão, designadamente a que a considera como um direito legal de compra conferido ao expropriado e a que a vê como uma condição resolutiva. De acordo com esta última, que parece ser a que melhor exprime a verdadeira natureza jurídica da expropriação, o acto expropriativo tem a sua justificação no facto de os bens serem necessários para a realização de uma finalidade pública específica, pelo que a expropriação está condicionada pela efectiva subsistência da sua causa. Se tal causa desaparecer, o expropriado passa a ter o direito de reaver o bem, o que demonstra que a consistência da “transferência” da propriedade dos bens decorrente da expropriação para a entidade beneficiária da mesma está sujeita à condição resolutiva de esta dar ao 130 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão mento da reversão entronca na garantia constitucional da propriedade privada (artigo 62.°, n.° 1, da CRP), em termos de o expropriado poder exigir a reversão directamente com base nela mesmo na “ausência de lei ou até contra ela”. O direito de reversão cessa, no entanto, nos termos do n.° 4 do referido artigo 5.°, se tiverem decorrido 20 anos sobre a data da adjudicação, se tiver sido dado ao bem outro destino, mediante nova declaração de utilidade pública (121), se o expropriado tiver renunciado à reversão ou se a declaração de utilidade pública tiver sido renovada com fundamento em prejuízo grave para o interesse público (122). A reversão deve ser requerida no prazo de três anos a contar da ocorrência do facto que a originou, sob pena de caducidade. Este facto originador da reversão é ora o decurso de dois anos sem que o bem tenha sido sequer utilizado (no caso de reversão findada em omissão), ora a utilização do bem para o fim diferente ora a cessação da utilização (123). Decorrido esse prazo e até ao final do prazo de 20 anos, assiste ao expropriado o direito de preferência na primeira alienação dos bens. O procedimento específico para a reversão dos bens expropriados encontra-se regulado nos artigos 74.° a 79.° do CE. Tal como bem expropriado o destino específico de utilidade pública. Deste modo, estando a adjudicação do bem dependente de uma condição resolutiva, tal significa que se desaparecer, por qualquer motivo, o fim público que foi a causa da expropriação, os efeitos desta cessam, impondo a represtinação das coisas no “status quo ante”. As Garantias do Particular na Expropriação por Utilidade Pública, cit., p. 167. (120) Tal como afirma, A ntónio Lopes Cardoso, “…o direito de reversão existe não só como parte inseparável, umbilical, do que foi o seu berço, mas também como «cominação imposta por lei para garantir o particular do arbítrio da Administração» e, com existir, se traduz numa «faculdade», não num dever, que o expropriado pode exercitar a seu exclusivo aprazimento, verificado que seja o condicionalismo legal”. Cfr. A ntónio Lopes Cardoso, “Reversão dos Bens Expropriados”, in Revista da Ordem dos Advogados, Ano 54, Lisboa, Dezembro de 1994. (121) Neste caso, o expropriado pode optar pela fixação de nova indemnização ou pela actualização da anterior aproveitando-se, nesta última hipótese, os actos já praticados. (122) Também aqui o expropriado pode optar pela fixação de nova indemnização ou pela actualização da anterior aproveitando-se, nestes casos, os actos já praticados. (123) Isto é, o decurso do prazo de dois anos referido no n.° 1 do artigo 5.° para que se considere ter ocorrido o facto que origina a reversão apenas é válido quando em causa esteja a reversão fundada na não utilização do bem ao fim da declaração de utilidade pública por omissão, ou seja, nas situações de inércia, já que se a não utilização para aquele fim decorrer de uma acção do beneficiário da expropriação – de afectação do bem para um fim distinto daquele que justificou a expropriação – é essa acção (independente do prazo que tiver decorrido desde a adjudicação) que se apresenta como o facto que origina a reversão. 131 Fernanda Paula Oliveira acontece no procedimento expropriativo, também o procedimento de reversão se apresenta como um procedimento em duas fases; inicia-se com uma fase administrativa (que desembocará no acto que autoriza a reversão por parte da entidade que declarou a utilidade pública do bem) sendo seguido de uma fase judicial (artigo 74.° e segs.). Caso a Administração nada decida, o interessado pode propor uma acção administrativa comum no prazo de um ano (artigo 74.°, n.° 4). A adjudicação da propriedade deve ser comunicada pelo tribunal ao conservador do registo predial competente para efeitos de registo oficioso (artigos 77.°, n.° 1, e 79.°). Uma última questão há para a qual aqui se chama a atenção a propósito da reversão. Na nossa perspectiva, embora a reversão esteja pensada para as hipóteses em que tenha havido declaração de utilidade pública e adjudicação do bem expropriado e, não obstante defendermos que a aquisição do bem pela via do direito privado não faz ainda parte do procedimento expropriativo propriamente dito, o direito de reversão deve também poder ser exercido naquelas situações em que o particular, nos termos do artigo 11.°, tenha cedido o bem pela via do direito privado. E isto compreende-se na medida em que, como defendemos mais acima, a tentativa de aquisição do bem pela via de direito privado não é uma qualquer tentativa de aquisição privada do bem, mas uma tentativa de aquisição que antecede necessariamente um procedimento expropriativo, pelo que o particular sabe que, não chegando nesta fase a acordo com o potencial beneficiário da expropriação, este lançará mão do processo expropriativo. Trata-se, deste modo, de uma aquisição substitutiva da expropriação e umbilicalmente ligada a ela. Por isso mesmo o legislador se preocupou em regular esta via de aquisição do bem por forma a que se reconheçam ao particular garantias idênticas às que dispõem os particulares que, não querendo vender o bem pela via do direito privado, acabam por ser expropriados, designadamente a garantia de que o preço da venda seja o preço justo (tal como a indemnização também o terá de ser). Mal se compreenderia que o particular que colaborou com as entidades que pretendem prosseguir finalidades públicas, vendendo-lhe os bens, ficassem menos protegidos do que aqueles que, não colaborando, acabaram por ser expropriados. Quando uma determinada entidade pretende adquirir um bem ao particular para prosseguir um determinado fim de utilidade públi132 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão ca tem, na resolução de requerer a declaração de utilidade pública, de identificar essa finalidade, ficando, por isso, a partir daí vinculada por ela. Se adquirir o bem ao particular pela via do direito privado para uma determinada finalidade identificada na resolução de requerer a declaração de utilidade pública e, posteriormente, o utilizar para um fim diferente, parece-nos que não deve poder ser recusado ao particular o exercício do direito de reversão, se tal direito não decorrer de qualquer cláusula do contrato, quanto mais não seja, por cumprimento do princípio da boa-fé e da confiança contratual. Não obstante, o Supremo Tribunal Administrativo já considerou, por várias vezes, não ser este o meio idóneo para reagir contra o incumprimento, por parte da Administração ou do contraente privado na esfera jurídica do qual ingressou o bem (apesar de nas hipóteses sub iudicio ter ocorrido um acto de declaração de utilidade pública, este Tribunal considerou que a celebração posterior de um contrato de compra e venda “em moldes privados” para operar a adjudicação do bem veda o recurso ao procedimento de reversão) (124). Ainda assim, o princípio da utilidade pública, considerado um pressuposto de legitimidade do procedimento administrativo (artigos 1.° e 2.° do CE), associado à proibição de modificação unilateral do objecto do contrato previsto no Código dos Contratos Públicos se aderirmos à tese de que a aquisição pela via do direito privado, não obstante o nomem, é um verdadeiro contrato administrativo, permite chegar às mesmas conclusões – maxime à desvinculação contratual e à repetição do prestado (125). Esta pretensão pode, desde logo, fundamentar-se na existência de um vício de vontade (que não erro, mas muito provavelmente dolo) ou numa alteração superveniente das circunstâncias, o que é tanto mais possível quando esta aquisição deve ser sempre precedida da resolução de expropriar que vincula este contrato (mesmo na ausência de referência expressa no mesmo) a um fim específico de utilidade pública. Note-se, por fim, que a reversão não deve funcionar relativamente a bens que hajam ingressado na esfera jurídica do beneficiário (124) Fernanda Paula Oliveira, “Há expropriar e expropriar… (ou como alcançar os mesmos objectivos sem garantir os mesmos direitos)”, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.° 35 (Setembro/Outubro de 2002), pp. 41 a 51. (125) Pinto Monteiro, Erro e Vinculação Negocial, Coimbra, Almedina, 2002. 133 Fernanda Paula Oliveira da expropriação, na sequência de um pedido de expropriação total mas apenas relativamente à totalidade ou parte daqueles de que a Administração, tendo decidido expropriá-los, já não necessite (artigos 3.°, n.° 3, 74.°, n.° 3, e 5.°, n.° 7, do CE). No caso de pretender alienar bens expropriados, deve comunicar-se o projecto de alienação ao expropriado e demais interessados conhecidos cujos direitos não hajam cessado definitivamente, com a antecedência mínima de 60 dias, findos os quais, não sendo exercido o direito de reversão ou, se for o caso, o direito de preferência, se entende que renunciam ao mesmo (artigo 5.°, n.° 7). No caso de obras contínuas, o início das obras em qualquer local do traçado faz cessar o direito de reversão sobre todos os bens expropriados (artigo 5.°, n.os 2 e 3). 5.3. A indemnização 5.3.1. A justa indemnização na Constituição da República Portuguesa (CRP) Ao estabelecer que a expropriação só pode ser efectuada com base na lei e mediante o pagamento de uma justa indemnização, o artigo 62.°, n.° 2, da CRP consagra claramente o princípio da indemnização como um pressuposto de legitimidade do acto expropriativo, apresentando-se esta, também, como um elemento integrativo da expropriação. Com efeito, o pagamento de uma justa indemnização nas expropriações por utilidade pública apresenta-se como uma das formas de concretização do princípio geral ínsito no princípio do Estado de Direito Democrático, de harmonia com o qual os actos lesivos de direitos e os danos causados a outrem determinam uma indemnização. Questão fundamental que se coloca em face do referido normativo constitucional é a de saber qual o sentido que deve ser atribuído à expressão “justa indemnização”, já que no mesmo não são identificados quaisquer critérios indemnizatórios de aplicação directa e objectiva, nem é fornecida qualquer indicação sobre o método ou mecanismo de avaliação do prejuízo derivado da expropriação (126). Este é, pois, um (126) Cfr., sobre esta problemática, Fernando A lves Correia, “A Jurisprudência do Tribunal Constitucional…”, cit., pp. 232-241. 134 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão problema de técnica legislativa, cuja escolha foi deixada pela CRP ao legislador ordinário (127). Não obstante este facto, a expressão “justa indemnização” constante da CRP tem sido considerada uma fórmula carregada de sentido, que fornece importantes limites à discricionariedade do legislador ordinário. A jurisprudência do Tribunal Constitucional forneceu, em inúmeros arestos, critérios para a determinação do que deva entender-se por justa indemnização: esta é aquela que visa compensar o sacrifício suportado pelo expropriado e garantir a observância do princípio fundamental da igualdade de encargos que tenha sido violada com a expropriação, apresentando-se como uma reconstituição, em termos de valor, da posição jurídica que o expropriado detinha (128). De acordo com a jurisprudência do Tribunal Constitucional, a fórmula justa indemnização deve ser entendida em vários sentidos. Por um lado, como a proibição de uma indemnização meramente nominal, irrisória ou simbólica (aparente), o que significa que a indemnização deve traduzir-se numa compensação adequada ao dano infligido ao expropriado. Por outro lado, como a indemnização que respeita o princípio da igualdade de encargos, devendo traduzir-se numa indemnização que compense plenamente o sacrifício especial suportado pelo expropriado, de tal modo que a perda patrimonial que lhe foi imposta seja equitativamente repartida entre todos os cidadãos (129). (127) Cfr. Fernando A lves Correia, O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, cit., pp. 532 e 546. (128) Fernando A lves Correia, O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, cit., pp. 528-529; “A Jurisprudência do Tribunal Constitucional”, cit., pp. 32 e segs. (129) Cfr., neste sentido, Fernando A lves Correia, As Garantias do Particular na Expropriação por Utilidade Pública, cit., pp. 127 e segs.; O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, cit., pp. 528 e segs.; Formas de Pagamento da Indemnização na Expropriação por Utilidade Pública (Algumas Questões), Separata do Número Especial do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra – “Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia” –, 1984, Coimbra, 1991, pp. 16-20; Código das Expropriações e Outra Legislação sobre Expropriações por Utilidade Pública (Introdução), Lisboa, Aequitas/ /Diário de Notícias, 1992, pp. 20-25; e As Grandes Linhas da Recente Reforma do Direito do Urbanismo Português, Coimbra, Almedina, 1993, pp. 68-70. Cfr., também, J. J. Gomes Canotilho/Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, 3.a ed., Coimbra, Coimbra Editora, 1993, p. 336; J. Osvaldo Gomes, “Anotação ao Acórdão do Tribunal Constitucional n.° 341/86”, in Revista da Ordem dos Advogados, n.° 47 (1987), pp. 121 e segs.; e Expropriações por Utilidade Pública, Lisboa, Texto Editora, 1997, pp. 143 e segs.; e J. Oliveira Ascensão, 135 Fernanda Paula Oliveira O respeito pelo princípio da igualdade deve ser entendido quer no sentido de que as regras da indemnização aplicáveis aos diferentes tipos de expropriação devem tratar de um modo igual os vários sujeitos expropriados (princípio da igualdade na relação interna da expropriação), quer no sentido de que, analisando-se comparativamente as situações jurídico-patrimoniais dos proprietários expropriados e dos proprietários não expropriados, os critérios da indemnização devem possibilitar um tratamento jurídico igual entre aqueles dois grupos de cidadãos (princípio da igualdade na relação externa da expropriação) (130). Ainda de acordo com a ampla jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre esta questão, a justa indemnização é aquela que corresponde ao valor adequado que permita ressarcir o expropriado da perda que a transferência do bem que lhe pertencia para outra esfera dominial lhe acarreta, devendo ter-se em atenção, na sua fixação, a necessidade de respeitar o princípio da equivalência de valores. Nem a indemnização deve ser tão reduzida que o seu montante se torne irrisório ou meramente simbólico nem, por outro lado, nela deve atender-se a quaisquer valores especulativos ou ficcionados, que possam distorcer (positiva ou negativamente) a necessária proporção que deve existir entre as consequências da expropriação e a sua reparação. Note-se, porém, que no conceito constitucional da justa indemnização está igualmente implícita a ideia de que a indemnização deve também ser justa na perspectiva do interesse público que a expropriação visa prosseguir. Precisamente por a expropriação ser um instituto voltado para a realização de interesses públicos, a indemnização só poderá ser considerada justa se, para além de satisfazer o interesse do particular expropriado, tiver igualmente em consideração a realização desse interesse público. É por este motivo que se justifica a possibilidade de introdução de cláusulas de redução ao critério legal da justa indemnização com uma dupla finalidade: “eliminar da indemnização elementos de valo“A Caducidade da Expropriação no Âmbito da Reforma Agrária”, in Estudos sobre Expropriações e Nacionalizações, Lisboa, Imprensa Nacional, 1989, pp. 70 e segs.; e “O Urbanismo e o Direito de Propriedade”, in Direito do Urbanismo, coord. D. Freitas do A maral, Lisboa, INA, 1989, pp. 333 e segs. (130) Fernando A lves Correia, O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, cit., pp. 354 e segs., e “A Jurisprudência do Tribunal Constitucional”, cit., p. 35. 136 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão rização puramente especulativos e mais-valias ou aumentos de valor que tenham a sua origem na própria declaração de utilidade Pública da expropriação” (131). A não integração destas valorizações no cômputo da indemnização surge, pois, como um imperativo de justiça (132). Como referimos supra, a CRP não fixou, in concretu, os critérios que permitam determinar o conceito de justa indemnização, tendo deixado ao legislador ordinário a sua definição. Tais critérios legais terão sempre, contudo, de respeitar, não só na sua formulação como na sua concretização, os princípios constitucionais da igualdade e da proporcionalidade e da justiça da indemnização da perspectiva do interesse público. De modo a dar cumprimento a estas exigências, tem-se entendido que o princípio da justa indemnização não deve ser concretizado através de um critério abstracto e rígido que não permita ter em consideração as particulares circunstâncias de cada bem expropriado. 5.3.2. A justa indemnização no Código das Expropriações O nosso legislador ordinário fixou, no artigo 23.° do CE, aprovado pela Lei n.° 168/99, de 18 de Setembro, que a justa indemnização “…não visa compensar o benefício alcançado pela entidade expropriante, mas ressarcir o prejuízo que para o expropriado advém da expropriação, correspondente ao valor real e corrente do bem de acordo com o seu destino efectivo ou possível numa utilização económica normal, à data da publicação da declaração da utilidade pública, tendo em consideração as circunstâncias e condições de facto existentes naquela data”. Desta forma, e tal como sustenta Fernando Alves Correia, “o dano material suportado pelo expropriado é ressarcido de uma forma integral e justa, se corresponder ao valor comum do bem expropriado ou, por outras palavras, ao respectivo valor do mercado ou ainda ao seu valor de compra e venda” (133). (131) Fernando A lves Correia, O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, cit., pp. 354 e segs., e “A Jurisprudência do Tribunal Constitucional”, cit., p. 37. (132) Fernando A lves Correia, O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, cit., pp. 354 e segs., e “A Jurisprudência do Tribunal Constitucional”, cit., p. 38. (133) Fernando A lves Correia, As Garantias do Particular na Expropriação por Utilidade Pública, cit., p. 129; “A Jurisprudência do Tribunal Constitucional”, cit., p. 36. 137 Fernanda Paula Oliveira Isto significa que o critério escolhido pelo legislador para definir justa indemnização foi o do valor de mercado: valor venal ou valor de compra e venda, ou seja, a quantia que teria sido paga pelo bem se este tivesse sido objecto de livre contrato de compra e venda, descontados os valores especulativos (134). Ou, dito de outro modo, a indemnização há-de corresponder a um valor que permita ao expropriado adquirir outro de igual valor, espécie ou qualidade, traduzindo-se, assim, num valor de substituição. Vários foram os argumentos utilizados ao longo dos anos pela doutrina para defesa de que a indemnização ou compensação integral deve ser calculada com base no valor de mercado ou valor venal do bem. Em primeiro lugar, o cumprimento do princípio da igualdade. Em segundo lugar, a garantia constitucional da propriedade privada, a qual impõe, no caso de expropriação, que seja mantida a consistência patrimonial do proprietário, transformando-se a garantia da propriedade em garantia do seu valor. Em terceiro, e último, o argumento de que é necessário evitar o desequilíbrio que poderia provocar no mercado uma avaliação da propriedade que fosse diferenciada consoante a transferência da mesma se operasse coactivamente ou por meio de contrato livre (135). Conforme decorria do preâmbulo do anterior Código das Expropriações (Decreto-Lei n.° 438/91, de 9 de Novembro), no cálculo do valor real ou de mercado dos solos expropriados, tomou-se em consideração a jurisprudência do Tribunal Constitucional que tem considerado o direito à justa indemnização como um direito de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias, pelo que as suas restrições deverão limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. (134) Neste sentido, vide Acórdão da Relação de Lisboa, de 2 de Abril de 1994 (Colectânea de Jurisprudência, ano XIX 1994, Tomo II, 109), nos termos do qual se afirma que “…o valor da justa indemnização deve corresponder ao valor real e corrente em economia de mercado do bem expropriado, ou seja, ao valor que o expropriado obteria se o bem fosse vendido em mercado livre a um comprador prudente”. (Vide, também, Acórdão da Relação do Porto, de 17 de Janeiro de 1989, Boletim do Ministério da Justiça, 383, 609). (135) Fernando A lves Correia, O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, cit., p. 539, nota 133. 138 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão Por este motivo, para efeitos do cálculo do montante da indemnização, o CE, seguindo de perto a jurisprudência do Tribunal Constitucional, classifica os solos em aptos para construção e para outros fins. Nos termos daquela jurisprudência, a não consagração na lei da potencial aptidão edificatória dos solos expropriados violará os princípios constitucionais da justa indemnização e da igualdade dos cidadãos perante a lei. Com efeito, tal como decorre de alguns dos Acórdãos do Tribunal Constitucional já referidos: “o jus aedifiandi, sem embargo de não possuir tutela constitucional directa no direito de propriedade, deverá ser considerado como um dos factores de fixação valorativa, ao menos naquelas situações em que os respectivos bens envolvam uma muito próxima e efectiva potencialidade edificativa”. Isto significa que a potencialidade edificatória dos terrenos, quando verificada em concreto, constitui um elemento inarredável da avaliação, elemento que, de acordo com a opinião geral, não pode ser afastado. Na definição de solo apto para construção teve o legislador em conta elementos certos e objectivos espelhados na dotação do solo em infra-estruturas urbanísticas [artigo 25.°, n.° 2, alínea a), do CE], na sua inserção em núcleo urbano [artigo 25.°, n.° 2, alínea b), do CE], na qualificação do solo como área destinada a edificação e urbanização em plano municipal de ordenamento do território [artigo 25.°, n.° 2, alínea c), do CE] ou na cobertura do mesmo por alvará de loteamento ou de licença de construção em vigor no momento da declaração da utilidade pública, desde que o processo respectivo se tenha iniciado antes da data da notificação da resolução de expropriar referida no artigo 10.° do CE [artigo 25.°, n.° 2, alínea d), do mesmo diploma]. Por sua vez, o n.° 3 do mesmo preceito legal, classifica como solos para outros fins aqueles que não se encontram em qualquer das situações indicadas. A lei não deixou de considerar, porém, nos termos supra referidos, a necessidade de a justa indemnização ter em conta o interesse público que com a expropriação se pretende prosseguir. É por isso que, nos termos do CE, não pode tomar-se em consideração, na determinação do valor dos bens expropriados, as mais-valias que resultarem da própria declaração de utilidade pública; de obras ou empreendimentos públicos concluídos há menos de cinco anos, no caso de não ter sido 139 Fernanda Paula Oliveira liquidado encargo de mais-valias e na medida deste (136); de benfeitorias voluptuárias (137) ou úteis ulteriores à notificação da resolução de expropriar; e de informações de viabilidade, licenças ou autorizações administrativas também ulteriores àquela notificação (artigo 23.°, n.° 2, do CE). Na fixação da indemnização não são também considerados quaisquer factores, circunstâncias ou situações criadas com o propósito de aumentar o valor do bem (artigo 23.°, n.° 3, do CE). Problemáticos, no que respeita ao cálculo do montante da indemnização por expropriação, parecem ser o n.° 2 do artigo 26.° e o n.° 4 do artigo 23.°, ambos do CE (138). 5.3.3. A natureza jurídica da indemnização (139) A indemnização não deve ser considerada como um efeito da expropriação mas antes como um elemento essencial dela e ao mesmo tempo condição da sua legitimidade. Nas expropriações clássicas significa que a expropriação não opera os efeitos extintivo e aquisitivo do direito enquanto não for paga a indemnização; nas expropriações de sacrifício significa que a expropriação só será legítima se houver lugar ao pagamento da indemnização. 5.3.4. A garantia do pagamento da indemnização Várias são as disposições do CE que determinam para o expropriado a garantia do pagamento efectivo da indemnização. Em primei(136) Claro que a não consideração das mais-valias resultantes de obras ou empreendimentos públicos só tem lógica quando a entidade beneficiária da expropriação tiver sido a entidade responsável pela realização de tais obras ou empreendimentos. Caso contrário, não se entende a lógica da exclusão de tais mais-valias. Sobre a eventual inconstitucionalidade desta hipótese prevista na alínea b) do n.° 2 do artigo 23.°, vide Fernando A lves Correia, “A Jurisprudência do Tribunal Constitucional”, cit., p. 158. (137) As benfeitorias voluptuárias, na medida em que apenas aumentam, em regra, o valor subjectivo das coisas e não o seu valor objectivo, nunca poderiam, obviamente, ser contabilizadas no montante da indemnização. (138) Para mais desenvolvimentos sobre as normas do Código das Exropriações atinentes à determinação do valor da indemnização, em especial, sobre a inconstitucionalidade de algumas delas, cfr. Fernando A lves Correia, “A Jurisprudência do Tribunal Constitucional”, cit., e Acórdãos do Tribunal Constitucional n.° 422/04, Processo n.° 462/03, e n.° 11/2008. (139) Fernando A lves Correia, As Garantias do Particular na Expropriação por Utilidade Pública, cit.,pp. 156-162. 140 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão ro lugar, a declaração de utilidade pública só será concedida se houver garantia efectiva do pagamento da indemnização [artigo 12.°, alínea c), do CE]. No mesmo sentido, também só será efectuada a posse administrativa do bem se houver a garantia do pagamento da indemnização, mediante a realização de um depósito bancário [artigo 20.°, n.° 1, alínea b), também do CE]. O novo código reforça o direito de o expropriado e demais interessados receberem não só a parte não convertida da indemnização, mas também aquela sobre a qual subsista litígio, esta última mediante a prestação de caução. As coisas processar-se-ão, pois, do seguinte modo. Após a decisão arbitral deve ser efectuado o depósito da indemnização arbitrada bem como os juros moratórios se houver lugar ao seu pagamento (artigo 51.° do CE). Se houver recurso da decisão arbitral, o juiz atribui desde logo o montante da indemnização sobre o qual se verifique acordo (artigo 52.°, n.° 3, do CE). No entanto, qualquer titular do direito à indemnização pode requerer que lhe seja entregue a quantia que lhe competir e sobre a qual não se verifique acordo, mediante prestação de garantia bancária ou de seguro-caução de igual montante (artigo 52.°, n.° 4, do CE). Não sendo exercido esse direito, o beneficiário da expropriação pode requerer a substituição por caução do depósito da parte da indemnização sobre a qual não se verifica acordo (artigo 52.°, n.° 5, do CE). Outro aspecto favorável ao expropriado é o de que o Estado garante o pagamento da justa indemnização em todos os casos e não apenas, como no Código de 1991, nos casos em que tiver havido posse administrativa, apesar de dispor do direito de regresso sobre o beneficiário da expropriação, que pode ser exercido mediante a cativação de transferências orçamentais, independentemente de qualquer formalidade. Parece-nos, em todo o caso, que nas situações em que a declaração de utilidade pública tenha sido da competência da assembleia municipal, a garantia do pagamento da indemnização deveria recair sobre esta e não sobre o Estado, que é, em regra, nestes casos, completamente estranho a todo o procedimento expropriativo. 141 Fernanda Paula Oliveira 5.3.5. Momento do pagamento da indemnização (140) A indemnização é paga contemporaneamente aos efeitos privativo e apropriativo que andam associados à expropriação. Com efeito, a adjudicação da propriedade (e da posse, se esta não tiver sido efectuada anteriormente) só é determinada, no caso de expropriação litigiosa, pelo juiz depois de efectuado o depósito da indemnização (artigo 51.°, n.° 5). O princípio da paridade temporal entre a aquisição do bem pelo beneficiário da expropriação e o pagamento da expropriação ao expropriado verifica-se integralmente quando não houve posse e há acordo e quando, não tendo igualmente havido posse administrativa, o litígio quanto ao montante da indemnização vem a findar com a decisão arbitral (artigo 52.°, n.° 2, do CE). Este princípio tem, contudo, desvios: em caso de posse administrativa – pois prevê-se que em certas hipóteses o depósito não tem de ser prévio [alínea a) do n.° 5 do artigo 20.°] – e no caso de recurso da decisão arbitral em que, em regra, é apenas atribuído imediatamente o montante da indemnização sobre o qual se verifica acordo (o restante só depois da adjudicação). Para o Tribunal Constitucional, em causa está um princípio que não deve ser entendido de forma absoluta, mas tendencial, apenas funcionando integralmente a partir do trânsito em julgado da sentença. 5.3.6. Formas de pagamento da indemnização (141) A indemnização deve ser paga em dinheiro e de uma só vez (artigo 67.°, n.° 1, do CE). O pagamento da indemnização em prestações só é admitido se houver acordo entre o expropriado e o beneficiário da expropriação (artigo 66.°, n.os 2, 3 e 5, do CE), o mesmo sucedendo com a satisfação, total ou parcial, da indemnização através da cedência de bens ou direitos ao expropriado (artigo 69.° do CE). (140) Cfr. Fernando A lves Correia, “A Jurisprudência do Tribunal Constitucional”, cit., pp. 55 e segs. (141) Cfr. Fernando A lves Correia, As Formas de Pagamento da Indemnização na Expropriação por Utilidade Pública, cit.; e “A Jurisprudência do Tribunal Constitucional…”, cit., pp. 61 e segs. 142 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão ção? 5.3.7. Quem deve pagar e a quem deve ser paga a indemniza- O sujeito sobre quem recai a obrigação do pagamento da indemnização é a entidade que beneficia directamente com o acto ablativo. O sujeito beneficiário da indemnização será o titular da posição jurídica de valor patrimonial que foi sacrificada pelo acto expropriativo, ou seja, aquele que suportou o dano patrimonial resultante da expropriação. Nas expropriações que têm por objecto bens imóveis, são beneficiários da indemnização o proprietário bem como os titulares de qualquer direito real ou ónus que recaia sobre ele, sendo o montante da indemnização distribuído proporcionalmente por todos eles em função da duração e do conteúdo do direito de cada um, e os arrendatários, tendo estes direito a uma indemnização autónoma. 5.3.8. A indemnização por expropriação acessória ao plano e a perequação de benefícios e encargos Tendo em consideração o facto de o território nacional se encontrar coberto por planos municipais de ordenamento do território, os quais, por sua vez, devem prever mecanismos de perequação de benefícios e encargos, torna-se imprescindível que estes sejam tidos em consideração na determinação do montante da indemnização. Por sua vez, naquelas situações em que tenha sido atribuída uma indemnização por expropriação do plano, não pode, na hipótese de vir posteriormente a ser desencadeada uma expropriação em sentido clássico, deixar de se considerar tal facto na determinação do montante da indemnização devida por esta (142). (142) Para mais desenvolvimentos sobre esta questão, vide Fernanda Paula Oliveira / /A ntónio M agalhães Cardoso, “Perequação, Expropriações e Avaliações”, in Revista do Centro de Estudos do Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, n.° 12, Ano VI – 2.03, pp. 43 e segs., Coimbra, Coimbra Editora. 143 Fernanda Paula Oliveira Capítulo IV Regime Jurídico da Urbanização e Edificação A. A “história” do diploma e a respectiva entrada em vigor O Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (doravante, RJUE), foi aprovado pelo Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de Dezembro (que deveria ter entrado em vigor em 4 de Abril de 2000), o qual, contudo, foi suspenso pela Lei n.° 13/2000, de 20 de Julho. Entretanto, a Lei n.° 30-A/2000, de 20 de Dezembro, autorizou o Governo a introduzir alterações àquele Decreto-Lei, as quais vieram a ser efectuadas pelo Decreto-Lei n.° 177/2001, de 4 de Julho. Mais recentemente, este regime jurídico sofreu uma alteração mais global efectuada pela Lei n.° 60/2007, de 4 de Setembro (143). O objectivo principal da versão inicial do RJUE foi a de proceder a uma simplificação legislativa, juntando num mesmo matérias estritamente relacionadas, mas que se encontravam dispersas por vários diplomas, particularmente, as atinentes aos loteamentos urbanos e obras de urbanização (144), às obras particulares de construção civil (145), às medidas de tutela de legalidade urbanística (v.g., embargos, demolições, reposição de terrenos na situação anterior à infracção) (146), e à conservação do edificado, estas últimas até aí tratadas no Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU). A intenção confessada do legislador, ao juntar num só as matérias dispersas por vários dispositivos legais, foi a de preparar a ela(143) Isto para além das alterações mais pontuais efectuadas pela Lei n.° 15/2002, de 22 de Fevereiro, e mais recentemente pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, e pelo Decreto-Lei n.° 116/2008, de 4 de Junho. (144) Até aí objecto de regulamentação no Decreto-Lei n.° 448/91, de 29 de Novembro (alterado sucessivamente pela Lei n.° 25/92, de 31 de Agosto, pelos Decretos-Lei n.os 302/94, de 19 de Dezembro, e 334/95, de 28 de Dezembro, e pela Lei n.° 26/96, de 1 de Agosto). (145) Constante anteriormente do Decreto-Lei n.° 445/91, de 20 de Novembro (diploma sucessivamente alterado pela Lei n.° 29/92, de 2 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.° 250/94, de 15 de Outubro, e pela Lei n.° 22/96, de 26 de Julho). (146) Reguladas no Decreto-Lei n.° 92/95, de 9 de Maio. 144 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão boração de um código do urbanismo para Portugal, tal como decorre expressamente do respectivo preâmbulo: “Na impossibilidade de avançar, desde já, para uma codificação integral do direito do urbanismo, a reunião num só diploma destes dois regimes jurídicos [dos loteamentos urbanos e das obras particulares], a par da adopção de um único diploma para regular a elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial, constitui um passo decisivo nesse sentido” (147). De forma a impedir que a integração num mesmo diploma de matérias diversificadas correspondesse a uma acrescida complexidade do respectivo conteúdo, houve a preocupação de lhe dar uma sistemática lógica, incidindo a sua regulamentação sucessivamente sobre a delimitação das operações urbanísticas e identificação dos respectivos procedimentos de controlo preventivo; sobre o desenho da tramitação procedimental de cada um dos procedimentos definidos; sobre o regime material aplicável às mais importantes operações urbanísticas (loteamentos, obras de urbanização, obras de edificação e utilização de edifícios); e sobre as questões comuns aos vários actos de controlo preventivo, independentemente da operação urbanística em causa (questões como a validade e eficácia destes actos; a execução de obras; as medidas de tutela da legalidade; as sanções; as garantias dos administrados, etc.). As vantagens associadas à integração, num mesmo diploma, das várias operações urbanísticas, compensou grandemente a eventual complexidade do respectivo conteúdo, por permitir que se desenhassem soluções uniformes e, por isso, mais coerentes, para questões idênticas que, até aí se encontravam, sem aparente justificação, sujeitas a distintos regimes em função da operação urbanística a levar a cabo (148). (147) Sobre as questões da unificação de regimes e da elaboração de um Código de Urbanismo para Portugal, cfr. AA.VV., Actas do Colóquio Internacional: Um Código do Urbanismo Para Portugal?, Coimbra, Almedina, 2003 (CEDOUA/APDU/Faculdade de Direito de Coimbra). (148) Apenas a título de exemplo, o legislador sancionava com a nulidade a emissão de licença de construção sem que tivesse sido promovida a consulta a entidades externas ao município, e com a anulabilidade a licença de loteamento e obras de urbanização com o mesmo vício sem que aparentemente nada justificasse este distinto regime. Sobre a vantagem deste diploma na promoção de um tratamento idêntico para questões equiparadas, vide o nosso “A Realidade Actual: a Dispersão da Legislação do Urbanismo e as Soluções de Unificação de Alguns Regimes Jurídicos”, in Actas do Colóquio Internacional: Um Código do Urbanismo para Portugal?, cit. 145 Fernanda Paula Oliveira Em 2001, as alterações efectuadas a este regime (Decreto-Lei n.° 177/2001) tiveram um fito imediato: o de proceder a alguns ajustes à inovatória figura da autorização, não só diminuindo, grandemente, o respectivo âmbito de aplicação (procedendo a uma restrição das operações urbanísticas a ela sujeitas), como aproximando o tipo de controlo preventivo a que elas correspondiam ao tipo de controlo que era efectuado no âmbito dos procedimentos de licenciamento (a esta questão voltaremos mais adiante). As alterações mais recentes ao RJUE, introduzidas pela Lei n.° 60/2007, foram promovidas também, tal como a versão inicial, numa teleologia de simplificação, mas, agora, de cariz procedimental, ou não fosse esta lei a concretização de uma medida do Programa Simplex 2007. Tal como então foi divulgado por uma nota do Governo, a referida simplificação passa pelos seguintes aspectos: – eliminação do procedimento de autorização (embora, como se verá, esta extinção não tenha efectivamente ocorrido); – nova delimitação do âmbito de aplicação dos procedimentos de licenciamento e de comunicação prévia; – diminuição do controlo prévio, o qual é contrabalançado pelo reforço da fiscalização municipal e pela responsabilização dos técnicos subscritores dos projectos e responsáveis técnicos pela direcção das obras; – isenção de qualquer controlo ou comunicação prévia das pequenas obras de escassa relevância urbanística, bem como das obras de conservação e de alteração no interior dos edifícios ou suas fracções autónomas que não impliquem modificações da estrutura dos edifícios, das cérceas e das fachadas; – sujeição a simples comunicação prévia, dispensando-se a actual exigência de autorização municipal quando existam instrumentos que disciplinem suficientemente as condições da construção a realizar; – reforço da responsabilidade dos técnicos subscritores dos projectos e responsáveis técnicos pela direcção das obras, o qual é assegurado, nomeadamente, pelo agravamento da contra-ordenação aplicável às falsas declarações; – utilização de tecnologias da informação; e – criação de uma nova figura: o gestor do procedimento. 146 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão B. As questões procedimentais do RJUE: procedimentos e actos de controlo 1. A evolução dos tipos de procedimento de controlo preventivo até 2007 As operações urbanísticas a que se refere o artigo 2.° de há muito se encontram sujeitas a um procedimento administrativo de controlo preventivo que, até à sua entrada em vigor, sempre foi o procedimento de licenciamento, isto não obstante a tramitação deste variar em função, designadamente, do grau de densidade do instrumento urbanístico em vigor na respectiva área. Com o RJUE (149) o legislador veio, no que ao controlo preventivo das operações urbanísticas diz respeito, assentar na distinção básica entre o procedimento de licenciamento e o procedimento de autorização, parecendo fazer apelo para a distinção tradicional entre as autorizações-licença (ou constitutivas de direitos) e as autorizações permissivas, questão que, no âmbito do direito do urbanismo, se encontra intimamente relacionada com o problema da conceptualização do direito de propriedade e das faculdades nele contidas, designadamente o ius aedificandi (direitos de lotear, de urbanizar e de construir). Com efeito, para os que defendem ser o ius aedificandi uma componente essencial do direito de propriedade, o controlo preventivo das operações urbanísticas assume a natureza de autorização (permissiva), enquanto para os que defendem ser o ius aedificandi uma faculdade que acresce ao direito de propriedade, o controlo preventivo das operações urbanísticas é visto como uma verdadeira licença (autorização constitutiva de direitos). Todavia, mesmo aqueles que perspectivam o ius aedificandi como uma faculdade que acresce à esfera jurídica do proprietário, nem sempre o acto de controlo preventivo das operações urbanísticas é vista como uma autorização-licença (autorização constitutiva de direitos). Neste ponto, tudo dependerá do “acto” através do qual a Administração confere aquele direito ao particular. É que, estando hoje, como estamos, num estádio em que a possibilidade de utiliza(149) De ora em diante, as referências aqui formuladas a artigos, sem expressa indicação do respectivo diploma legal, devem considerar-se feitas ao RJUE. 147 Fernanda Paula Oliveira ção dos solos para fins urbanísticos está praticamente predeterminada por planos, bem se pode questionar se a atribuição do ius aedificandi não decorrerá do próprio plano (caso em que o acto de controlo preventivo das operações urbanísticas terá a natureza de mera autorização permissiva) ou, pelo contrário, da aprovação dos projectos concretos (caso em que tal acto terá a natureza de verdadeira licença). Independentemente da concepção que se defenda, uma coisa é certa: o ius aedificandi não vive de “vita própria” já que, pelo menos o seu exercício, depende de um acto administrativo (150). É exactamente por isso que, em certo sentido, se pode dizer que a questão fundamental é a de saber se o interessado tem um direito à “licença” (atribua-lhe ela um direito novo ou não), questão que depende essencialmente da natureza vinculada ou discricionária da competência exercida pela Administração municipal que, por sua vez, depende do tipo de instrumento de planeamento em vigor na área na qual se pretende realizar a operação urbanística. Ora, foi exactamente desta perspectiva que partiu o RJUE na sua versão inicial, ao determinar que a diferença entre o procedimento de licenciamento e o procedimento de autorização se encontrava na diferente densidade de planeamento vigente na área para a qual era requerida a realização da operação urbanística, juntando-lhe ainda um outro critério que é o do tipo de operação a realizar. Deste modo, o procedimento simplificado de autorização utilizar-se-ia quando os parâmetros da decisão estivessem definidos com precisão num plano concreto ou num prévio acto da administração ou quando a operação a realizar tivesse escassa ou nenhuma relevância urbanística. O procedimento de licenciamento teria lugar nas restantes situações. Ou seja, a autorização seria o acto de controlo preventivo exigido para aquelas situações em que as regras e parâmetros de apreciação dos projectos se encontram já definidos com bastante precisão, podendo dizer-se que, desde que o projecto apresentado não contrariasse essas normas, o particular requerente teria direito à autorização, sendo, numa situação destas, o poder de apreciação da Administração muni(150) Cfr. Pedro Gonçalves/Fernanda Paula Oliveira, “A Nulidade dos Actos Administrativos de Gestão Urbanística”, in Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, ano II, n.° 1 de 1999, p. 29. 148 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão cipal vinculado. Por sua vez, a licença seria o acto de controlo preventivo necessário nas situações em que, por tais regras e critérios não se encontrarem ainda definidos ou não estarem definidos com precisão, a lei deixaria claramente uma margem maior de discricionariedade à Administração na apreciação dos projectos concretos, pelo que não se poderia dizer que o particular tinha automaticamente um direito à licença, na medida em que a questão de saber se o projecto apresentado está ou não conforme ao ordenamento urbanístico necessitaria da intervenção de um juízo intermediador (entre a lei e a situação concreta) da Administração. Deste modo, e de acordo com a redacção inicial do RJUE, os procedimentos de licenciamento e de autorização distinguir-se-iam pela diferente densidade de controlo preventivo e pelo diferente grau de concretização da posição subjectiva do particular: na autorização, a posição subjectiva deste estaria mais concretizada (por se encontrar predefinida em prévio acto administrativo ou instrumento de planeamento concreto) e, por isso, haveria uma menor intensidade de controlo preventivo por parte dos órgãos municipais competentes. Esta diminuição do controlo preventivo da operação urbanística traduzir-se-ia, concomitantemente, num aumento da responsabilidade dos particulares e dos autores do projecto e num maior controlo a posteriori em matéria de vistoria e de fiscalização. Como se referiu, o Decreto-Lei n.° 177/2001, que pretendia tão-só proceder a alguns “acertos” na figura da autorização, acabou por, na nossa óptica, não só colocar em causa a sua própria subsistência enquanto figura autónoma em face da licença, como ainda por afectar a distinção conceptual desta relativamente ao procedimento de licenciamento. De facto, para além de se terem reduzido substancialmente as situações sujeitas ao procedimento de autorização (151), reformatou-se o (151) Apenas para dar um exemplo, contrariamente à redacção inicial, nos termos da qual tais obras estariam sujeitas a autorização, desde que se realizem em áreas abrangidas por operação de loteamento, o Decreto-Lei n.° 177/2001 veio determinar que este procedimento apenas podia ser desencadeado desde que não existisse legislação específica a exigir a intervenção de entidades exteriores ao município. Ora, tendo em conta que praticamente sempre os projectos de obras de urbanização estavam (como estão) sujeitos a consulta a entidades exteriores ao município, a consequência foi a de praticamente excluir as obras de urbanização do procedimento de autorização. 149 Fernanda Paula Oliveira tipo de controlo que é efectuado no seu âmbito, passando a equipará-lo ao que é levado a cabo no procedimento de licenciamento, com o que se desvirtuou a inicial diferenciação entre os dois tipos procedimentais. Vejamo-lo mais atentamente. Na redacção inicial do RJUE entendia-se que a autorização estava reservada para as situações em que a posição jurídica dos particulares estava bem definida e consolidada com base em anterior acto administrativo ou plano concreto e, precisamente por isso, o poder de controlo preventivo da actividade dos particulares nestes casos ficava muito mais limitado, isto é, havia uma maior vinculação da Administração. Por isso mesmo, o indeferimento do pedido de autorização só podia ser decidido quando a pretensão do particular contrariasse o referido acto ou plano que consolidava a situação jurídica do particular (artigo 30.° da redacção inicial). O Decreto-Lei n.° 177/2001 optou por um caminho de reforço do poder de controlo prévio que a Administração pode exercer no caso das autorizações, tendo aumentado os motivos de indeferimento que podiam ser invocados neste tipo de procedimento. O que conseguiu foi, quanto a nós, uma solução pouco congruente com a lógica inicial. Basta apontar dois exemplos para podermos chegar a esta conclusão. Assim, o artigo 31.°, n.° 1, na versão de 2001, passou a prever, como motivo para o indeferimento, as situações previstas na alínea a) do n.° 1 do artigo 24.° (artigo que fixa os motivos de indeferimento no caso dos licenciamentos). Ora, sucede que, de entre os motivos referidos neste normativo legal, constam os da violação de servidões administrativas e restrições de utilidade pública, quando, nos termos do RJUE, se a área estivesse sujeita a servidão administrativa ou a restrição de utilidade pública, o procedimento de controlo preventivo nunca seria o de autorização, mas de licenciamento (artigo 4.°, na versão de 2001). Por outro lado, o Decreto-Lei n.° 177/2001 passou a prever também como motivo de indeferimento das autorizações, a ausência de arruamentos ou de infra-estruturas de abastecimento de água e de saneamento, o que não faz sentido quando se trate de obra de edificação em lotes resultantes de um loteamento (já que o dimensionamento adequado das infra-estruturas foi apreciado previamente no âmbito do procedimento de controlo preventivo do loteamento). O mesmo se diga do motivo de indeferimento referido no n.° 2 do artigo 31.° deste di150 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão ploma (sobrecarga incomportável para as infra-estruturas existentes), quando se trate de obras de construção ou reconstrução a realizar em áreas abrangidas por alvará de loteamento. De onde decorre que o tipo de controlo preventivo efectuado no âmbito da autorização perdeu, com o Decreto-Lei n.° 177/2001, as suas características iniciais: não só deixou de estar em causa um procedimento caracterizado por uma menor densidade de controlo da Administração (basta uma leitura atenta do artigo 31.° deste diploma para concluirmos que a densidade de controlo passou a ser praticamente a mesma nos dois tipos de procedimentos), como, em consequência, não se pode afirmar que existiam situações em que a posição jurídica do particular estava mais consolidada, designadamente com base em anterior acto administrativo porque, não obstante este, o pedido do particular poderia sempre vir a ser indeferido por motivos que nada tinham a ver com ele. O que significou o reconhecimento de uma discricionariedade de apreciação dos projectos por parte da Administração nos procedimentos de autorização e, deste modo, uma anulação da sua diferenciação em relação aos licenciamentos. Tudo ponderado, com as alterações introduzidas ao RJUE em 2001, a licença passou a distinguir-se da autorização apenas por se traduzir num procedimento mais célere, porque não havia lugar a consulta a entidades exteriores ao município, o que era insuficiente para se sustentar a manutenção de dois procedimentos distintos: teria bastado que o legislador distinguisse (o que, aliás, já fazia à luz dos anteriores regimes dos loteamentos e das obras de construção) entre um procedimento normal de licenciamento e um procedimento de licenciamento mais simples ou expedito. O legislador optou, no entanto, por uma solução diferente, tendo mantido a distinção procedimental entre licenças e autorizações, com consequências em matéria do respectivo regime: quer no que concerne às competências (câmara municipal, no caso do licenciamento, e presidente da câmara, no caso da autorização – artigo 5.°), quer em matéria de silêncio (ausência de relevo no caso de licenciamento, deferimento tácito no caso de autorização). 151 Fernanda Paula Oliveira 2. Os procedimentos de controlo preventivo na Lei n.° 60/2007 a) A redelimitação do âmbito dos procedimentos A Lei n.° 60/2007 veio redelimitar o âmbito de aplicação dos procedimentos de controlo preventivo das operações urbanísticas, visando, por um lado, objectivos de simplificação procedimental e, por outro lado, de eliminação de controlo, nas situações em que, na óptica do legislador, este manifestamente se não justificava. A concretização deste desígnio traduziu-se na quase extinção do procedimento de autorização – que fica limitado agora à utilização dos edifícios ou suas fracções autónomas bem como às alterações de utilização dos mesmos (n.° 4 do artigo 4.° em conjugação com o artigo 62.°) – e a sua substituição, praticamente na íntegra, pelo procedimento de comunicação prévia, tendo, no entanto, mantido, na distinção genérica entre as operações que devem ficar sujeitas a licença e a comunicação prévia, os critérios que permitiam diferenciar e distinguir os procedimentos de licença dos de autorização. Assim, o que caracteriza o âmbito de aplicação da comunicação prévia (tal como o que caracterizava antes o âmbito de aplicação das autorizações) é, tendencialmente, o facto de em causa estarem operações urbanísticas que ocorrem em áreas para as quais os parâmetros aplicáveis se encontram previamente definidos com algum grau de precisão, quer em instrumento de gestão territorial (plano de pormenor com determinadas características), quer em acto administrativo (que tenha aprovado uma operação de loteamento ou uma informação prévia muito precisa), quer na situação fáctica existente (zona urbana consolidada). Com esta alteração, perde-se, no entanto, a distinção doutrinária entre licença e autorização que estava subjacente às versões anteriores, ficando a autorização reservada para um só tipo de operação urbanística (a utilização dos edifícios), embora a comunicação prévia (ao contrário do anterior procedimento com o mesmo nome) tenha passado a exibir as características típicas dos actos autorizativos. 152 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão b) O âmbito de aplicação dos procedimentos de controlo preventivo É o artigo 4.°, conjugadamente com o artigo 6.°, ambos do RJUE, que regulam actualmente o âmbito de aplicação de cada um dos procedimentos de controlo preventivo das operações urbanísticas. De uma leitura cruzada destes normativos decorre ser o licenciamento o procedimento regra (ou procedimento supletivo, aplicável na ausência de uma opção expressa por outro tipo de procedimento) – assim o determina o n.° 1 do artigo 4.° e a alínea g) do n.° 2 do mesmo artigo, dos quais resulta ser este o procedimento aplicável sempre que estejam em causa operações urbanísticas para as quais não se defina outro tipo procedimento (comunicação prévia ou autorização) ou não se isente de qualquer tipo de controlo (152). Aconselha-se, assim, para uma mais precisa delimitação do âmbito de aplicação de cada um destes procedimentos, a identificar, em primeiro lugar, as operações sujeitas a autorização e a comunicação prévia, bem como aquelas que se encontram isentas de qualquer controlo preventivo, ficando todas as restantes sujeitas a licenciamento. α) O âmbito de aplicação das autorizações De acordo com o disposto no n.° 4 do artigo 4.°, estão sujeitas a autorização a utilização dos edifícios ou suas fracções, bem como a alteração da utilização dos mesmos. A autorização de utilização dos edifícios e suas fracções, quando antecedida de obras, destina-se a verificar a conformidade da obra concluída com o projecto aprovado e com as condições do licenciamento ou comunicação prévia (n.° 1 do artigo 62.°); a autorização de utilização não antecedida de obras sujeitas a controlo ou a alteração de uso destina-se a verificar a conformidade do uso previsto com as normas legais e regulamentares aplicáveis e a idoneidade do edifício ou fracção autónoma para o fim pretendido (n.° 2 do artigo 62.°). Tendo presente o disposto no n.° 4 do artigo 4.°, consideramos sem sentido o disposto na alínea h) do n.° 1 do artigo 6.°, que manda (152) Comparando esta opção com a que constava da versão anterior do RJUE, há uma clara inversão do procedimento regra a utilizar. Procedimento esse que, antes, era o de autorização [cfr. alínea g) do n.° 3 do artigo 4.°] e que agora é o de licenciamento [n.° 1 e alínea g) do n.° 2 do artigo 4.°]. 153 Fernanda Paula Oliveira sujeitar a comunicação prévia as alterações à utilização dos edifícios bem como o arrendamento para fins habitacionais de prédios ou fracções não licenciados nos termos do n.° 4 do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 160/2006, de 8 de Agosto (operações também sujeitas a autorização como expresso no n.° 2 do artigo 62.°). Com efeito, sendo a utilização de edifícios (e logo a sua alteração) uma operação urbanística [alínea j) do artigo 2.° do RJUE] que se encontrava na versão anterior sujeita a um procedimento de controlo (licenciamento ou autorização, consoante os casos), não se perceberia por que motivo, visando a Lei n.° 60/2007 simplificar procedimentos, teria o interessado de desencadear agora dois procedimentos distintos e (aparentemente) sucessivos: de autorização e de comunicação prévia. Rejeitamos, por isso, qualquer leitura que aponte nesse sentido. E não se afirme, para contrapor à nossa posição, que não estando prevista no procedimento de autorização uma fase especificamente destinada à consulta de entidades externas quando as mesmas sejam necessárias, terá de se desencadear um procedimento de comunicação prévia para aquelas poderem ser promovidas. Concordamos, com efeito, com a necessidade de ponderar como serão consultadas estas entidades no procedimento de autorização, sobretudo nas situações em que não haja lugar a obras ou em causa esteja a mudança de finalidade precedida de alterações no interior dos edifícios não sujeitas a licença ou comunicação prévia. Parece-nos, contudo, excessivo exigir que, precedentemente à autorização de utilização, tenha o particular de desencadear um procedimento de comunicação prévia, apenas para, no âmbito deste, poderem ser exigidos os pareceres que se apresentam como necessários ao abrigo de legislação especial. A melhor solução para estes casos, por ser a que melhor pondera os interesses públicos e privados em presença, em particular os da celeridade e simplificação procedimental, e que recupera os termos da autorização na versão anterior à Lei n.° 60/2007, é a que determina que os pareceres destas entidades externas devem ser pedidos pelo interessado e por ele entregues com o pedido de autorização (ou então com indicação de que os mesmos foram pedidos e não emitidos, nos termos previstos no n.° 2 do artigo 13.°-B). Deste modo, evita-se o desencadear de um outro procedimento prévio ou o decorrer dos 10 dias previstos no n.° 1 do artigo 64.° (uma 154 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão vez que é manifestamente impossível exigir tais pronúncias neste prazo, até em face do disposto em legislação específica quanto ao tempo para emissão de pareceres), com os encargos que tal comporta para o particular (já que seria obrigado a pagar duas taxas correspondentes a cada um dos procedimentos), assegurando-se uma mais ampla conformação deste quanto ao procedimento a que pretende dar início (153). β) Âmbito das comunicações prévias Ao procedimento de comunicação prévia estão sujeitas as seguintes operações urbanísticas: i. As operações de loteamento, se tiverem sido antecedidas de informação prévia favorável emitida nos termos do n.° 2 do artigo 14.° (n.° 1 do artigo 17.°); ii. As obras de urbanização, quando em área abrangida por operação de loteamento ou tenham sido antecedidas de informação prévia favorável emitida nos termos do n.° 2 do artigo 14.° (n.° 1 do artigo 17.°); iii. Os trabalhos de remodelação de terrenos, quando em área abrangida por operação de loteamento ou tenham sido antecedidas de informação prévia favorável emitida nos termos do n.° 2 do artigo 14.° (n.° 1 do artigo 17.°); iv. As obras de construção, alteração ou ampliação, se realizadas: a) em área abrangida por operação de loteamento [artigo 6.°, n.° 1, alínea e)]; b) área abrangida por plano de pormenor que contenha as menções referidas nas alíneas c), d) e f) do artigo 91.° do RJIGT [artigo 6.°, n.° 1, alínea e)]; c) em zona urbana consolidada nas condições referidas na alínea f) do n.° 1 do artigo 6.°; d) se tiverem sido antecedidas de informação prévia favorável emitida nos termos do n.° 2 do artigo 14.° (n.° 1 do artigo 17.°); v. As obras de reconstrução sem preservação das fachadas, quando antecedidas de informação prévia favorável emitida nos termos do n.° 2 do artigo 14.° (n.° 1 do artigo 17.°); (153) De notar que, como as questões que ora se colocam se prendem essencialmente com o uso e não com a localização do edifício, não intervirá a CCDR nos termos previstos no artigo 13.°-A, pelo que não há obstáculos legais à atribuição ao interessado da responsabilidade pela entrega de tais pareceres. 155 Fernanda Paula Oliveira vi. As obras de reconstrução com preservação das fachadas; e vii. A construção de piscinas associadas a edifício principal. Não obstante, não poderá ignorar-se o disposto no corpo do n.° 1 do artigo 6.°, em que o procedimento de comunicação prévia é afastado quando em causa estejam obras em imóveis classificados ou em vias de classificação, ou situados em zona de protecção de imóveis classificados, bem como imóveis integrados em conjuntos ou sítios classificados ou em áreas sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade pública. Nestes casos, as operações urbanísticas apenas estarão sujeitas a comunicação prévia se forem antecedidas de informação prévia favorável emitida nos termos do n.° 2 do artigo 14.° [alínea b) do n.° 2 do artigo 4.° e alínea d) do n.° 1 do artigo 6.°]. No que concerne às obras de urbanização, o tipo de controlo preventivo a que as mesmas se encontram sujeitas depende de se encontrarem integradas ou não em loteamento. Na primeira situação, estão em causa duas operações distintas que, no entanto, porque directamente relacionadas, têm de ser decididas de forma sucessiva: primeiro, o loteamento e, de seguida, as obras de urbanização. Ora, atendendo a esta sucessão de procedimentos, o legislador veio determinar que as obras de urbanização integradas num loteamento estão sujeitas a comunicação prévia, enquanto as obras de urbanização não integradas num loteamento estão subordinadas a licenciamento, excepto se tiverem sido antecedidas de uma informação prévia formulada nos termos do n.° 2 do artigo 14.°. No que concerne às obras de construção, alteração ou reconstrução em área abrangida por operação de loteamento, algumas dúvidas se suscitam quando em causa estejam alvarás de loteamento antigos que, embora ainda eficazes, praticamente não definem os parâmetros de construção aplicáveis, não estando, assim, em relação àquelas obras de edificação, verificados os pressupostos para que se possa desencadear uma comunicação prévia (já que esta pressupõe sempre uma situação em que aqueles parâmetros estejam definidos com elevado grau de precisão). Algumas câmaras municipais têm vido a entender que, apesar das operações urbanísticas se localizarem em áreas abrangidas por operação de loteamento, podem estas obras de edificação, nas situa156 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão ções referidas, não estar sujeitas a comunicação prévia, mas sim a licenciamento, leitura que nos parece legítima em face da teleologia do regime legal, o qual aponta para o procedimento de comunicação prévia apenas naquelas situações em que os parâmetros se encontram concreta e especificamente definidos. Por este motivo se deve concluir que as obras de edificação a levar a cabo em áreas abrangidas por operação de loteamento apenas estarão sujeitas a comunicação prévia caso o alvará de loteamento contenha as especificações que são actualmente obrigatórias (nos termos do artigo 77.°), o que significa que se o alvará de loteamento for omisso relativamente a muitas dessas especificações (como sucederá com os alvarás de loteamento anteriores ao Decreto-Lei n.° 448/91), haverá que submeter essa operação urbanística a um licenciamento e não a comunicação prévia (até porque já se tem entendido que quando o alvará não fixa parâmetros, se aplicam, como referentes para a operação de edificação a concretizar naquela área, os parâmetros constantes dos instrumentos de planeamento em vigor na área: na omissão do alvará, as pretensões têm de ser apreciadas à luz dos parâmetros constantes da restante regulamentação em vigor, apontando para um procedimento de controlo distinto do que é efectuado no domínio da comunicação prévia) (154). No que concerne às obras de construção, de alteração ou de ampliação em zona urbana consolidada, determina a alínea f) do artigo 6.° que as mesmas estão sujeitas a comunicação prévia, mas apenas se respeitarem os planos municipais, exigência que parece estranha, considerando que o respeito dos planos municipais é condição de validade dos actos de gestão urbanística. Na nossa óptica, o que aqui se pretende afirmar, e com lógica, é que apenas deve ocorrer comunicação prévia – procedimento que se destina a verificar, de forma perfunctória, se a operação cumpre os parâmetros da zona – naquelas situações em que o plano municipal identifica a área como zona consolidada a manter. Com efeito, se, apesar de estar em causa uma zona urbana consolidada (154) Alguns municípios, no sentido de evitar dúvidas quanto a esta questão, têm vido a resolvê-la nos respectivos regulamentos municipais, estabelecendo, por exemplo, que “Estão sujeitas a licenciamento as obras de edificação em área abrangida por operação de loteamento cujo alvará não contenha todas as especificações referidas na alínea e) do n.° 1 do artigo 77.° do RJUE”. Solução que, na nossa óptica, se enquadra na teleologia do RJUE. 157 Fernanda Paula Oliveira [isto é, com as características descritas na alínea o) do artigo 2.°], a opção do plano municipal for a de a transformar (o que pode ser indiciado quer pela designação da categoria “zona consolidada a transformar” quer pelo tipo de parâmetros definidos: quantitativos e não morfo-tipológicos), então o procedimento não poderá ser o de comunicação prévia, mas de licenciamento. Ou seja, e em suma, as obras de construção, alteração ou ampliação em zona urbana consolidada estão sujeitas a comunicação prévia, se se tratar de uma zona urbana consolidada que, nos termos do plano municipal em vigor, deva manter as características existentes. Deste modo, estando em causa uma zona urbana com as características referidas na alínea o) do artigo 2.°, a determinação do tipo de procedimento ficará dependente do que tiver determinado o plano municipal em relação à manutenção ou não das características da área. γ) Âmbito do procedimento de licenciamento Fora das situações acabadas de referir, e não estando em causa operações isentas de controlo (a que nos referiremos de seguida), todas as restantes operações urbanísticas estão sujeitas a licenciamento. O legislador identifica, contudo, aquelas que são as mais relevantes. Assim, os loteamentos urbanos estarão sempre sujeitos a licenciamento (excepto, como referimos antes, se a operação tiver sido precedida de informação prévia favorável emitida nos termos do n.° 2 do artigo 14.°, situação em que deverá ser desencadeado um procedimento de comunicação prévia) ou de um plano de pormenor com efeitos registais (situação em que o loteamento opera directamente com o registo do plano juntamente com os contratos necessários no âmbito dos reparcelamentos, se for essa a configuração do loteamento urbano). Também estarão sujeitas a licenciamento as obras de urbanização que não integrem operações de loteamento [alínea b) do n.° 2 do artigo 4.°]; as obras de reconstrução sem preservação de fachadas [alínea e) do n.° 2 do artigo 4.°]; e as obras de demolição quando não estejam previstas em licença de obras de reconstrução [alínea f) do n.° 2 do artigo 4.°]. No que diz respeito às obras de construção, alteração e ampliação de edifícios, os mesmos estão sujeitos a licenciamento quando se realizem em área não abrangida por operação de loteamento [alínea c) 158 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão do n.° 2 do artigo 4.°] mas também, embora o artigo se não lhe refira, quando a área não é abrangida por plano de pormenor com os elementos referidos nas alíneas c), d) e f) do n.° 1 do artigo 91.° do RJIGT, já que se estiver em vigor um plano com estes elementos, o procedimento é o de comunicação prévia, nos termos da alínea e) do n.° 1 do artigo 6.° do RJUE. Ainda no que concerne a obras de reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição de imóveis classificados ou em vias de classificação e as obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição de imóveis situados em zonas de protecção de imóveis classificados (e não, assim parece, de imóveis em vias de classificação) bem como dos imóveis integrados em conjuntos ou sítios classificados ou em áreas sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, o procedimento é o de licenciamento [alínea d) do n.° 2 do artigo 4.°]. Ou seja, sempre que esteja em causa qualquer das situações referidas nesta alínea, ainda que o procedimento fosse, nos termos do artigo 6.°, o de comunicação prévia, passará a ser o de licenciamento. Assim o determina o corpo do n.° 1 do artigo 6.° que, dada a sua integração sistemática, é de aplicação imediata a todas as situações aí referidas. Pelo que, embora as situações mencionadas neste artigo 6.° se encontrem sujeitas ora a comunicação prévia ora isentas de controlo, passarão a ficar submetidas ao procedimento de licenciamento se estiverem verificadas as circunstâncias referidas na alínea d) do n.° 2 do artigo 4.° (155). (155) Note-se que, se para algumas destas circunstâncias se compreende a exigência de licenciamento em vez da comunicação prévia – por exemplo, quando estão em causa obras referentes a edifícios classificados ou situados em zona de protecção de imóveis classificados –, para outras, consideramos não ter razão de ser (designadamente no caso de servidões e restrições de utilidade pública), já que em relação a elas não se percebe, por exemplo, porque é que, por esse facto, devem ficar sujeitas a licenciamento obras no interior de edifícios ou obras de conservação (tanto mais que estas últimas sempre estiveram, até à Lei n.° 60/2007, isentas de qualquer tipo de controlo preventivo). Deste modo, consideramos que o n.° 1 do artigo 6.° não deveria formular uma remissão genérica para a alínea d) do artigo 4.°, mas apenas para as situações dele constantes atinentes às questões patrimoniais. Mais, considerando a remissão genérica efectuada pelo n.° 1 do artigo 6.° para a alínea d) do n.° 2 do artigo 4.°, não se compreende por que motivo a alínea b) do n.° 1 do artigo 6.°, isenta de licença as obras no interior de edifícios ou suas fracções “…à excepção dos imóveis classificados ou em vias de classificação”, nem por que excepciona o n.° 2 do artigo 6.°-A as 159 Fernanda Paula Oliveira c) As isenções de controlo O RJUE integra dois tipos de isenções de controlo preventivo: as isenções de carácter objectivo (em função do tipo de operação urbanística em causa) e as isenções de cariz subjectivo (em função da entidade promotora da operação). Nas primeiras, encontram-se as obras de conservação [alínea a) do artigo 6.°], as obras no interior de edifícios [nas condições referidas na alínea b) do n.° 1 do artigo 6.° (156) e as obras referidas no artigo 6.°-A, por remissão da alínea i) do n.° 1 do artigo 6.°], isto é, obras de escassa relevância urbanística (157). Trata-se de situações que não se obras em “imóveis classificados de interesse nacional ou de interesse público e nas respectivas zonas de protecção”, excepções que já decorriam genericamente do referido n.° 1. Somos inclusive de opinião que, nestas matérias, os regulamentos municipais, sempre com respeito pela legislação que estabelece servidões e restrições de utilidade pública, podem assumir uma tarefa importante, ao isentar de controlo prévio tais obras de conservação ou de alteração no interior dos edifícios, sempre que estas operações não colidam com aqueles regimes legais. (156) As obras de alteração no interior dos edifícios estão isentas de controlo desde que, cumulativamente, os edifícios não se encontrem classificados ou em vias de classificação e as referidas obras não impliquem modificações na estrutura de estabilidade, das cérceas, da forma das fachadas e da forma dos telhados. Não se faz agora exigência idêntica à constante da versão inicial do RJUE – que apenas isentava estas obras de controlo prévio, desde que as mesmas não implicassem o aumento do número de fogos (cfr. n.° 4 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 445/91) –, pelo que, actualmente, as obras no interior dos edifícios não classificados ou suas fracções autónomas que não impliquem modificações da estrutura de estabilidade dos edifícios, das cérceas, das fachadas e da forma dos telhados, ainda que tenham como consequência o aumento do número fogos, não se encontram sujeitas a controlo municipal preventivo. (157) A versão inicial do RJUE atribuía aos municípios a tarefa da definição de obras de escassa relevância urbanística para efeitos da dispensa de licenciamento ou autorização (embora se tratasse de obras sempre sujeitas ao procedimento de comunicação prévia). Com a Lei n.° 60/2007, o RJUE passou a integrar, antes de mais, o conceito de obras de escassa relevância urbanística no elenco das definições constantes do artigo 2.° como as “obras de edificação e de demolição que, pela sua natureza, dimensão ou localização tenham escasso impacto urbanístico”, definição que coincide com a constante do n.° 2 do artigo 6.° da versão anterior. O legislador foi, contudo, mais longe, porque, ao invés de se limitar a remeter a concretização deste conceito para os regulamentos municipais, veio identificar, ele próprio, um elenco de situações que necessariamente considera reconduzirem-se a este conceito, embora admita o seu alargamento (mas não já a sua restrição), ao permitir que os municípios identifiquem, em regulamento municipal, outras obras com estas características [alínea g) do n.° 1 do artigo 6.°-A], bem como definir limites superiores às operações por si identificadas (n.° 3 do artigo 6.°-A). Sobre alguns dos problemas práticos decorrentes do artigo 6.°-A do RJUE, vide Fernanda Paula Oliveira /M aria José Castanheira Neves/Dulce L opes/Fernanda M açãs, Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, Comentado, 2.a ed., Coimbra, Almedina, 2009, anotação ao artigo em referência. 160 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão encontram agora sujeitas a qualquer procedimento de controlo preventivo, ao contrário do que sucedia antes, já que, à excepção das obras de conservação, as obras isentas de licença e autorização encontravam-se sempre sujeitas a comunicação prévia. No âmbito das isenções objectivas, integram-se ainda os destaques desde que, ocorrendo dentro do perímetro urbano, dele apenas resultem duas parcelas confrontantes com arruamentos públicos e, tendo lugar fora de perímetro urbano, a parcela destacada, qualquer que seja a sua dimensão (respeitada a área mínima definida no plano), só seja destinada a edifício para fins exclusivamente habitacionais com não mais de dois fogos e a parcela restante respeite a área mínima fixada no projecto de intervenção em espaço rural em vigor ou, quando aquele não exista, a área da unidade de cultura fixada nos termos da lei geral para a respectiva região. Todas as situações identificadas correspondem a uma isenção de controlo preventivo, que não significa, bem pelo contrário, uma isenção de cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos municipais e especiais de ordenamento do território e as regras técnicas de construção (n.° 8 do artigo 6.°) (158). No que concerne às isenções de carácter subjectivo, as mesmas encontram-se identificadas no artigo 7.°, no âmbito do qual estão isentas de licença as operações urbanísticas promovidas pelo Estado, mas apenas as relativas a equipamentos ou infra-estruturas destinados à instalação de serviços públicos ou afectos ao uso directo e imediato do público [alínea b) do n.° 1]; as obras edificação ou demolição da iniciativa de institutos públicos com atribuições específicas na promoção e gestão do parque habitacional do Estado e, agora também, responsáveis pela salvaguarda do património cultural, desde que estejam directamente relacionadas com a prossecução das suas atribuições [alínea c) do n.° 1]; as obras de edificação e demolição promovidas pelas entidades com atribuições específicas na administração das áreas portuárias ou do domínio público ferroviário ou aeroportuário, quando realizadas (158) Sobre as dúvidas suscitadas pelo n.° 10 do artigo 6.°, vide Fernanda Paula OliveiCastanheira Neves/Dulce Lopes/Fernanda M açãs, Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, cit., comentário respectivo. ra /M aria José 161 Fernanda Paula Oliveira na respectiva área de jurisdição e desde que estejam directamente relacionadas com a prossecução daquelas atribuições [alínea d) do n.° 1]; as obras de edificação e demolição promovidas pelos concessionários de obras ou serviços públicos, desde que se reconduzam à prossecução do objecto da concessão e desde que a entidade concedente esteja ela própria isenta de “licença”, ao abrigo do disposto nas demais alíneas deste artigo 7.° [alínea e) do n.° 1]. A este elenco exaustivo acrescem as operações urbanísticas promovidas por empresas públicas relativamente a parques empresarias e similares, nomeadamente, áreas de localização empresarial, zonas industriais e de logística [alínea e) do n.° 1]. Note-se que, ao contrário do que sucedia na versão anterior deste artigo – que isentava as operações urbanísticas nele identificadas, quando promovidas pelas entidades referidas, de licença ou autorização –, a redacção actual deste artigo apenas se refere à isenção de licença. Não obstante, deve considerar-se que em causa está não apenas uma mera isenção de licença, mas também dos restantes procedimentos de controlo preventivo. Aliás, não faria sentido isentar as operações aqui em causa do procedimento de licenciamento (mais formal e complexo) e não as isentar, na mesma medida, quando o procedimento de controlo fosse o mais simples: de comunicação prévia. Deste modo, e por um argumento de maioria de razão, deve considerar-se, não obstante a letra do artigo, que as operações referidas no artigo 7.° se encontram isentas de licença e de comunicação prévia. Já quanto ao procedimento de autorização – que diz exclusivamente respeito à utilização dos edifícios – embora aquelas entidades devam, por princípio, ser abrangida pela referida isenção, não afastamos, contudo, a sua necessidade em situações específicas, como naquelas em que as entidades referidas no artigo 7.° se associam, através de parcerias, com privados (estando, assim, em causa operações muito próximas das sujeitas aos controlos preventivos do RJUE: operações de iniciativa privada) ou o uso a dar aos edifícios seja estritamente privado, isto é, quando se trate de um edifício para colocar no mercado, servindo a autorização de utilização para atestar o uso a que os referidos imóveis devem estar adstritos. Note-se que a isenção de licença, de comunicação prévia e de autorização não significa uma desprocedimentalização destas opera162 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão ções urbanísticas, as quais, para poderem ser concretizadas terão de cumprir um procedimento prévio, que, mais ou menos formal, terá sempre lugar. No sentido da exigência deste procedimento aponta o n.° 7 do artigo 7.° que obriga que os projectos que digam respeito a estas operações sejam elaborados por técnicos habilitados que declaram a sua conformidade com as normas em vigor, nos termos do artigo 10.°, e que manda publicitar o início e o fim do procedimento (artigos 12.° e 78.°, com as devidas adaptações, o que implica que seja publicitada a deliberação que inicia o procedimento e a que o finaliza, sendo o título para registo a certidão desta última). Do mesmo modo, continua, neste procedimento especial, a ser exigível a emissão de pareceres por parte das entidades que legalmente estejam habilitadas para tal. Porém, sempre que seja o município a promovê-las, não terá de recorrer aos mecanismos previstos no artigo 13.°-A, podendo fazê-lo directamente. Já quanto à emissão de tais pareceres, respectivos prazos e efeitos, consideramos aplicável o disposto no artigo 13.°, de modo a tornar mais precisos os moldes em que tais consultas devem ter lugar. Ainda neste procedimento, com excepção das operações da iniciativa dos municípios, terá de ser promovida a consulta à câmara municipal que emitirá parecer, embora não vinculativo. Tratando-se de operações de loteamento e obras de urbanização promovidas pelas autarquias locais e suas associações e se a área não se encontrar abrangida por plano municipal de ordenamento do território, as mesmas terão de ser sujeitas a consulta da comissão de coordenação e desenvolvimento regional territorialmente competente e autorizadas pela assembleia municipal. Tratando-se de operações de loteamento e de obras de urbanização promovidas pelo Estado, devem ser previamente aprovadas pelo ministro da tutela e pelo ministro responsável pelo ordenamento do território, depois de ouvida a câmara municipal e a comissão de coordenação e desenvolvimento regional territorialmente competente. Verifica-se, pois, existir uma tramitação procedimental prévia e a emanação de um prévio acto autorizativo da realização da operação em causa. De forma a não deixar qualquer tipo de dúvidas, decorre do n.° 6 do artigo 7.° que a isenção de que aqui se fala é apenas a de licenciamento (ou de comunicação prévia e autorização municipal) e não a de cumprimento das normas aplicáveis, quer se trate de disposições 163 Fernanda Paula Oliveira normativas de instrumentos de planeamento, quer de normas técnicas aplicáveis (constantes, designadamente, de regulamentos municipais ou do Regime Geral das Edificações Urbanas), quer ainda de normas atinentes à protecção do património cultural ou relativas ao regime jurídico aplicável à gestão de resíduos de construção e demolição (Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Março). Por exemplo, caso o acto emanado pela entidade competente que autoriza a realização da operação urbanística viole um plano municipal de ordenamento do território o mesmo será nulo por força do artigo 103.° do RJIGT. É, precisamente por estas operações terem de cumprir as normas em vigor que o artigo 93.° relativo à fiscalização determina a ela estarem sujeitas todas as operações urbanísticas, independentemente de estarem sujeitas a licença ou comunicação prévia e que as mesmas não se encontram excluídas das medidas de tutela de legalidade, designadamente ordens de embargo e de demolição. 3. A tramitação procedimental 3.1. A tramitação comum aos vários procedimentos a) O RJUE trata, na Secção II, do seu Capítulo II, as questões atinentes às formas de procedimento: o licenciamento, nos artigos 18.° a 27.°, e a comunicação prévia, nos artigos 34.° a 36.°-A, antecedidas das disposições que se apresentam como comuns aos vários tipos de procedimento [requerimento ou comunicação (artigo 9.°); termos de responsabilidade (artigo 10.°); saneamento e apreciação liminar (artigo 11.°); publicidade do pedido (artigo 12.°); consultas a entidades externas (artigos 13.° a 13.°-B); e eventual desencadeamento de um procedimento de informação prévia (artigos 14.° a 17.°)]. Todos os normativos referentes ao procedimento de autorização (artigos 28.° a 33.°) se encontram revogados, parecendo indiciar a extinção desta forma procedimental de controlo, o que, como referimos, não corresponde à realidade, uma vez que o n.° 4 do artigo 4.° determina que a utilização dos edifícios ou suas fracções, bem como as alterações de utilização dos mesmos estão sujeitas a autorização. A opção da lei a este propósito foi a de tratar o procedimento de autorização na parte em que regula, do ponto de vista substancial, 164 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão a operação urbanística a ele submetida (a utilização de edifícios), ao contrário de todas as restantes situações em que as questões (e os trâmites) de ordem procedimental aparecem tratadas em separado das questões de ordem material de cada operação urbanística. Por ter feito esta deslocalização, a sistemática do diploma (designadamente, a opção de tratar separadamente as questões procedimentais e as questões materiais) fica relativamente distorcida, suscitando algumas dúvidas, designadamente, sobre se as normas constantes das disposições gerais são igualmente aplicáveis ao procedimento de autorização. Na nossa óptica, dada a inserção sistemática do procedimento de autorização na parte referente à utilização de edifícios, a aplicação a este procedimento daquelas disposições gerais apenas é feita quando ocorra uma remissão expressa para as mesmas. Note-se que, nos termos do artigo 8.°-A, qualquer dos referidos procedimentos deve tramitar-se de forma desmaterializada, através de um sistema informático regulamentado, de acordo com o preceituado no n.° 2 deste artigo, através da Portaria n.° 216-A/2008, de 3 de Março, que prevê a criação de dois sistemas informáticos ou plataformas – um para os municípios e outro para a Administração central –, sistemas esses que devem articular-se de forma a permitir a sua interoperabilidade. Enquanto não existirem estes sistemas informáticos ou em caso de indisponibilidade dos mesmos após a sua criação, a tramitação continua a processar-se com recurso a suporte em papel, sem prejuízo da eventual entrega de elementos em suporte informático, nos termos do artigo 8.° da citada portaria. Novidade também do ponto de vista procedimental é a previsão de um gestor de procedimento que, embora não seja o instrutor, tem por competência o acompanhamento da instrução. A lei não determina o perfil do trabalhador da Administração local que deve ser escolhido para gestor do procedimento, ficando assim essa escolha ao critério do presidente da câmara, a qual irá naturalmente depender muito dos circunstancialismos próprios de cada município (dimensão, número de trabalhadores afectos ao departamento ou divisão de urbanismo, tipo do projecto, etc.), mas deve ter sempre presente a razão de ser da criação desta nova figura pela lei: o acompanhamento efectivo dos processos, o controlo do cumprimento de prazos e a existência de um único interlocutor no município, no que respeita aos 165 Fernanda Paula Oliveira processos em concreto, para os munícipes e para a CCDR (que, por sua vez, coordena e representa toda a Administração central, directa ou indirecta, que intervém nos procedimentos, em razão da localização). Ora, não cumprirá este objectivo legal a escolha de um gestor que não tenha um conhecimento profundo dos processos que lhe foram distribuídos ou a quem sejam distribuídos processos em tal número que se torna manifestamente impossível o respectivo acompanhamento. De igual modo, não consegue cumprir esta tarefa o funcionário que se encontrar inserido numa carreira que não pressuponha conhecimentos técnicos adequados à interlocução com os munícipes e com a CCDR. b) O artigo 9.° regula a fase procedimental correspondente à iniciativa, sendo os procedimentos aqui em causa, procedimentos de hetero-iniciativa. O procedimento inicia-se com um requerimento ou comunicação. Embora a regra seja a de que em cada requerimento (ou comunicação) apenas deva ser feito um pedido (n.° 2 do artigo 74.° do CPA), admite o n.° 3 do artigo 9.° do RJUE que possam ser formulados conjuntamente pedidos referentes a operações urbanísticas directamente relacionadas entre si. No caso de estarem em causa operações urbanísticas sujeitas a distintos procedimentos de controlo, a lei determina que embora os pedidos possam ser tramitados e apreciados em conjunto (o que pode significar, inclusive, um único gestor do procedimento), terá de se aplicar a forma do procedimento correspondente a cada tipo de operação. Considerando a diferente tramitação dos procedimentos de licenciamento e de comunicação prévia e a celeridade procedimental que é pretendida para estes últimos, designadamente em termos de timings, por comparação com os procedimentos de licenciamento, consideramos que dificilmente se conseguirá dar cumprimento à referida exigência de tramitação e apreciação conjunta, que pressupõe um procedimento similar). A Portaria n.° 232/2008, de 11 de Março, rectificada pela Declaração de Rectificação n.° 26/2008, de 9 de Maio, identifica os elementos que devem instruir os procedimentos aqui em referência. Formulado o pedido ou apresentada a comunicação, estes são publicitados sob forma de aviso, segundo o modelo aprovado pela Portaria n.° 216-C/2008, de 3 de Março, a colocar no local de execução da 166 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão operação de forma visível da via pública, no prazo de 10 dias a contar da apresentação do requerimento inicial ou comunicação (artigo 12.°). c) Segue-se a fase de saneamento e apreciação liminar que visa, após a recepção do pedido ou comunicação, a apreciação das questões de ordem formal e processual que possam obstar ao conhecimento do pedido, correspondendo à concretização do disposto no artigo 83.° do CPA que determina que “O órgão administrativo, logo que estejam apurados os elementos necessários, deve conhecer de qualquer questão que prejudique o desenvolvimento do procedimento ou impeça a tomada de decisão sobre o seu objecto…”. Serve esta fase para aferir a existência dos pressupostos procedimentos, quer de ordem subjectiva – competência do órgão e legitimidade do requerente –, quer objectiva – inteligibilidade, tempestividade do pedido; inexistência de decisão sobre igual pedido do requerente há menos de dois anos, etc. Em causa está a diferenciação entre o dever de pronúncia – que os órgãos administrativos sempre têm perante qualquer assunto que lhe seja apresentado pelos particulares (artigo 9.°, n.° 1, do CPA) – e o dever de decisão – que apenas existe caso estejam verificados os mencionados pressupostos procedimentais. Verificadas estas questões, o órgão administrativo competente (no caso, o presidente da câmara que, para o efeito, é auxiliado pelo gestor do procedimento) pode concluir: – pela existência de todos os pressupostos procedimentais e pela inexistência de qualquer irregularidade formal, dando andamento ao procedimento para a fase de instrução (fase de recolha de elementos que permitam tomar posição quanto ao pedido formulado); – pela existência dos referidos pressupostos, mas com necessidade de correcção do pedido (ou dos documentos a juntar), situação que, por as irregularidades serem sanáveis, deve dar origem a um despacho nesse sentido, de forma a que, sanada a irregularidade, se possa dar andamento ao procedimento. Este despacho é proferido no prazo de oito dias (159); (159) Nesta hipótese, deve ser indicado, de forma expressa, o prazo dentro do qual devem ser apresentados os documentos em falta ou corrigidas as irregularidades, referindo-se a lei, a este propósito, a um prazo de 15 dias para que o pedido seja completado ou corrigido. Este prazo é importante, na medida em que, caso o interessado não dê cumprimento ao determinado, 167 Fernanda Paula Oliveira – pela inexistência dos referidos pressupostos procedimentais ou erros insanáveis no pedido formulado, devendo, neste caso, rejeitá-lo (despacho de rejeição liminar, a ser proferido no prazo de 10 dias). Embora a fase de saneamento sirva apenas para verificar a correcção formal e procedimental do pedido, admite-se que possa haver já, neste momento, uma apreciação da questão de fundo. É isso que decorre do disposto do n.° 4 do artigo 11.°, ao admitir despacho de rejeição liminar quando da análise dos elementos instrutórios resultar que o pedido é manifestamente contrário às normas legais e regulamentares aplicáveis. Neste caso, o despacho deverá ser emitido no prazo de 10 dias a contar da entrega do requerimento. Consideramos não haver lugar, nesta situação, a audiência dos interessados porque esta fase tendente a assegurar a participação, na tomada de decisão, daqueles a quem a mesma diz respeito está pensada para um momento distinto. Com efeito, determina o CPA que a mesma tem lugar “concluída a instrução e antes de proferida a decisão final”, sendo, por isso, seu pressuposto um procedimento que tenha decorrido normalmente, designadamente, por estarem presentes todos os seus pressupostos procedimentais objectivos e/ou subjectivos, mas que, após a instrução, se conclui no sentido do seu indeferimento. Ora, no momento procedimental aqui em análise, estamos numa fase em que não ocorreu qualquer instrução, quer porque faltaram os respectivos pressupostos procedimentais, quer porque dos elementos apresentados se conclui imediatamente pela ilegalidade do pedido formulado. Tal não significa que o órgão competente para esta decisão não possa, facultativamente, dar cumprimento à audiência dos interessados, mas a sua falta não gera um vício procedimental do despacho de rejeição liminar. A fase adequada para apreciar as questões de ordem formal e procedimental é aquela a que aqui nos referimos, determinando por isso a lei que, não ocorrendo rejeição liminar ou convite para corrigir ou completar o pedido ou comunicação nos prazos previstos, se presume que o processo se encontra correctamente instruído. Trata-se de o procedimento considera-se extinto por deserção, valendo, no entanto, para esta extinção do procedimento, o prazo especial aqui referido e não o prazo geral constante do artigo 111.° do CPA (que é de seis meses). 168 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão uma forma de disciplinar a actuação da Administração e de garantir que a posição jurídica do interessado será salvaguardada ao impedir que, a todo o momento, a Administração venha solicitar novos documentos ou pôr fim ao procedimento pelas razões referidas. A presunção aqui instituída é, no entanto, uma presunção iuris tantum já que o n.° 6 do artigo 11.° determina poder o presidente da câmara, a todo o momento, até à decisão final, tomar conhecimento (e actuar em conformidade) de qualquer questão que prejudique o desenvolvimento normal do procedimento ou impeça a tomada de decisão sobre o objecto do pedido, nomeadamente a ilegitimidade do requerente e a caducidade do direito que se pretende exercer. Naturalmente que, numa situação destas, tratando-se de um aspecto fundamentador de rejeição liminar que apenas é detectado numa fase já adiantada do procedimento, pode o particular, caso este facto se tenha ficado a dever a causa imputável à Administração, pedir responsabilidade pelos danos daí decorrentes. É o que sucede se no momento da decisão final do pedido de licenciamento de uma obra particular o presidente da câmara chegar à conclusão que o interessado não tem, afinal, legitimidade, embora os documentos referentes a este pressuposto procedimental estivessem no processo desde o início, podendo e devendo, por isso, ter sido apreciados na fase de saneamento. No caso de existir boa-fé do interessado, pode este imputar responsabilidade à Administração pelas despesas referentes aos projectos de especialidades que mandou elaborar após a aprovação do projecto de arquitectura no pressuposto da correcção formal e procedimental do pedido. Naturalmente, se a ausência deste pressuposto procedimental for imputável ao próprio requerente ou comunicante, não haverá responsabilidade da Administração como também não a haverá naquelas situações em que, devido a um litígio privado, apenas já na fase de decisão administrativa surge a decisão judicial a confirmar não ter o interessado o direito que invocou no pedido ou comunicação (como se verá infra, a contestação judicial do direito que fundamenta o pedido não é, só por si, motivo suficiente para suspender o procedimento, que andará até ao fim, mas sempre sob reserva de direitos de terceiros). Se a sentença judicial surgir entretanto, confirmando a falta de legitimidade, mesmo que se esteja já em fase de decisão final, o pedido deve ser rejeitado (questões de ordem formal) e não indeferido. Pela razão 169 Fernanda Paula Oliveira anteriormente exposta, não é obrigatório, nesta situação, audiência prévia dos interessados. d) Momento relevante da instrução dos procedimentos de gestão urbanística é a dos pareceres a entidades exteriores ao município, encontrando-se a regulamentação desta matéria nos artigos 13.° e 13.°-A, que passam a ser aqueles que regulam, em exclusivo, o relacionamento da câmara municipal com as entidades exteriores aos municípios no que concerne aos procedimentos de controlo preventivo das operações urbanísticas (licenciamentos e comunicação prévias). Com efeito, ao contrário do que sucedia com a versão anterior às alterações de 2007, que excepcionava de alguns aspectos de regulamentação do artigo 19.° “o disposto em legislação especial”, o artigo 13.° não contém agora esta referência de excepção. A inclusão das normas das consultas externas numa subsecção referente às disposições gerais significa a aplicação destas disposições aos procedimentos de comunicação prévia para além dos procedimentos de controlo prévio por licenciamento, mas também a sua não aplicação aos procedimentos especiais constantes dos artigos 37.° e segs. (empreendimentos turísticos, estabelecimentos industriais, etc.), a não ser que estes expressamente remetam para o RJUE. Uma leitura conjugada dos artigos 13.° a 13.-B permite alcançar as seguintes conclusões: – O artigo 13.° contém regulamentação aplicável a todas as consultas externas, (prazo-regra (160), efeitos dos pareceres, autorizações e aprovações não emitidos dentro do prazo legal (161), qualificação dos pareceres como vinculativos (162)), ou seja, contém dispositivos aplicáveis às consultas externas quer sejam solicitadas no âmbito do próprio (160) Este prazo é de 20 dias, com uma única excepção: a dos pareceres, autorizações ou aprovações respeitantes aos imóveis de interesse nacional ou de interesse público, em que o prazo é de 40 dias (n.° 3 do artigo 13.°-A). (161) Findo o prazo referido na nota anterior sem que os pareceres tenham sido recebidos, considera-se haver concordância das entidades consultadas com a pretensão formulada. (162) Na maior parte das vezes, em matéria urbanística, os pareceres mesmo quando qualificados como vinculativos, apenas o são quando emitidos num determinado sentido (em regra em sentido negativo), correspondendo àquilo que a doutrina designa como pareceres conformes. Assim, sendo negativo o parecer, a Administração é obrigada a indeferir, sob pena de nulidade [cfr. alínea c) do n.° 1 do artigo 24.°, em conjugação com a parte final da alínea c) do artigo 68.°, ambos do RJUE]. Pelo contrário, sendo favorável o parecer, a câmara municipal 170 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão artigo 13.°, quer sejam solicitas no âmbito do artigo 13.°-A ou 13.°-B. Define, ainda, o papel do gestor do procedimento no âmbito das consultas externas e quais as consultas que devem ser solicitadas directamente pela câmara municipal às entidades externas: consultas externas respeitantes ao projecto de arquitectura, desde que essa solicitação não respeite a aspectos ligados à localização desse mesmo projecto e consultas no âmbito dos projectos de engenharia das especialidades; – O artigo 13.°-A regula as consultas às entidades externas solicitadas no âmbito do projecto de arquitectura, desde que essas consultas digam respeito à localização desse projecto. Estas consultas são promovidas por uma entidade coordenadora (CCDR) que deve emitir uma decisão global no que respeita às consultas externas referentes ao projecto de arquitectura e requeridas atendendo à localização do mesmo; – O artigo 13.°-B estabelece a possibilidade de os interessados solicitarem as consultas directamente às entidades externas. Dos mesmos normativos decorrem também quais as consultas que devem ser efectuadas directamente pela câmara municipal, de acordo com o estabelecido no artigo 13.°: – as consultas respeitantes ao projecto de arquitectura que não tenham a ver com a sua localização; – as consultas atinentes aos projectos de engenharia das especialidades, identificados no n.° 5 do artigo 11.° da Portaria n.° 232/2008, de 11 de Março; tanto pode deferir o pedido de licenciamento ou admitir a comunicação prévia, como pode, por motivos cuja apreciação lhe caiba efectuar, indeferi-lo ou rejeitá-la. As três condições cumulativas estabelecidas no n.° 6 do artigo 13.° para qualificar os pareceres como vinculativos são: que a lei lhes tenha conferido expressamente esse carácter, regra, aliás, consagrada no CPA, que prescreve que os pareceres são obrigatórios e não vinculativos, salvo disposição em contrário; que se fundamentem em condicionalismos legais ou regulamentares; que os mesmos sejam recebidos dentro dos prazos legais (a regra será o prazo de 20 dias, excepto se se tratar de imóvel de interesse nacional ou de interesse público em que o prazo é de 40 dias). Para Pedro Gonçalves, em regra, os pareceres emitidos no âmbito dos procedimentos urbanísticos conformam ou precludem o exercício do poder decisório dos municípios, pelo que se devem inserir na categoria dos actos prejudiciais. Pedro Gonçalves, “Poderá o parecer vinculante ser um acto recorrível?”, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.° 0 (Novembro/Dezembro de 1996), p. 38. Contudo, quanto à possibilidade de serem impugnados directamente pelos particulares, o Autor citado exclui-a por entender que “na perspectiva do particular a quem se destina o acto conclusivo do procedimento (…) o parecer vinculante não é senão um acto interno, no sentido de que os seus efeitos se esgotam no interior da administração”. 171 Fernanda Paula Oliveira – a consulta a uma única entidade, ainda que esta tenha de se pronunciar em razão da localização (com comunicação à CCDR territorialmente competente). Daqui decorre que a CCDR territorialmente competente tem um papel bastante limitado ou parcelar em matéria de coordenação das entidades que tenham de emanar pareceres. Apenas coordena aquelas que tenham de se pronunciar sobre a localização, ficando todas as restantes fora da sua alçada. Para além do mais, apenas terão de ser consultadas por intermédio da CCDR aquelas entidades que tendo de se pronunciar sobre o projecto de arquitectura em função da sua localização, sejam entidades que integram a Administração directa (central ou periférica) ou indirecta do Estado, o que pressupõe uma indagação da natureza jurídica da respectiva entidade e conhecimentos da organização administrativa. Refere o n.° 5 do artigo 13.°-A que a CCDR deve convocar uma conferência de serviços sempre que existam posições divergentes entre as entidades consultadas. Esta afirmação é tudo menos clara na medida em que se tivermos em conta a organização administrativa do Estado, onde cada Ministério e cada ente que integra a sua Administração indirecta detêm distintas atribuições, teremos de concluir que cada uma se pronuncia sobre aspectos diferenciados de uma mesma pretensão. Por este motivo, consideramos não haver identidade entre posições divergentes e posições não coincidentes. Assim, não consideramos que seja divergente, a propósito da uma mesma pretensão, um parecer desfavorável em função de um interesse público e um parecer favorável por motivos relacionados com outro interesse público. Afirmar que não sendo coincidentes as posições das várias entidades, as mesmas terão de acertar-se numa posição única que, se não for alcançada, é proferida pela CCDR territorialmente competente, é pressupor, ainda, que a CCDR tem atribuições naquelas matérias, o que claramente não sucede. Na nossa óptica, uma entidade, para coordenar outras, terá de se posicionar “acima” delas, o que não sucede com a CCDR, que se integra, ela própria, num Ministério. Deste modo, poderá não existir divergência, em nosso entender, mesmo que uma das entidades sectoriais tenha uma pronúncia favorável e outra uma pronúncia desfavorável, dado que o âmbito da sua intervenção pode incidir sobre pontos que não se cruzam, isto é, sobre 172 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão matérias em que não exista entre as duas análises qualquer interligação ou possibilidade de acerto. Divergência pressupõe uma base comum de análise pelo que se ela não existir nunca se poderão classificar as pronúncias como divergentes, mesmo quando uma seja favorável e outra desfavorável, não devendo, nestes casos, ser convocada a conferência decisória prevista no n.° 5 deste artigo (163). Uma questão que se pode colocar é a de saber se o parecer da CCDR tem, em face da câmara municipal, carácter vinculativo. Com efeito, o artigo 13.°-A apenas afirma expressamente que o parecer da CCDR “vincula toda a Administração central “(rectius estadual) – n.° 1. Na nossa óptica, uma vez que em causa está um parecer que substitui vários pareceres que assumem, quando negativos, natureza vinculativa, o mesmo tem, necessariamente, este carácter. Uma outra novidade é trazida pelo n.° 8 do normativo aqui em referência. Esta solução merece-nos, contudo, alguns reparos. Antes de mais, aí se refere expressamente que o parecer pode ter um conteúdo negativo por o projecto ser desconforme com instrumentos de gestão territorial, o que coloca dois problemas: indicia, caso o instrumento de planeamento em causa seja municipal, que cabe às entidades da Administração central apreciar o seu cumprimento, o que viola as atribuições municipais a quem esta tarefa se encontra atribuída; determina, caso não se trate de um plano municipal ou de um plano especial, que estes instrumentos de gestão territorial podem afectar os interessados, levando ao indeferimento de pretensões urbanísticas privadas desde que fundamentem um parecer negativo, quando o RJIGT é claro a determinar não serem estes planos dotados de eficácia plurisubjectiva, apenas podendo os mesmos afectar os interessados após a integração das suas opções nos planos directamente vinculativos dos particulares. Por outro lado, admite, esta norma, que se possa vir a alterar um plano para permitir uma operação que o mesmo impedia, legitimando, assim, a modelação e o ajuste das soluções dos planos às operações concretas e não o contrário. Esta solução, obviamente, apenas deve poder ser adoptada em situações excepcionais, o que se encontra salva(163) Sobre esta questão, vide Fernanda Paula Oliveira, “A alteração legislativa ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação: uma lebre que saiu gato…?”, in Direito Regional e Local, n.° 00 (Outubro/Dezembro de 2007). 173 Fernanda Paula Oliveira guardado pelo facto de o normativo em referência exigir que aquelas alterações se fundamentem em relevantes interesses de ordem regional ou municipal (164). Refira-se, por fim, a possibilidade de o interessado poder promover directamente as consultas. A Lei n.° 60/2007 introduziu a este propósito, algumas especificidades: – Estabeleceu-se um prazo de “validade” dessas mesmas consultas que é, em princípio, de um ano, contado desde a emissão dos pareceres, autorizações ou aprovações; – Esse prazo pode ser prorrogado desde que não se tenham alterado os pressupostos de facto e de direito em que os mesmos se basearam. Note-se que, como referimos, o n.° 5 do artigo 13.° é um dos preceitos aplicáveis a todas as consultas externas, pelo que se considera haver concordância das entidades externas se as suas pronúncias não forem recebidas no prazo de 20 ou de 40 dias, ainda que solicitada pelo interessado. Para estes efeitos, estipula o n.° 2 deste artigo que o requerimento inicial pode seja instruído com a prova da solicitação das consultas do requerente ou comunicante e de que as consultas não foram emitidas dentro dos prazos. Perante a faculdade prevista nesta norma, é ilegítima a posição de algumas entidades que se recusam a emitir parecer quando solicitado pelos particulares. Com efeito, como aqui se estipula, se aquelas entidades não responderem dentro do prazo, o parecer considera-se favorável, ainda que tenha sido solicitado por estes. Note-se que, tendo os pareceres sido solicitados pelo interessado, é inadmissível ao município promover nova consulta: basta a declaração do interessado (165). Mesmo que a ausência dos pareceres gere a nulidade do acto, esta será sempre imputável ao interessado. (164) Sobre estes pontos, vide Fernanda Paula Oliveira, “A alteração legislativa ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação: uma lebre que saiu gato…?”, cit. (165) Sobre este aspecto, vide o nosso “Repetição Devida ou Indevida”, Comentário ao Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 9 de Julho de 1998, Processo n.° 43 867, in Revista do Centro de Estudos do Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, n.° 14, Ano VII – 2.04, pp. 115 e segs., Coimbra, Coimbra Editora. 174 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão Caso o interessado não tenha promovido todas as consultas, o gestor do procedimento promove as que faltarem que, se respeitarem à localização, serão solicitadas através da CCDR, enquanto entidade coordenadora. Embora este artigo não seja claro, consideramos que ainda que o interessado tenha solicitado todas as consultas, deve o gestor do procedimento identificar aquelas que deveriam ter sido solicitadas pela CCDR e remeter para esta entidade as suas pronúncias de forma a que a mesma confirme se as posições são convergentes (emanando de imediato o parecer único da Administração central) ou, se forem divergentes, convoque a conferência decisória. Esta é a única forma de se garantir o objectivo pretendido pelo legislador: que a Administração estadual se pronuncie, perante o município, de uma só vez e a uma só voz. Não importa, assim, para estes efeitos, quem solicitou os pareceres, mas sim a eventual divergência que encerrem. 3.2. Algumas especificidades do procedimento de licenciamento a) Típico do procedimento de licenciamento é a existência de uma fase formal de apreciação dos projectos (de arquitectura, de loteamento, etc.). No que concerne às obras de construção, o procedimento de licenciamento está dividido em dois momentos (subfases): a primeira, atinente à apreciação e aprovação do projecto de arquitectura; a segunda, referente à apresentação dos projectos de engenharia de especialidades, conduzindo, caso estes não coloquem problemas específicos, ao licenciamento da obra. Admite-se, desde a versão inicial do RJUE, que os projectos de especialidade sejam entregues logo com o requerimento inicial (juntamente com o projecto de arquitectura), mas continua a existir a obrigação de o órgão competente apreciar primeiro o projecto de arquitectura e, apenas caso este seja aprovado, se passe para o momento seguinte, referente às especialidades. Na situação, mais provável, de os projectos de engenharia de especialidades serem apresentados apenas após a aprovação do projecto de arquitectura, tem o interessado um prazo de seis meses para o fazer, prazo esse que pode ser prorrogado por uma só vez e por período não superior a três meses, mediante requerimento fundamentado apresen175 Fernanda Paula Oliveira tado antes do respectivo termo. A falta de apresentação dos projectos de engenharia das especialidades após estes prazos máximos, implica a suspensão do procedimento de licenciamento pelo período máximo de seis meses, findo o qual é declarada a caducidade após audiência prévia do interessado (166). É na apreciação do projecto de arquitectura que a câmara municipal analisa as questões de cariz urbanístico (aquelas pelas quais ela é responsável), como o cumprimento dos planos municipais e especiais de ordenamento do território, de medidas preventivas eventualmente em vigor, de áreas de desenvolvimento urbano prioritário e de construção prioritária; das servidões administrativas e das restrições de utilidade pública; e ainda as questões atinentes à respectiva inserção urbana e paisagística bem como sobre o uso proposto, devendo esta apreciação ser efectuada na perspectiva formal e funcional, tendo em atenção o edificado existente bem como o espaço público envolvente e as infra-estruturas existentes e previstas (artigo 20.°). É também desta perspectiva que são apreciados os projectos de loteamento urbano (artigo 21.°). Em grande parte desta apreciação é deixada à Administração um espaço de apreciação própria que se reconduz, indubitavelmente, ao domínio de discricionariedade administrativa. b) Estando em causa o licenciamento de operações de loteamento, há lugar a uma fase de consulta pública (artigo 22.°). Tal como se afirmava no preâmbulo inicial do RJUE, a submissão das operações de loteamento a consulta pública tem como pressuposto o facto de se entender que o impacto urbanístico provocado por uma operação deste tipo em área não abrangida por plano de pormenor tem implicações no ambiente urbano que justificam a participação das populações locais no respectivo processo de decisão, não obstante poder existir um plano director municipal ou plano de urbanização sujeitos, eles próprios, a prévia consulta pública. Não existindo prévio plano de pormenor, a operação de loteamento vai servir simultaneamente de instrumento de planeamento e de (166) Este prazo de suspensão corresponde, na prática, a uma nova prorrogação do prazo para a entrega dos projectos de especialidade. 176 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão execução urbanística, já que integra elementos essenciais de programação das regras aplicáveis a uma área determinada, pelo que os cidadãos devem ter tanto ou mais interesse em participar na sua discussão pública como têm em participar na discussão dos diversos instrumentos de gestão territorial. Existe, no entanto, uma diferença fundamental entre planeamento municipal e licenciamento de loteamentos urbanos: neste caso, estamos já no âmbito dos actos administrativos de gestão urbanística que apenas podem ser indeferidos nas situações expressamente previstas na lei, não dispondo, por isso, a entidade administrativa, dos mesmos poderes discricionários de que dispõe quando elabora instrumentos de planeamento, o que pode colocar em causa a eficácia, pelo menos nos termos pretendidos, desta consulta pública. Talvez por isto, no regime actualmente em vigor, a regra é a isenção deste trâmite e a excepção a sua exigência: nas situações em que a operação de loteamento exceda um dos seguintes limites: 4 hectares, 100 fogos ou 10% da população do aglomerado urbano em que a pretensão se insere. Abaixo destes limites, apenas haverá lugar a consulta pública mediante previsão em regulamento municipal. A lei não prevê, agora, os trâmites a que deve obedecer a consulta pública, nas hipóteses em que seja exigida (por exigência legal ou regulamentar), dado não existir na actual redacção tal regulamentação (contrariamente à anterior, que remetia esses aspectos procedimentais para a discussão pública prevista no RJIGT, sem prejuízo de regular especialmente as matérias referentes a prazos – mais curtos do que os do RJIGT – e ao conteúdo documental que deveria ser objecto de discussão pública). Na falta de previsão legal sobre os procedimentos de consulta pública, terão que ser os regulamentos municipais a disciplinar estas matérias. Ao contrário da sua versão inicial, o artigo 22.° não prevê agora a possibilidade de sujeição a consulta pública de outras operações urbanísticas, ainda que mediante exigência regulamentar e desde que com significativa relevância urbanística. Tal não impede, porém, que o município faça essa opção, solução que tem razão de ser quando em causa estão operações com impacte semelhante a um loteamento ou com impacte urbanístico relevante. 177 Fernanda Paula Oliveira c) A deliberação final do pedido de licenciamento consubstancia o acto de licenciamento se for de deferimento (artigo 26.°) ou, no caso de indeferimento, a negação desse mesmo pedido. Se a proposta de deliberação for desfavorável, deve ser promovida, previamente à deliberação de indeferimento, a audiência prévia do interessado, nos termos do artigo 100.° do CPA, segundo o qual, “concluída a instrução, e salvo o disposto no artigo 103.°, os interessados têm o direito de ser ouvidos no procedimento antes de ser tomada a decisão final, devendo ser informados, nomeadamente, sobre o sentido provável desta”, tratando-se de uma norma aplicável a todos os procedimentos administrativos, mesmo aos especiais, criados ao abrigo de direito anterior. O artigo 23.° estabelece os prazos máximos (prazos procedimentais, contados nos termos do artigo 72.° do CPA) para as deliberações respeitantes a pedidos de licenciamento. Se, findos estes prazos, não houver deliberação, pode o interessado pedir ao Tribunal Administrativo que intime a autoridade competente para proceder à prática do acto que se mostre devido, nos termos do artigo 112.°. A deliberação que consubstancia o deferimento do pedido de licenciamento corresponde ao momento constitutivo do procedimento administrativo em causa, embora a lei entenda que este acto apenas poderá produzir os respectivos efeitos jurídicos após a emissão do documento que serve de título à licença: o alvará, que assume, assim, a natureza jurídica de acto integrativo da eficácia do acto de licenciamento por nada acrescentar à definição da situação jurídica do particular perante a possibilidade de realizar a operação urbanística, apenas permitindo desencadear a sua operatividade. De facto, o alvará apenas permite que o acto de licenciamento produza os seus efeitos, não relevando para a definição de momentos intrínsecos do mesmo, aliados estes à noção de validade e não ao conceito de eficácia. A licença corresponde a um verdadeiro acto administrativo que “remove o limite legal ao exercício do “direito”de concretizar a operação urbanística” e que define as condições de exercício do mesmo ou, se preferirmos, é o acto que confere ao promotor o direito a realizar a operação urbanística pretendida. Trata-se de um acto que desencadeia benefícios para terceiros, na medida em que se assume como de cariz favorável aos seus destinatários, podendo ainda ser considerada como uma autorização constitutiva de direitos, pela qual a Administração constitui direitos em favor dos particulares, em áreas que, salvo 178 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão a prática deste acto administrativo, se lhes encontram vedadas, por se considerar, em abstracto, que a sua atribuição aos mesmos lesaria o interesse público. O n.° 6 do artigo 23.° admite, no que concerne às obras de edificação, que estas possam iniciar-se antes mesmo de obtido o acto final de licenciamento: desde que, imediatamente a seguir à aprovação do projecto de arquitectura e tendo sido entregues todos os projectos de especialidade (de forma a evitar a caducidade daquela) bem como prestada caução, seja requerida e concedida licença parcial para a construção da estrutura do edifício (167). d) A licença concedida pode ser objecto de alteração, quer antes do início das obras ou trabalhos, quer durante a execução da obra (artigo 83.°). São, designadamente, as seguintes as especificidades procedimentais a cumprir nas situações de alteração das licenças: i.) São dispensadas novas consultas a entidades exteriores ao município, desde que os pedidos de alteração se conformem com os pressupostos de facto e de direito dos pareceres, autorizações ou aprovações já emitidos (e desde que estes se hajam pronunciado sobre os elementos agora sob apreciação). ii.) Podem ser utilizados no procedimento de alteração os documentos do procedimento inicial que se mantenham válidos e adequados, devendo ser aplicado aqui, por paralelismo de situações e ainda que com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 72.° quanto à possibilidade de utilização dos documentos noutro procedimento após a caducidade do primeiro procedimento. iii.) A alteração dá apenas lugar a aditamento ao alvará de licenciamento e não à emissão de um novo alvará, que, no caso de operação de loteamento, deve neste caso ser comunicado oficiosamente à conservatória do registo predial para averbamento. (167) Esta licença parcial para a construção da estrutura é titulada por um alvará, estando a emissão deste sujeita, nos termos do n.° 4 do artigo 116.° do RJUE, ao pagamento de uma taxa pela emissão da licença. Não se trata, contudo, de um novo facto sujeito a uma nova taxa, mas da taxa pela emissão da licença que, sendo paga nesta fase, não o terá de ser com a emissão do alvará definitivo. Em alguns regulamentos municipais, opta-se por fazer pagar uma parte da taxa neste momento e a parte restante no momento da emissão do alvará definitivo, solução que nos parece a mais adequada. 179 Fernanda Paula Oliveira Estando em causa a alteração de uma licença de loteamento, para além do que acabámos de referir, poderá haver lugar a consulta pública (o que ocorrerá quando a mesma esteja prevista em regulamento municipal ou quando sejam ultrapassados alguns dos limites previstos no n.° 2 do artigo 22.°). Acresce ainda às regras gerais da legitimidade atinente aos procedimentos urbanísticos – que exige que o interessado na alteração seja titular de um direito que lhe permita efectivar a mesma (168) –, exigências acrescidas neste domínio, com vista à protecção da confiança de terceiros adquirentes dos lotes. Assim, para que a alteração a uma licença de loteamento possa ser legitimamente aprovada, exige-se que não ocorra oposição da maioria dos titulares dos lotes constantes do alvará, ou seja, da totalidade da área do loteamento. De forma a garantir que a não oposição decorra de uma opção consciente dos adquirentes dos lotes, exige-se que o gestor do procedimento notifique os proprietários dos lotes para esse efeito. Na ausência de regulamentação própria em regulamento municipal, tal notificação terá de ser feita nos termos previstos no CPA. Uma regulamentação municipal especial pode fazer sentido, ora para permitir que o interessado apresente logo, com a apresentação do requerimento para a alteração, os documentos comprovativos da referida não oposição, ora exigindo, tal como na informação prévia quando pedida para prédios de terceiros, que os interessados entreguem as certidões do registo predial com a sua identificação. Nos termos do CPA, para situações mais complexas em que esteja em causa um número elevado de interessados a notificar – como pode suceder em muitas destas situações –, admite-se que a notificação seja feita por edital, nos termos dos procedimentos de massas. Esta possibilidade de notificação por via de edital aliada à regra agora vigente de inexistência de consulta pública (que apenas ocorrerá quando prevista em regulamento municipal) torna, comparativamente com o regime anterior à Lei n.° 60/2007, os adquirentes dos lotes mais desprotegidos na sua capacidade de intervenção (e de poder condicionar) a alteração ao loteamento. (168) Podendo ser o próprio município relativamente a lotes ou parcelas de que seja titular, ainda que tenham sido objecto de cedências. Cfr. Fernanda Paula Oliveira, “Cedências para o domínio público e alterações a loteamento: como conciliar?”, Anotação ao Acórdão do STA de 20.10.1999, Processo n.° 44 470, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.° 21 (Maio/ /Junho de 2000). 180 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão A tramitação anteriormente referida e a garantia de terceiros adquirentes dos lotes não tem de ser cumprida quando estejam em causa alterações até 3% das áreas de implantação e de construção (com ou sem variação do número de lotes) previstas na licença de loteamento (n.° 8 do artigo 27.°), sendo aprovadas por mera deliberação da câmara municipal, sem prejuízo do cumprimento das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. 3.3. Especificidades das comunicações prévias O procedimento de comunicação prévia, que se perspectiva, na óptica do RJUE, como um procedimento mais simples e mais célere, tem, afinal, de cumprir uma tramitação procedimental com alguma complexidade. Assim, para além das já referidas fases de entrega do pedido (artigos 9.° e 35.°); publicitação do mesmo no local de execução da obra (artigo 12.°); saneamento e apreciação liminar (artigo 11.°); eventual consulta a entidades externas (artigos 13.°, 13.°-A e 13.°-B), tem ainda de ultrapassar as seguintes fases: a) apreciação da comunicação (conjuntamente do projecto de arquitectura e de especialidades); b) eventual celebração de “instrumento notarial próprio” para transmissão das cedências (artigo 44.°, n.° 3) quando a elas haja lugar; c) eventual audiência prévia, nos termos do CPA (nos casos em que se conclua que a comunicação é para rejeitar) (169); (169) Questiona-se, em face da omissão no texto legal actual, se deve haver lugar a audiência prévia do interessado (artigo 100.° do CPA) no caso de o projecto de decisão final ser de rejeição. Em nossa opinião, em face do tipo de trâmite que aqui está em causa, concretizador do princípio constitucional da participação dos interessados, e da formulação do CPA que obriga, ainda que supletivamente, à introdução deste trâmite nos procedimentos em que se prevê um desfecho desfavorável para o interessado, a resposta tem de ser positiva. E não se diga que, por em causa estar um acto vinculado, tal trâmite pode ser afastado por a participação do interessado não ter influência no sentido da decisão. É que, mesmo nestas situações, sempre poderá o interessado impedir o surgimento de um acto por erro quanto aos pressupostos. Ora, a exigência do trâmite da audiência prévia dos interessados não poderá deixar de ser tida em consideração, pelo que os prazos para a admissão da comunicação prévia (de 20 ou de 60 dias) terão de ser contabilizados em conformidade, o que não deixa de ser um factor de incerteza. Esta suspensão é motivada, claramente, não no interesse do município, mas na garantia dos direitos procedimentais do interessado, pelo que se tem por admissível e devida. 181 Fernanda Paula Oliveira d) a decisão final de rejeição da comunicação (artigo 36.°, n.° 1) – a qual é expressa – ou de admissão da mesma (artigo 36.°-A, n.° 1) – a qual resulta da ausência de decisão de rejeição. Finda esta tramitação haverá, ainda, lugar, a: a) notificação do acto de rejeição ou informação do acto de admissão; b) titulação da admissão pelo recibo da sua apresentação e comprovativo de admissão (artigo 74.°, n.° 2). Enquanto o sistema informático não estiver a funcionar, titulação por uma certidão independente de registo; c) publicitação (artigo 78.°, n.° 5); d) pagamento de taxas por autoliquidação (artigos 36.°-A, n.° 2, 80.°, n.° 2, e 116.°). Uma análise comparativa entre o actual procedimento de comunicação prévia e aquele que se encontrava previsto no RJUE, antes das alterações de 2007, permite concluir que se trata de dois procedimentos completamente distintos que apenas têm em comum a respectiva designação (170). No que concerne à natureza jurídica dos actos que procedem ao desfecho do procedimento de comunicação prévia, da perspectiva do (170) Na versão inicial do RJUE, o procedimento de comunicação prévia correspondia a um procedimento de controlo bastante simplificado, previsto para operações com impacto urbanístico muito reduzido. O pedido para a realização destas operações era dirigido, sob a forma de comunicação, ao presidente da câmara, ao qual se anexavam as peças escritas e desenhadas indispensáveis à identificação das obras e à respectiva localização, bem como o termo de responsabilidade assinado por técnico legalmente habilitado. Seguia-se uma fase de apreciação liminar, no âmbito da qual o presidente da câmara tinha um prazo máximo de 20 dias para determinar a sujeição da obra a licença ou a autorização – o que ocorreria quando se verificasse que as operações urbanísticas não se integravam no âmbito do procedimento de comunicação prévia ou quando concluísse existirem fortes indícios de que a obra violava normas legais e regulamentares em vigor. No caso de o interessado não ser notificado para sujeitar o seu pedido a licenciamento ou autorização, podia iniciar as obras, 30 dias após a entrega da comunicação prévia, o que significava que a ausência de resposta da Administração naquele prazo tinha um efeito permissivo, podendo iniciar-se as obras pretendidas. Característica deste procedimento era, como decorre do que foi descrito, a ausência de uma decisão final expressa, fosse em sentido favorável à comunicação do interessado, fosse em sentido desfavorável. Com efeito, sempre que no âmbito deste procedimento o presidente da câmara concluísse que a obra violava normas legais e regulamentares aplicáveis, determinava a sujeição do pedido a licenciamento ou autorização para que o mesmo pudesse ser devidamente apreciado e eventualmente objecto de indeferimento expresso (cfr. n.° 2 do artigo 36.° do diploma ainda em vigor). 182 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão legislador, os mesmos assumem sempre a natureza de acto administrativo. Quando o desfecho do procedimento for desfavorável à comunicação do interessado, o presidente da câmara pratica um acto que se designa de rejeição (171), o qual deve, necessariamente, ser expresso e ser praticado dentro do prazo legal, caso contrário, formar-se-á, por força da própria lei, um acto de admissão (favorável à pretensão). O que significa que o município, de modo a impedir a formação do acto de admissão (o qual é fictício), deve praticar o acto contrário no prazo previsto para o efeito, correspondendo a prática desse acto ao exercício de um “direito de veto” fundamentado por parte da Administração. O acto de admissão da comunicação prévia corresponde, nos termos da lei, ainda que sendo meramente fictício, a um acto administrativo, não apenas por razões formais (cfr. a epígrafe do artigo 36.°-A), mas pela equiparação que dele é feita à licença em vários normativos legais – invalidade e nulidade do acto de admissão (artigos 67.° e 68.°), revogabilidade (artigo 73.°), declaração de caducidade (artigo 71.°), renovação (artigo 72.°), prorrogação (artigo 53.°, n.° 3). Note-se que, embora esteja em causa um acto que resulta do silêncio da Administração, este não coincide com o tradicional acto tácito, na medida em que este ocorre quando, tendo a Administração um dever legal de decidir, não o faça dentro do prazo estipulado. Ora, no caso da comunicação prévia, o órgão competente apenas tem o dever legal de decidir se for para rejeitar a comunicação, não havendo um correspectivo dever legal de decidir de forma favorável. Com efeito, determina a lei que, se a pretensão cumprir todas as normas legais e regulamentares aplicáveis, não tem a Administração de proferir uma decisão expressa favorável, bastando que nada diga. Embora em causa também esteja um acto resultante do silêncio, o qual também vale, para todos os efeitos, como um acto administrativo, não tem os mesmos pressupostos que o acto tácito. (171) Acto que não pode ser confundido com aquele que, na fase de saneamento e apreciação liminar, coloca fim ao procedimento por motivos de ordem formal ou procedimental. É que na rejeição da comunicação prévia, considerando os fundamentos que podem ser invocados para o efeito, está em causa um verdadeiro indeferimento material do pedido e não uma rejeição formal da comunicação. 183 Fernanda Paula Oliveira 3.4. Especificidades das autorizações A autorização de utilização destina-se actualmente a verificar a conformidade da obra concluída com o projecto aprovado e com as condições do licenciamento ou da comunicação prévia (n.° 1 do artigo 62.°). Nos casos em que esteja em causa a mudança de finalidade que não implique a realização de obras ou quando se trate de alteração da utilização ou de autorização de arrendamento para fins não habitacionais de prédios ou fracções não licenciados, nos termos do n.° 4 do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 160/2006, de 8 de Agosto, a autorização destina-se a verificar a conformidade do uso previsto com as normas legais e regulamentares aplicáveis e a idoneidade do edifício ou sua fracção autónoma para o fim pretendido. A decisão sobre o pedido de autorização deve ser proferida no prazo de 10 dias a contar do respectivo requerimento, prazo que apenas se alarga quando os termos de responsabilidade exigíveis não tiverem sido entregues ou ocorra indício de violação do projecto ou suas condições ou que o edifício ou fracção não são idóneos para o fim pretendido, uma vez que neste caso terá de ser desencadeada uma vistoria. Esta é determinada (e não apenas admitida) quando existam indícios sérios de desconformidade com o projecto de obra ou, no caso de este não existir, de que o edifício ou fracção não são idóneos para o fim pretendido, ao que acrescentaríamos, em qualquer dos casos, a existência de indícios sérios de violação de normas legais e regulamentares, uma vez que também esta questão cabe no âmbito de apreciação da autorização de utilização [alíneas b) e c) do n.° 2 do artigo 64.°]. Há uma hipótese, no entanto, em que a determinação da realização da vistoria passa a ser estritamente um acto vinculado: na situação da alínea a) do n.° 2 do artigo 64.°: a não instrução com os termos de responsabilidade previstos no artigo 63.°. 3.5. Os títulos dos actos de gestão urbanística Nos termos do artigo 74.°, existe sempre um documento que serve de título às decisões que põem termo aos procedimentos de gestão urbanística: no caso do licenciamento e da autorização, o alvará; no 184 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão caso das comunicações prévias, o recibo da comunicação, juntamente com o comprovativo da admissão (neste caso, apenas se não ocorrer a situação prevista no n.° 2 do artigo 36.°-A). O alvará é condição de eficácia da licença, mas já não da autorização (172). No caso dos loteamentos que fiquem sujeitos ao procedimento de comunicação prévia, é este título que deve ser levado ao registo, sendo, assim, essencial, para que este desempenhe cabal e satisfatoriamente a sua função publicizante, que do mesmo constem todos os elementos enunciados no artigo 77.°, n.° 1. De forma a garantir que assim seja, exige o legislador que as especificações previstas para o alvará de loteamento sejam identificadas na apresentação do pedido a sujeitar a comunicação prévia. No caso do loteamento com obras de urbanização, estão em causa duas operações urbanísticas distintas, cada uma sujeita ao respectivo acto de controlo. Embora se trate de operações urbanísticas distintas, as mesmas, por se encontrarem directamente relacionadas, sempre foram objecto de um único título (um alvará). Esta situação muda agora, já que, embora os loteamentos se encontrem sujeitos, em regra, a licenciamento, acto que é titulado por alvará, as respectivas obras de urbanização estão sujeitas a comunicação prévia, cujo título não é aquele. Ora, a este propósito, não obstante o n.° 3 do artigo 76.° se refirir a autorização em vez de admissão da comunicação prévia das obras de urbanização, consideramos continuarem ambos os actos a ser objecto de um único título, que é o correspondente ao do acto mais solene (o alvará). É este o sentido do n.° 3 do artigo 76.°: no caso de operação de loteamento que exija a realização de obras de urbanização, é emitido um único alvará, que deve ser requerido no prazo de um ano a contar da admissão da comunicação prévia das obras de urbanização. Pode, porém, a operação de loteamento, quando tenha sido antecedida de informação prévia favorável emitida nos termos do n.° 2 do artigo 14.°, estar sujeita a comunicação prévia, situação em que teremos a admissão da comunicação prévia do loteamento e a admissão da comunicação prévia das respectivas obras de urbanização. (172) Sobre este ponto, vide Fernanda Paula Oliveira /M aria José Castanheira Neves/ /Dulce Lopes/Fernanda M açãs, Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, cit., comentário ao artigo 74.°. 185 Fernanda Paula Oliveira Neste caso, e como se pode facilmente concluir, não poderá ser emitido um único alvará, pelo simples facto de que nenhum daqueles actos o tem por título. Terão, assim, de ser emitidos títulos separados referentes a cada uma daquelas operações urbanísticas: o recibo de entrega e o recibo da admissão da comunicação prévia da operação de loteamento e o recibo de entrega e o recibo da admissão da comunicação prévia das obras de urbanização. Note-se, porém, que em causa está uma operação de transformação fundiária (loteamento) que terá de ser levada a registo, colocando-se a questão de saber qual o título que deverá ser utilizado para o efeito. Como referimos, esse título sempre foi um alvará de loteamento com obras de urbanização, sendo certo que a obtenção do mesmo apenas era conseguido depois de entregues e decididas as respectivas obras de urbanização. Este aspecto é relevante na medida em que, ainda que decidido favoravelmente o loteamento, este caduca se o procedimento tendente a apreciar as obras de urbanização não for iniciado num determinado prazo, sendo que a emissão do alvará único neste caso é a garantia de que o interessado não irá registar um loteamento que possa vir depois a caducar por ausência de entrega dos projectos das obras de urbanização. Poderá perguntar-se como controlar este facto agora, já que não haverá um título único a ser emitido apenas no final dos procedimentos tendentes a cada um daqueles actos administrativos. Na nossa óptica, tratando-se de um loteamento com obras de urbanização, o mesmo apenas deve ser objecto de registo após a comunicação prévia destas ter sido admitida. O que significa que deve resultar claramente do título da admissão da comunicação prévia do loteamento que este tem obras de urbanização, devendo neste caso o conservador exigir que lhe seja exibido, para efeitos do registo, também o título da admissão da comunicação prévia daquelas, apenas podendo proceder ao registo após a exibição destes dois documentos. 4. O procedimento de informação prévia Ainda no âmbito dos procedimentos urbanísticos, assume particular relevo o pedido de informação prévia, um procedimento administrativo tendente à prática de um acto que se pronuncie sobre a viabi186 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão lidade de uma determinada pretensão vir a obter uma decisão favorável no âmbito de outro procedimento tendente ao seu controlo (actualmente, o procedimento de licenciamento ou de comunicação prévia) (173). Antes de mais, convém não confundir o pedido de informação prévia (artigos 14.° e segs.) com o direito à informação (artigo 110.°), distinção que assenta, no seu essencial, na diferente natureza do pedido formulado: enquanto neste último o requerente pretende saber quais as normas em vigor para uma determinada área ou se esta é abrangida por servidões administrativas, restrições de utilidade pública ou outras condicionantes ao uso dos solos, naquele, o requerente tem em vista uma concreta pretensão urbanística, servindo este pedido para que a Administração verifique se tal pretensão pode vir a ser deferida, tendo em conta as normas urbanísticas em vigor. Trata-se, pois, de uma faculdade reconhecida a qualquer interessado de solicitar à câmara municipal informação sobre a possibilidade de vir a obter decisão favorável no âmbito do procedimento administrativo que terá de ser desencadeado para o efeito, relativo a uma determinada operação urbanística que pretende levar a cabo, bem como os respectivos condicionamentos. Embora se trate de um instituto que tem vindo a sofrer, ao longo dos vários regimes jurídicos sobre a matéria, uma evolução que o tem vindo a fazer perder grande parte das suas características típicas iniciais (174), o pedido de informação prévia sempre surgiu como um instrumento (um procedimento) que permite àqueles que estão interessados na realização de uma determinada operação urbanística obter ganhos de tempo e de dinheiro já que, se a câmara municipal se pronunciar desfavoravelmente sobre a possibilidade de realizar a operação urbanística pretendida pelo interessado, este não mandará elaborar projectos que sabe irão ser indeferidos, nem desencadeará procedimentos de controlo que sabe irão terminar com uma decisão desfavorável. O pedido de informação prévia corresponde, assim, a uma prática que sempre foi mais ou menos corrente e que equivale à apresentação de (173) Sobre o pedido de informação prévia, cfr. a nossa Anotação ao Acórdão do STA de 20.06.2002, Processo n.° 142/02, 1.a Secção do Contencioso Administrativo, in Revista do Centro de Estudos do Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, n.° 9 (2002). (174) Referimo-nos, em especial, ao alargamento da legitimidade para formular um pedido de informação prévia que, por não coincidir com a legitimidade para formular o correspondente pedido de licenciamento, pode fazer aquela perder o carácter prévio em relação a este. 187 Fernanda Paula Oliveira “estudos prévios” ou “anteprojectos”, sendo a Administração chamada a pronunciar-se sobre uma pretensão concreta, mediante a apresentação de um conjunto de elementos suficientes para a habilitar a proferir um juízo de viabilidade de tal pretensão (175). A informação prévia fornecida pela câmara municipal não é uma mera actuação de natureza informativa ou declarativa, mas sim, como afirmámos, um verdadeiro acto administrativo que se pronuncia (de forma prévia ou antecipada) sobre uma determinada operação urbanística. Trata-se, pois, de um acto prévio de natureza verificativa e sem carácter permissivo, na medida em que não é com base nele que o particular pode promover e executar a operação urbanística apreciada; para tal, terá de dar início a outro procedimento administrativo tendente ao licenciamento ou à admissão da comunicação prévia da operação urbanística, estes sim, os actos que se pronunciam de forma definitiva sobre a operação urbanística, tendo, por isso, natureza permissiva (176). Como o próprio nome confirma, estamos perante um acto prévio ao acto de controlo da pretensão urbanística (licenciamento e comunicação prévia). Neste sentido, o n.° 1 do artigo 17.° vem determinar expressamente que o conteúdo da informação prévia aprovada (entenda-se, da informação prévia favorável) vincula as entidades competentes “…na decisão sobre um eventual pedido de licenciamento ou apresentação da comunicação prévia da operação urbanística a que respeita….”. No entanto, o referido efeito vinculativo apenas se verifica, desde que tal pedido seja apresentado “…no prazo de um ano após a decisão favorável do pedido de informação prévia” (177), o que (175) Cfr. A ntónio Duarte de A lmeida e outros, Legislação Fundamental de Direito do Urbanismo, Lisboa, Lex, 1994, pp. 823-826. (176) Cfr. o nosso “Medidas Preventivas e Silêncio da Administração”, Comentário ao Acórdão do STA de 11.01.2001, Processo n.° 45 861, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.° 29 (Setembro/Outubro de 2001), p. 53. (177) A redacção anterior deste normativo determinava que o prazo de um ano de eficácia vinculativa de um pedido de informação prévia se contava da data da sua notificação ao requerente, redacção que nos parece mais clara e mais lógica do que a actual que se refere à data da decisão favorável. Não obstante a diferente redacção, consideramos que a regra deve continuar a ser a mesma, até porque não pode ser exigível ao particular o cumprimento de um ónus (de apresentação do pedido de licenciamento ou da comunicação prévia no prazo de um ano) se o facto que lhe dá origem não lhe tiver sido notificado. Tratando-se, pois, de actos que têm de ser notificados aos interessados nos termos previstos no artigo 66.° do Código do Procedimento 188 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão significa que a não apresentação do pedido de licenciamento (ou da comunicação prévia), ou melhor, a sua não apresentação dentro do referido prazo funcionam como condições resolutivas, isto é, factos que, a verificarem-se, implicam a perda dos efeitos vinculativos (e constitutivos de direitos) da informação emitida. Das várias afirmações formuladas, uma é fundamental que se esclareça: a do sentido da afirmação de que a informação prévia favorável é constitutiva de direitos. Com efeito, relevante é determinar qual o direito que a referida informação prévia constitui na esfera jurídica do respectivo beneficiário. Ora, a este propósito, cabe afirmar que a informação prévia favorável não atribui o direito a concretizar uma determinada operação urbanística ao seu beneficiário; este apenas tem, por força da referida informação prévia, o direito ao licenciamento (ou à admissão da comunicação prévia) de um certo projecto se: (1) este corresponder ao que foi apreciado no seio do procedimento de informação prévia; (2) o respectivo beneficiário tiver legitimidade (ou a tiver adquirido entretanto) para formular a referido pedido (178); (3) o pedido tiver sido formulado dentro do prazo de um ano. Assim sendo, a informação prévia favorável dá o direito a obter uma decisão favorável no âmbito do procedimento (de licenciamento ou de comunicação prévia) que terá de ser desencadeado na sua sequência, no âmbito do qual será dado ou conferido ao interessado o direito à concretização da operação pretendida. A concessão deste por intermédio da informação prévia é apenas indirecta, necessitando da intermediação do acto de licenciamento. Note-se, porém, que a afirmação de que a informação prévia confere ao interessado o direito de obter o licenciamento nas condições referidas tem de ser devidamente entendido quando esteja em causa uma informação prévia referente a uma edificação, por não correspon- Administrativo, os mesmos não lhes são oponíveis enquanto a sua notificação não ocorrer. A regra de que o prazo de um ano se começa a contar da data da decisão favorável apenas vale para as situações de deferimento tácito deste pedido, que ocorrerá nos termos da alínea c) do artigo 111.°. (178) Esta segunda exigência decorre do facto de a lei permitir que qualquer interessado, mesmo que não tenha legitimidade para requerer o pedido de licenciamento, venha requerer pedido de informação prévia relativo a uma determinada operação urbanística – cfr. artigos 14.°, n.° 1, e 15.°, n.os 3 e 4. 189 Fernanda Paula Oliveira der completamente à realidade. Com efeito, o que a informação prévia aprecia (antecipadamente) não é a possibilidade de ser ou não emitida a licença, mas tão-só as questões urbanísticas co-envolvidas na pretensão, isto é, no caso do licenciamento de obras particulares, tão-só as questões atinentes ao projecto de arquitectura. Atentos os aspectos que são objecto do pedido de informação prévia, que apenas abrange um anteprojecto da arquitectura e não os projectos das especialidades, a informação prévia favorável apenas vincula a câmara municipal na decisão que tenha de proferir, no âmbito do procedimento de licenciamento, sobre o projecto de arquitectura e não já sobre o acto final da licença que integra também as decisões referentes aos projectos de especialidades. Por isso, nunca compreendemos como uma informação prévia favorável, que se limita a antecipar a apreciação que terá de ser feita ao projecto de arquitectura, possa dar mais direitos do que a própria aprovação deste projecto. O que aquele acto confere é apenas o direito a que, no procedimento de licenciamento que se venha a desencadear na sua sequência, seja aprovado o projecto de arquitectura (que, assim, fica condicionado pela apreciação prévia efectuada). Também nunca compreendemos que possa estar mais garantido o titular de uma informação prévia favorável do que aquele que é já titular da aprovação de um projecto de arquitectura, que tem uma posição mais consolidada, até do ponto de vista lógico e temporal, do que a que decorre da informação prévia favorável. Claramente, a aprovação de um projecto de arquitectura apresenta-se como um plus comparativamente com uma informação prévia favorável (179). De tudo quanto foi referido anteriormente, pode concluir-se que o pedido de informação prévia e o licenciamento correspondem a distintos procedimentos, cada um deles terminando com os correspectivos actos administrativos, que desempenham funções diversas no âmbito dos procedimentos de gestão urbanística. Cada um destes actos corresponde a actos finais dos respectivos procedimentos: um pronuncia-se sobre a viabilidade de uma determinada operação urbanística vir a obter uma decisão favorável no âmbito do procedimento de licenciamento ou comunicação prévia que terá de lhe seguir, podendo terminar (179) Sobre as questões que se colocam acerca do projecto de arquitectura cfr. infra. 190 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão com uma decisão desfavorável ou favorável, mas não tendo, nunca, carácter permissivo; o outro nega ou confere a concessão de um direito: de lotear, urbanizar ou edificar, consoante a operação urbanística que esteja em causa, apresentando-se, por isso, como um acto com efeitos permissivos quando favorável, conferindo ao particular a faculdade de realizar aquelas operações urbanísticas (180). Entretanto, a Lei n.° 60/2007 veio prever, de forma inovatória, a possibilidade de os efeitos de uma informação prévia serem renovados desde que, decorrido o prazo de um ano sem que tenha sido apresentado o pedido de licenciamento ou a comunicação prévia, o interessado requeira declaração do presidente da câmara de que se mantêm os pressupostos de facto e de direito que levaram à anterior informação favorável. Caso a decisão seja positiva ou não ocorra decisão expressa, começa, nos termos do n.° 3 do artigo 17.°, a correr novo prazo de um ano para apresentação do pedido, assumindo aquela informação prévia favorável, de novo, carácter vinculativo. A lei não fixa um prazo para que este pedido de renovação dos efeitos de uma informação prévia seja solicitada, apenas determinando que tal pode ser feito a qualquer momento após o decurso do prazo de um ano durante o qual esta informação mantém os seus efeitos vinculativos. Esta solução é compreensível por em causa não estar um pedido de prorrogação da eficácia da informação prévia, mas de renovação dos seus efeitos, que caducam automaticamente após o decurso daquele prazo de um ano. Naturalmente que, quanto mais tempo decorrer desde a caducidade da informação prévia, maior será a probabilidade de se alterarem as circunstâncias de direito e de facto que estiveram subjacentes à anterior decisão favorável. Note-se que em causa está apenas uma declaração do presidente da câmara sobre se se mantêm os pressupostos de facto e de direito e não uma reapreciação da anterior informação prévia. Não obstante a aparente clareza desta previsão legal, a mesma não deixa de suscitar algumas dúvidas. Assim, e antes de mais, nas situações em que a informação prévia anteriormente emitida tenha esta(180) Para mais desenvolvimentos sobre a caracterização e os efeitos de uma informação prévia, em especial quando a mesma é favorável, vide o nosso Comentário ao Acórdão do STA de 20.06.2002, Processo n.° 142/02, 1.a Secção do Contencioso Administrativo, anteriormente referido. 191 Fernanda Paula Oliveira do sujeita à pronúncia de entidades externas ao município, a declaração de que se mantêm as circunstâncias de facto e de direito subjacentes à primeira informação deveriam ser confirmadas por elas, não dispondo o presidente da câmara, em regra, dos dados suficientes que lhe permitam verificar se as circunstâncias subjacentes à emissão de pareceres favoráveis (atinentes, normalmente, a legislação sectorial) se mantêm. Tal não significa que o presidente da câmara não possa solicitar, junto destas entidades, a confirmação dos anteriores pareceres, mas, por tal não estar expressamente previsto na lei, este facto parece não fazer suspender o prazo de 20 dias previstos no n.° 3 do artigo 17.°. Para além do mais, fica a dúvida de saber se os efeitos da informação prévia favorável apenas podem ser renovados uma vez, ou se esta renovação pode ser feita sucessivamente vezes sem conta. Inclinámo-nos para uma resposta no primeiro sentido, que é a única mais consentânea com a original natureza deste instituto: a de antecipar um pedido de licenciamento de uma pretensão que o interessado tem naquele momento, mas em relação ao qual quer ter a certeza sobre a decisão que sobre ela incidirá. Note-se que, já o alargamento da legitimidade operada pela versão inicial do RJUE veio desviar esta figura da sua configuração inicial: ao permitir que qualquer interessado, ainda que não seja titular de qualquer direito que lhe permita realizar a operação urbanística, possa formular um pedido de informação prévia sobre determinada pretensão, permite a lei que possam correr em simultâneo, para o mesmo terreno, vários pedidos de informação prévia que podem, precisamente por falta de legitimidade urbanística exigida para os pedidos de licenciamento ou de comunicação prévia, nunca ter a potencialidade de os anteceder. De acto prévio a um procedimento de licenciamento, as informações prévias têm vindo a tornar-se, assim, num instrumento de confirmação das regras aplicáveis, aproximando-se nestes termos do direito à informação constante do artigo 110.°. Ainda como novidade a propósito dos pedidos de informação prévia introduzida pela Lei n.° 60/2007, registe-se o facto de uma informação prévia emanada nos termos do n.° 2 do artigo 14.° ter consequências no procedimento a desencadear na sua sequência, que será, sempre, o de comunicação prévia. 192 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão 5. As características dos actos de controlo preventivo (em especial, dos licenciamentos) (181) Os actos administrativos que colocam termo aos procedimentos anteriormente referidos podem ser apelidados de actos administrativos de gestão urbanística. Estes assumem, normalmente, algumas características típicas que merecem ser realçadas. 5.1. Carácter real Os actos de gestão urbanística são conferidos em função das regras aplicáveis aos terrenos, abstraindo das circunstâncias pessoais de quem os requer, isto sem prejuízo da exigência da devida legitimidade do requerente. Por isso, é possível a mudança de requerente a meio do procedimento [artigos 9.°, n.° 9, e 98.°, n.° 1, alínea o)] ou a mudança do titular do mesmo. Tal assim é por o acto de gestão urbanística definir as condições de realização, num determinado prédio, de uma operação urbanística, as quais valem independentemente de quem seja o respectivo proprietário. 5.2. Submissão exclusiva a regras de direito do urbanismo A apreciação dos projectos referentes às operações urbanísticas efectuada pela Administração municipal é feita tendo exclusivamente por referência o cumprimento, pelos mesmos, de normas de direito do urbanismo. Dito de outro modo, a legalidade que se examina no momento da outorga destes actos administrativos é a estritamente urbanística. Isto significa que a Administração municipal competente pela concessão destes actos, deve apreciar os projectos exclusivamente à luz das normas de direito público, mais especificamente de direito do urbanismo, e não à luz de normas de direito privado relativas à realização (181) Cfr. Fernando A lves Correia, As Grandes Linhas da Recente Reforma do Direito do Urbanismo Português, cit., pp. 126-130. 193 Fernanda Paula Oliveira de operações urbanísticas, por exemplo, as normas do Código Civil, cuja aplicação não lhe incumbe assegurar, tanto mais que a violação destas normas não pode constituir fundamento válido para o indeferimento de pedidos de licenciamento ou de outros actos de controlo preventivo (artigo 24.°). Deste modo, visando estes actos administrativos o cumprimento das normas urbanísticas, é manifesto que o seu controlo não ultrapassa o âmbito de tais preceitos, não abrangendo a totalidade do ordenamento jurídico (182). Podemos encontrar a consagração desta regra na jurisprudência mais antiga do Supremo Tribunal Administrativo. É o caso, designadamente, do Acórdão de 7 de Março de 1958, Recurso n.° 5 053, onde se afirma “…não terem as câmaras, ao conceder licenças para obras, de preocupar-se com a presumível violação de direitos de natureza privada emergente da construção das obras, nem de velar pela observância do artigo 2325.° do Código Civil, respeitante a interesses patrimoniais” (183). No mesmo sentido se pronunciou o mesmo Tribunal ao afirmar, num Acórdão de 11 de Dezembro de 1964, que “A câmara municipal, ao licenciar a construção dos edifícios dos ora recorrentes, colocou estes na posição de poderem construir em obediência aos condicionalismos legal e regulamentar, mas não definiu, nem podia definir direitos de terceiros”. Continua este Acórdão, afirmando que “As licenças de construção são de natureza policial, incumbindo à Câmara Municipal assegurar os interesses gerais e prevenir danos sociais, especialmente os referentes à segurança, salubridade e estética das edificações e à observância dos planos de urbanização (…). Nas suas funções de polícia administrativa as Câmaras Municipais asseguram (182) Nas palavras de Henri Jacquot, “Permis de Construire. Généralités, Champ d’Application”, in Urbanisme, 1992, p. 601, a licença de construção não assegura qualquer controlo prévio pelo respeito de obrigações e servidões que têm a sua fonte em regras de direito privado. Não há dúvida de que certas servidões de direito privado como as de vista, de passagem, etc., podem ter incidências sobre o direito de construção do titular da licença. No entanto, a entidade administrativa que examina o pedido de construção não tem competência para as conhecer. A licença de construção pode ser emitida com desconhecimento de uma obrigação ou uma servidão de direito privado sem ser, por isso, ilegal. (183) Vide Colecção de Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo, Contencioso Administrativo, vol. XXIV, 1958, pp. 235 e segs. 194 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão e zelam os referidos interesses gerais e só reflexamente podem resultar assegurados os interesses e direitos de terceiros” (184). Sendo as referidas normas de direito privado, por exemplo, relativas à construção, normas que regulam as relações entre privados (terceiros relativamente à relação que a licença estabelece entre a Administração e o titular desta), designadamente relações de vizinhança (185), a consequência imediata da submissão exclusiva do acto urbanístico a regras de direito do urbanismo é a de que ela é concedida sob reserva de direitos de terceiros (186). E isto é compreensível na medida em que o acto urbanístico apenas regula as relações entre a Administração e o seu titular e, por isso, não constitui, modifica ou extingue relações jurídicas privadas, ou seja, relações entre o titular do acto e terceiros vizinhos ou dos vizinhos entre si. O acto de gestão urbanística é, assim, um acto administrativo que define (apenas) a situação jurídica do particular titular dele e em relação ao prédio objecto da operação urbanística, constituindo direitos ou interesses legalmente protegidos para este, investindo-o no “poder” de realizar aquela operação no referido terreno e criando ainda algumas posições jurídicas instrumentais da realização desse poder, como é o caso do direito ao alvará (187). Aquele acto constitui, deste modo, (184) Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 11 de Dezembro de 1964, in Acórdãos Doutrinais, n.° 40, pp. 458 e segs. (185) A noção de vizinhança que aqui está em jogo é, essencialmente, uma noção jurídico-civil e não jurídico-urbanística. Sobre a noção de vizinhos de um ponto de vista das normas de direito do urbanismo, vide J. J. Gomes Canotilho, “Anotação ao Acórdão do STA, de 28.09.89”, in Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 124, 1991-1992, n.° 3813, pp. 361-365, que aponta para um conceito muito mais amplo do que a noção civil que se limita ao proprietário do prédio ou prédios confinantes. (186) Para mais desenvolvimentos sobre esta questão, vide o nosso “As Licenças de Construção e os Direitos de Natureza Privada de Terceiros”, in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Colecção Studia Iuridica, Ad Honorem – 1.a Separata dos Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Rogério Soares, Coimbra, Coimbra Editora, 2001. Como afirma Robert Savy, a licença de construção não verifica, de maneira nenhuma, regras de direito privado que possam eventualmente impor-se ao requerente, em particular as servidões de vizinhança. Deste modo, e na perspectiva deste professor, a Administração não pode recusar a licença de construção por causa de uma servidão de direito privado. A licença de construção pode proclamar, assim, a sua neutralidade sobre quaisquer questões de titularidade privada que possam dar-se no prédio em questão. (187) Vide Pedro Gonçalves/Fernanda Paula Oliveira, “A Nulidade dos Actos Administrativos de Gestão Urbanística”, in Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, n.° 3, Ano II – 1.99, Coimbra, Coimbra Editora, p. 30. A consti- 195 Fernanda Paula Oliveira uma relação duradoura entre a Administração e o seu titular, relação essa que é integrada, por um lado, pelo poder de fiscalização ou inspecção (do cumprimento da lei ou das próprias disposições da licença), que compete à Administração, e pelo simétrico estado de sujeição do particular (188). Assim, o acto de gestão urbanística, ao ser emanado sob reserva de direitos de terceiros, não define a situação jurídica destes, e, por isso, não pode, de modo algum, trazer qualquer atentado aos direitos dos terceiros que lhes decorram de normas jurídico-privadas ou de contratos celebrados entre particulares. Isto significa que o acto de gestão urbanística é um acto administrativo que torna legítima a actividade edificatória no ordenamento publicístico e regula a relação que relativamente àquela actividade existe entre uma autoridade administrativa que o emite e o sujeito a favor de quem ele é emitido, mas não atribui a tal sujeito, direitos subjectivos em relação a terceiros ao abrigo daquela actividade, cuja licitude deve ser sempre verificada à luz normativa do direito comum. O relevo jurídico do acto urbanístico esgota-se na relação entre a Administração Pública e o respectivo promotor e nos possíveis reflexos sobre as posições de interesse legítimo dos terceiros. No entanto, no plano das relações com privados, interessados num sentido oposto à concretização da operação, a existência e a legitimidade do acto de gestão urbanística são privadas de relevo, devendo o juiz ordinário resolver o conflito confrontando directamente a característica da construção com as normas jurídicas que a disciplinam. Existe, deste modo, uma independência essencial entre o acto de gestão urbanística e as regras de direito privado, decorrendo daí várias consequências imediatas. Em primeiro lugar, aquele acto não é susceptível de modificar, de qualquer modo, direitos ou obrigações que existam nas relações entre os particulares. Não pode, por isso, valer como título de propriedade (189) nem servir de título constitutivo para uma servidão, assim tuição de direitos e interesses legalmente protegidos e o exercício dos poderes referidos encontram-se, obviamente, condicionados pela eventual prevalência de direitos de terceiros. É esta a consequência de a licença ser emitida com reserva dos direitos destes. (188) Idem. (189) Neste sentido, cfr. o Acórdão da Relação do Porto, de 17 de Março de 1992, nos termos do qual “A licença de construção emitida por uma câmara municipal não concede aos requerentes qualquer direito de propriedade originária sobre o prédio em causa…”. 196 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão como não pode trazer qualquer atentado a uma servidão preexistente. Em segundo lugar, o referido acto não assegura o respeito por direitos e obrigações existentes nas relações entre os privados, embora a sua emissão não ponha em causa a necessidade desse respeito. Em terceiro lugar, a recusa do acto de gestão urbanística não cria direitos em favor de vizinhos e, em caso de violação, pelo construtor, de regras de direito privado (construção sobre um terreno alheio, violação de uma servidão de direito privado), o terceiro lesado pode pôr em causa, perante um juiz civil, a responsabilidade do beneficiário do referido acto, mesmo que a operação tenha sido efectuada em conformidade com as condições impostas no mesmo e este tenha sido concedido de acordo com as normas urbanísticas vigentes. Uma vez que o acto de gestão urbanística não procede à verificação do cumprimento das regras de direito privado, o seu incumprimento destas por aquele não determina a respectiva invalidade. Assim, a violação de alegados direitos de terceiros protegidos por normas de direito privado não pode ser vista como causa de anulação do acto de gestão urbanística: trata-se de uma contestação de ordem privada que apenas tem relevo em matéria da competência dos tribunais judiciais. Isto significa que os terceiros que venham a ver os seus direitos de natureza privada afectados por exemplo com o acto de licenciamento, devem socorrer-se de meios de protecção de ordem privada à sua disposição, designadamente de meios judiciais e, dentro destes, de meios cautelares, a serem efectivados junto dos tribunais judiciais. Neste sentido, já num Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 24 de Abril de 1962 (Processo n.° 58 826), defendeu-se que “A aprovação das obras pelas câmaras municipais não impede o exercício dos direitos dos proprietários lesados por elas, competindo aos tribunais comuns conhecer das acções tendentes a obter nessas obras a obediência às prescrições regulamentares” (190). Decorre, assim, do que vem de ser dito, que a violação de direitos privados pelos actos de gestão urbanística, devido ao não cumprimento ou violação de normas de direito privado que os visam proteger, não é matéria de contencioso administrativo ou de justiça administrativa, (190) In Boletim do Ministério da Justiça, n.° 116, Maio, 1962, pp. 339 e segs. 197 Fernanda Paula Oliveira que é entendida como um sistema (de mecanismo, formas e processos) destinado à resolução de controvérsias nascidas de relações jurídico-administrativas, de onde decorre que a justiça administrativa, em sentido substancial ou material, integra apenas a resolução de litígios emergentes de relações jurídico-administrativas que sejam de direito administrativo, estando, por isso, afastadas do seu âmbito as questões não administrativas, designadamente as questões estritamente privadas (191). Ora, a defesa, por parte de terceiros, dos seus direitos que decorrem de normas jurídico-privadas ou os litígios que surjam por violação dessas normas por parte da licença são questões de direito privado e não questões de direito administrativo, tratando-se de questões nascidas de relações jurídico-privadas e não jurídico-administrativas. A sua apreciação encontra-se, por isso, fora do alcance da justiça administrativa, pertencendo antes ao âmbito próprio da jurisdição civil. Neste sentido, determinou o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 11 de Dezembro de 1964, Processo n.° 6 806, que “Tais licenciamentos (de obras) são concedidos nos limites e condições legais e regulamentares. As relações jurídicas de vizinhança que possam deles surgir quanto a terceiros confinantes não podem ser discutidos no contencioso administrativo” indicando ainda que “As questões que surjam entre os proprietários confinantes e o proprietário do terreno da construção licenciada são meramente particulares e estranhas ao âmbito do contencioso administrativo, devendo ser solucionadas pelos tribunais judiciais” (192). Há ainda que afirmar que o acto de gestão urbanística e a sua execução em conformidade com o projecto aprovado não isenta o respectivo dono pelos prejuízos resultantes da lesão de direitos que sejam atribuídos a terceiros confinantes por normas jurídicas de direito privado. Assim, de maneira nenhuma os direitos privados de terceiros podem ser afectados pela concessão daquele tipo de actos: os terceiros lesados com a operação urbanística licenciada, admitida ou autorizada (191) Cfr. José Carlos Vieira de A ndrade, A Justiça Administrativa, Lições, 10.a ed., Coimbra, Almedina, 2009, p. 9. (192) In Acórdãos Doutrinais, n.° 40, ano IV, p. 458. 198 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão podem reagir contra o promotor nos tribunais comuns, não obstante a existência daqueles actos. Resulta do artigo 4.° do Regulamento Geral das Edificações Urbanas que a concessão municipal da licença e a sua fiscalização pelos órgãos municipais durante o decurso da obra não isentam o dono desta da responsabilidade pela condução dos trabalhos em estrita concordância com as prescrições regulamentares e não poderão desobrigá-lo da obediência a outros preceitos gerais ou especiais a que a edificação, pela sua localização ou natureza, haja de subordinar-se. Em caso de violação, pelo promotor, de regras de direito privado (construção sobre um terreno alheio, violação de uma servidão de direito privado), o terceiro lesado pode pôr em causa, perante um juiz civil, a responsabilidade do beneficiário do acto de gestão urbanística. Mesmo se a operação respeita as regras de urbanismo e se o acto é regular, o promotor não pode prevalecer-se deste para escapar à sua responsabilidade. Conclui-se, assim, que os actos de gestão urbanística produzem efeitos entre a Administração municipal e o sujeito a cuja actividade se referem, não alterando as situações jurídicas criadas entre estes e as demais pessoas. Por isso, não podem ser invocados para excluir a responsabilidade civil e penal em que tiverem incorrido os seus beneficiários no exercício das actividades licenciadas. Assim, uma vez emitido, o acto de gestão urbanística não implica a atribuição de qualquer direito ao seu beneficiário a causar danos a terceiros nem qualquer dever destes em suportá-los. A emanação do acto de gestão urbanística não isenta, pois, o seu titular, de responsabilidade civil perante terceiros quando a sua actividade edificatória viola normas de direito privado. Coloca-se, no entanto, a questão de saber se o titular daquele acto pode imputar à Administração responsabilidade pelos danos que para ele resulta do facto de ter incorrido em responsabilidade perante terceiros, por ter exercido a sua actividade edificatória com base na confiança que o acto em causa lhe conferiu. A resposta a esta questão parece ser clara. Com efeito, sendo estes actos emanados sob reserva de direitos de terceiros, não cabe à Administração pronunciar-se sobre aquelas questões, estando ela, mesmo, impedida de o fazer (sob pena, por vezes, de usurpação de 199 Fernanda Paula Oliveira poderes). Por isso, a Administração não pode ser responsabilizada pelo incumprimento de normas que não lhe compete (e que está impedida de) verificar. Assim, se, não obstante o acto de gestão urbanística – que confirma o cumprimento de todas as regras urbanísticas vigentes –, a actividade do particular for lesiva de direitos de terceiros, deve considerar-se que existe ilicitude por parte do particular, devendo este indemnizar os terceiros pelos danos que a sua actividade venha a causar. Não pode o particular pretender depois imputar esses prejuízos à Administração, uma vez que a conduta desta nada tem de ilícito. 5.3. Carácter federador O procedimento de licenciamento corresponde a uma sucessão de inúmeros actos, com funções e natureza muito diferenciadas, sendo que o seu culminar opera com a emanação da licença e consequente emissão do alvará, condição de eficácia da licença (193). Esta realidade é particularmente visível no âmbito do licenciamento de obras particulares onde a licença, enquanto “acto final deste procedimento” apresenta um conteúdo complexo, integrador (federador) de várias pronúncias autónomas, designadamente a aprovação do projecto de arquitectura e a decisão sobre cada um dos projectos de especialidade, quantas vezes da responsabilidade de entidades externas ao município. O acto final do procedimento procede a uma federação autónoma das várias decisões parcelares tomadas ao longo do procedimento, incorporando-as, não sendo consentido à administração municipal proceder livremente, nesse momento, ao reexame daquelas pronúncias. Nisto se traduz o carácter federador das licenças urbanísticas, a qual se apresenta como uma sua característica intrínseca. 5.4. Irrevogabilidade Os actos de gestão urbanística apenas podem ser revogados nos termos estabelecidos na lei para os actos constitutivos de direitos (artigo 73.°). (193) Referimo-nos aqui apenas à licença, por esta característica ser mais visível nela, mas vale igualmente, com as devidas adaptações, para os restantes actos de gestão urbanística. 200 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão O regime da irrevogabilidade dos actos constitutivos de direitos é o que se encontra previsto no artigo 140.°, n.° 1, alínea b), do CPA (no caso de se tratar de acto válido), e no artigo 141.° do mesmo código (no caso de se tratar de acto inválido). Neste aspecto, concordamos com Pedro Gonçalves (194) para quem se deve admitir “…a revogação dos actos administrativos [válidos] constitutivos de direitos ou de interesses legalmente protegidos quando o administrador demonstre que a manutenção dos seus efeitos é inconveniente para o interesse público, o que pode verificar-se sobretudo quando ocorrer uma alteração da situação de facto sobre que o acto incidiu”. Para este Autor, com quem concordamos, o CPA, ao excluir uma revogação livre, não exclui a revogação dentro de certas condicionantes limitativas, uma das quais será precisamente a que deriva da preponderância ou prevalência do interesse público sobre os interesses privados. Num caso como este, e porque o acto constitutivo de direitos ou de interesses legalmente protegidos origina um ambiente de confiança e de expectativa legítima na manutenção dos seus efeitos, o interessado de boa-fé deve ser “…justamente ressarcido pelo dano de que a revogação seja causa adequada”. 5.5. Carácter vinculado O carácter vinculado ou regulado dos actos de gestão urbanística decorre do facto de os motivos para o seu indeferimento estarem taxativamente identificados na lei (cfr. artigo 24.°, quanto ao licenciamento). Neste sentido, o carácter vinculado destes actos vale com um duplo significado. Por um lado, no sentido de que a Administração apenas pode indeferir a pretensão urbanística do particular, desde que esteja perante um dos fundamentos tipificados na lei. Por outro lado, no sentido de que, estando presente uma das causas de indeferimento legalmente previstas, a Administração é obrigada a indeferir aquela pretensão: não é dado à Administração o poder de a deferir quando ocorra uma das causas de indeferimento previstas. (194) Pedro Gonçalves, “Revogação (de actos administrativos)”, in Dicionário Jurídico da Administração Pública, vol. VII, Lisboa, 1996, pp. 316-317. 201 Fernanda Paula Oliveira A defesa do carácter vinculado ou regulado não pode, no entanto, ser entendido como a recusa de qualquer poder discricionário da Administração. Como afirma Alves Correia, o carácter vinculado ou devido da licença tem de ser entendido de forma mais limitada (195). De facto, se é verdade que a Administração municipal está vinculada aos fundamentos de indeferimento previstos na lei, estando impedida de indeferir tais pedidos por motivos diversos dos dela constantes, tal não significa, no entanto, que a Administração não disponha de uma certa discricionariedade na respectiva apreciação, uma vez que, ao indicar alguns dos fundamentos de indeferimento, o legislador utiliza conceitos abertos ou indeterminados (indeterminações conceituais). É o caso do fundamento de indeferimento legalmente indicado de a obra ser “susceptível de manifestamente afectar (…) a estética das povoações, a sua adequada inserção no ambiente urbano ou a beleza das paisagens…” (n.° 4 do artigo 24.°) ou de a operação urbanística “…constituir, comprovadamente, uma sobrecarga incomportável para as infra-estruturas…” [alínea b) do n.° 2 do artigo 24.°). Trata-se, nitidamente, da utilização de conceitos indeterminados tipo (196), que, no entendimento da doutrina mais moderna, corresponde a um reconhecimento, por parte do legislador, da impossibilidade de prever, no seu recorte hipotético, todas as situações, bem como a de manusear os factos concretos da vida, e, em consequência, o reconhecimento de um espaço de discricionariedade à Administração. De acordo com uma noção ampla de discricionariedade como aquela que vem sendo defendida na senda de Rogério Soares, esta corresponde a um espaço próprio de decisão da Administração, decorrente de uma indeterminação legal que abrange também as situações de indeterminação conceitual (197). Para além da utilização de conceitos indeterminados na indicação dos fundamentos de indeferimento das pretensões urbanísticas dos (195) Fernando A lves Correia, As Grandes Linhas da Recente Reforma do Direito do Urbanismo Português, cit., p. 129. (196) Sobre a noção de conceitos indeterminados tipo e a sua distinção de outros tipos de conceitos indeterminados (classificatórios e subjectivos), vide Rogério Soares, Direito Administrativo, sem data, pp. 65-66. (197) Sobre esta concepção de discricionariedade, vide Rogério Soares, Direito Administrativo, cit., pp. 59-86; e José Carlos Vieira de A ndrade, “O Ordenamento Jurídico Administrativo Português”, in Contencioso Administrativo, Associação Jurídica de Braga, 1986, pp. 41 e segs. 202 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão particulares, a lei identifica ainda alguns que, uma vez verificados na prática, apenas permitem (não obrigam) o indeferimento. Trata-se de um desvio à regra supra referida: de que estando presentes os motivos de indeferimento legalmente previstos, a Administração estaria obrigada a indeferir a concreta pretensão do particular. É o caso do fundamento de indeferimento de a operação urbanística constituir, comprovadamente, uma sobrecarga incomportável para as infra-estruturas de serviços gerais existentes, ou implicar para o município a construção ou manutenção de equipamentos, a realização de trabalhos ou a prestação de serviços por este não previstos, designadamente quanto a arruamentos e redes de abastecimento de água, de energia eléctrica ou de saneamento [alínea b) do n.° 2 do artigo 24.°]. Note-se, porém, que o facto de alguns dos fundamentos de indeferimento não obrigarem ao indeferimento, não altera o seu carácter taxativo, na medida em que o legislador tem o cuidado de contemplar todas as situações em que pode ocorrer o indeferimento. No entanto, precisamente porque o indeferimento pode não ser uma consequência necessária em todas as situações previstas na lei, não se pode afirmar o carácter estritamente vinculado do poder de controlo das actividades de construção por parte da Administração. C. Operações urbanísticas e respectivo regime material I. Algumas questões específicas das operações de loteamento urbano e obras de urbanização 1. A evolução legislativa do regime dos loteamentos urbanos (198) As operações de loteamento e as obras de urbanização sempre constituíram importantes formas de intervenção nos solos. Trata-se, de operações com incidências acentuadas ao nível do ordenamento do território, do ambiente e dos recursos naturais e com importantes re(198) Para mais desenvolvimentos, vide o nosso Loteamentos Urbanos e Dinâmica das Normas de Planeamento, Breve Reflexão Sobre as Operações de Loteamento Urbano e as Posições Jurídicas Decorrentes dos Respectivos Actos de Controlo, Coimbra, Almedina, 2009, pp. 81 e segs. 203 Fernanda Paula Oliveira percussões na qualidade de vida dos cidadãos. Ao originar a criação de novos espaços destinados à habitação ou ao exercício das mais diversas actividades humanas, é imperioso que eles sejam projectados e realizados por forma a proporcionar aos futuros utentes o necessário conforto e bem estar, designadamente, permitindo dotar as habitações e as áreas de comércio e indústria das necessárias infra-estruturas e equipamentos urbanísticos. A divisão de um ou vários prédios em lotes destinados à construção não esteve, entre nós, sujeita a qualquer disciplina jurídica até 1965. Na verdade, foi apenas nesse ano que surgiu o Decreto-Lei n.° 46 673, de 29 de Novembro, diploma que veio estabelecer, pela primeira vez e de uma forma sistemática, a sujeição a licenciamento das operações de loteamento urbano e das obras de urbanização. Não tendo este diploma obtido os efeitos enunciados aquando da sua aprovação, o regime nele estabelecido foi objecto de alteração em 1973, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.° 289/73, de 6 de Junho, diploma que veio atribuir importantes poderes às câmaras municipais no licenciamento destas operações, disciplinando ainda a intervenção da administração central de uma forma mais limitada do que até aí era admitida (apenas estava prevista a intervenção da Direcção-Geral dos Serviços de Urbanização, através da emissão de um parecer, quando na área não existisse plano de urbanização ou os pedidos não se conformassem com o instrumento de planificação urbanística aplicável ao local). Aquele diploma de 1973 foi substituído pelo Decreto-Lei n.° 400/84, de 31 de Dezembro, que alterou profundamente o processo de licenciamento das operações de loteamento e de obras de urbanização, o qual, por sua vez, foi revogado pelo Decreto-Lei n.° 448/91, de 29 de Novembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.° 25/92, de 31 de Agosto, pelos Decretos-Lei n.os 302/94, de 19 de Dezembro, e 334/95, de 28 de Dezembro, e pela Lei n.° 26/96, de 1 de Agosto. O Decreto-Lei n.° 448/91 foi, finalmente, revogado pelo Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, actualmente em vigor. 204 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão 2. Conceito de loteamentos urbanos a) Evolução do conceito: da divisão à transformação fundiária Uma análise dos vários diplomas anteriormente referidos permite averiguar como o conceito foi evoluindo ao longo dos mesmos. Assim, no Decreto-Lei n.° 46 673, de 29 de Novembro de 1965, o loteamento urbano configurava-se como a operação (ou o resultado da operação) cujo objecto ou efeito fosse “…a divisão em lotes de um ou vários prédios fundiários, situados em zonas urbanas ou rurais, para venda ou locação simultânea ou sucessiva, e destinados à construção de habitações ou de estabelecimentos comerciais ou industriais”. O Decreto-Lei n.° 289/73, de 6 de Junho, que sucedeu àquele diploma, alargou a figura, uma vez que os lotes resultantes das operações de loteamento não tinham agora, tal como sucedia no regime de 1965, de se destinar a venda ou locação: loteamentos eram as operações que tinham “…por objecto ou simplesmente como efeito a divisão em lotes de qualquer área de um ou vários prédios, situados em zonas urbanas ou rurais, e destinados a imediata ou subsequente construção…”. Tal como se explica no respectivo preâmbulo, a intenção era a de sujeitar ao mesmo regime um conjunto de situações que, não se concretizando através de contratos de venda e locação, logravam, na prática, os mesmos efeitos. Por sua vez, com Decreto-Lei n.° 400/84, de 31 de Dezembro, o loteamento passou a corresponder às “acções que tenham por objecto ou simplesmente tenham por efeito a divisão em lotes de qualquer área de um ou vários prédios, destinados, imediata ou subsequentemente à construção”, eliminando-se da noção, comparativamente com a que constava do diploma de 1973, a referência à localização dos mesmos, tendo o Decreto-Lei n.° 400/84 precisado, na noção anterior, que bastaria que um dos lotes se destinasse a construção urbana para que a operação fosse configurada como um loteamento. Para todas estas definições legais, o puctum saliens das operações de loteamento encontrava-se no fraccionamento ou na divisão de prédios para efeitos de construção. Diferentemente, com a entrada em vigor do RJUE, o loteamento urbano passou a assumir como característica essencial a transformação fundiária (ou recomposição predial), uma vez que passou a integrar, para além das já tradicionais operações 205 Fernanda Paula Oliveira de divisão fundiária (que aqui designaremos de loteamento em sentido estrito), também as de emparcelamento e de reparcelamento de prédios para efeitos de edificação urbana, passando, deste modo, a ter um carácter mais abrangente do que até aí havia tido. Este conceito permaneceu intocado nas alterações efectuadas ao RJUE pelo Decreto-Lei n.° 177/2001, de 4 de Junho, mas veio a ser objecto de redefinição com a Lei n.° 60/2007, de 4 de Setembro, que excluiu da noção os emparcelamentos (199). b) O loteamento em sentido estrito O loteamento em sentido estrito corresponde a uma conduta voluntária (200) determinadora de uma divisão predial (material ou meramente jurídica (201)) que dá origem à formação de unidades prediais autónomas (novos prédios urbanos perfeitamente individualizados e objecto de direito de propriedade nos termos gerais (202)), as quais se (199) Sobre os emparcelamentos como operação de loteamento e as questões colocadas a seu propósito, vide Fernanda Paula Oliveira /M aria José Castanheira Neves/Dulce Lopes/ /Fernanda M açãs, Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. cit., pp. 47 e segs. (200) Por este motivo devem ser afastadas do conceito todas as divisões de prédios resultantes de factos naturais (v.g., desvio natural de um curso de água que divide materialmente um prédio em dois) ou de acções imputáveis à Administração (v.g., a expropriação de uma faixa de terreno para efeitos de construção de uma estrada). Cfr. Fernando A lves Correia, As Grandes Linhas da Recente Reforma do Direito do Urbanismo Português, cit., p. 79, e Osvaldo Gomes, Manual dos Loteamentos Urbanos, Coimbra, Coimbra Editora, 1983, p. 78. Deve ainda ser excluída da noção de loteamento a constituição de lotes que decorrem de uma cedência amigável de um terreno, no âmbito de um procedimento expropriativo, cedência essa verificada antes ou depois da declaração de utilidade pública [ou seja, efectuada nos termos do artigo 11.° ou do artigo 36.° (auto ou escritura pública de expropriação amigável), ambos do Código das Expropriações]. Numa situação destas, embora estejamos perante um acto voluntário do particular e não propriamente uma acção imputada à Administração, em causa está uma cedência substitutiva da expropriação e umbilicalmente ligada a ela, pelo que se justifica um regime idêntico ao que decorreria da expropriação. Neste sentido, quanto ao direito francês, cfr. Osvaldo Gomes, Manual dos Loteamentos Urbanos, cit., p. 79. (201) Esta divisão jurídica pode resultar designadamente de venda, locação, doação, partilha de herança, partilha de bens do casal em caso de morte de um dos cônjuges, de divórcio ou de separação judicial de pessoas e bens. Um caso típico de divisão jurídica ocorre quando se pretende aprovar num dado prédio, projectos de obras para vários edifícios sem ligação estrutural ou com independência funcional, afectando, assim, partes específicas do solo a unidades distintas. (202) Deste modo, a referida divisão é sempre quantitativa e não meramente qualitativa (v.g., a constituição de um direito de superfície), sendo irrelevante o número de lotes e a respectiva área. 206 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão destinam imediata ou subsequentemente a edificação urbana (203). Estas unidades prediais designam-se de lotes, sendo os loteamentos, precisamente, as operações de transformação fundiária que dão origem a lotes destinados à construção urbana, ainda que apenas a um. Este aspecto apresenta-se como particularmente relevante, na medida em que se deve distinguir o loteamento urbano (operação urbanística que opera a divisão ou transformação fundiária) das restantes operações de divisão ou transformação fundiária que não se traduzem em operações urbanísticas, diferenciação que nem sempre é fácil de efectuar, em especial, quando a divisão fundiária não é a intenção principal dos interessados (o seu objecto imediato), mas antes o resultado de um acto ou negócio jurídico (venda, partilha de herança, divisão de coisa comum, etc.). Com efeito, tendo em consideração que apenas se configura como um loteamento a divisão fundiária que é destinada à edificação urbana, pode tornar-se difícil determinar, nestes casos, qual a vontade subjacente de quem promove a divisão: se a mesma visa apenas o acto ou o negócio jurídico (de venda, partilha de herança ou divisão de coisa comum) da qual resultará uma mera divisão fundiária – que, por isso, não se configura como um loteamento urbano – ou se, pelo contrário, se visa aquele objectivo. Partir do princípio que se está perante um loteamento urbano apenas porque da divisão resultam parcelas que admitem, objectivamente (isto é, genericamente), edificação (o que ocorrerá em regra quando os prédios se encontram dentro de perímetro urbano, mas também quando incluídos em solo rural por este deter também alguma capacidade edificativa), terá, a nosso ver, como consequência “empurrar” proprietários que apenas pretendem proceder a actos e negócios jurídicos que implicam uma transformação fundiária para a concretização de verdadeiras operações de loteamento (que não pretendem). Ora, é a este propósito que, pensamos, deve ser conformada, de forma juridicamente adequada, a noção de loteamento de modo a que se não confundam operações de transformação fundiária com operações urbanísticas. É que, e como referimos, se bem que o loteamento (203) As novas unidades prediais devem destinar-se a edificação urbana (edifícios destinados a usos urbanos: habitacionais, comerciais, industriais), excluindo-se aqueles que são destinados a fins distintos destes (agrícolas, florestais, cinegéticos ou semelhantes). 207 Fernanda Paula Oliveira seja uma operação urbanística de transformação da situação fundiária existente, nem todas as operações de transformação fundiária correspondem a operações urbanísticas, sendo que ao RJUE apenas interessam estas, que são aquelas que cabe aos municípios controlar por intermédio dos procedimentos de gestão urbanística adequados. E apenas está em causa uma operação urbanística quando a divisão fundiária tenha como intuito criar lotes que correspondem a unidades prediais com um estatuto urbanístico preciso, por conter uma edificabilidade definida e estabilizada: lote é a nova unidade predial que pode ser objecto autónomo de negócios jurídicos privados e para o qual é definida uma concreta área de construção, área de implantação, número de pisos e número de fogos [alínea e) do n.° 1 do artigo 77.°]. Este aspecto é mais claro na legislação actual: com efeito, ao contrário do que decorria do Decreto-Lei n.° 448/91 – de acordo com o qual o loteamento dava origem a lotes (pelo menos dois), ainda que apenas um deles se destinasse a construção urbana (204) –, a definição actual determina que do loteamento resultam lotes (que terão as características supra indicadas), ainda que apenas um. Significa isto que não é uma operação de loteamento a operação que se traduza numa mera divisão fundiária que, não obstante dar origem a novas unidades prediais – que terão a capacidade edificativa que em cada momento os instrumentos de planeamento lhe defiram –, não cria lotes urbanos (isto é, novas unidades prediais com uma capacidade edificativa precisa e estabilizada por acto administrativo). Não ignoramos que esta forma de perspectivar as operações de loteamento, que contraria uma prática comum – de considerar loteamentos urbanos quaisquer operações de divisão fundiária, desde que as parcelas deles resultantes pudessem vir a ser destinados a edificação –, pode ter consequências negativas na ocupação do território, potenciando o fraccionamento excessivo da propriedade e verdadeiras fugas aos encargos a que os loteamentos sempre estiveram sujeitos, bastando, para tal, que os interessados afirmem, no momento da divisão fundiária, que não pretendem destiná-los, pelo menos de momento, (204) O que permitia concluir (ou pelo menos indiciava, como afirmamos supra) que as novas unidades prediais resultantes do loteamento configuravam, todas elas, lotes, ainda que não se destinassem a construção urbana. 208 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão para edificação, reservando-se para mais tarde, e de acordo com o que os instrumentos de planeamento urbanístico em vigor a essa data, a determiná-la. Torna-se, por isso, necessário apontar algumas soluções que permitam contrariar aquelas consequências. A primeira dessas soluções, que está dependente dos municípios, passa pela equiparação, em regulamento municipal, dos encargos dos loteamentos e das restantes operações que tenham um impacte urbanístico relevante (e não apenas um impacte semelhante a um loteamento), conceito cuja conformação é responsabilidade municipal. Com efeito, ao contrário do que sucedeu durante anos, reconhece-se actualmente que os encargos urbanísticos não devem ser exigidos em função da tipologia da operação urbanística em causa – tradicionalmente, apenas os loteamentos estavam sujeitos a certos encargos destinados a garantir um adequado ambiente urbano e qualidade de vida (designadamente, a previsão de áreas destinadas a espaços verdes, equipamentos de utilização colectiva e infra-estruturas), estando todas as restantes deles dispensados –, mas do impacto de cada operação no território, independentemente de qual ela seja. Nos casos em que a operação efectuada seja um loteamento, os referidos encargos serão cumpridos no momento do seu licenciamento (não podendo, depois, serem exigidos no momento da construção nos lotes, por já estarem cumpridos); nas situações em que em causa esteja uma edificação não integrada em área abrangida por operação de loteamento, tais encargos serão exigidos no momento do controlo preventivo da edificação a erigir (desde que esta se reconduza ao conceito de operação com impacte semelhante a um loteamento (n.os 5 e 6 do artigo 57.°), ou com impacte urbanístico relevante (n.° 5 do artigo 44.°), que deve constar de regulamento municipal) (205). (205) Ou seja, e dito de outro modo, se se concluir que a operação de divisão fundiária não se traduz numa operação de loteamento, não será exigível, nesse momento (no momento da concretização da divisão) a previsão de áreas para espaços verdes e de utilização colectiva, infra-estruturas e equipamentos, nem a sua eventual cedência ou compensação nas situações legalmente previstas. No entanto, neste caso, quando os interessados vierem edificar nos novos prédios resultantes daquelas divisões fundiárias, terão nesse momento, em função da carga por si gerada, de os cumprir. 209 Fernanda Paula Oliveira Esta é a solução mais adequada, já que assegura a realização do interesse público, qualquer que seja o modelo da operação a ser levada a cabo, para além de dispensar o município da averiguação de negócios ou actos jurídicos anteriores que tenham conduzido, legitimamente, ao fraccionamento da propriedade. Poderá sempre defender-se, reconhecemo-lo, que a antecipação da previsão de áreas para espaços verdes e de utilização colectiva, infra-estruturas e equipamentos para o momento da divisão fundiária permite perspectivar a globalidade do terreno, determinando uma maior coerência na previsão (localização) das mesmas, coerência essa que pode não ser conseguida quando a unidade de intervenção passa a ser o prédio resultante da divisão fundiária. A garantia desta coerência será, contudo, alcançada se a gestão urbanística não for feita a partir do plano director municipal (que se apresenta, cada vez menos, como o instrumento adequado para, a partir dele, se fazer gestão urbanística), mas de instrumentos de planeamento mais concretos (em especial, de planos de urbanização), onde o município preveja, com a coerência necessária, as áreas destinadas a zonas verdes e de utilização colectiva, bem como equipamentos que terão se ser cumpridos nas concretas operações urbanísticas que aí venham a ocorrer (quer se trate de loteamentos quer de obras de edificação). Admitimos também que a posição que aqui defendemos pode potenciar o fraccionamento excessivo de terrenos integrados dentro do perímetro urbano, favorecendo a criação de parcelas sem qualquer possibilidade de utilização urbana com a consequente paralisação dos mesmos. Assim, se um prédio puder ser fraccionado, através, por exemplo, de uma partilha de herança, em parcelas de dimensão muito reduzida, as mesmas, precisamente por não terem as características definidas nos planos directores municipais para serem destinados a ocupação urbanística, ficarão paralisadas, o que parece contrariar as orientações nacionais da necessidade de ocupação de espaços vazios dentro da cidade (fala-se em cerzir a cidade). A este propósito não vemos, porém, como possa ser recusada a prática do acto jurídico em causa: a necessidade de cumprimento de uma área de unidade mínima de cultura apenas terá de ser cumprida caso o prédio seja para afectar a fins agrícolas; a área mínima de parcela para construção definida no plano apenas é exigida se o terreno for destinado a edificação que não é o único uso urbano admissível. 210 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão Porém, ainda que o fraccionamento possa potenciar a paralisação destas parcelas que, por si só, consideradas isoladamente, não têm qualquer capacidade de utilização urbana, o município dispõe hoje de instrumentos que lhe permitem intervir: referimo-nos, em particular, à delimitação de unidades de execução que, caso considere indispensáveis, poderão mesmo ser executadas pelo sistema de imposição administrativa. c) Loteamentos urbanos versus conjuntos imobiliários Um caso típico de divisão jurídica, que corresponde à concretização de uma operação de loteamento, é a que ocorre quando se pretende aprovar, num dado prédio, projectos de obras para vários edifícios sem ligação estrutural ou com independência funcional, afectando, assim, partes específicas do solo a utilidades distintas (206). Tal assim é por, em regra, uma unidade predial apenas permitir a construção de um edifício principal, pelo que sempre que se pretenda construir vários edifícios principais numa mesma unidade predial terá de se sujeitar esta, primeiro, a uma divisão fundiária de forma a que seja possível cumprir o referido princípio. Apesar desta exigência, as alterações efectuadas pelo Decreto-Lei n.° 267/94, de 25 de Outubro, ao artigo 1438.°-A do Código Civil vieram admitir a constituição de uma única propriedade horizontal para “…conjuntos de edifícios contíguos funcionalmente ligados entre si pela existência de partes comuns…”, tendo passado a admitir-se que a construção de vários edifícios num mesmo terreno, que até aí pressupunha a prévia concretização e, portanto, o prévio licenciamento municipal, de uma operação de loteamento, passasse a poder ser levada a cabo através da constituição de uma propriedade horizontal, dispensando-se a tramitação procedimental relativa àquele. Passou, assim, a ser imprescindível identificar correctamente as situações que podem ser submetidas ao regime dos loteamentos urbanos e as que ficam sujeitas ao regime da propriedade horizontal, distinção essa que assumia o máximo relevo ao abrigo dos Decretos-Lei (206) Neste sentido, vide A ntónio Duarte de A lmeida, e outros, Legislação Fundamental de Direito do Urbanismo cit., p. 513. 211 Fernanda Paula Oliveira n.os 448/91, de 29 de Novembro, e 445/91, de 20 de Novembro, já que, como afirmava António Pereira da Costa, a “distinção não é despicienda pois que, se uma determinada situação, em vez de constituir uma operação de loteamento, puder considerar-se dentro do regime da propriedade horizontal, para além dos ganhos de tempo, evitam-se cedências gratuitas de terrenos para o domínio público, destinados a espaços verdes e de utilização colectiva, e infra-estruturas ou a respectiva compensação em numerário ou espécie (artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 448/91), não exigíveis nos licenciamentos de obras de construção civil, assim como o pagamento das respectivas taxas, que têm um peso significativo na construção” (207). Embora a questão não tenha já hoje a mesma importância prática – dada a aproximação que referimos do regime do licenciamento destas edificações, do ponto de vista dos encargos, às operações de loteamento a partir da noção de obras com impacte semelhante a um loteamento e de operações com um impacte urbanístico relevante –, não deixa de ser importante, a outros níveis, frisar bem o âmbito de aplicação de ambos os regimes legais: dos loteamentos urbanos, por um lado, e das propriedades horizontais sobre conjuntos imobiliários, por outro. Assim, o artigo 1438.°-A do Código Civil Português estabelece que o regime da propriedade horizontal pode ser aplicado, com as necessárias adaptações, a conjuntos de edifícios contíguos funcionalmente ligados entre si pela existência de partes comuns afectadas ao uso de todas ou algumas das unidades ou fracções que os compõem. Da análise atenta da previsão legal resultam vários elementos componentes deste tipo de propriedade horizontal que passamos a enumerar (208): a) A aplicação do regime da propriedade horizontal é uma faculdade, isto é, pressupõe uma manifestação expressa de vontade nesse sentido, levando à constituição de um direito real e à sua imposição, como tal, à generalidade dos membros da comunidade jurídica. (207) A ntónio Pereira da Costa, “Propriedade Horizontal e Loteamento: Compatibilização”, in Revista do Centro de Estudos do Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, n.° 3, 1999, pp. 65 e segs. (208) Segue-se aqui, praticamente na íntegra, Fernanda Paula Oliveira /Sandra Passinhas, “Loteamento e Propriedade Horizontal: Guerra e Paz”, in Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, n.° 9, 2002, pp. 46 e segs. 212 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão b) Trata-se, em segundo lugar, da previsão do regime previsto para a propriedade horizontal de um edifício, mas com as necessárias adaptações. Estamos, assim, perante situações que são meros subtipos do tipo geral, mas que nada retira ao carácter taxativo do tipo, já que não se atribui uma qualquer liberdade de constituição ou modelação, mas apenas o poder de aplicar o regime da propriedade horizontal, com a correspectiva nota de realidade, a situações materiais diferentes das até então subsumíveis na previsão normativa. O regime da propriedade horizontal é então aplicado, o que já leva implícita uma pretensão da sua aplicação em bloco, apenas se admitindo as adaptações que se revelem necessárias. Assim, as “necessárias adaptações” são apenas as necessárias e impostas pela existência de uma pluralidade de edifícios, não quaisquer umas, resultantes da vontade discricionária das partes. Algumas dessas alterações são até previstas pelo próprio legislador, como, por exemplo, as constantes dos artigos 3.°, 4.° e 8.° do Decreto-Lei n.° 268/94. c) O regime aplica-se a conjuntos de edifícios contíguos, sendo ponto assente na dogmática dos direitos reais que a expressão “contíguos”, referida a prédios, tem o sentido de prédios vizinhos, não se exigindo qualquer ligação estrutural ou material entre eles. O que será de exigir sempre, é uma relação entre os edifícios em altura ou unidades imobiliárias que revele uma situação condominial unitária, portanto com uma certa unidade espacial ou territorial, ou pelo menos que a não afaste; d) Para além do mais, tais edifícios devem estar funcionalmente ligados entre si: a ligação funcional entre os edifícios é o elo que sustenta a aplicação deste regime. Mas note-se, que a ligação funcional pode ter intensidades diferentes; necessário é que haja uma qualquer ligação e essa ligação não tem de ser necessariamente em termos de acessoriedade ou necessidade. A ligação funcional entre os edifícios é determinada pela existência de partes comuns: neste ponto há que assinalar que o elenco das partes comuns tem-se vindo a transformar com o tempo. Com o aumento de exigências da vida moderna, contam-se actualmente, entre as partes comuns, coisas e bens que aí não eram tradicionalmente incluídos e, por outro lado, os típicos serviços condominiais (pelo seu elevado valor económico e pela necessidade de dispor de adequadas estruturas orga213 Fernanda Paula Oliveira nizatórias que permitam a sua utilização) assumiram dimensões tais que já não podem ser reconduzidos aos modelos originais. As referidas partes comuns devem ser afectadas ao uso de todas ou algumas unidades ou fracções que o compõem. Note-se que basta que as referidas partes comuns estejam afectadas a algumas unidades imobiliárias ou fracções autónomas que compõem o conjunto, mas é necessário também que todas as fracções autónomas ou unidades imobiliárias se encontrem ligadas com alguma outra, caso contrário, falta o requisito essencial da propriedade horizontal relativamente às mesmas. Uma unidade imobiliária não fará assim parte de um conjunto deste tipo se não tiver qualquer ligação com outra unidade imobiliária ou fracção autónoma, na medida em que lhe falta o necessário elo de ligação. Já é, ao invés, configurável a situação em que tal ligação se dê pela existência das instalações gerais e da entrada, algumas unidades imobiliárias apenas participem na instalação geral da água ou do gás, outras da entrada, outras de ambas. O que não pode existir é autonomia absoluta, rectius, independência funcional entre as várias unidades. Na fattispecie do artigo 1438.°-A do Código Civil cabem várias situações: – aquela constituída por vários edifícios em altura, já divididos em fracções autónomas e constituídos em propriedade horizontal, ligados entre si por coisas e serviços comuns; – a situação de várias unidades imobiliárias, nas quais não há um fraccionamento da propriedade por fracções, mas que fruem igualmente de bens e serviços comuns (o caso dos chamados condomínios fechados, com moradias/casas/vivendas autónomas); – a situação composta por vários edifícios em altura fraccionados e unidades imobiliárias autónomas ligadas funcionalmente pela existência de partes comuns; e – a situação de vários edifícios que partilham partes comuns entre si. As várias hipóteses referidas podem ser reconduzidas a dois tipos de situações: o supercondomínio e o condomínio complexo. No primeiro tipo, o regime da propriedade horizontal mantém a sua estrutura fundamental, aplica-se em bloco, variando apenas no seu objecto: não se aplica apenas a um edifício mas a múltiplos e não se aplica a várias fracções autónomas mas a várias unidades imobiliárias 214 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão ou moradias. A um só direito corresponde, assim, uma multiplicidade de objectos. No segundo, passa a ser necessário conciliar dois regimes de propriedade horizontal ou, rectius, um regime duplo de propriedade horizontal. Há, efectivamente, no condomínio complexo uma duplicação de regimes (e de permilagem) que altera a linha estrutural do regime. Neste caso, em cada condomínio vigora um regime (com o inerente sistema de administração exclusiva das partes comuns) que será compatibilizado com a aplicação de outro regime às partes comuns aos vários edifícios; o que coloca novos e, passe-se o pleonasmo, complexos problemas quanto à repartição de competências entre as várias administrações, entre os vários órgãos de administração, de fiscalização do exercício desses poderes, de responsabilidade pelos encargos, etc. Pelo exposto, se retira com facilidade que supercondomínio e condomínio complexo são conceitos pouco elaborados, que correspondem a uma realidade social recente e em contínua formação. Ainda assim se pode concluir que no supercondomínio a propriedade horizontal é um regime essencial, enquanto no condomínio complexo é apenas complementar, destinado a melhorar a administração de certas partes comuns e a funcionalidade do condomínio. Ora, tendo em consideração as várias formas possíveis de recurso à propriedade horizontal e a frequente tendência de sujeitar várias construções a este regime com o intuito de, por esta via, evitar as fortes contrapartidas exigidas no licenciamento de operações de loteamento, o legislador veio estabelecer no n.° 5 do artigo 57.° (artigo que se encontra neste diploma na parte relativa à edificação e não na parte relativa aos loteamentos) que o disposto no artigo 43.° (que exige que os projectos de loteamento devem prever áreas destinadas à implantação de espaços verdes e de utilização colectiva, infra-estruturas viárias e equipamentos) seja também aplicável às obras de edificação em áreas não abrangidas por operação de loteamento “…quando respeitem a edifícios contíguos e funcionalmente ligados entre si que determinem em termos urbanísticos impactes semelhantes a uma operação de loteamento”. Determina ainda que lhes seja aplicável o disposto no n.° 4 do artigo 44.° (obrigatoriedade de pagamento de uma compensação ao município, em numerário ou em espécie), quando a operação “…con215 Fernanda Paula Oliveira temple a criação de áreas de circulação viária e pedonal, espaços verdes e equipamentos de uso privativo”. Para além desta noção – de edifícios com impactes semelhantes a loteamento –, a lei veio agora acrescentar uma outra – a de operação com impacto urbanístico relevante – que se apresenta como mais ampla e com capacidade para absorver, com vantagens, aquela outra, já que a qualificação de uma operação como tendo um impacte relevante permite a possibilidade de exigência (ao contrário das obras com impacte semelhante a um loteamento) de cedências de terrenos para o município. Independentemente da qualificação que os municípios venham a utilizar nos respectivos regulamentos municipais, a verdade é que a propriedade horizontal prevista no artigo 1438.°-A do Código Civil já não tem a potencialidade, assim o queira o município, de fomentar fugas aos encargos a que a operação estaria sujeita se fosse realizada pela via do loteamento. Não obstante a aproximação dos encargos dos loteamentos às operações com impacte semelhante a um loteamento e com impacte urbanístico relevante estar dependente da sua previsão em regulamento municipal, perde grande parte da razão de ser a exigência inicial de distinção imperiosa entre propriedade horizontal (licenciável praticamente sem encargos para o promotor) e a operação de loteamento (licenciável com encargos): agora, independentemente da via escolhida pelo promotor, os encargos poderão ser sempre os mesmos. Podemos, assim, afirmar que a partir do novo RJUE, fundamental não é o modo de licenciamento, até porque se harmonizaram os requisitos, mas o impacte urbanístico da operação, uma solução que visa claramente salvaguardar o interesse público (209). d) O reparcelamento urbano α) A noção de loteamento urbano a que se refere a alínea i) do artigo 2.° abrange também a de reparcelamento urbano, operação urbanística de transformação fundiária que ocorre sempre que estejam (209) Sobre as vantagens e o regime a que ficam sujeitos os vários edifícios nos casos de supercondomínio e de condomínio complexo, em especial, para efeitos do respectivo registo, vide Fernanda Paula Oliveira /Sandra Passinhas, “Loteamento e Propriedade Horizontal: Guerra e Paz”, cit., pp. 62 e segs. 216 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão em causa vários prédios sobre os quais se pretende efectuar uma alteração da respectiva configuração com vista à criação de lotes, isto é, de novos prédios destinados a edificação urbana. Através da operação de reparcelamento proceder-se-á, pois, à criação de lotes, o que significa, comparativamente com a situação originária, o aumento ou a diminuição do número de unidades prediais, desde que, neste último caso, não corresponda à constituição de um só prédio, situação que configura uma operação de emparcelamento excluída agora da noção de loteamento. Nesta noção genérica de reparcelamento cabe, não apenas, mas também, a operação de reparcelamento prevista no RJIGT como um instrumento de execução dos planos municipais de ordenamento do território (artigo 131.° e segs. do RJIGT), sempre que, por intermédio dos mesmo, resulte a constituição de lotes nos termos anteriormente referidos (e não, como também é possível, de parcelas destinadas a futuras obras de urbanização e futuras operações de loteamento) (210). Enquanto instrumentos de execução dos planos, o seu regime material encontra-se regulado no RJIGT. No entanto, do ponto de vista procedimental, o reparcelamento, sempre que não seja antecedido de planos de pormenor com efeitos registais, fica sujeito, consoante seja de promoção pública, privada (ou conjunta), aos procedimentos de controlo previstos no RJUE. A doutrina costuma definir esta operação urbanística como uma operação de “reordenamento de terrenos, edificados ou não, situados em regra no âmbito territorial de aplicação de um plano, de modo a constituir lotes de terreno que, pela sua localização, forma e extensão, se adaptem aos fins de edificação ou a outro tipo previsto no plano” (211). Trata-se de uma operação que envolve simultaneamente o agrupamento de terrenos localizados dentro de perímetros urbanos delimi- (210) Com efeito, nos termos do RJIGT, de um reparcelamento urbano enquanto instrumento de execução de planos, tanto podem resultar lotes para construção (situação em que estará em causa um loteamento urbano), como parcelas para urbanização, as quais, como melhor explicitaremos, não correspondem a lotes no seu sentido mais restrito [cfr. alínea a) do artigo 133.°]. (211) Neste sentido, vide Fernando A lves Correia, O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, cit., p. 629. 217 Fernanda Paula Oliveira tados em plano municipal de ordenamento do território (emparcelamento) e a sua posterior divisão ajustada àquele (“loteamento”), com a adjudicação dos lotes ou parcelas resultantes aos primitivos proprietários (n.° 1 do artigo 131.° do RJIGT). Apesar de o reparcelamento implicar uma operação de emparcelamento e uma operação sucessiva de loteamento, não se trata de duas operações distintas, mas de uma só, pelo que não se opera uma qualquer transferência intermédia dos prédios. Por isso, a Administração municipal não tem, primeiro, de deliberar sobre o emparcelamento e depois sobre o “loteamento”, limitando-se a apreciar um projecto, que envolve simultaneamente, e de uma forma sucessiva, aquelas duas operações. Para a concretização de uma operação de loteamento torna-se fundamental dar cumprimento a um conjunto de exigências que se concretizam em várias etapas, a saber: 1.° Avaliação dos terrenos à data do início do processo segundo o critério do seu valor ou da respectiva área, embora os proprietários possam, por unanimidade, fixar outro critério (artigo 132.° do RJIGT), desde que objectivo e aplicável a toda a área objecto de reparcelamento, tendo em consideração a localização e a configuração dos lotes (n.° 3 do artigo 132.° do RJIGT); 2.° Agrupamento dos terrenos (artigo 131.°, n.° 1, do RJIGT); 3.° Quando seja caso disso, obrigação de urbanizar (estaremos aqui perante o chamado reparcelamento de urbanização cuja função é transformar superfícies ainda não construídas em zonas aptas para edificação); 4.° Divisão ajustada às previsões do plano e partilha dos lotes resultantes entre os interessados, de acordo com o critério da proporcionalidade. Nesta fase, sempre que possível, deve procurar-se que os lotes ou parcelas se situem nos antigos prédios dos mesmos titulares ou na sua proximidade e, em caso algum, se poderão criar e distribuir lotes ou parcelas com superfície inferior à dimensão mínima edificável ou que não reúnam a configuração e características adequadas para a edificação ou urbanização em conformidade com o plano. O facto de a partilha dos terrenos resultantes da operação de reparcelamento ser feita segundo o critério da proporcionalidade à participação inicial de cada um dos proprietários, faz com que este instrumento, ao mesmo tempo que permite a execução material das 218 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão disposições do plano, funcione simultaneamente como mecanismo de perequação. O licenciamento ou a aprovação da operação de reparcelamento tem como efeito: – A constituição de lotes para construção (ou parcelas para urbanização); – A substituição, com plena eficácia real, dos antigos terrenos pelos novos lotes ou parcelas; – A transmissão para o município, de pleno direito e livre de quaisquer ónus ou encargos, das parcelas de terrenos para espaços verdes públicos e de utilização colectiva, infra-estruturas, designadamente, arruamentos viários e pedonais, e equipamentos públicos que, de acordo com a operação de reparcelamento, devam integrar o domínio público (artigo 133.° do RJIGT). Para além destes efeitos, o licenciamento do projecto de reparcelamento pode ainda constituir comunidades de proprietários. Com efeito, todo o projecto de reparcelamento tem por objecto a formação de lotes de acordo com o planeamento vigente, de modo que não podem adjudicar-se lotes com superfície que não permita a sua utilização urbanística ou que tenham as características inadequadas para a sua utilização urbanística. Por outro lado, o direito de obter lotes resultantes do reparcelamento é proporcional à parcela inicial do proprietário, de modo que, quando esta seja de dimensão tal (ou de valor tal) que não outorgue ao seu proprietário o direito de obter um lote independente, e se em tal circunstância se encontrarem vários proprietários incluídos no âmbito do reparcelamento, será necessário constituir compropriedades. Não obstante, estas situações dependem da vontade dos interessados, pelo que, em vez da constituição de compropriedades, pode o lote em causa ser atribuído a um só dos interessados, pagando este compensações aos restantes. Do mesmo modo, o reparcelamento pode também ter como efeito a extinção de comunidades preexistentes, sempre que os interessados nisso acordem (212). (212) ��������������������� Cfr., neste sentido, Joaquín Silvestre Llidó, “Tramitación y Efectos de la Reparcelación en la Legislación Urbanística Valenciana, in Revista de Administración Local y Autonómica, n.° 283, 2000, pp. 452-453. 219 Fernanda Paula Oliveira Estando a operação de reparcelamento sujeita a prévio controlo municipal, a transformação fundiária opera por força do acto administrativo em que aquele controlo se traduz (licenciamento ou comunicação prévia) cujo título servirá de base ao registo da respectiva operação e de cada um dos lotes que dela resultam. O título pelo qual os particulares proprietários de determinadas parcelas aparecem, depois da concretização da operação de reparcelamento, proprietários de novos e distintos lotes, na maior parte das vezes com diferente configuração e localização, é o acto administrativo de controlo municipal, o qual tem claros efeitos reais, por corresponderem a actos de autoridade que definem as condições de ocupação urbanística dos prédios sobre que incidem. O título deste acto (que varia consoante esteja em causa uma licença e a admissão de uma comunicação prévia, se o reparcelamento for de iniciativa privada, ou a aprovação dos projectos, se de iniciativa municipal) é documento suficiente para efeitos de registo predial e ainda o contrato (de urbanização ou de desenvolvimento urbano) que, nestas situações, é celebrado pelas várias partes (213). No reparcelamento, a fase da constituição da massa de concentração extingue os antigos direitos sobre os solos, criando-se, com a massa de distribuição novos direitos (ocorrendo, assim, uma aquisição originária de direitos), não sendo, por este motivo, necessária a realização de quaisquer negócios jurídicos que procedam à transmissão da propriedade dos terrenos entre os intervenientes (214). Este facto tem particular relevo do ponto de vista fiscal, já que, não estando em causa qualquer transmissão de imóveis mas a sua reconfiguração, não deve ser aplicável o Imposto Municipal sobre Transacções Onerosas de Imóveis, com uma eventual ressalva para as situações em que um terceiro participe directamente dos resultados do reparcelamento. (213) Cfr., neste sentido, Fernanda Paula Oliveira /Dulce Lopes, Implicações Notariais e Registais das Normas Urbanísticas, Coimbra, Almedina, 2005, pp. 68 a 73. Sobre a complexidade das questões registais no âmbito dos reparcelamentos no ordenamento jurídico espanhol, vide Mercedes Fuertes, Urbanismo y Publicidad Registal, Madrid/ Barcelona, Marcial Pons, 2.a ed., 1995, pp. 49 e segs., e R afael A rnaiz Eguren, La Inscripción Registal de Actos Urbanísticos, Madrid/Barcelona, Marcial Pons, 2.a ed., 2001, pp. 25 e segs. (214) Assim o defende Mouteira Guerreiro, “Efeitos Registais decorrentes da Execução Urbanística”, in Direito Regional Local, n.° 02 (Abril/Junho de 2008), pp. 42 a 44. 220 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão De forma a garantir sustentabilidade financeira de muitos projectos de reparcelamento, o legislador admite a intervenção, no reparcelamento e, por isso, nos contratos a celebrar para a sua concretização, de terceiros, isto é, não proprietários iniciais, os quais têm, deste modo, a função de financiadores da operação e a quem, no final, são adjudicados, por força do acto de aprovação do reparcelamento, lotes (o n.° 1 do artigo 131.° do RJIGT refere-se à adjudicação a outras entidades interessadas na operação) (215). Nestes casos a “entrada” do interessado na operação de reparcelamento não é da mesma espécie que a dos restantes interessados (proprietários), o que deverá ser tido na devida consideração nas avaliações iniciais que se efectuem. Isto porque o valor dos terrenos e o valor do dinheiro não são iguais, tornando-se necessário efectuar as devidas correspondências de forma a garantir, no final, uma distribuição equitativa do produto do reparcelamento. β) Na base da operação de reparcelamento está a celebração de contratos entre os interessados e entre estes e a câmara municipal. Aqueles que assumem maior relevo são os que a lei designa de contratos de desenvolvimento urbano, na medida em que é nele que se regulam as relações entre as entidades interessadas na operação de reparcelamento (proprietários e terceiras entidades, designadamente financiadores) com o município (enquanto entidade pública com relevantes funções na condução e concretização do processo). No entanto, este contrato pode assumir também a designação de contrato de urbanização: cfr. a alínea b) do n.° 2 do artigo 123.° do RJIGT, quando se refere ao contrato celebrado no âmbito do sistema de cooperação, entre o município, os proprietários ou promotores da intervenção urbanística e, eventualmente, outras entidades interessadas na execução do plano. Uma vez, porém, que, embora referido a uma operação urbanística que pode ter intervenção do município, este tipo contratual se limita a regular as relações entre os proprietários, não assume um relevo público directo. Por nas operações de reparcelamento estar em causa a concretização de um projecto de ocupação territorial “desligado” do cadastro (215) Pode ler-se no preâmbulo do Decreto-Lei n.° 316/2007 que se admite “possibilidade de outras entidades interessadas participarem na operação e beneficiarem da adjudicação de parcelas decorrentes da operação nos termos de adequados instrumentos contratuais”. 221 Fernanda Paula Oliveira (isto é, dos limites da propriedade preexistente), a celebração destes contratos apresenta-se como fundamental, já que é por seu intermédio que as partes acertam (concertam) a transformação da situação fundiária e a distribuição dos lotes ou parcelas resultantes do reparcelamento, assegurando a necessária legitimidade urbanística. Neste domínio, e para este efeito, terão de ser devidamente identificados, no referido contrato: – as “entradas” de cada um dos interessados (em regra a área ou o valor dos prédios com que cada um entra na operação de reparcelamento, mas também, quando não se trate de proprietário, o valor do capital a investir ou da obra a realizar na concretização da operação) (216); – os benefícios que são concretizados com a operação urbanística 2 (os m de construção que a mesma contém e que serão distribuídos pelos interessados na proporção das suas “entradas”, concretizados em lotes para construção ou em compensações em dinheiro no caso de não ser possível a distribuição de lotes ou a constituição de compropriedades); – os encargos que cada um terá de assumir na proporção dos benefícios que lhe cabem; – o eventual acerto e redistribuição de benefícios daqueles que não possam ou não queiram assumir a totalidade dos encargos que lhes cabe assumir; e – a distribuição dos lotes resultantes da operação de reparcelamento pelos interessados, considerando todos estes factores (217). Esta contratualização que está na base da concretização da operação de reparcelamento, já que se apresenta como indispensável para obter a necessária legitimidade urbanística, deve ser integrada no acto da respectiva aprovação (e devidamente identificada no respectivo tí- (216) Nos termos do n.° 7 do artigo 131.° do RJIGT, os proprietários que manifestem o seu desacordo ao projecto de reparcelamento podem ser expropriados de forma a que as suas parcelas possam vir a ser integradas na massa de concentração do reparcelamento evitando, assim, a paralisação do mesmo. No entanto, tal apenas será possível, quando se trate de reparcelamento feito por cooperação ou por imposição administrativa (em que a iniciativa, programação e direcção do processo é da câmara) e não já quando esteja em causa o sistema de compensação (em que a iniciativa, programação e execução pertence exclusivamente aos privados, dependendo, por isso, do consentimento unânime de todos). (217) Sobre o conteúdo típico dos contratos celebrados no âmbito do reparcelamento urbano, cfr. Fernanda Paula Oliveira, “Contratação Pública no Direito do Urbanismo”, in Estudos sobre Contratação Pública – I, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, pp. 805 e segs. 222 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão tulo, em regra, o alvará) através de uma tabela de reparcelamento que traduz a forma como as partes acertaram entre si os vários aspectos supra referidos e que deve ser elaborada nos seguintes termos: N.° PLANTA CADASTRAL PROPRIETÁRIO/ /FINANCIADOR VALOR DO TERRENO OU CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PERCENTAGEM NO TOTAL € ÁREA BRUTA DA CONSTRUÇÃO A SER CONFERIDA CUSTOS (m2) € PARCELAS OU LOTES 01 — — —% — — — 02 — — —% — — — Financiador — —% — — — [●] [●] 100% [●] 100% Total γ) A lei admite, agora, que a transformação da situação fundiária (isto é, o reparcelamento) possa operar directamente por intermédio do plano de pormenor nas hipóteses em que este possa ter efeitos registais. Com efeito, a possibilidade de os planos de pormenor fundamentarem directamente o registo predial dos novos prédios tem implicações em matéria de reparcelamento, prevendo a lei expressamente que, nestes casos, a operação de reparcelamento em área abrangida por plano de pormenor que contenha as menções constantes das alíneas a) a d), h) e i) do n.° 1 do artigo 91.° do RJIGT não necessita de licenciamento ou aprovação pela câmara municipal, nos termos gerais relativos às operações de reparcelamento reguladas por este regime (artigo 131.°, n.° 6), podendo concretizar-se directamente através dos contratos de urbanização ou de desenvolvimento urbano e o registo efectuado nos termos dos artigos 92.°-A e 92.°-B do referido diploma. Embora a lei pareça referir-se a duas realidades distintas – plano de pormenor com efeitos registais e reparcelamento efectuado por intermédio de contrato –, em causa está uma realidade única e indivisível: o plano de pormenor concretiza o reparcelamento ou este é efectuado no âmbito daquele. Os documentos necessários para se proceder ao registo da transformação fundiária (isto é, do reparcelamento) são, neste caso, uma 223 Fernanda Paula Oliveira certidão do plano de pormenor juntamente com o contrato de urbanização ou de desenvolvimento urbano que tenha sido celebrado e que define a distribuição dos novos lotes pelos interessados, traduzindo a vontade de cada um na transformação fundiária constante do plano (n.° 10 do artigo 131.° do RJIGT). A obrigatoriedade de este contrato acompanhar o “título” necessário para efeitos do registo (a certidão do plano de pormenor) deve-se ao facto de o plano ser de iniciativa e elaboração públicas, não podendo superar a vontade de cada um dos proprietários na transformação da sua situação fundiária. O contrato serve assim, nestes casos, para confirmar a vontade das partes na transformação da situação fundiária dos seus prédios. Esta exigência (de que o contrato acompanhe o título para efeitos de registo) não é imprescindível na concretização das operações de reparcelamento a que nos referimos no ponto anterior, já que sendo necessário garantir a legitimidade urbanística que se apresenta como um pressuposto procedimental sem a existência do qual o pedido não pode sequer ser apreciado e aprovado. Assim, neste caso, o consentimento de todos é a base para a “montagem” do reparcelamento – o qual apenas é licenciado se esta estiver verificada. No caso dos planos de pormenor com efeitos registais, não sendo o consentimento dos interessados um pressuposto para a aprovação do plano, o mesmo tem de ser confirmado em momento posterior, sendo por isso indispensável, para se proceder ao registo da transformação fundiária, a apresentação dos referidos contratos juntamente com a certidão do plano. A possibilidade de os planos de pormenor terem efeitos registais directos vem rodeada de um conjunto de exigências no sentido de garantir a satisfação dos encargos urbanísticos que em regra andam associadas às operações de transformação fundiária: assim, a certidão que o titula depende do pagamento da taxa pela realização, manutenção e reforço das infra-estruturas urbanísticas (apenas nos casos em que o plano não preveja a realização de obras de urbanização) e das compensações devidas em numerário nos termos do n.° 4 do artigo 44.° do RJUE, sempre que outra solução não resulte do plano de pormenor. Nas situações em que o plano preveja a realização de obras de urbanização, as mesmas terão de ser caucionadas nos termos que forem definidos na certidão do plano para efeitos do registo ou, na ausência desta definição, por primeira hipoteca legal sobre os lotes a individua224 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão lizar, calculada de acordo com a respectiva comparticipação nos custos de urbanização (218). 3. Conceito de obras de urbanização As obras de urbanização são todas as obras de criação e remodelação de infra-estruturas destinadas a servir os espaços urbanos ou as edificações, designadamente os arruamentos viários e pedonais, redes de esgotos e de abastecimento de água, electricidade, gás e telecomunicações e ainda espaços verdes e outros espaços de utilização colectiva [artigo 2.°, alínea h)]. Em regra, encontram-se associadas à concretização de outras operações urbanísticas, em especial, operações de loteamento urbano. 4. Dos efeitos das operações de loteamento (com ou sem obras de urbanização) no mercado imobiliário a) Do que foi referido até ao presente momento resulta que uma operação de loteamento, quer na sua configuração estrita, quer enquanto reparcelamento urbano, altera a situação jurídica dos prédios por ela abrangida. Desde logo, o loteamento urbano dá origem a lotes e a parcelas, uns e outras com estatutos jurídicos precisos. O estatuto das parcelas a que aqui nos referimos decorre quer do fim a que se destinam – a áreas verdes e de utilização colectiva, a equipamentos e a infra-estruturas, quer da respectiva titularidade, já que ou serão cedidas ao município (para o seu domínio público ou privado, embora, neste caso, sempre afectas àquelas finalidades e não livremente transaccionáveis), ou permanecerão propriedade privada embora com o estatuto especial de partes comuns dos lotes e dos edifícios que neles venham a ser erigidos (artigos 43.° e 44.°). Por sua vez, o estatuto específico dos lotes advém-lhes da edificabilidade precisa que para eles é definida, a qual fica estabilizada com (218) Cfr. Fernanda Paula Oliveira, O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. As Alterações do Decreto-Lei n.° 319/2007, de 19 de Setembro, Coimbra, Almedina, 2008, e Dulce Lopes, “Planos de pormenor, unidades de execução e outras figuras de programação urbanística em Portugal”, in Direito Regional e Local, n.° 03 (Julho/Setembro de 2008). 225 Fernanda Paula Oliveira o licenciamento (ou admissão da comunicação prévia) do loteamento. Os lotes distinguem-se, assim, como referido, das restantes unidades prediais. Para estas, o seu estatuto urbanístico (possibilidade do seu destino para construção e os termos em que esta pode ser efectivada) terá de decorrer de outros actos de gestão urbanística na sequência, em regra, da regulamentação de instrumentos de planeamento municipal: ou de uma informação prévia favorável à edificação (a qual, contudo, tem um período de vigência limitado de um ano, ao contrário do que sucede com o lote cujas prescrições permanecem enquanto a licença de loteamento e respectivo alvará se mantiverem em vigor (219)), ou de uma licença ou comunicação prévia de obras de edificação. Já o estatuto urbanístico dos lotes – a respectiva edificabilidade – decorre do acto (licenciamento ou admissão da comunicação prévia) do loteamento, não obstante a necessidade, no momento da concretização da edificabilidade por ele conferida (isto é, no momento de erigir uma edificação no lote), do desencadeamento de um novo procedimento para o efeito. Dado, porém, o facto de as condições urbanísticas da edificação se encontrarem definidas e estabilizadas com a licença de loteamento – que define, para cada lote, a respectiva área de construção, área de implantação, número de pisos e número de fogos dos edifícios a implantar, com especificação dos fogos destinados a habitação a custos controlados quando previstos [alínea e) do n.° 1 do artigo 77.°] –, este segundo acto visa apenas a verificação da conformidade urbanística do projecto com estas prescrições constantes do alvará de loteamento para o respectivo lote. Por este motivo, o procedimento de controlo das construções a erigir em lotes resultantes de uma operação de loteamento é o procedimento de comunicação prévia. É, aliás, em função das condições de edificabilidade dos lotes definida de forma estável na licença ou admissão da comunicação prévia de um loteamento que se definem os deveres e os encargos a assumir pelo promotor do loteamento de forma a garantir que a edificabili(219) Ao contrário da informação prévia, um loteamento apenas caduca por motivos atinentes à realização das respectivas obras de urbanização. O que significa que estando estas realizadas, o loteamento vigorará de uma forma tendencialmente eterna. Por esse motivo, sempre que se pretenda instalar nos lotes uma edificação com parâmetros distintos dos para ele previstos, terá de ser promovida uma alteração ao loteamento, de acordo com as regras e os procedimentos legalmente estabelecidos. 226 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão dade prevista para a área (isto é, para cada lote a criar com a operação de loteamento) tem condições para poder ser concretizada. Deveres e encargos estes que apenas se compreendem em função dos direitos urbanísticos que a licença de loteamento confere. A promoção de uma operação de loteamento baseia-se precisamente nesta vantagem: de criar unidades prediais com este estatuto urbanístico. Com esta operação urbanística prepara-se a área para acolher edificação urbana, a qual, porque o acto que sobre ela incide define as condições precisas da mesma, fica desde logo definida e estabilizada. Esta operação funciona, pois, como um factor de segurança e estabilidade jurídica no mercado imobiliário, em especial, criando para os adquirentes dos lotes um conjunto de garantias na concretização de uma edificabilidade que também adquirem quando adquirem o lote. Por isso, embora seja verdade que nem a licença nem a comunicação prévia de uma operação de loteamento sejam actos que, por si só, permitam a edificação nos lotes – a qual fica dependente de um posterior acto da administração (a admissão da respectiva comunicação prévia) –, a mesma define, porém, de uma forma detalhada e concreta, as condições urbanísticas das edificações a implantar nos lotes, sendo esta precisamente a sua função: a de definir, estabilizando os parâmetros urbanísticos (de edificabilidade) a que obedecerão as edificações a erigir nos lotes e as condições imprescindíveis para que as mesmas possam ser utilizadas de uma forma urbanisticamente sustentável, quer do ponto de vista da existência de infra-estruturas, quer de zonas verdes e de utilização colectiva ou de equipamentos destinados a servir os mesmos. Porque estabiliza aquelas regras e parâmetros de edificabilidade, o licenciamento ou a comunicação prévia de uma operação de loteamento introduzem um factor de segurança e estabilidade no mercado imobiliário, criando uma mais-valia que não é descurada por terceiros que adquirem os lotes. Esta mais-valia decorre, para estes adquirentes, da garantia: – de concretizar no lote a operação urbanística (edificação) para ele prevista e nas condições definidas no respectivo título (em regra, o alvará), ainda que os instrumentos de planeamento se alterem; (cfr. artigo 48.° a contario); – da execução efectiva das obras de urbanização, já que, caso o promotor do loteamento as não realize (como é seu dever) pode solicitar 227 Fernanda Paula Oliveira que a câmara, ao abrigo do disposto no artigo 84.°, as realize em substituição daquele (à custa da caução por ele prestada) ou pode, nos termos previstos no artigo 85.°, requerer autorização judicial para promover directamente a execução de obras de urbanização; – do cumprimento das condições estabelecidas no alvará ou da comunicação prévia admitida por parte dos restantes adquirentes dos lotes, do promotor e da própria câmara (artigo 77.°, n.° 3); – de uma certa estabilidade das regras constantes do alvará ou comunicação prévia admitida, uma vez que as respectivas alterações estão sujeitas a regras mais rígidas de legitimidade, em que os adquirentes dos lotes têm uma palavra a dizer (cfr. o disposto no n.° 3 do artigo 27.°) e, tratando-se de alteração da iniciativa da câmara (artigo 48.°), as alterações que prejudiquem os adquirentes dos lotes dão lugar a indemnização (220). b) Daqui se pode concluir que o loteamento não confere apenas o direito a proceder à divisão/transformação fundiária da sua área de intervenção, conferindo também o direito à edificabilidade nele prevista. Apenas por assim ser se compreende que a lei exija que sejam cumpridos, logo no momento da aprovação do loteamento, todas as exigências que permitam a concretização da edificabilidade que esta (220) Para além destas regras, funcionam também como garantia dos terceiros adquirentes dos lotes a obrigatoriedade de na publicidade à alienação de lotes, de edifícios ou fracções autónomas neles construídos, em construção ou a construir, ser obrigatório mencionar o número do alvará de loteamento ou da comunicação prévia e a data da sua emissão ou admissão pela câmara municipal, bem como o respectivo prazo de validade (artigo 52.°) e ainda a exigência de que nos títulos de arrematação ou outros documentos judiciais, bem como nos instrumentos relativos a actos ou negócios jurídicos de que resulte, directa ou indirectamente, a constituição de lotes nos termos da alínea i) do artigo 2.° (excepto em caso de isenção), ou a transmissão de lotes legalmente constituídos, dever constar o número do alvará ou da comunicação prévia, a data da sua emissão ou admissão pela câmara municipal, a data de caducidade e a certidão do registo predial – artigo 49.°, n.° 1. Acresce não poderem ser celebradas escrituras públicas de primeira transmissão dos imóveis construídos nos lotes ou de fracções autónomas desses imóveis sem que seja exibida perante o notário certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da recepção provisória das obras de urbanização ou comprovativa de que a caução prestada para garantir a realização daquelas obras é suficiente. Caso as obras de urbanização tenham sido realizadas pela câmara municipal ou por terceiros (artigos 84.° e 85.°), as escrituras podem ser celebradas mediante a exibição de certidão emitida pela câmara municipal, comprovativa da conclusão de tais obras, devidamente executadas em conformidade com os projectos aprovados. 228 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão operação admite, exigências essas que ficam a cargo do promotor do loteamento por ser ele quem promove a operação que as justifica. E estas exigências serão maiores ou menores consoante seja a maior ou menor edificabilidade prevista no loteamento e os usos nele admitidos. Ou seja, os encargos a assumir pelo promotor do loteamento serão justificados na edificabilidade e nos usos concedidos pela respectiva licença ou comunicação prévia, sendo indispensável determinar quais são estes direitos para se definir (calcular) aqueles encargos. E embora a edificação a erigir nos lotes esteja, ela mesma, dependente de um procedimento de controlo preventivo, é a operação de loteamento onde as mesmas se vão implantar que, por as preverem e admitirem de forma precisa, implicam uma sobrecarga no território justificadora daqueles encargos. Ou seja, é o loteamento que, ao transformar os prédios em lotes urbanos, determina uma sobrecarga justificadora daqueles deveres. É pois ao promotor do loteamento (e não aos construtores nos lotes) que cabe o encargo de dotar a área de todas as características destinadas a servir a edificação a erigir, designadamente as necessárias a garantir qualidade de vida dos futuros utentes ou residentes. Deste modo, é quem promove uma operação de loteamento que tem de prever, nos respectivos projectos, áreas destinadas a espaços verdes e de utilização colectiva, infra-estruturas viárias e equipamentos de acordo com os parâmetros de dimensionamento constantes de plano municipal de ordenamento do território (n.° 1 do artigo 43.°), áreas essas que tanto podem permanecer propriedade privada, como ser cedidas ao município (artigo 44.°) (221). Nas hipóteses de a área a lotear já estar servida por infra-estruturas ou não se justificar a localização de qualquer equipamento ou espaços verdes públicos, o promotor terá de pagar uma compensação ao município a qual é justificada, precisamente, no facto de este tirar partido de áreas já existentes destinadas a esses fins. (221) No caso de licenciamento, as referidas parcelas integram o domínio municipal por força da emissão do alvará; no caso da comunicação prévia, uma vez que não é emitido um alvará, a integração das mesmas no domínio municipal é efectuada por instrumento próprio a realizar pelo notário privativo da câmara dentro do prazo previsto para a respectiva admissão (cfr. n.° 3 do artigo 44.°). Sobre os problemas que esta norma coloca, vide Fernanda Paula Oliveira /M aria José Castanheira Neves/Dulce Lopes/Fernanda M açãs, Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, cit., comentário ao artigo 44.°. 229 Fernanda Paula Oliveira O promotor do loteamento tem, ainda, de forma a permitir o cumprimento do fim a que se encontram destinados os lotes (edificação urbana), de realizar as respectivas obras de urbanização (prestando caução que garanta a sua regular execução) e de pagar a taxa pela realização de infra-estruturas urbanísticas, que corresponde à contrapartida pela realização, pelo município, de infra-estruturas gerais originadas pela operação de loteamento (integrando-se na noção genérica de infra-estruturas os espaços verdes e equipamentos), por contraposição às infra-estruturas locais [obras de urbanização, conceito que, nos termos da alínea i) do artigo 2.°, claramente integra aqueles espaços], que são, como vimos, da responsabilidade do promotor do loteamento. De onde resulta que, por proceder à constituição de lotes, o promotor do loteamento tem de cumprir um conjunto de encargos que garantam a efectiva capacidade de os mesmos serem destinados para fim para que são criados: a edificação urbana. Apenas com o cumprimento daqueles encargos, a edificabilidade decorrente do loteamento lhe será concedida. Sendo os lotes resultantes de uma operação de loteamento unidades prediais com uma capacidade edificativa precisa servidos, de forma a garantir a efectiva concretização daquela edificabilidade, pelas necessárias infra-estruturas urbanísticas – as quais devem ser realizadas dentro de determinados prazos, ainda que a edificação nos lotes apenas surja mais tarde –, e por áreas verdes e de utilização colectiva e equipamentos – que ficam logo previstas ou, sendo caso disso, são imediatamente cedidas ao município para aqueles fins (não podendo ser destinados a outros sob pena de reversão) –, bem se compreende que, no mercado, um lote integrado num loteamento tenha um valor mais elevado do que um prédio não abrangido por este tipo de operação. É que quem compra um lote, compra não apenas um novo prédio, mas um prédio destinado a construção (nos termos e para os fins nele especificamente identificados), devidamente infra-estruturado (existem pelo menos garantias de que as infra-estruturas serão realizadas, se não directamente pelo promotor, pelo menos pela câmara ou pelos próprios adquirentes dos lotes à custa daquele) e com uma capacidade edificativa precisa e concretamente definida (por, para cada lote, o alvará de loteamento identificar não apenas o fim da edificação, mas também a respectiva área de construção, área de implantação, número de fogos e número de pisos). 230 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão É, aliás, em função desta previsão que se determina, como vimos, a sobrecarga da operação no território e, deste modo, o montante dos encargos a assumir pelo promotor que, naturalmente, os repercutirá no valor dos lotes. E é por este facto também que o artigo 116.° determina que, na comunicação prévia de obras de construção ou ampliação em área abrangida por operação de loteamento ou alvará de obras de urbanização, não há lugar ao pagamento da taxa de urbanização. É que, tendo a área sido abrangida por operação de loteamento, o lote a construir já está servido por infra-estruturas locais (realizadas pelo promotor), tendo as infra-estruturas gerais sido já objecto de taxas. A não exigência de taxas neste momento visa assim, desde logo, evitar uma dupla tributação do mesmo facto. Poderia pensar-se, sendo este o fundamento para a não cobrança da taxa, que, se por qualquer motivo, a taxa de urbanização não tiver sido cobrada aquando da licença ou admissão da comunicação prévia do loteamento – como acontece quando este é de iniciativa pública ou quando tenha sido decidida a concessão de uma isenção do pagamento desta taxa ao respectivo promotor –, que a mesma taxa poderia ser cobrada aquando da comunicação prévia das edificações a implantar nos lotes, já que não está aqui em causa uma dupla tributação do mesmo facto. Pensamos, contudo, que a solução não pode ser esta. Com efeito, atento o regime aqui definido, o legislador não faz depender, nos casos em que exista operação de loteamento, a cobrança desta taxa de a mesma ter sido ou não cobrada no momento do seu licenciamento. Pelo contrário, faz depender a sua cobrança de a comunicação prévia da edificação ter sido, ou não, antecedida de operação de loteamento ou obras de urbanização. Em nosso entender, tal assim é pelo facto de, tendo havido aquelas operações, as mesmas serem determinantes do valor dos lotes em causa (por se tratarem de operações que criam lotes adequados a servir as edificações a erigir e, por isso, devidamente infra-estruturados), o que significa que, neste caso, a comparticipação que é feita nas despesas de infra-estruturação da zona ocorre, não de forma directa, através do pagamento da taxa, mas indirectamente pela integração de parte do custo daquelas infra-estruturas no preço do lote. Significa isto, dito de outro modo, que a existência (ou a possibilidade de existência) de infra-estruturas que sirvam os lotes é um factor de valorização destes, incorporado no preço que os adquirentes dos lotes por eles pagam. 231 Fernanda Paula Oliveira Seria, aliás, altamente atentatório da confiança dos particulares que adquirem no mercado imobiliário lotes destinados a construção integrados em loteamentos e, por isso, devidamente infra-estruturados e servidos pelos necessários espaços verdes e equipamentos, exigir, precisamente pelo mesmo facto (a realização daquelas infra-estruturas), o pagamento da taxa respectiva. Mais, o licenciamento e a comunicação prévia de uma operação de loteamento têm ainda implicações fiscais, designadamente para efeito de Imposto Municipal sobre Imóveis, sendo as especificações constantes do alvará tidas em conta para efeitos fiscais. Por isso, e como afirmámos, as operações de loteamento são uma forma relevante de ocupação do território e os actos que sobre elas incidem desempenham importantes funções e têm relevantes efeitos nas esferas jurídicas de todos aqueles que tenham de se relacionar com esta operação urbanística. II. Algumas questões específicas referentes às obras de edificação 1. Noção Segundo o artigo 2.°, alínea a), a edificação é a actividade ou o resultado da construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de um imóvel destinado a utilização humana bem como de qualquer outra construção que se incorpore no solo com carácter de permanência (222). A noção do que sejam obras de construção, recons- (222) A noção de obras de edificação não coincide totalmente com a noção de obras de construção, sendo mais restrita do que esta. Enquanto aquelas dizem respeito a todas as obras relativas a edifícios, estas correspondem a todos conjuntos erigidos pelo homem, com quaisquer materiais reunidos e ligados artificialmente ao solo ou a um imóvel com carácter de permanência, com individualidade própria e distinta dos seus elementos. Daqui pode concluir-se que se toda a edificação é uma construção, nem toda a construção se traduz necessariamente numa edificação. Cfr. A ntónio Pereira da Costa, Regime Jurídico do Licenciamento de Obras Particulares, Anotado, Coimbra, Coimbra Editora, 1993, pp. 25-26. No entanto, ao contrário do que seria normal, o RJUE utiliza o termo edificação como tendo um sentido mais amplo que o de construção, fazendo integrar nele não só as construções relativas a edifícios mas todas as construções que se incorporem no solo com carácter de per- 232 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão trução, ampliação, alteração ou conservação encontra-se, respectivamente, nas alíneas b) a f) do artigo 2.° (223). 2. O projecto de arquitectura e respectiva aprovação como o momento central do procedimento de controlo preventivo das obras de edificação O procedimento de licenciamento de obras particulares encontra-se dividido em dois grandes momentos: o primeiro, relativo à aprovação do projecto de arquitectura; o segundo, referente à junção e apreciação dos projectos de especialidades com vista ao licenciamento da obra, momento este que tem como “pressuposto” necessário uma deliberação favorável no âmbito do primeiro. O primeiro momento incide, pois, exclusivamente, sobre o projecto de arquitectura, visando verificar o cumprimento, por parte deste, das normas, designadamente de planeamento, que estejam em vigor na zona. Se o projecto de arquitectura não estiver em condições de ser aprovado, designadamente por desconformidade com o instrumento de planeamento em vigor, não haverá lugar a uma decisão autónoma sobre a apreciação do projecto de arquitectura, sendo imediatamente proferido o acto de indeferimento do pedido de licenciamento. Se, pelo contrário, houver lugar a uma decisão positiva de aprovação do projecto de arquitectura, esta não coincidirá com o licenciamento da obra, apenas determinando que o procedimento tendente a tal licenciamento pode prosseguir com a junção e apreciação dos projectos de especialidades. Existem, pois, nesta segunda situação, duas decisões diferentes: uma relativa ao projecto de arquitectura, outra relativa ao licenciamenmanência, o que não parece o mais correcto do ponto de vista conceptual. Não obstante esta crítica, a verdade é que é este conceito que vale para efeitos do presente diploma, devendo ser em consonância com o mesmo que as suas disposições devem ser interpretadas. (223) O Decreto-Lei n.° 445/91 definia como obras de construção civil as obras de demolição e os trabalhos que, não possuindo natureza exclusivamente agrícola, implicassem uma alteração da topografia local. O actual diploma demonstra uma maior lógica ao reconhecer que as obras de demolição e os trabalhos de remodelação de terrenos não são obras de construção civil, mas sim operações urbanísticas que, como tal, devem estar também sujeitas a um controlo administrativo preventivo. Sobre a noção de obras de demolição e de trabalhos de remodelação de terrenos, cfr., respectivamente, alíneas g) e l) do artigo 2.°. 233 Fernanda Paula Oliveira to da obra, funcionando a primeira como pressuposto necessário da segunda (224). Dentro desta lógica de funcionamento do procedimento de licenciamento de obras particulares, e considerando a configuração legal que lhe é atribuída, o acto que aprova o projecto de arquitectura pronuncia-se, de uma forma definitiva, sobre os aspectos de conteúdo urbanístico da obra a que dizem respeito, a ponto de, no prosseguimento do procedimento, tais aspectos não poderem voltar a ser questionados quando sejam válidos. A conformidade do projecto com os planos ou com outras normas urbanísticas é feita, de facto, no momento de apreciação do projecto de arquitectura, ficando, assim, tal questão aí definitivamente decidida. Os aspectos que ficam por resolver são apenas os atinentes aos projectos de especialidades, relativamente aos quais as normas de cariz urbanístico, designadamente as constantes dos instrumentos de planeamento em vigor, já nada têm a dizer (225). Por este motivo, sempre consideramos que a aprovação do projecto de arquitectura corresponde a um acto que, no âmbito do procedimento de licenciamento de obras de construção civil, se pronuncia, de forma definitiva, sobre a conformidade do projecto com as normas legais e regulamentares definidoras das condições urbanísticas da sua realização, designadamente as constantes dos instrumentos de planeamento em vigor (226). A aprovação do projecto de arquitectura é, pois, um acto administrativo prévio, na medida em que, através dele, a Administração aprecia uma série de condições exigidas por lei que ficam, assim, definitivamente decididas, tornando-se, por isso, aquele acto, relativamente a estas, constitutivo de direitos (pelo menos, do direito a que estas (224) Esta divisão procedimental não ocorre no procedimento de comunicação prévia, sendo certo, contudo, que também aqui ao órgão municipal competente cabe apreciar, em exclusivo, as questões urbanísticas da obra, isto é, aquelas que têm expressão no projecto de arquitectura. (225) Cfr. Fernanda Paula Oliveira, Anotação ao Acórdão do STA de 20.06.2002, Processo n.° 142/02, 1.a Secção do Contencioso Administrativo, in Revista do Centro de Estudos do Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, n.° 9 (2002). (226) Cfr. “Duas Questões no Direito do Urbanismo: Aprovação de Projecto de Arquitectura (Acto administrativo ou Acto Preparatório) e Eficácia de Alvará de Loteamento (Desuso?)”, Anotação ao Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 05.05.1998, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.° 13 (Janeiro/Fevereiro de 1999), pp. 42 e segs. 234 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão questões não voltem a ser postas em causa e discutidas no decurso do procedimento de licenciamento se aquela apreciação for válida) e sendo, também por isso, vinculativo para a câmara municipal na deliberação final (227). E não é pelo facto de a aprovação do projecto de arquitectura ser incorporada na decisão final de licenciamento que este acto perde aquela natureza. Tal significa tão-só que nesta aprovação final são assumidas (incorporadas) as precedentes aprovações parcelares, não sendo consentido à Administração municipal proceder livremente, nesse momento, ao reexame das anteriores aprovações (228). Esta natureza do acto de aprovação do projecto de arquitectura tem vindo a ser admitida pela nossa legislação que lhe tem vindo a reconhecer virtualidades próprias. Assim, com as alterações introduzidas ao Decreto-Lei n.° 445/91 pelo Decreto-Lei n.° 250/94, de 15 de Outubro, passou a prever-se expressamente que, após a aprovação daquele projecto, o interessado possa requerer e obter autorização municipal para os trabalhos de escavação e contenção periférica até à profundidade do piso de menor cota (artigo 18.°), tendo o regime consagrado pelo RJUE vindo admitir, para além das referidas acções, que o interessado, após a aprovação daquele projecto, possa ainda proceder à demolição dos edifícios que se pretendem substituir com a obra objecto da aprovação do projecto de arquitectura (n.os 1 e 2 do artigo 81.°). Mais, este último regime legal veio ainda admitir expressamente a possibilidade de emissão de uma licença parcial para a construção da estrutura imediatamente após a aprovação do projecto de arquitectura, significando esta solução que se admite que este acto define, de uma forma final e definitiva, todas as questões que têm a ver com a estrutura da obra (implantação, cércea, área de construção, número de pisos, volumetria, etc.). (227) Como tivemos oportunidade de afirmar na anotação referida na nota anterior, com a aprovação do projecto de arquitectura, determinados aspectos da pretensão ficam decididos “de modo final”, em termos de o pedido apenas poder ser indeferido com base noutros motivos “que não ponham em causa aquilo que já ficou decidido a propósito do projecto de arquitectura”. (228) Com efeito, a aprovação do projecto de arquitectura concentra e esgota o exercício dos poderes constitutivos urbanísticos dos órgãos municipais. Assim o afirma expressamente A ntónio Duarte de A lmeida, “A natureza da aprovação do projecto de arquitectura e a responsabilidade pela confiança no Direito do Urbanismo”, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.° 45 (Maio/Junho de 2004), pp. 33-35. 235 Fernanda Paula Oliveira Acresce, se atentarmos nos motivos taxativamente identificados na lei para o indeferimento do pedido de licenciamento, que em todos eles estão em causa questões que devem ser aferidas aquando da apreciação do projecto de arquitectura, o que significa que, cumpridas estas (e aprovado o projecto), não existem motivos invocáveis pela Administração para indeferir o pedido de licenciamento. Note-se que esta questão da natureza jurídica do acto de aprovação do projecto de arquitectura tem efeitos a vários níveis e com diferentes escalas de relevância. Desde logo, em termos de indemnizabilidade, quando a entrada em vigor superveniente de um plano ou a prática de um acto administrativo posterior determinem a caducidade, anulação ou declaração de nulidade ou revogação do mesmo. Neste caso, tem sido genericamente aceite que a aprovação do projecto de arquitectura, ao configurar-se como um acto prévio do procedimento de licenciamento de obras de edificação, que define de forma estável determinados elementos que o acto final do procedimento deve acolher, dará lugar, precisamente por se tratar de um acto com efeitos constitutivos (mas não com eficácia permissiva), ao pagamento da indemnização devida por afectação de uma posição jurídica carecida de protecção do seu titular (cfr., neste sentido, designadamente, o Acórdão da 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo de 16.05.2001, Processo n.° 46 227). Outra situação, cuja resolução é essencial para uma correcta caracterização deste acto em termos substantivos, coloca-se nas hipóteses em que a câmara municipal tenha já aprovado o projecto de arquitectura e, entretanto, antes do acto final de licenciamento, as referidas regras urbanísticas se tenham alterado. Não há dúvida que, se o plano determinar a caducidade da aprovação do projecto de arquitectura, o particular terá, do mesmo modo que no pedido de informação prévia, direito a uma indemnização. Contudo, a determinação da caducidade por efeito da entrada em vigor de um novo ou modificado instrumento de planeamento não configura, em face do princípio da aplicação das leis no tempo, a situação regra, o que não nos dispensa de questionar se, nas hipóteses em causa, o acto final do procedimento deve respeitar estas normas ou se deve inscrever a definição da situação feita no âmbito do projecto de arquitectura que com elas não se conforma. 236 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão Deve realçar-se, a este propósito, que a aprovação do projecto de arquitectura é um acto que, relativamente à pretensão apresentada pelo particular, aprecia apenas (mas de uma forma completa) parte da pretensão, ou seja, apenas, embora todos os aspectos relativos à arquitectura (a estrutura da obra, a respectiva implantação, a sua inserção na envolvente, a respectiva cércea, alinhamento, o respeito das condicionantes dos planos em vigor, etc.). Uma vez apreciados, ficam estes aspectos definitivamente decididos, faltando apenas responder às questões relativas às respectivas especialidades. Estamos, neste caso, perante um único procedimento dividido em duas partes, em que o legislador entendeu que o momento adequado para a apreciação da conformidade com o plano é o da apreciação do projecto de arquitectura (que, para além do mais, não se prevê ser repetida na hipótese de mudança das regras jurídicas aplicáveis). Não teria, por isso, lógica, até por uma questão de economia procedimental, que, estando definitivamente decidida a questão da conformidade da pretensão com o plano, a mesma tivesse de voltar a ser apreciada no momento da emissão da licença de construção. Assim, tendo em consideração que a conformidade do projecto com os instrumentos de planeamento territorial, deve ser verificada na fase da apreciação do projecto de arquitectura, qualquer alteração posterior daqueles instrumentos é irrelevante, excepto quando o plano disponha ele próprio noutro sentido. Com efeito, tendo em consideração o princípio anteriormente referido do tempus regit actum (que determina que a validade de um acto administrativo depende das normas legais e regulamentares aplicáveis em vigor à data da sua prática) e a natureza de verdadeiro acto administrativo da aprovação do projecto de arquitectura, teremos de concluir que ele será validamente emitido se não contrariar as normas vigentes no momento em que for praticado, sendo indiferente qualquer alteração normativa que se venha a verificar posteriormente, tanto mais que o momento em que se deve verificar a referida conformidade é precisamente o da apreciação do projecto de arquitectura. Ora, se no momento em que for aprovado o projecto de arquitectura forem cumpridas todas as normas que nessa data estão em vigor, tal significa que aquela aprovação é válida, razão pela qual, tratando-se de um acto constitutivo de direitos (pelo menos do direito a que as 237 Fernanda Paula Oliveira questões por ele apreciadas não voltem a ser questionadas no decurso do procedimento), não poderá ser posto em causa pelo plano director municipal que entrou em vigor supervenientemente, sob pena de violação, aqui sim, do disposto no artigo 140.° do CPA (229). 3. O regime da garantia do existente Uma questão relevante no que concerne às obras de edificação diz respeito ao regime especial que é deferido para os edifícios existentes o qual se encontra plasmado entre nós no artigo 60.°. Este regime tem particular relevo já que corresponde à consagração, entre nós, do princípio da garantia do existente, quer na sua vertente passiva, quer activa. A primeira destas vertentes, encontra-se prevista no n.° 1 daquele normativo e corresponde à consagração da situação geral de aplicação das normas no tempo traduzida no princípio tempus regit actum que se encontra consagrada no artigo 67.° – normativo que determina que a validade das licenças ou autorizações depende da sua conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis em vigor à data da sua prática. Por isso se afirma que as edificações construídas ao abrigo do direito anterior e as utilizações respectivas não são afectadas por normas legais e regulamentares supervenientes. Para este efeito, deve considerar-se como edificações erigidas ao abrigo do direito anterior aquelas que, no momento da respectiva construção, cumpriram todos os requisitos materiais e formais exigíveis, o que significa que o regime a que aqui nos referimos diz respeito às edificações legalmente existentes, não correspondendo à fixação de um regime especial para legalizações. Note-se, porém, que o regime previsto no n.° 1 (assim como o constante do n.° 2) do artigo 60.° é aquele que vale quando o plano nada determine a respeito da sua aplicabilidade. É que os instrumen(229) Sobre esta questão, vide Fernanda Paula Oliveira, “Anotação ao Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 20.06.2002”, Processo n.° 143/02 (1.a Secção)”, in RevCEDOUA, n.° 9, 2002. Para uma apreciação crítica da jurisprudência do STA que nega a natureza de acto constitutivo de direitos à aprovação do projecto de arquitectura, e que, portanto, refere a aplicação do princípio tempos regit actum ao momento do licenciamento e não da aprovação do projecto de arquitectura, vide A ntónio Cordeiro, Arquitectura e Interesse Público, Coimbra, Almedina, 2008. 238 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão tos de planeamento, como acontece como todas as restantes normas jurídicas, podem regular expressamente a sua aplicação no tempo atendendo à transitoriedade das situações que regulam, podendo dispor em sentido contrário do que decorre do disposto no n.° 1 do artigo aqui referido (230). Por sua vez, o n.° 2 do artigo 60.° consagra o princípio da garantia do existente na sua vertente activa, que configura, ao contrário da anterior, um desvio ao princípio do tempus regit actum (como, aliás, resulta expresso da parte final do artigo 62.°). Assim, tratando-se de uma edificação existente relativamente à qual o interessado pretenda promover obras de reconstrução ou de alteração, poderá não ser exigido, na medida em que não seja possível, o cumprimento de novas exigências legais e regulamentares entradas em vigor supervenientemente à construção originária. Admite-se, assim, que possam ser licenciadas ou admitidas obras de reconstrução ou de alteração que não cumpram as regras em vigor no momento da decisão, desde que tais obras se refiram a edificações legalmente existentes anteriores à entrada em vigor dessas normas e estas edificações não originem ou agravem a desconformidade com as normas em vigor ou tenham como resultado a melhoria das condições de segurança ou salubridade da edificação. O princípio que aqui se encontra consagrado visa, como se afirmava no preâmbulo da versão inicial do RJUE, garantir a recuperação do património construído (e consolidado) já que se permite a realização de obras susceptíveis de melhorar as condições de segurança e de salubridade das edificações existentes que, de outra forma, não fosse a instituição deste princípio, teriam de ser indeferidas. Deste âmbito de “protecção do existente” excluir-se-ão, em princípio, as obras de ampliação. Porém, a própria definição disjuntiva sobre os fundamentos para a realização das obras admitidas pelo artigo 60.°, e o facto de elas se poderem fundar na melhoria das condições de segurança e salubridade da edificação, objectivo muitas vezes impossível de conseguir com obras de reconstrução ou de mera alteração (como sucede com a integração de casas de banho em casas antigas) é um elemento que pode levar a admitir alguma ampliação (ainda que (230) Para mais desenvolvimentos sobre esta questão, vide o nosso “A Regulamentação de situações intertemporais pelos Planos Directores Municipais”, in Revista de Direito Público e Regulação, CEDIPRE, em: http://www.fd.uc.pt/cedipre/revista/revista_2.pdf. 239 Fernanda Paula Oliveira esta devesse ser balizada, em termos de área, nos instrumentos de planeamento aplicáveis) (231). III. Alguns aspectos comuns às várias operações urbanísticas, independentemente dos procedimentos a que estão sujeitos 1. Obrigações e ónus do requerente ou promotor de operações de loteamento, obras de urbanização e obras de edificação O RJUE fixa um conjunto de condutas a cargo do promotor de uma operação urbanística, que constituem um conjunto de deveres e ónus a cumprir por ele. De uma forma tópica, estes são, designadamente: Deveres Ónus •Publicidade do requerimento ou comunicação prévia – artigos 12.° e 98.°, n.° 1, alínea i). • Pagamento das taxas devidas – artigo 116.°: taxa pela concessão da licença ou admissão da comunicação prévia e taxa pela realização das infra-estruturas urbanísticas. •Publicidade do alvará e da admissão da comunicação prévia – artigos 78.° e 98.°, n.° 1, alínea j). • Cedência de parcelas de terrenos para a implantação de espaços verdes públicos e equipamentos de utilização colectiva e as infra-estruturas que, de acordo com a lei e a licença ou comunicação prévia, devam integrar o domínio municipal – artigo 44.° (232). •Realização das obras de urbanização de acordo com os projectos aprovados e dentro dos prazos fixados – artigo 98.°, n.° 1, alínea b). • Pagamento de compensações em numerário ou em espécie se: o prédio já estiver servido pelas infra-estruturas referidas na alínea h) do artigo 2.°; não se justificar a localização de qualquer equipamento ou espaço verde público (233). (continua) (231) A realização de obras de ampliação em relação a edifícios existentes é expressamente admitida no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (cfr. artigo 51.° do Decreto-Lei n.° 307/2009, de 23 de Outubro). (232) Estas cedências podem ser feitas ora para o domínio público, ora para o domínio privado do município. Esta última solução justifica-se particularmente quando se trate de par- 240 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão (continuação) Deveres Ónus •Existência de um livro de obras no local onde estas decorrem – artigos 97.° e 98.°, n.° 1, alíneas l) e m). • Prestação de cauções, no domínio dos loteamentos para garantir a realização das obras de urbanização – artigo 54.°. •Limpeza da área e remoção de entulhos e demais detritos – artigo 98.°, n.° 1, alínea n). •No caso de obras de edificação, afixação de uma placa em material imperecível no exterior da edificação ou a gravar num dos seus elementos exteriores, com a identificação dos técnicos do respectivo projecto de arquitectura e do director técnico da obra – artigo 61.°. 2. Direitos dos promotores das operações urbanísticas No que concerne aos direitos e garantias do requerente e do beneficiário dos actos de gestão urbanística, apontam-se como os mais importantes: a) Direito à informação O direito à informação, que decorre do artigo 268.°, n.os 1 e 2, da CRP e que se encontra regulado nos artigos 61.° a 65.° do CPA, tem também um importante relevo em matéria de licenciamento ou autoricelas destinadas a equipamentos de utilização colectiva, uma vez que, podendo estes ser privados, facilita os negócios jurídicos que podem ser realizados sobre aquelas parcelas, ainda que não possam ser alienados em direito de propriedade, uma vez que o legislador quis garantir uma titularidade dos mesmos pelo município. (233) A lei refere-se, ainda, ao pagamento das compensações ou quando as áreas necessárias para espaços verdes, equipamentos e infra-estruturas fiquem propriedade privada nos termos do n.° 4 do artigo 43.°, solução que a aplicar-se literalmente não pode deixar de estar sujeita a críticas, já que a figura das compensações deve ser vista como um mecanismo de reposição da igualdade entre, por um lado, os administrados que são onerados com cedências ou com a previsão de áreas que se mantêm na sua titularidade privada e, por outro, aqueles que não são onerados com qualquer uma destas imposições. Por esse motivo, consideramos que tais compensações devem ligar-se não ao facto de haver (ou não) cedências para o domínio municipal, mas ao facto de se mostrarem respeitados os parâmetros de dimensionamento aplicáveis. Neste sentido, vide Fernanda Paula Oliveira /M aria José Castanheira Neves/Dulce Lopes/Fernanda M açãs, Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, cit., pp. 328 e segs. 241 Fernanda Paula Oliveira zação de operações urbanísticas, encontrando-se regulado, no que diz respeito a esta matéria, no artigo 110.° do RJUE. Nos termos deste artigo, o direito à informação engloba o direito à informação sobre normas em vigor que podem condicionar a realização de operações urbanísticas [n.° 1, alínea a)], direito à informação procedimental, ou seja, sobre o estado e o andamento dos procedimentos que lhe digam directamente respeito [podendo o requerente ser informado, designadamente, dos actos já praticados e respectivo conteúdo, e daqueles que ainda devam sê-lo, bem como dos prazos aplicáveis a estes últimos (n.° 1, alínea b)], e o direito à consulta dos processo e à passagem de certidões (n.os 3 e 4). Nos termos do n.° 6 do artigo 110.°, o direito à informação é extensivo a qualquer interessado que prove ter um interesse legítimo no conhecimento dos elementos que pretendem e, ainda, para a defesa de interesses difusos definidos na lei, a quaisquer cidadãos no gozo dos seus direitos civis e políticos e a associações e fundações defensoras de tais interesses. Deste direito deve distinguir-se o pedido de informação prévia a que nos referimos supra. b) Fixação de prazos para a emissão de pareceres e para a tomada de decisões O facto de, ao longo de todo o RJUE, o legislador se ter preocupado em fixar prazos dentro dos quais as entidades devem praticar os actos procedimentais (quer se trate de pareceres, autorizações ou aprovações, quer se trate do acto principal do procedimento: licença, admissão da comunicação prévia, autorização, informação prévia) traz para o requerente a vantagem decorrente da maior previsibilidade quanto ao seu desenrolar e, por outro lado, tem como consequência, na falta de decisão dentro do prazo, de fazer funcionar o previsto no artigo 111.° e segs. relativos aos efeitos jurídicos do silêncio da Administração. c) Silêncio da Administração (artigo 111.°) O silêncio da administração, quando esta tem o dever legal de decidir de forma expressa (234), tem, no domínio deste diploma, con(234) Deixamos fora de consideração o procedimento de comunicação prévia, onde o silêncio (a não rejeição) significa a admissão da comunicação, já que, neste caso, ao contrário das situações referidas no texto, a Administração não tem o dever legal de decidir de forma expressa se estiverem cumpridas todas as normas legais e regulamentares aplicáveis ao pedido. 242 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão sequências jurídicas diversas, consoante estejamos perante um procedimento de licenciamento ou perante os restantes procedimentos de controlo preventivo. Assim: – se se tratar de acto que devesse ser praticado por qualquer órgão municipal no âmbito de um procedimento de licenciamento, o interessado pode pedir ao tribunal administrativo de círculo a intimação da autoridade competente para proceder à prática do acto devido (deferimento ou indeferimento da pretensão ou emissão de alvará) [alínea a) do artigo 111.° e 112.°]. Decorrido o prazo fixado pelo juiz sem que se mostre praticado o acto devido, o interessado pode iniciar e prosseguir a execução dos trabalhos de acordo com o requerimento apresentado, excepto se o acto em falta for a aprovação do projecto de arquitectura, pois neste caso o que o particular pode fazer é juntar os projectos de especialidades ou, no caso de o ter feito conjuntamente com o requerimento inicial, inicia-se a contagem do prazo que a câmara municipal decida sobre o pedido de licenciamento (artigo 112.°, em especial, o n.° 10) (235). – se se tratar de qualquer outro acto (autorização (236), informação prévia), considera-se tacitamente deferida a pretensão nos termos gerais (isto é, nos termos do disposto no artigo 108.° do CPA) (237). d) Impugnações administrativas Os pareceres expressos que sejam emitidos por órgãos da Administração central ou regional podem ser objecto, para efeitos do presente diploma, de impugnação administrativa autónoma (artigo 114.°). (235) Assim, o RJUE determina, relativamente aos actos a praticar por órgão municipal no âmbito do processo de licenciamento, que o particular pode recorrer à intimação para a prática de acto legalmente devido, logo no primeiro momento em que se verifique o silêncio da Administração. Isto significa que, em caso de silêncio, o procedimento só avança se houver a interposição de uma acção de intimação para a prática do acto devido. Se o particular não lançar mão desta via processual, o silêncio da Administração não produz quaisquer efeitos. (236) No que concerne às autorizações, não poderá deixar de se ter em conta o facto de o respectivo alvará não ser já condição da sua eficácia, não obstante o pagamento da respectiva taxa (que é efectuada quando é requerido o alvará) ser condição para que se possa legitimamente utilizar os edifícios. Para mais desenvolvimentos sobre esta questão, cfr. Fernanda Paula Oliveira /M aria José Castanheira Neves/Dulce Lopes/Fernanda M açãs, Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, cit., pp. 588-589. (237) Para mais desenvolvimentos, vide Fernanda Paula Oliveira /M aria José Castanheira Neves/Dulce L opes/Fernanda M açãs, Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, cit., comentários aos artigos 111.°, 112.° e 113.°. 243 Fernanda Paula Oliveira e) Promoção de consultas O interessado, com vista a imprimir maior celeridade procedimental ao procedimento que visa desencadear, pode solicitar previamente os pareceres autorizações ou aprovações legalmente exigidos junto das entidades competentes, entregando-os juntamente com o requerimento inicial ou comunicação prévia, nos termos previstos no artigo 13.°-B. f) Fixação taxativa dos fundamentos de indeferimento A fixação pela lei dos únicos fundamentos que podem ser invocados pela Administração municipal para indeferir a pretensão urbanística requerida funciona como importante factor de previsibilidade para os particulares já que conhece, à partida, os aspectos a que a Administração se deve/pode ater na apreciação do seu projecto. g) Direito de reversão das parcelas cedidas Nos termos do artigo 45.°, as parcelas cedidas nos termos do artigo 44.° para um fim diferente do aí referido confere ao cedente, ou aos proprietários de pelo menos um terço dos lotes o direito de reversão das mesmas se elas forem utilizadas para fim diferente do que justificou a cedência, ainda que esta tenha sido efectuada para o domínio provado do município. Como alternativa ao exercício deste direito, a lei admite que aqueles exijam uma indemnização por parte do município, que será determinada com referência ao fim a que se encontra afecta a parcela calculada à data a que pudesse haver lugar a reversão (artigo 45.°, n.° 3) (238). Porém, as parcelas revertidas ficam afectas à mesma finalidade que a prevista para a cedência, salvo quando destinada a equipamento de utilização colectiva, pois neste caso ficará afecta a espaço verde, procedendo-se ao averbamento desse facto no respectivo alvará e integração na admissão da comunicação prévia (artigo 45.°, n.° 4). (238) Neste aspecto, o actual regime é mais favorável aos interessados. Efectivamente, ao abrigo do Decreto-Lei n.° 448/91, o particular teria sempre de requerer a reversão, mesmo que não tivesse interesse em ficar com a parcela revertida, tendo o direito, após a efectivação da reversão, de exigir a expropriação da parcela revertida. Agora fica tudo mais simples na medida em que o particular que não esteja interessado na reversão pode logo, em alternativa, exigir a respectiva indemnização por a parcela cedida ter sido utilizada para um fim diferente. 244 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão 3. Validade/invalidade dos actos urbanísticos a) A validade dos actos urbanísticos depende da sua conformidade com as normas legais e regulamentares em vigor à data da sua prática (tempus regit actum) – artigo 67.°. Excepção expressa a esta situação é, como se referiu, a prevista no artigo 60.° que determina a garantia activa de edifícios legalmente existentes à data da entrada em vigor do plano, admitindo-se a licença ou admissão de comunicação prévia de obras de alteração ou de reconstrução num momento em que as normas em vigor já não o permitem. Sendo a licença, a admissão da comunicação prévia, a autorização bem como a informação prévia actos administrativos, aplicam-selhes todas as regras que valem, em geral, para esta forma de actividade da Administração Pública e, por isso, também, as referentes à respectiva invalidade. No que concerne aos tipos de invalidade, para além das causas específicas de nulidade especialmente previstas no artigo 68.°, os mencionados actos serão ainda nulos nas situações previstas no artigo 133.° do CPA, ou em todas as outras em que a legislação preveja especificamente esta forma de invalidade (v.g., o estabelecido no regime legal da RAN e da REN). Nas causas específicas de nulidade previstas no artigo 68.°, encontram-se a violação de instrumentos urbanísticos que dispõem de eficácia directa e imediata em relação aos particulares ou a violação da licença ou admissão da comunicação prévia de loteamento (que é equiparável do ponto de vista material, a um plano de pormenor) bem como, ainda, as medidas preventivas [alínea a) do artigo 68.°]. Trata-se, em qualquer destas situações, de invalidades decorrentes de vícios de conteúdo, tal como o são as que decorrem da desconformidade com pareceres (apenas se vinculativos e não, como o normativo parece indiciar, todos os obrigatórios), autorizações ou aprovações [alínea c) do artigo 68.°]. Também vícios procedimentais podem determinar a nulidade das licenças da admissão das comunicações prévias ou autorizações [cfr. as alíneas b) e c), primeira parte]. Por não se ter previsto um regime especial de nulidade para os actos urbanísticos, o regime que lhes é aplicável sempre foi o regime 245 Fernanda Paula Oliveira geral da nulidade constante do artigo 134.° do CPA, que determina, designadamente, a não produção, por parte do acto nulo, dos respectivos efeitos jurídicos, a possibilidade da sua impugnação a todo o tempo e a respectiva insanabilidade (isto é, a sua insusceptibilidade de ratificação, reforma ou conversão). Não obstante, sempre se suscitaram particulares questões a este propósito, em especial, quando estão em causa actos permissivos, isto é, actos que permitem a concretização de operações urbanísticas que se consolidam de facto e que lhe são exclusivamente imputadas, ou seja, produzidas ou criadas ao abrigo do acto, colocando a questão relevante de saber se as mesmas devem ser “apagadas” (demolidas) por o acto que lhes deu origem ser nulo. Esta questão assume ainda maior relevo quando é certo que as situações que originam a nulidade são variadas, correspondendo algumas delas a meras nulidades por determinação da lei – que não decorrem de uma qualificação necessária ou natural que se imponha em face da particular gravidade de uma infracção cometida pela autoridade administrativa (e que, deste modo, corresponderia também a uma nulidade por natureza), convertendo-se antes, muitas vezes, numa qualificação contingente, variável em função da táctica legislativa (239). Por isso, a doutrina vinha apelando para a necessidade de o legislador, em determinadas situações que apelam para uma peculiar necessidade de conservação dos efeitos práticos decorrentes daqueles actos, estabelecer um regime especial de invalidade, cujo fundamento estaria em evidentes razões de segurança jurídica que impedem o desconhecimento daquelas situações que se apresentam como consolidadas, o que torna particularmente premente a criação de um regime especial que atendesse à diversidade de causas de nulidade, associada à variedade de interesses públicos que, por via do estabelecimento daquela forma de invalidade, se pretende salvaguardar. (239) Só assim se compreende que uma mesma infracção possa determinar, em função da concreta opção legislativa que a cada momento se faça, a nulidade ou a anulabilidade – veja-se, a este propósito, a diferente qualificação em matéria de invalidade, em sucessivos diplomas legais, da consequência decorrente da ausência de promoção de consulta a entidades exteriores ao município. Sobre esta questão, vide Pedro Gonçalves/Fernanda Paula Oliveira, “O Regime da nulidade dos actos administrativos que investem o particular no poder de realizar operações urbanísticas”, cit., p. 36. 246 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão b) A resposta a esta questão veio dada pela Lei n.° 60/2007 que, contudo, em vez de responder ao repto da doutrina – de criação de um regime cujos efeitos fossem moldados consoante as causas de nulidade, a boa ou má-fé do requerente, os interesses públicos protegidos pela norma violada, etc. –, se limitou a estabelecer uma limitação temporal (10 anos) para a declaração de nulidade pela Administração bem como para os factos serem comunicados ao Ministério Público. Mais, o regime instituído coloca um conjunto de dúvidas que não deixarão de se colocar na prática. A primeira delas é a de saber se este prazo de 10 anos vale apenas para o órgão que emitiu o acto ou deliberação e o Ministério Público ou também pode ser aplicado quando, por exemplo, um particular vizinho, que se sinta prejudicado pelo acto nulo, pretende impugná-lo ou quando qualquer outro particular o pretende fazer ao abrigo do direito à acção popular. Contudo, a letra do preceito afigura-se clara ao limitar-se a referir “o autor do acto ou deliberação e o Ministério Público”, o que afasta as situações que acabámos de referir. Por estar em causa um ius singulare, isto é, “um regime oposto ao regime-regra e directamente determinado por razões indissoluvelmente ligadas ao tipo de casos que a norma excepcional contempla” (240), o mesmo não comporta uma aplicação analógica, nos termos do artigo 11.° do Código Civil. Por outro lado, o regime também não é claro quanto à data ou momento a partir do qual se deve contar o prazo dos 10 anos. Se parece ser claro, quanto ao autor do acto, que o mesmo se conta da data da sua emissão, já quanto ao Ministério Público se suscitam dúvidas que decorrem, no seu essencial, de se utilizar a expressão “se os factos que determinaram a nulidade não forem participados ao Ministério Público nesse prazo”: por um lado, coloca a questão de saber se o prazo é apenas para a participação dos factos ao Ministério Público e não para a interposição da acção por este e, por outro lado, suscita a dúvida se o preceito se aplica às acções que o Ministério Público pode interpor com base no conhecimento oficioso dos factos geradores da nulidade. (240) Baptista M achado, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, Coimbra, 1994. 247 Fernanda Paula Oliveira Na nossa óptica, tendo por base os interesses prosseguidos pelo legislador e que se prendem especialmente com a necessidade de garantir a estabilidade e segurança das relações jurídicas, que se faz especialmente sentir nesta matéria, se em relação ao órgão que praticou o acto nulo, passados 10 anos sobre a sua prática se vê extinta a possibilidade de o mesmo declarar a sua nulidade deve, de igual modo, quanto ao Ministério Público, decorridos 10 anos sobre a prática do acto nulo, se os factos geradores da nulidade não lhe forem participados nem de qualquer modo chegarem ao seu conhecimento, por via oficiosa, considerar-se extinto o direito de arguir judicialmente a nulidade (241). Com efeito, as mesmas razões de estabilidade e segurança apontam para a extinção do prazo ainda que os factos cheguem ao seu conhecimento ou lhe sejam participados no limite do prazo de 10 anos. Isto não obstante a deficiente construção da norma, que parece apontar para a ausência de um prazo se os factos forem participados ao Ministério Público dentro do prazo de 10 anos, ainda que seja no último dia deste. É que se a norma não for lida neste sentido, torna-se ainda mais flagrantemente desprovida de sentido. Efectivamente, só se entenderia literalmente o n.° 4 do artigo 69.°, se ao Ministério Público fosse fixado um prazo específico para, recebida uma participação, intentar a correspondente acção. Como tal não sucede, não se encontrando igualmente previsto no Estatuto do Ministério Público um período geral para o efeito, ficar-se-ia sempre na dúvida sobre qual o prazo para intentar a acção de declaração de nulidade, o que eliminaria a réstia de segurança jurídica que este artigo pretende incutir. Finalmente, coloca-se a questão de saber se o prazo de 10 anos vale apenas para as situações futuras, que vierem a verificar-se após a entrada em vigor do diploma, ou se afecta também as situações em curso. Aplicando ao caso as regras gerais de aplicação de leis no tempo, terá de se concluir que são abrangidas no âmbito de aplicação do n.° 4 do artigo 69.° as próprias relações já constituídas, que subsistam à data da sua entrada em vigor (242). (241) É o que se defende em Fernanda Paula Oliveira /M aria José Castanheira Neves/ /Dulce Lopes/Fernanda M açãs, Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, cit., comentário ao artigo 69.°. (242) Cfr. Fernanda Paula Oliveira /M aria José Castanheira Neves/Dulce Lopes/Fernanda M açãs, Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, cit., p. 448. 248 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão Falta porém determinar, ainda, a data a partir da qual se conta o novo prazo de 10 anos, para cuja resposta não pode ser mobilizado o artigo 297.° do Código Civil, que não prevê directamente a hipótese da lei nova estabelecer pela primeira vez um prazo (já que se refere expressamente ao encurtamento destes). A doutrina vem defendendo que se a lei nova estabelecer, pela primeira vez um prazo, “este só deve ser contado, qualquer que seja o momento inicial fixado, a partir do início de vigência da nova lei” (243), no mesmo sentido apontando a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo (cfr. o Acórdão de 9 de Outubro de 2008, Processo n.° 0335/08). O que parece apontar no sentido de que o prazo de caducidade de 10 anos referido no n.° 4 do artigo 69.° se conta a partir da data da respectiva emissão, no caso de actos e deliberações nulas que venham a ser proferidos após a entrada em vigor da Lei n.° 60/2007. No que concerne aos actos e deliberações nulos que subsistam, eles só podem ser declarados nulos ou participados ao Ministério Público, dentro de 10 anos a partir do início de vigência daquele diploma. Não obstante, esta solução deixa por resolver situações em que se justificaria alguma modelação dos efeitos da declaração de nulidade, tendo, por isso, ficado muito aquém daquilo que dela seria de esperar. c) Embora, como referimos, o legislador não tenha configurado o regime da nulidade dos actos administrativos de gestão urbanística em função de um conjunto de factores que poderiam fazer sentido (designadamente, a específica causa de nulidade ocorrida), tal diferenciação pode contudo ter algum sentido quando se trata de afastar, como consequência imediata da declaração de nulidade, a demolição das operações concretizadas com base neles, apelando antes para outras soluções: a legalização e a atribuição de efeitos jurídicos às operações urbanísticas (jurisdicização) (244). d) Note-se que o município responde civilmente pelos prejuízos causados em caso de anulação ou declaração de nulidade das licenças p. 243. (243) Cfr. Baptista M achado, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, cit., (244) Sobre cada uma destas vias, vide Pedro Gonçalves/Fernanda Paula Oliveira, “O Regime da nulidade dos actos administrativos que investem o particular no poder de realizar operações urbanísticas”, cit. 249 Fernanda Paula Oliveira e autorizações sempre que a sua causa resulte de conduta ilícita dos titulares dos seus órgãos ou dos seus funcionários e agentes. Os titulares dos órgãos do município e os seus funcionários e agentes respondem solidariamente com aquele quando tenham dolosamente dado causa à ilegalidade que fundamenta a anulação ou a declaração de nulidade (245). Se a ilegalidade da licença ou da autorização municipal resultar de parecer vinculativo, autorização ou aprovação legalmente exigível, a entidade que o emitiu responde solidariamente com o município (artigo 70.°, n.° 3) (246). 4. Caducidades urbanísticas As licenças e admissões de comunicações prévias de operações urbanísticas podem cessar os seus efeitos por caducidade (isto é, pelo decurso de um prazo), podendo as caducidades urbanísticas ser divididas em dois grupos: o primeiro diz respeito às situações em que está em causa o decurso do prazo para que, uma vez licenciada a operação ou admitida a comunicação prévia, seja requerido o respectivo título (quando este seja o alvará) – valendo, neste domínio, como regra, o prazo de um ano que, contudo, pode ser prorrogado (artigo 76.°, n.os 1 e 2) (247) –, o segundo é referente às situações em que está em causa (245) Neste caso, o mesmo regime previsto para a anulação e declaração de nulidade aplica-se às situações de revogação da licença ou da autorização. (246) Sobre as consequências resultantes da declaração de nulidade das licenças ou autorizações urbanísticas, vide Pedro Gonçalves/Fernanda Paula Oliveira, “O Regime da nulidade dos actos administrativos que investem o particular no poder de realizar operações urbanísticas”, cit. (247) Quanto esteja em causa a comunicação prévia ou licenciamento de operações de loteamento que envolvam a necessidade de realização de obras de urbanização (que serão objecto, elas próprias, de decisão administrativa através de admissão de comunicação prévia), a lei desenha os dois procedimentos como sucessivos, pelo que deve ser apresentada a comunicação prévia para as obras de urbanização no prazo de um ano a contar, respectivamente, da notificação do acto de licenciamento ou da admissão do loteamento e, uma vez concedidas aquelas, terá de ser requerido o alvará único (cfr. n.° 3 do artigo 76.°) também no prazo de um ano, sob pena de caducidade das licenças ou admissões anteriores. Haverá situações, porém, em que, por se sucederem duas comunicações prévias: da operação de loteamento e das obras de urbanização, não haverá lugar à emissão de alvará único. Nestes casos, para além de considerarmos que os efeitos registais do loteamento só devem operar-se com a admissão da comunicação prévia das obras de urbanização será aplicável o n.° 1, alínea a), do artigo referido, fixando o prazo de um ano para o procedimento de comunicação prévia de obras de urbanização. 250 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão o decurso do prazo para a realização de obras (quer de edificação lato sensu, quer de urbanização, embora estas, se integradas no âmbito de um loteamento, possam ter efeitos sobre a eficácia da respectiva licença ou admissão de comunicação prévia). No que concerne a estas últimas, determina a lei que, a licença ou admissão de comunicação prévia caducam quando: – as obras respectivas não forem iniciadas no prazo de nove meses desde a data da emissão do alvará (ou, nos casos de silêncio, da data do pagamento das taxas, do seu depósito ou da garantia de pagamento) (248); – se as obras estiverem suspensas por período superior a seis meses, salvo se a suspensão decorrer de facto não imputável ao titular da licença ou da admissão de comunicação prévia; – se as obras estiverem abandonadas por período superior a seis meses; ou – se as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença ou comunicação prévia ou suas prorrogações, contados da emissão do respectivo alvará ou do prazo previsto no n.° 1 do artigo 36.°. Tem havido alguma dificuldade em enquadrar juridicamente as caducidades aqui referidas, na medida em que, sendo este um instituto que nasceu no ordenamento jurídico civilístico, a sua “importação” para o direito administrativo não é isenta de dúvidas. Desde logo porque, em especial no direito administrativo, a mesma assume contornos muito heterogéneos, falando-se de uma caducidade preclusiva distinta de uma caducidade-sanção ou por incumprimento. Ou seja, ao lado da caducidade em sentido estrito – em que o direito se extingue pelo seu não exercício no prazo fixado –, fala-se em caducidade-sanção para designar situações de perda de direitos por incumprimento de deveres ou de ónus no contexto de uma relação duradoura entre a Administração e um particular. Neste caso, a noção de sanção deve ser entendida em sentido amplo, como toda a reacção desfavorável da Administração à infracção pelos particulares de normas ou de actos administrativos. (248) Neste caso, e quando em causa estejam operações sujeitas a comunicação prévia, o prazo de nove meses colide com o de um ano previsto no n.° 2 do mesmo artigo, pelo que, quando ambos forem potencialmente aplicáveis, se deve optar pelo prazo mais lato para retirar consequências ligadas à caducidade do acto. 251 Fernanda Paula Oliveira Efectivamente, em muitas situações, a designada caducidade-sanção não visa punir o particular que não cumpriu o dever, mas a satisfação directa do interesse público específico, perturbado com a infracção, tendo a medida repressiva por objectivo garantir a tutela directa da relação jurídica estabelecida com a Administração. Independentemente do conceito de sanção que esteja em causa na caducidade por incumprimento, o seu reconhecimento tem a vantagem de acentuar que esta se distingue da caducidade preclusiva, designadamente para efeitos da diferenciação do respectivo regime jurídico. Ora, no âmbito dos licenciamentos urbanísticos, a caducidade que aí está em causa não é, em regra, a caducidade preclusiva já que não lhe está associado, na maior parte das vezes, nenhum interesse público em que o direito tenha de ser exercido num determinado prazo, sob pena de não o poder mais ser, acentuando-se, até, pelo contrário, que o que aí está em causa é a necessidade de as operações urbanísticas serem efectivamente realizadas (designadamente, os artigos 84.° e 85.°). Não menos relevante é o facto de a Administração dispor de maior ou menor margem de liberdade de apreciação e valoração quanto à verificação ou não de algumas causas de caducidade, designadamente a aferição da existência ou inexistência de causa imputável ao particular. Pode dizer-se que, não sendo a licença ou admissão de comunicação prévia emitida no interesse exclusivo do respectivo titular, mas também no interesse da colectividade, a caducidade tem como objectivo sancionar a inércia do promotor, com vista a evitar que se prolonguem no tempo situações de pendência contrárias ao interesse geral urbanístico. Mas, mais do que sancionar este, pretende garantir-se o interesse público dominante de que a operação urbanística seja efectivamente realizada (ver, em especial, a necessidade de que as obras de urbanização se concretizem efectivamente de modo a assegurar que as parcelas colocadas pelo loteador à disposição dos adquirentes de lotes para construção estejam dotadas de todas as infra-estruturas urbanísticas necessárias e a garantir o bem-estar e a qualidade de vida dos futuros adquirentes e residentes). A finalidade da caducidade não é, assim, a de impedir que as obras se realizem, visando antes incentivar e obrigar o promotor do loteamento a cumprir as condições fixadas, ou seja, a realizar as obras 252 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão de urbanização. Compreende-se, deste modo, que as câmaras municipais disponham do poder de gerir, com certa margem de liberdade, as situações de caducidade analisadas. Por isso, qualquer decisão que se pronuncie concretamente pela caducidade da licença ou admissão de comunicação prévia, não pode limitar-se a verificar o decurso do prazo fixado para o exercício de faculdades inerentes ao respectivo título ou para o cumprimento de determinadas condições ou deveres, devendo ainda avaliar, entre outros factores, as causas do não cumprimento imposto, no contexto da situação concreta, e considerar se, para a consecução do interesse público, a melhor solução é a extinção do título, a sua reabilitação ou a prorrogação do prazo. Significa, isto, pelas razões apontadas, que a caducidade não opera de forma automática, tendo antes de ser declarada no âmbito de um procedimento que garanta a audiência do interessado. Ora, parecendo ir ao encontro destas teses, determina o n.° 5 do artigo 71.° que “as caducidades previstas no presente artigo são declaradas pela câmara municipal, com audiência prévia do interessado”, confirmando-se a natureza sancionatória desta caducidade. Na verdade, no que concerne à natureza jurídica da declaração de caducidade, estando aqui em causa uma caducidade-sanção ou por incumprimento, esta supõe, além da verificação de um pressuposto objectivo, traduzido no decurso de um prazo, a conduta do destinatário do acto ou titular do direito. Daí afirmar-se que a caducidade “não produz efeitos imediatos (ex lege), ou seja, não é uma manifestação automática de eficácia legal, mas um efeito que se faz valer ex voluntate da Administração” (249). Tal declaração tem, nestes domínios, natureza constitutiva e não meramente declarativa, tendo em consideração a margem de discricionariedade de que dispõe a Administração na apreciação da caducidade, isto porque várias das causas de caducidade necessitam de ser compro- (249) Fernanda M açãs, “A caducidade por incumprimento e a natureza dos prazos na atribuição da utilidade turística”, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.° 48 (Novembro/Dezembro de 2004). No mesmo sentido, cfr. o Parecer n.° 40/94-complementar do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, de 26 de Setembro de 2002 (publicado no Diário da República, II.a Série, n.° 11, de 14 de Janeiro de 2003). 253 Fernanda Paula Oliveira vadas ou qualificadas juridicamente para averiguar se correspondem ou não ao estabelecido no acto. Para alguma doutrina, a declaração de caducidade apenas terá carácter obrigatório nas situações em que o poder administrativo em causa seja vinculado (v.g., no que concerne ao cumprimento das normas relativas a prazos máximos de prorrogação ou nas situações em que tendo decorrido o prazo, não existam motivos de relevante interesse público que possam fundamentar a manutenção da licença). Quanto a esta hipótese particular, afirma-se que “decorridos os prazos máximos fixados e não podendo a Administração prorrogá-los, podemos dizer que a licença ou autorização caducam por razões estritamente ligadas à necessidade de pôr cobro ao estado de pendência gerador de incerteza e instabilidade jurídicas (caducidade preclusiva). Nestes casos, ainda que não se prescinda da emissão de uma pronúncia administrativa a declarar a caducidade (…), tal declaração tem eficácia meramente declarativa” (250). Deve, contudo, ser ponderado se, mesmo nestas situações, não existirão reais razões de interesse público que permitam a manutenção dos efeitos da licença em detrimento da declaração da caducidade (o que pode ocorrer quando, na fase da audiência prévia, o promotor comprove pretender e estar em condições de concluir as obras). Caso a licença ou admissão de comunicação prévia tenham caducado, pode ainda o seu titular requerer novo licenciamento ou comunicação prévia, que segue os termos e se submete às regras em vigor à data do novo procedimento, não obstante poderem ser utilizados no novo processo os elementos que instruíram o processo anterior, nos termos referidos no artigo 72.°, n.° 2. Por seu turno, também o artigo 88.° admite a concessão de uma licença especial para obras inacabadas, ou a apresentação de comunicação prévia para o mesmo efeito, quando as obras já tenham atingido um estado avançado de execução, nas hipóteses em que licença ou a comunicação prévia tenham caducado. Refira-se, por fim, que legislador admite, como exercício de ponderação de interesses, que se excluam da declaração de caducidade os lotes para os quais tenha já sido aprovado um licenciamento (250) Neste sentido, pronuncia-se Fernanda M açãs, “A caducidade por incumprimento e a natureza dos prazos na atribuição da utilidade turística”, cit., p. 9. 254 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão ou apresentada uma comunicação prévia (pensamos que o legislador pretendeu aqui referir-se à admissão desta comunicação, porque só com esse momento se estabilizaram os efeitos jurídicos pretendidos inicialmente no âmbito do loteamento). Esta solução legal coloca no entanto a questão de apenas se poderem manter ou concretizar os lotes isolados relativamente aos quais tais requisitos estejam preenchidos, e não as parcelas comuns ou públicas a eles afectas, o que pode levar à existência de verdadeiras ilhas urbanas no meio do nada. Nestes casos, pensamos que o município deve poder declarar parcialmente a caducidade ressalvando as parcelas ligadas àquele lote, para assegurar uma sua funcionalidade urbana. 5. Medidas de tutela da legalidade 5.1. Embargo O presidente da câmara municipal pode embargar as obras de urbanização, de edificação ou de demolição, bem como quaisquer trabalhos de remodelação de terrenos quando estejam a ser executados sem a necessária licença ou admissão de comunicação prévia; estejam em desconformidade com o respectivo projecto ou com as condições do licenciamento ou comunicação prévia ou em violação de normas legais e regulamentares aplicáveis. Quando se trate de embargo determinado pelos dois últimos motivos indicados, o presidente da câmara municipal pode ainda, quando for caso disso, ordenar a realização de trabalhos de correcção ou alteração da obra, fixando um prazo para o efeito, tendo em conta a natureza e o grau de complexidade dos mesmos. Decorrido este prazo sem que os trabalhos se encontrem realizados, a obra permanece embargada até decisão final definitiva sobre a situação jurídica. Tratando-se de obras de urbanização ou de outras obras indispensáveis para assegurar a protecção de interesses de terceiros ou o correcto ordenamento urbano, a câmara municipal pode promover a realização de trabalhos de correcção ou alteração por conta do titular da licença ou autorização (artigos 102.°, n.° 1, e 105.°). As regras procedimentais aplicáveis à concretização do embargo estão fixadas nos n.os 2 a 8 do artigo 102.°. 255 Fernanda Paula Oliveira O embargo determina a suspensão imediata, no todo ou em parte (consoante se trate de embargo total ou de embargo parcial) dos trabalhos de execução da obra. Tratando-se de obras licenciadas ou objecto de comunicação prévia, o embargo determina igualmente a suspensão da eficácia da respectiva licença ou autorização bem como, no caso das obras de urbanização, da autorização de loteamento a que as mesmas respeitam. O embargo determina também a obrigatoriedade de suspensão do fornecimento de energia eléctrica, gás e água às obras embargadas, devendo para o efeito ser notificadas do acto que determinou o embargo as entidades responsáveis por tal fornecimento. Mesmo que se trate de embargo parcial, ele tem como efeito a suspensão do prazo que estiver fixado para a execução das obras no respectivo alvará de licença ou de autorização. O embargo é apenas uma medida de tutela da legalidade de carácter provisório compreendendo-se, assim, que caduque logo que seja proferida a decisão que defina a situação jurídica da obra com carácter definitivo. Também por se tratar de um acto provisório, o embargo deve ser determinado por um prazo fixado para o efeito sendo o mesmo de seis meses prorrogável por uma única vez por igual período, na falta de fixação expressa desse prazo (artigo 104.°, n.os 1 e 2). 5.2. Demolição da obra e reposição do terreno O presidente da câmara pode, quando for caso disso, promover a demolição total ou parcial da obra ou a reposição do terreno nas condições em que este se encontrava antes do início das obras e dos trabalhos, fixando um prazo para o efeito (n.° 1 do artigo 106.°). A demolição deve funcionar, no entanto, como ultima ratio, na medida em que ela pode ser evitada se a obra for susceptível de ser licenciada ou autorizada, ou se for possível assegurar a sua conformidade com as disposições legais e regulamentares que lhe são aplicáveis, mediante a realização de trabalhos de correcção ou de alteração (n.° 2 do artigo 106.°). Sobre o procedimento a seguir para a determinação da ordem de demolição (designadamente a audiência prévia dos interessados), vide n.° 3 do artigo 106.°. Em caso de incumprimento, deve proceder-se à execução coerciva da ordem de demolição ou da realização dos trabalhos de correcção 256 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão ou de alteração, que devem, em todo o caso, ser realizados dentro do mesmo prazo concedido ao seu destinatário. A execução coerciva pode ser realizada por administração directa ou em regime de empreitada, nos termos do n.° 9 do artigo 107.°. As despesas realizadas com a execução coerciva são da conta do infractor (artigo 108.°). 5.3. Cessação de utilização de edifícios A cessação da utilização de edifícios ou suas fracções autónomas é determinada quando estes estejam a ser afectos a fim diverso do previsto no alvará. Em caso de incumprimento, a câmara municipal poderá determinar o despejo administrativo. Este deverá, no entanto, ser sobrestado quando, tratando-se de edifício ou sua fracção que estejam a ser utilizados para habitação, o ocupante mostre, por atestado médico, que a execução do mesmo põe em risco de vida, por razões de saúde aguda, a pessoa que se encontre no local. Neste caso, o despejo apenas poderá prosseguir depois de a câmara municipal ter providenciado pelo realojamento da pessoa em questão, a expensas do responsável pela utilização indevida. 257 Bibliografia Almeida, António Duarte de, “A natureza da aprovação do projecto de arquitectura e a responsabilidade pela confiança no Direito do Urbanismo”, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.° 45 (Maio/Junho de 2004). —— , e outros, Legislação Fundamental de Direito do Urbanismo, Lisboa, Lex, 1994. Amaral, Diogo Freitas do, Aspectos Jurídicos do Ordenamento do Território, Urbanismo e Habitação (sumários das lições proferidas na cadeira de Direito Administrativo do 2.° ano da Licenciatura em Direito da Universidade de Lisboa, em 1970-71). —— , “Apreciação da Dissertação de Doutoramento do Licenciado Fernando Alves Correia. O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade”, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vol. XXXII, Lisboa, 1991. —— , Direito do Urbanismo (Sumários), ed. policopiada, Lisboa, 1993. —— , “Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente: Objecto, Autonomia e Distinções”, in Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente, n.° 1, 1994. Andrade, José Carlos Vieira de, “O Ordenamento Jurídico Administrativo Português”, in Contencioso Administrativo, Associação Jurídica de Braga, 1986. —— , A Justiça Administrativa, Lições, 10.a ed., Coimbra, Almedina, 2009. Arnaiz Eguren, Rafael, La Inscripción Registal de Actos Urbanísticos, Madrid/Barcelona, Marcial Pons, 2.a ed., 2001. Ascensão, Oliveira, “A Caducidade da Expropriação no Âmbito da Reforma Agrária”, in Estudos sobre Expropriações e Nacionalizações, Lisboa, Imprensa Nacional, 1989. —— , “O Urbanismo e o Direito de Propriedade”, in Direito do Urbanismo, coord. D. Freitas do Amaral, Lisboa, INA, 1989. Caetano, Marcello, Direito Administrativo, 10.a ed., Coimbra, Almedina, 1990. Fernanda Paula Oliveira Canotilho, J. J. Gomes, “Anotação ao Acórdão do STA, de 28.09.89”, in Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 124, 1991-1992, n.° 3 813. Canotilho, J. J. Gomes/Moreira, Vital, Constituição da República Portuguesa Anotada, 3.a ed., Coimbra, Coimbra Editora, 1993. Cardoso, António José Magalhães, Gestão Territorial, Coimbra, 2001. Cardoso, António Lopes, “Reversão dos Bens Expropriados”, in Revista da Ordem dos Advogados, ano 54, Lisboa, Dezembro de 1994. Carvalho, Jorge de, Ordenar a Cidade, Coimbra, Quarteto, 2003. Carvalho, Jorge de/Oliveira, Fernanda Paula, Perequação, Taxas e Cedências. A Administração Urbanística em Portugal, Coimbra, Almedina, 2003. Cordeiro, António, Protecção de Terceiros em Face de Decisões Urbanísticas, Coimbra, Almedina, 1995. —— , Arquitectura e Interesse Público, Coimbra, Almedina, 2008. Correia, Fernando Alves, As Formas de Pagamento da Indemnização na Expropriação por Utilidade Pública. Algumas Questões, Separata do Número Especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – “Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Arruda Ferrer Correia – 1984, Coimbra, 1991. —— , O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, Coimbra, Almedina, 1990. —— , As Garantias do Particular na Expropriação por Utilidade Pública, Separata do volume XXIII do Suplemento do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1983. —— , Código das Expropriações e Outra Legislação sobre Expropriações por Utilidade Pública (Introdução), Lisboa, Aequitas/ /Diário de Notícias, 1992. —— , As Grandes Linhas da Recente Reforma do Direito do Urbanismo Português, Coimbra, Almedina, 1993. —— , Estudos de Direito do Urbanismo, Coimbra, Almedina, 1997. —— , “A Jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre Expropriações por Utilidade Pública e o Código das Expropriações de 1999”, in Separata da Revista de Legislação e Jurisprudência, Coimbra, 2000. 260 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão —— , Manual de Direito do Urbanismo, vol. I, 4.a ed., Coimbra, Almedina, 2008. Costa, António Pereira da, Regime Jurídico do Licenciamento de Obras Particulares, Anotado, Coimbra, Coimbra Editora, 1993. —— , “Propriedade Horizontal e Loteamento: Compatibilização”, in Revista do Centro de Estudos do Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, n.° 3, 1999. DGOTDU (Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano), Guia das alterações ao Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, DGOTDU, 2007, Documentos de Orientação 03/2007. Fernández Güell, José Miguel, Planificación Estratégica de Ciudades, Barcelona, Editorial Gustavo Gilli, 1997. Fuertes Mercedes, Urbanismo y Publicidad Registal, Madrid/Barcelona, Marcial Pons, 2.a ed., 1995. Gomes, Osvaldo, Manual dos Loteamentos Urbanos, Coimbra, Coimbra Editora, 1983. —— , “Anotação ao Acórdão do Tribunal Constitucional n.° 341/86”, in Revista da Ordem dos Advogados, n.° 47 (1987). —— , Expropriações por Utilidade Pública, Lisboa, Texto Editora, 1997. Gonçalves, Pedro, “Revogação (de actos administrativos)”, in Dicionário Jurídico da Administração Pública, vol. VII, Lisboa, 1996. Gonçalves, Pedro/Oliveira, Fernanda Paula, “A Nulidade dos Actos Administrativos de Gestão Urbanística”, in Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, ano II, n.° 1 de 1999. —— , “O Regime da nulidade dos actos administrativos que investem o particular no poder de realizar operações urbanísticas”, in RevCEDOUA, n.° 4, 1999. Guerreiro, Mouteira, “Efeitos Registais decorrentes da Execução Urbanística”, in Direito Regional Local, n.° 02 (Abril/Junho de 2008). Jacquot, Henri, “Permis de Construire. Généralités, Champ d’Application”, in Urbanisme, 1992. Laubadère��, André de, “L’Évolution de la Notion Juridique de l’Urbanisme”, in Revue Juridique et Économique du Sud-Ouest, Bordeaux, 1963. 261 Fernanda Paula Oliveira Lopes, Dulce, “O Procedimento expropriativo: complicação ou complexidade?”, Seminário Avaliação do Código das Expropriações, Associação Nacional de Municípios/Instituto de Estradas de Portugal, 2003. —— , “Planos de pormenor, unidades de execução e outras figuras de programação urbanística em Portugal”, in Direito Regional e Local, n.° 03 (Julho/Setembro de 2008). Maçãs, Fernanda, “A caducidade por incumprimento e a natureza dos prazos na atribuição da utilidade turística”, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.° 48 (Novembro/Dezembro de 2004). Machado, Baptista, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Coimbra, Almedina 1994. Mesnard, André Hubert, “Les Instruments Juridiques de Planification Urbaine”, in Droit et Ville, n.° 34, 1992. Monteiro, Cláudio, O Embargo e a Demolição no Direito do Urbanismo, policopiado, Faculdade de Direito de Lisboa, 1995. Monteiro, Pinto, Erro e Vinculação Negocial, Coimbra, Almedina, 2002. Oliveira, António Cândido de, “Problemática jurídica da execução dos planos directores municipais”, in A Execução dos Planos Directores Municipais, CEDOUA/APDU/FDUC, Coimbra, Almedina, 1998. —— , “A situação actual da gestão urbanística em Portugal”, in Direito Regional e Local, n.º 02 (Abril/Junho de 2008). Oliveira, Fernanda Paula, “Repetição Devida ou Indevida”, Comentário ao Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 9 de Julho de 1998, Processo n.° 43 867, in Revista do Centro de Estudos do Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, n.° 14, Ano VII – 2.04, Coimbra, Coimbra Editora. —— , “Duas Questões no Direito do Urbanismo: Aprovação de Projecto de Arquitectura (Acto administrativo ou Acto Preparatório) e Eficácia de Alvará de Loteamento (Desuso?)”, Anotação ao Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 05.05.1998, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.° 13 (Janeiro/Fevereiro de 1999). —— , “Alguns Aspectos do Novo Regime Jurídico dos Planos Regionais de Ordenamento do Território. Em Especial a Questão da sua Eficácia Jurídica”, in Revista Jurídica de Urbanismo e Ambiente, n.° 11/12 (Junho/Dezembro de 1999). 262 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão —— , “Cedências para o domínio público e alterações a loteamento: como conciliar?”, Anotação ao Acórdão do STA de 20.10.1999, Processo n.° 44 470, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.° 21 (Maio/Junho de 2000). —— , “As Licenças de Construção e os Direitos de Natureza Privada de Terceiros”, in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Colecção Studia Iuridica, Ad Honorem – 1, Separata dos Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Rogério Soares, Coimbra, Coimbra Editora, 2001. —— , “Medidas Preventivas e Silêncio da Administração”, Comentário ao Acórdão do STA de 11.01.2001, Processo n.° 45 861, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.° 29 (Setembro/Outubro de 2001). —— , “Evolução do Quadro Legal dos PROT’s”, in Sociedade e Território, Revista de Estudos Urbanos e Regionais, n.° 34 (Setembro de 2002). —— , “Anotação ao Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 20.06.2002”, Processo n.° 143/02 (1.a Secção), in RevCEDOUA, n.° 9, 2002. —— , “Há expropriar e expropriar… (ou como alcançar os mesmos objectivos sem garantir os mesmos direitos)”, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.° 35 (Setembro/Outubro de 2002). —— , Anotação ao Acórdão do STA de 20.06.2002, Processo n.° 142/02, 1.a Secção do Contencioso Administrativa, in Revista do Centro de Estudos do Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, n.° 9 (2002). —— , “A Realidade Actual: a Dispersão da Legislação do Urbanismo e as Soluções de Unificação de Alguns Regimes Jurídicos”, in Actas do Colóquio Internacional: Um Código do Urbanismo para Portugal?, CEDOUA, Coimbra, Almedina, 2003. —— , Sistemas e Instrumentos de Execução dos Planos, Cadernos do CEDOUA, Coimbra, Almedina, 2002 —— , “Os Caminhos a Direito para um Urbanismo Operativo”, in Revista do Centro de Estudos do Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, n.° 14, Ano VII – 2.04, 2006. —— , “A Reserva Ecológica Nacional e o planeamento do território: a necessária consideração integrada de distintos interesses pú263 Fernanda Paula Oliveira blicos”, in Revista Jurídica de Urbanismo e Ambiente, n.° 27/28, 2007. —— , “Planos Especiais de Ordenamento do Território: tipicidade e estado da arte”, in RevCEDOUA, n.° 17, 2007. —— , “A alteração legislativa ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação: uma lebre que saiu gato…?”, in Direito Regional e Local, n.° 00 (Outubro/Dezembro de 2007). —— , “As Virtualidades das Unidades de Execução num Novo Modelo de Ocupação do Território: Alternativa aos Planos de Pormenor ou Outra Via de Concertação de Interesses no Direito do Urbanismo?”, in Direito Regional e Local, n.° 02 (Abril/Junho de 2008). —— , O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. As Alterações do Decreto-Lei n.° 316/2007, de 19 de Setembro, Coimbra, Almedina, 2008. —— , “Contratação Pública no Direito do Urbanismo”, in Estudos sobre Contratação Pública – I, Coimbra, Coimbra Editora, 2008. —— , Loteamentos Urbanos e Dinâmica das Normas de Planeamento, Breve Reflexão Sobre as Operações de Loteamento Urbano e as Posições Jurídicas Decorrentes dos Respectivos Actos de Controlo, Coimbra, Almedina, 2009. —— , “A Regulamentação de situações intertemporais pelos Planos Directores Municipais”, in Revista de Direito Público e Regulação, CEDIPRE em: http://www.fd.uc.pt/cedipre/revista/revista_2.pdf. Oliveira, Fernanda Paula/Cardoso, António Magalhães, “Perequação, Expropriações e Avaliações”, in Revista do Centro de Estudos do Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, n.° 12, Ano VI – 2.03, Coimbra, Coimbra Editora. Oliveira, Fernanda Paula/Lopes, Dulce, Implicações Notariais e Registais das Normas Urbanísticas, Coimbra, Almedina, 2005. Oliveira Fernanda Paula/Passinhas, Sandra, “Loteamento e Propriedade Horizontal: Guerra e Paz”, in Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, n.° 9, 2002. Oliveira, Fernanda Paula/Neves, Maria José Castanheira/Lopes, Dulce/Maçãs, Fernanda, Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, Comentado, 2.a ed., Coimbra, Almedina, 2009. 264 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão Oliveira, Mário Esteves de/Gonçalves, Pedro/Amorim, Pacheco, Código do Procedimento Administrativo, Comentado, 2.a ed., 1997. Pires, Gonçalo Reino, A Classificação e a Qualificação dos Solos por Planos Municipais de Ordenamento do Território. Contributo para o seu Regime Substantivo e para a Determinação do Regime da sua Impugnação Contenciosa, Dissertação de Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas, 2005, policopiado. R ámon fernández, Tomás, Manual de Derecho Urbanistico, 21.a ed., Madrid, La Ley, 2008. Silvestre Llidó, Joaquín, “Tramitación y Efectos de la Reparcelación en la Legislación Urbanística Valenciana, in Revista de Administración Local y Autonómica, n.° 283, 2000. Soares, Rogério, Direito Administrativo, Lições ao Curso Complementar de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Coimbra ao Ano Lectivo de 1977/78. —— , Direito Administrativo, sem data. Spantigati, Federico, Manual de Derecho Urbanistico (trad. Espanhola), Madrid, Montecorvo, 1973. 265 Índice Nota da Autora................................................................................ 3 Siglas............................................................................................... 5 Parte I – A Planificação Urbanística.......................................... .....1. Os planos territoriais no contexto geral da ..... planificação administrativa.................................................. .....2. A Lei de Bases da Política de Ordenamento ..... do Território e de Urbanismo (LBPOTU): o sistema ..... de gestão territorial............................................................... ..... 2.1. A tipicidade dos instrumentos de gestão territorial...... ..... 2.2. A classificação dos planos............................................. ..... 2.2.1. Os critérios de classificação da ..... LBPOTU e do RJIGT......................................... ..... 2.2.1.1. Âmbito dos interesses prosseguidos....... ..... 2.2.1.2. Eficácia das respectivas normas............. ..... 2.2.2. Outros critérios de classificação......................... ..... 2.2.2.1. Âmbito territorial de aplicação............... ..... 2.2.2.2. A finalidade dos instrumentos ..... de planeamento....................................... ..... 2.2.2.3. O grau analítico das suas disposições.... .....3. Breve estudo dos instrumentos de gestão territorial............ ..... 3.1. O Programa Nacional da Política de ..... Ordenamento do Território (PNPOT)............................ ..... 3.1.1. Noção..................................................................... ..... 3.1.2. Âmbito territorial.................................................. ..... 3.1.3. Objectivos.............................................................. ..... 3.1.4. Conteúdo material................................................. ..... 3.1.5. Conteúdo documental........................................... ..... 3.1.6. Elaboração............................................................. ..... 3.1.7. Eficácia jurídica..................................................... ..... 3.1.8. Situação actual...................................................... ..... 3.2. Os planos sectoriais....................................................... 7 9 11 11 15 15 15 16 17 17 19 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 23 25 ..... 3.2.1. Noção.................................................................... ..... 3.2.2. Âmbito territorial................................................. ..... 3.2.3. Conteúdo............................................................... ..... 3.2.4. Elaboração............................................................ ..... 3.2.5. Eficácia jurídica.................................................... ..... 3.2.6. Os planos sectoriais na prática............................. ..... 3.3. Planos Especiais de Ordenamento do Território........... ..... 3.3.1. Noção e tipos......................................................... ..... 3.3.2. Área territorial...................................................... ..... 3.3.3. Objectivos............................................................. ..... 3.3.4. Conteúdo material................................................. ..... 3.3.5. Conteúdo documental........................................... ..... 3.3.6. Elaboração............................................................ ..... 3.3.7. Eficácia jurídica.................................................... ..... 3.3.8. A situação actual dos planos especiais ..... de ordenamento do território................................. ..... 3.4. Planos Regionais de Ordenamento ..... do Território (PROT)...................................................... ..... 3.4.1. Noção.................................................................... ..... 3.4.2. Âmbito territorial.................................................. ..... 3.4.3. Objectivos............................................................. ..... 3.4.4. Conteúdo material e documental.......................... ..... 3.4.5. Elaboração............................................................ ..... 3.4.6. Eficácia jurídica.................................................... ..... 3.4.7. Ponto da situação................................................... ..... 3.5. Os Planos Intermunicipais de Ordenamento ..... do Território................................................................... ..... 3.5.1. Noção.................................................................... ..... 3.5.2. Âmbito territorial.................................................. ..... 3.5.3. Objectivos............................................................. ..... 3.5.4. Conteúdo material e documental.......................... ..... 3.5.5. Elaboração............................................................ ..... 3.5.6. Eficácia jurídica.................................................... ..... 3.5.7. Situação actual quanto aos ..... Planos Intermunicipais.......................................... ..... 3.6. Planos Municipais de Ordenamento ..... do Território................................................................... 25 27 27 27 28 28 30 30 31 31 32 33 33 34 34 37 37 37 38 38 39 39 40 41 41 41 41 41 42 43 43 43 ..... 3.6.1. Noção e tipos......................................................... ..... 3.6.2. Âmbito espacial.................................................... ..... 3.6.3. As funções dos planos municipais ..... de ordenamento do território................................ ..... 3.6.4. Conteúdo material................................................. ..... 3.6.5. Conteúdo documental........................................... ..... 3.6.6. Elaboração............................................................ ..... a) A tramitação procedimental............................. ..... b) A ratificação governamental ..... dos planos municipais....................................... ..... 3.6.7. Eficácia jurídica.................................................... ..... 3.6.8. Situação actual dos PMOT................................... .....4. Relação entre os instrumentos de gestão territorial............. ..... 4.1. Os princípios de relacionamento entre planos............... ..... 4.2. Do relacionamento entre planos ..... antes da LBPOTU......................................................... ..... 4.3. Do relacionamento entre planos ..... após a LBPOTU............................................................ ..... 4.3.1. Relações com o PNOPT........................................ ..... 4.3.2. Relações entre planos sectoriais, ..... planos especiais e planos regionais...................... ..... 4.3.3. Relação dos planos de âmbito municipal com os outros instrumentos ..... de gestão territorial.............................................. ..... a) Os planos municipais de ordenamento ..... do território...................................................... ..... b) Os planos intermunicipais............................... ..... 4.3.4. Conclusão.............................................................. .....5. Da perequação de benefícios e encargos ..... decorrentes dos planos.......................................................... .....6. Apreciação global do sistema de gestão territorial.............. ..... 6.1. O sistema instituído pela LBPOTU e pelo RJIGT: Síntese.................................................... ..... 6.2. A avaliação do sistema.................................................. ..... 6.3. A evolução mais recente do sistema.............................. ..... 6.4. O que repensar no sistema: alguns tópicos ..... de reflexão..................................................................... 43 45 45 48 54 55 55 59 61 62 63 63 64 65 66 66 68 68 68 69 75 75 75 79 83 85 Parte II – A Gestão Urbanística................................................. 87 Capítulo I – Gestão urbanística sem planos, com planos, ..... mas sem os contrariar e como execução ..... de planos................................................................... .....1. Noção e lógicas distintas de gestão urbanística................... .....2. Os instrumentos de gestão urbanística................................. 89 89 91 Capítulo II – A gestão urbanística e execução ..... sistemática de planos.............................................. .....1. Os planos de pormenor e as unidades de execução.............. .....2. Admissibilidade de execução assistemática?....................... .....3. A área relativamente à qual podem ser delimitadas ..... unidades de execução........................................................... .....4. Objecto da discussão pública na delimitação ..... da unidade de execução........................................................ .....5. O reparcelamento como instrumento de execução ..... sistemática: remissão............................................................ Capítulo III – As expropriações por utilidade pública................ .....1. Conceito de expropriação..................................................... .....2. Objecto da expropriação....................................................... .....3. Pressupostos de legitimidade da expropriação por ..... utilidade pública................................................................... ..... 3.1. Princípio da legalidade................................................... ..... 3.2. Princípio da utilidade pública........................................ ..... 3.3. Princípio da proporcionalidade em sentido ..... amplo ou princípio da “proibição do excesso”.............. ..... 3.4. Indemnização................................................................. .....4. O procedimento expropriativo: linhas gerais....................... ..... 4.1. O procedimento administrativo..................................... ..... 4.1.1. Pré-procedimento expropriativo........................... ..... a) A “resolução de expropriar”.............................. ..... b) A tentativa de aquisição do bem pela via ..... do direito privado............................................... ..... 4.1.2. Subprocedimento administrativo.......................... ..... 4.1.3. Processo judicial................................................... 94 94 99 102 104 106 107 107 111 113 113 113 114 116 117 117 118 118 121 123 126 .....5. As principais garantias dos particulares face ..... à expropriação....................................................................... ..... 5.1. Caducidade do acto de declaração ..... de utilidade pública........................................................ ..... 5.2. O direito de reversão...................................................... ..... 5.3. A indemnização............................................................. ..... 5.3.1. A justa indemnização na Constituição ..... da República Portuguesa (CRP)............................ ..... 5.3.2. A justa indemnização no Código ..... das Expropriações................................................ ..... 5.3.3. A natureza jurídica da indemnização................... ..... 5.3.4. A garantia do pagamento da indemnização......... ..... 5.3.5. Momento do pagamento da indemnização........... ..... 5.3.6. Formas de pagamento da indemnização.............. ..... 5.3.7. Quem deve pagar e a quem deve ser paga ..... a indemnização?.................................................... ..... 5.3.8. A indemnização por expropriação acessória ..... ao plano e a perequação de benefícios ..... e encargos............................................................. Capítulo IV – Regime Jurídico da Urbanização e Edificação..... A. A “história” do diploma e a respectiva entrada em vigor......... B. As questões Procedimentais do RJUE: procedimentos e actos de controlo.................................................................... .....1. A evolução dos tipos de procedimento de controlo ..... preventivo até 2007............................................................... .....2. Os procedimentos de controlo preventivo ..... na Lei n.° 60/2007................................................................. ..... a) A redelimitação do âmbito dos procedimentos................ ..... b) O âmbito de aplicação dos procedimentos ..... de controlo preventivo...................................................... ..... α) O âmbito de aplicação das autorizações...................... ..... β) Âmbito das comunicações prévias............................... ..... γ) Âmbito do procedimento de licenciamento.................. ..... c) As isenções de controlo.................................................... .....3. A tramitação procedimental................................................. 128 129 129 134 134 137 140 141 142 142 143 143 144 144 147 147 152 152 153 153 155 158 160 164 ..... 3.1. A tramitação comum aos vários procedimentos............ ..... 3.2. Algumas especificidades do procedimento ..... de licenciamento............................................................. ..... 3.3. Especificidades das comunicações prévias................... ..... 3.4. Especificidades das autorizações.................................. ..... 3.5. Os títulos dos actos de gestão urbanística..................... .....4. O procedimento de informação prévia................................. .....5. As características dos actos de controlo preventivo (em especial dos licenciamento)........................................... ..... 5.1. Carácter real................................................................... ..... 5.2. Submissão exclusiva a regras de direito ..... do urbanismo........................................................................ ..... 5.3. Carácter federador......................................................... ..... 5.4. Irrevogabilidade............................................................. ..... 5.5. Carácter vinculado......................................................... C. Operações urbanísticas e respectivo regime material.............. I. Algumas questões específicas das operações de loteamento urbano e obras de urbanização........................... .....1. A evolução legislativa do regime ..... dos loteamentos urbanos....................................................... .....2. Conceito de loteamentos urbanos......................................... ..... a) Evolução do conceito: da divisão ..... à transformação fundiária................................................ ..... b) O loteamento em sentido estrito....................................... ..... c) Loteamentos urbanos versus conjuntos imobiliários....... ..... d) O reparcelamento urbano................................................. .....3. Conceito de obras de urbanização........................................ .....4. Dos efeitos das operações de loteamento ..... (com ou sem obras de urbanização) ..... no mercado imobiliário......................................................... II. Algumas questões específicas referentes às obras .....de edificação............................................................................. .....1. Noção . ............................................................................ .....2. O projecto de arquitectura e respectiva aprovação ..... como o momento central do procedimento de controlo preventivo das obras de edificação......................... .....3. O regime da garantia do existente........................................ 164 175 181 184 184 186 193 193 193 200 200 201 203 203 203 205 205 206 211 216 225 225 232 232 233 238 III. Alguns aspectos comuns às várias operações ..... urbanísticas, independentemente dos procedimentos ..... a que estão sujeitos.................................................................. .....1. Obrigações e ónus do requerente ou promotor de operações de loteamento, obras de urbanização ..... e obras de edificação........................................................... .....2. Direitos dos promotores das operações urbanísticas........... ..... a) Direito à informação........................................................ ..... b) Fixação de prazos para a emissão de pareceres ..... e para a tomada de decisões............................................ ..... c) Silêncio da Administração (artigo 111.°)......................... ..... d) Impugnações administrativas......................................... ..... e) Promoção de consultas.................................................... ..... f) Fixação taxativa dos fundamentos de indeferimento...... ..... g) Direito de reversão das parcelas cedidas........................ .....3. Validade/invalidade dos actos urbanísticos......................... .....4. Caducidades urbanística...................................................... .....5. Medidas de tutela da legalidade.......................................... ..... 5.1. Embargo........................................................................ ..... 5.2. Demolição da obra e reposição do terreno................... ..... 5.3. Cessação de utilização de edifícios.............................. Bibliografia 240 240 241 241 242 242 243 244 244 244 245 250 255 255 256 257 . ............................................................................ 259 Atualizações Fernanda Paula Oliveira Capítulo IV Regime Jurídico da Urbanização e Edificação A. A “história” do diploma e a respectiva entrada em vigor O Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (doravante, RJUE), foi aprovado pelo Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de Dezembro (que deveria ter entrado em vigor em 4 de Abril de 2000), o qual, contudo, foi suspenso pela Lei n.° 13/2000, de 20 de Julho. Entretanto, a Lei n.° 30-A/2000, de 20 de Dezembro, autorizou o Governo a introduzir alterações àquele Decreto-Lei, as quais vieram a ser efectuadas pelo Decreto-Lei n.° 177/2001, de 4 de Julho. Mais recentemente, este regime jurídico sofreu uma alteração mais global efectuada pela Lei n.° 60/2007, de 4 de Setembro (143). O objectivo principal da versão inicial do RJUE foi a de proceder a uma simplificação legislativa, juntando num mesmo matérias estritamente relacionadas, mas que se encontravam dispersas por vários diplomas, particularmente, as atinentes aos loteamentos urbanos e obras de urbanização (144), às obras particulares de construção civil (145), às medidas de tutela de legalidade urbanística (v.g., embargos, demolições, reposição de terrenos na situação anterior à infracção) (146), e à conservação do edificado, estas últimas até aí tratadas no Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU). A intenção confessada do legislador, ao juntar num só as matérias dispersas por vários dispositivos legais, foi a de preparar a ela(143) Isto para além das alterações mais pontuais efectuadas pela Lei n.° 15/2002, de 22 de Fevereiro, e mais recentemente pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, pelo Decreto-Lei n.° 116/2008, de 4 de Junho, e, mais recentemente, pelo Decreto-Lei n.° 26/2010, de 30 de Março. (144) Até aí objecto de regulamentação no Decreto-Lei n.° 448/91, de 29 de Novembro (alterado sucessivamente pela Lei n.° 25/92, de 31 de Agosto, pelos Decretos-Lei n.os 302/94, de 19 de Dezembro, e 334/95, de 28 de Dezembro, e pela Lei n.° 26/96, de 1 de Agosto). (145) Constante anteriormente do Decreto-Lei n.° 445/91, de 20 de Novembro (diploma sucessivamente alterado pela Lei n.° 29/92, de 2 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.° 250/94, de 15 de Outubro, e pela Lei n.° 22/96, de 26 de Julho). (146) Reguladas no Decreto-Lei n.° 92/95, de 9 de Maio. 144 Fernanda Paula Oliveira 2. Os procedimentos de controlo preventivo na Lei n.° 60/2007 a) A redelimitação do âmbito dos procedimentos A Lei n.° 60/2007 veio redelimitar o âmbito de aplicação dos procedimentos de controlo preventivo das operações urbanísticas, visando, por um lado, objectivos de simplificação procedimental e, por outro lado, de eliminação de controlo, nas situações em que, na óptica do legislador, este manifestamente se não justificava. A concretização deste desígnio traduziu-se na quase extinção do procedimento de autorização – que fica limitado agora à utilização dos edifícios ou suas fracções autónomas bem como às alterações de utilização dos mesmos (n.° 5 do artigo 4.° em conjugação com o artigo 62.°) – e a sua substituição, praticamente na íntegra, pelo procedimento de comunicação prévia, tendo, no entanto, mantido, na distinção genérica entre as operações que devem ficar sujeitas a licença e a comunicação prévia, os critérios que permitiam diferenciar e distinguir os procedimentos de licença dos de autorização. Assim, o que caracteriza o âmbito de aplicação da comunicação prévia (tal como o que caracterizava antes o âmbito de aplicação das autorizações) é, tendencialmente, o facto de em causa estarem operações urbanísticas que ocorrem em áreas para as quais os parâmetros aplicáveis se encontram previamente definidos com algum grau de precisão, quer em instrumento de gestão territorial (plano de pormenor com determinadas características), quer em acto administrativo (que tenha aprovado uma operação de loteamento ou uma informação prévia muito precisa), quer na situação fáctica existente (zona urbana consolidada). Com esta alteração, perde-se, no entanto, a distinção doutrinária entre licença e autorização que estava subjacente às versões anteriores, ficando a autorização reservada para um só tipo de operação urbanística (a utilização dos edifícios), embora a comunicação prévia (ao contrário do anterior procedimento com o mesmo nome) tenha passado a exibir as características típicas dos actos autorizativos. 152 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão – Parte II I b) O âmbito de aplicação dos procedimentos de controlo preventivo É o artigo 4.° que regula actualmente o âmbito de aplicação de cada um dos procedimentos de controlo preventivo das operações urbanísticas: o n.º 2 identifica as operações sujeitas a licenciamento, o n.º 4 as operações sujeitas a comunicação prévia e o n.º 5 as operações sujeitas a autorização. De uma leitura cruzada destes vários números decorre ser agora a comunicação prévia o procedimento regra (ou procedimento supletivo, aplicável na ausência de uma opção expressa por outro tipo de procedimento) – assim o determina o a alínea h) do n.º 4 do artigo 4.º, ao contrário da versão do RJUE resultante da Lei n.° 60/2007 que estabelecia como procedimento supletivo o de licenciamento (cfr. n.° 1 do artigo 4.° e a alínea g) do n.° 2 do mesmo artigo, na versão daquela Lei). [Texto e nota retirados] [A ordem dos procedimentos foi alterada de acordo com a ordem que aparece no artigo 4.°] α) Âmbito do procedimento de licenciamento [Texto retirado] De acordo com o disposto no n.° 2 do artigo 4.°, os loteamentos urbanos estarão sempre sujeitos a licenciamento (excepto, dizemos nós, se a operação tiver sido precedida de informação prévia favorável emitida nos termos do n.° 2 do artigo 14.°, situação em que deverá ser desencadeado um procedimento de comunicação prévia) ou de um plano de pormenor com efeitos registais (situação em que o loteamento opera directamente com o registo do plano juntamente com os contratos necessários no âmbito dos reparcelamentos, se for essa a configuração do loteamento urbano). Também estarão sujeitas a licenciamento as obras de urbanização e os trabalhos de remodelação dos terrenos que não integrem operações de loteamento [alínea b) do n.° 2 do artigo 4.°]; as obras de (152) Nota retirada 153 Fernanda Paula Oliveira reconstrução sem preservação de fachadas [alínea e) do n.° 2 do artigo 4.°]; e as obras de demolição quando não estejam previstas em licença de obras de reconstrução [alínea f) do n.° 2 do artigo 4.°]. No que diz respeito às obras de construção, alteração e ampliação de edifícios, as mesmos estão sujeitos a licenciamento quando se realizem em área não abrangida por operação de loteamento ou quando a área não é abrangida por plano de pormenor com os elementos referidos nas alíneas c), d) e f) do n.° 1 do artigo 91.° do RJIGT [alínea c) do n.° 2 do artigo 4.°]. [Texto retirado] Ainda no que concerne a obras de reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição de imóveis classificados ou em vias de classificação bem como de imóveis integrados em conjuntos ou sítios classificados ou em vias de classificação, o procedimento é o de licenciamento, estando também a ele sujeitos as obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração exterior ou demolição de imóveis situados em zonas de protecção de imóveis classificados ou em vias de classificação [alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º]. [Texto e nota retirados] β) Âmbito das comunicações prévias Ao procedimento de comunicação prévia estão sujeitas as seguintes operações urbanísticas: i. As obras de reconstrução com preservação das fachadas [alínea a) do n.º 4 do artigo 4.º]; ii. As obras de reconstrução sem preservação das fachadas, quando antecedidas de informação prévia favorável emitida nos termos do n.º 2 do artigo 14.º (n.º 1 do artigo 17.º); iii. As operações de loteamento, se tiverem sido antecedidas de informação prévia favorável emitida nos termos do n.° 2 do artigo 14.° (n.° 1 do artigo 17.°); iv. As obras de urbanização, quando em área abrangida por operação de loteamento [alínea b) do n.° 4 do artigo 4.°] ou tenham sido (153) Nota retirada 154 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão – Parte II I antecedidas de informação prévia favorável emitida nos termos do n.° 2 do artigo 14.° (n.° 1 do artigo 17.°); v. Os trabalhos de remodelação de terrenos, quando em área abrangida por operação de loteamento [alínea b) do n.° 4 do artigo 4.°] ou tenham sido antecedidas de informação prévia favorável emitida nos termos do n.° 2 do artigo 14.° (n.° 1 do artigo 17.°); vi. As obras de construção, alteração ou ampliação, se realizadas: a) em área abrangida por operação de loteamento [alínea c) do n.° 4 do artigo 4.°]; b) em área abrangida por plano de pormenor que contenha as menções referidas nas alíneas c), d) e f) do artigo 91.° do RJIGT [alínea c) do n.° 4 do artigo 4.°]; c) em zona urbana consolidada nas condições referidas na alínea d) do n.° 4 do artigo 4.°; d) com base em informação prévia favorável emitida nos termos do n.° 2 do artigo 14.° (n.° 1 do artigo 17.°); vii. As obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de imóveis nas áreas sujeitas às servidões ou restrições de utilidade pública identificadas nas várias sub alíneas da alínea c) do n.° 4 do artigo 4.° (153a); viii. A edificação de piscinas associadas a edificação principal. [Texto retirado] No que concerne às obras de urbanização, o tipo de controlo preventivo a que as mesmas se encontram sujeitas depende de se encontrarem integradas ou não em loteamento. Na primeira situação, estão em causa duas operações distintas que, no entanto, porque directamente relacionadas, têm de ser decididas de forma sucessiva: primeiro, o loteamento e, de seguida, as obras de urbanização. Ora, atendendo a esta sucessão de procedimentos, o legislador veio determinar que as obras de urbanização integradas num loteamento estão sujeitas a comunicação prévia, enquanto as obras de urbanização não integradas (153a) Isto porque a sua sujeição a licenciamento baseava-se no facto de apenas neste tipo de procedimento se poder promover consultas a entidades externas, sendo certo que estas consultas podem agora ser igualmente promovidas no âmbito dos procedimentos de comunicação prévia. Já não há, pois, motivos para sujeitar estas operações urbanísticas a um procedimento mais moroso, quando os mesmos objectivos podem ser alcançados num procedimento mais célere. 155 Fernanda Paula Oliveira num loteamento estão subordinadas a licenciamento, excepto se tiverem sido antecedidas de uma informação prévia formulada nos termos do n.° 2 do artigo 14.°. No que concerne às obras de construção, alteração ou reconstrução em área abrangida por operação de loteamento, algumas dúvidas se suscitam quando em causa estejam alvarás de loteamento antigos que, embora ainda eficazes, praticamente não definem os parâmetros de construção aplicáveis, não estando, assim, em relação àquelas obras de edificação, verificados os pressupostos para que se possa desencadear uma comunicação prévia (já que esta pressupõe sempre uma situação em que aqueles parâmetros estejam definidos com elevado grau de precisão). Algumas câmaras municipais têm vido a entender que, apesar das operações urbanísticas se localizarem em áreas abrangidas por operação de loteamento, podem estas obras de edificação, nas situações referidas, não estar sujeitas a comunicação prévia, mas sim a licenciamento, leitura que nos parece legítima em face da teleologia do regime legal, o qual aponta para o procedimento de comunicação prévia apenas naquelas situações em que os parâmetros se encontram concreta e especificamente definidos. Por este motivo se deve concluir que as obras de edificação a levar a cabo em áreas abrangidas por operação de loteamento apenas estarão sujeitas a comunicação prévia caso o alvará de loteamento contenha as especificações que são actualmente obrigatórias (nos termos do artigo 77.°), o que significa que se o alvará de loteamento for omisso relativamente a muitas dessas especificações (como sucederá com os alvarás de loteamento anteriores ao Decreto-Lei n.° 448/91), haverá que submeter essa operação urbanística a um licenciamento e não a comunicação prévia (até porque já se tem entendido que quando o alvará não fixa parâmetros, se aplicam, como referentes para a operação de edificação a concretizar naquela área, os parâmetros constantes dos instrumentos de planeamento em vigor na área: na omissão do alvará, as pretensões têm de ser apreciadas à luz dos parâmetros constantes da restante regulamentação em vigor, apontando para um procedimento de controlo distinto do que é efectuado no domínio da comunicação prévia) (154a). (154a) Alguns municípios, no sentido de evitar dúvidas quanto a esta questão, têm vido a resolvê-la nos respectivos regulamentos municipais, estabelecendo, por exemplo, que “Estão sujeitas a licenciamento as obras de edificação em área abrangida por operação de loteamento 156 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão – Parte II I No que concerne às obras de construção, de alteração ou de ampliação em zona urbana consolidada, determina a alínea f) do artigo 6.° que as mesmas estão sujeitas a comunicação prévia, mas apenas se respeitarem os planos municipais, exigência que parece estranha, considerando que o respeito dos planos municipais é condição de validade dos actos de gestão urbanística. Na nossa óptica, o que aqui se pretende afirmar, e com lógica, é que apenas deve ocorrer comunicação prévia – procedimento que se destina a verificar, de forma perfunctória, se a operação cumpre os parâmetros da zona – naquelas situações em que o plano municipal identifica a área como zona consolidada a manter. Com efeito, se, apesar de estar em causa uma zona urbana consolidada [isto é, com as características descritas na alínea o) do artigo 2.°], a opção do plano municipal for a de a transformar (o que pode ser indiciado quer pela designação da categoria “zona consolidada a transformar” quer pelo tipo de parâmetros definidos: quantitativos e não morfo-tipológicos), então o procedimento não poderá ser o de comunicação prévia, mas de licenciamento. Ou seja, e em suma, as obras de construção, alteração ou ampliação em zona urbana consolidada estão sujeitas a comunicação prévia, se se tratar de uma zona urbana consolidada que, nos termos do plano municipal em vigor, deva manter as características existentes. Deste modo, estando em causa uma zona urbana com as características referidas na alínea o) do artigo 2.°, a determinação do tipo de procedimento ficará dependente do que tiver determinado o plano municipal em relação à manutenção ou não das características da área. γ) O âmbito de aplicação das autorizações De acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 4.°, estão sujeitas a autorização a utilização dos edifícios ou suas fracções, bem como a alteração da utilização dos mesmos. cujo alvará não contenha todas as especificações referidas na alínea e) do n.° 1 do artigo 77.° do RJUE”. Solução que, na nossa óptica, se enquadra na teleologia do RJUE. Não nos parece que neste caso se esteja a incumprir o disposto no n.º 2 do artigo 3.º – de que os regulamentos municipais não podem alterar o disposto no RJUE quanto ao tipo de procedimento a aplicar –, já que se trata de uma leitura das disposições legais (uma sua interpretação) em conformidade com os seus objectivos (isto é, com a sua teleologia), que é legítima ao aplicador da lei. 157 Fernanda Paula Oliveira A autorização de utilização dos edifícios e suas fracções, quando antecedida de obras, destina-se a verificar a conclusão da obra e a sua conformidade com o projecto de arquitectura e arranjos exteriores aprovados e com as condições do licenciamento ou comunicação prévia (n.° 1 do artigo 62.°); a autorização de utilização não antecedida de obras sujeitas a controlo ou a alteração de uso destina-se a verificar a conformidade do uso previsto com as normas legais e regulamentares aplicáveis e a idoneidade do edifício ou fracção autónoma para o fim pretendido (n.° 2 do artigo 62.°). Tendo presente o disposto no n.° 5 do artigo 4.°, consideramos sem sentido o disposto na alínea g) do n.° 2 do artigo 4.°, que manda sujeitar a comunicação prévia as alterações à utilização dos edifícios que envolvam a realização de obras não isentas de controlo prévio ou que careçam da realização de consultas externas [texto retirado] (operações também sujeitas a autorização como expresso no n.° 2 do artigo 62.°). Com efeito, sendo a utilização de edifícios (e logo a sua alteração) uma operação urbanística [alínea j) do artigo 2.° do RJUE] que se encontrava na versão anterior sujeita a um procedimento de controlo (licenciamento ou autorização, consoante os casos), não se perceberia por que motivo, visando a Lei n.° 60/2007 simplificar procedimentos, teria o interessado de desencadear agora dois procedimentos distintos e (aparentemente) sucessivos: de autorização e de comunicação prévia. Rejeitamos, por isso, qualquer leitura que aponte nesse sentido. E não se afirme, para contrapor à nossa posição, que não estando prevista no procedimento de autorização uma fase especificamente destinada à consulta de entidades externas quando as mesmas sejam necessárias, terá de se desencadear um procedimento de comunicação prévia para aquelas poderem ser promovidas. Concordamos, com efeito, com a necessidade de ponderar como serão consultadas estas entidades no procedimento de autorização, sobretudo nas situações em que não haja lugar a obras ou em causa esteja a mudança de finalidade precedida de alterações no interior dos edifícios não sujeitas a licença ou comunicação prévia. Parece-nos, contudo, excessivo exigir que, precedentemente à autorização de utilização, tenha o particular de desencadear um procedimento de comunicação prévia, apenas para, no âmbito deste, poderem ser exigidos os pareceres que se apresentam como necessários ao abrigo de legislação especial. 158 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão – Parte II I A melhor solução para estes casos, por ser a que melhor pondera os interesses públicos e privados em presença, em particular os da celeridade e simplificação procedimental, e que recupera os termos da autorização na versão anterior à Lei n.° 60/2007, é a que determina que os pareceres destas entidades externas devem ser pedidos pelo interessado e por ele entregues com o pedido de autorização (ou então com indicação de que os mesmos foram pedidos e não emitidos, nos termos previstos no n.° 2 do artigo 13.°-B). Deste modo, evita-se o desencadear de um outro procedimento prévio ou o decorrer dos 10 dias previstos no n.° 1 do artigo 64.° (uma vez que é manifestamente impossível exigir tais pronúncias neste prazo, até em face do disposto em legislação específica quanto ao tempo para emissão de pareceres), com os encargos que tal comporta para o particular (já que seria obrigado a pagar duas taxas correspondentes a cada um dos procedimentos), assegurando-se uma mais ampla conformação deste quanto ao procedimento a que pretende dar início (155). c) As isenções de controlo O RJUE integra dois tipos de isenções de controlo preventivo: as isenções de carácter objectivo (em função do tipo de operação urbanística em causa) e as isenções de cariz subjectivo (em função da entidade promotora da operação). Nas primeiras, encontram-se as obras de conservação [alínea a) do artigo 6.°], as obras no interior de edifícios [nas condições referidas na alínea b) do n.° 1 do artigo 6.° (156) e as obras referidas no artigo (155) De notar que, como as questões que ora se colocam se prendem essencialmente com o uso e não com a localização do edifício, não intervirá a CCDR nos termos previstos no artigo 13.°-A, pelo que não há obstáculos legais à atribuição ao interessado da responsabilidade pela entrega de tais pareceres. (156) As obras de alteração no interior dos edifícios estão isentas de controlo desde que não impliquem modificações na estrutura de estabilidade, das cérceas, da forma das fachadas e da forma dos telhados ou coberturas. Não se faz agora exigência idêntica à constante da versão inicial do RJUE – que apenas isentava estas obras de controlo prévio, desde que as mesmas não implicassem o aumento do número de fogos (cfr. n.° 4 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 445/91) –, pelo que, actualmente, as obras no interior dos edifícios não classificados ou suas fracções autónomas que não impliquem modificações da estrutura de estabilidade dos edifícios, das cérceas, das fachadas e da forma dos telhados, ainda que tenham como consequência o aumento do número fogos, não se encontram sujeitas a controlo municipal preventivo. 159 Fernanda Paula Oliveira 6.°-A, por remissão da alínea c) do n.° 1 do artigo 6.°], isto é, obras de escassa relevância urbanística (157). Trata-se de situações que não se encontram agora sujeitas a qualquer procedimento de controlo preventivo, ao contrário do que sucedia antes, já que, à excepção das obras de conservação, as obras isentas de licença e autorização encontravam-se sempre sujeitas a comunicação prévia (157a). Apenas assim não será quando estas obras de escassa relevância urbanística digam respeito a imóveis classificados ou em vias de classificação, de interesse nacional ou de interesse público, imóveis situados em zonas de protecção de imóveis classificados ou em vias de classificação e imóveis integrados em conjuntos ou sítios classificados ou em vias de classificação (n.º 2 do artigo 6.º-A), que passam a ficar sujeitas a licenciamento [alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º]. No âmbito das isenções objectivas, integram-se ainda os destaques desde que, ocorrendo dentro do perímetro urbano, dele apenas re(157) A versão inicial do RJUE atribuía aos municípios a tarefa da definição de obras de escassa relevância urbanística para efeitos da dispensa de licenciamento ou autorização (embora se tratasse de obras sempre sujeitas ao procedimento de comunicação prévia). Com a Lei n.° 60/2007, o RJUE passou a integrar, antes de mais, o conceito de obras de escassa relevância urbanística no elenco das definições constantes do artigo 2.° como as “obras de edificação e de demolição que, pela sua natureza, dimensão ou localização tenham escasso impacto urbanístico”, definição que coincide com a constante do n.° 2 do artigo 6.° da versão anterior. O legislador foi, contudo, mais longe, porque, ao invés de se limitar a remeter a concretização deste conceito para os regulamentos municipais, veio identificar, ele próprio, um elenco de situações que necessariamente considera reconduzirem-se a este conceito, embora admita o seu alargamento (mas não já a sua restrição), ao permitir que os municípios identifiquem, em regulamento municipal, outras obras com estas características [alínea i) do n.° 1 do artigo 6.°-A], bem como definir limites superiores às operações por si identificadas (n.° 3 do artigo 6.°-A). Sobre alguns dos problemas práticos decorrentes do artigo 6.°-A do RJUE, vide Fernanda Paula Oliveira /M aria José Castanheira Neves/Dulce L opes/Fernanda M açãs, Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, Comentado, 2.a ed., Coimbra, Almedina, 2009, anotação ao artigo em referência. (157a) Ao elenco inicial, o Decreto-Lei n.° 26/2010 veio aditar a instalação de painéis solares fotovoltaicos ou geradores eólicos associada a edificação principal para produção de energias renováveis, incluindo de microprodução, que não excedam os limites identificados na alínea g), do n.º 1 do artigo 6.º-A, bem como de colectores solares térmicos para aquecimento de águas sanitárias que não excedam aqueles limites bem ainda como a substituição dos materiais de revestimento exterior ou de cobertura ou telhado por outros que, conferindo acabamento exterior idêntico ao original, promovam a eficiência energética [alínea h) do n.º 1 do artigo 6.º-A]. No que concerne aos geradores eólicos exige-se que a sua instalação seja precedida de notificação à câmara municipal instruída com elementos que identifiquem a localização do equipamento, a cércea e raio do mesmo, o nível de ruído produzido por ele e o termo de responsabilidade onde o apresentante da notificação declare conhecer e cumprir as normas legais e regulamentares aplicáveis à instalação de geradores (n.º 6 do artigo 6.º-A). 160 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão – Parte II I sultem duas parcelas confrontantes com arruamentos públicos e, tendo lugar fora de perímetro urbano, a parcela destacada, qualquer que seja a sua dimensão (respeitada a área mínima definida no plano), só seja destinada a edifício para fins exclusivamente habitacionais com não mais de dois fogos e a parcela restante respeite a área mínima fixada no projecto de intervenção em espaço rural em vigor ou, quando aquele não exista, a área da unidade de cultura fixada nos termos da lei geral para a respectiva região. Todas as situações identificadas correspondem a uma isenção de controlo preventivo, que não significa, bem pelo contrário, uma isenção de cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos municipais e especiais de ordenamento do território e as regras técnicas de construção (n.° 8 do artigo 6.°) (158). No que concerne às isenções de carácter subjectivo, as mesmas encontram-se identificadas no artigo 7.°, no âmbito do qual estão isentas de licença as operações urbanísticas promovidas pelo Estado, mas apenas as relativas a equipamentos ou infra-estruturas destinados à instalação de serviços públicos ou afectos ao uso directo e imediato do público [alínea b) do n.° 1]; as obras edificação ou demolição da iniciativa de institutos públicos com atribuições específicas na promoção e gestão do parque habitacional do Estado e, agora também, entidades da Administração Pública responsáveis pela salvaguarda do património cultural, desde que estejam directamente relacionadas com a prossecução das suas atribuições [alínea c) do n.° 1]; as obras de edificação e demolição promovidas pelas entidades com atribuições específicas na administração das áreas portuárias ou do domínio público ferroviário ou aeroportuário, quando realizadas na respectiva área de jurisdição e desde que estejam directamente relacionadas com a prossecução daquelas atribuições [alínea d) do n.° 1]; as obras de edificação (158) O Decreto-Lei n.º 26/2010 veio resolver as dúvidas que se suscitavam acerca do n.º 10 do artigo 6.º ao determinar que “Os actos que tenham por efeito o destaque de parcela com descrição predial que se situe em perímetro urbano e fora deste devem observar o disposto nos n.os 4 ou 5, consoante a localização da parcela a destacar, ou, se também ela se situar em perímetro urbano e fora deste, consoante a localização da área maior. Sobre as dúvidas suscitadas na versão anterior, vide Fernanda Paula Oliveira /M aria José Castanheira Neves/Dulce Lopes/ /Fernanda M açãs, Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, cit., comentário respectivo. 161 Fernanda Paula Oliveira e demolição promovidas pelos concessionários de obras ou serviços públicos, desde que se reconduzam à prossecução do objecto da concessão e desde que a entidade concedente esteja ela própria isenta de controlo prévio, ao abrigo do disposto nas demais alíneas deste artigo 7.° [alínea e) do n.° 1]. A este elenco exaustivo acrescem as operações urbanísticas promovidas por empresas públicas relativamente a parques empresarias e similares, nomeadamente, áreas de localização empresarial, zonas industriais e de logística [alínea e) do n.° 1]. [Texto retirado] Não obstante o artigo 7.º isentar a sujeição das operações urbanísticas referidas de qualquer procedimento de controlo preventivo, consideramos que em situações específicas, pode justificar-se a submissão das utilizações destes edifícios de autorização de utilização: naqueles casos em que as entidades referidas no artigo 7.° se associam, através de parcerias, com privados (estando, assim, em causa operações muito próximas das sujeitas aos controlos preventivos do RJUE: operações de iniciativa privada) ou o uso a dar aos edifícios seja estritamente privado, isto é, quando se trate de um edifício para colocar no mercado, servindo a autorização de utilização para atestar o uso a que os referidos imóveis devem estar adstritos. Note-se que a isenção de licença, de comunicação prévia e de autorização não significa uma desprocedimentalização destas operações urbanísticas, as quais, para poderem ser concretizadas terão de cumprir um procedimento prévio, que, mais ou menos formal, terá sempre lugar. No sentido da exigência deste procedimento aponta o n.° 7 do artigo 7.° que obriga que os projectos que digam respeito a estas operações sejam elaborados por técnicos habilitados que declaram a sua conformidade com as normas em vigor, nos termos do artigo 10.°, e que manda publicitar o início e o fim do procedimento (artigos 12.° e 78.°, com as devidas adaptações, o que implica que seja publicitada a deliberação que inicia o procedimento e a que o finaliza, sendo o título para registo a certidão desta última). Do mesmo modo, continua, neste procedimento especial, a ser exigível a emissão de pareceres por parte das entidades que legalmente estejam habilitadas para tal. Porém, 162 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão – Parte II I sempre que seja o município a promovê-las, não terá de recorrer aos mecanismos previstos no artigo 13.°-A, podendo fazê-lo directamente. Já quanto à emissão de tais pareceres, respectivos prazos e efeitos, consideramos aplicável o disposto no artigo 13.°, de modo a tornar mais precisos os moldes em que tais consultas devem ter lugar. Ainda neste procedimento, com excepção das operações da iniciativa dos municípios, terá de ser promovida a consulta à câmara municipal que emitirá parecer, embora não vinculativo. Tratando-se de operações de loteamento e obras de urbanização promovidas pelas autarquias locais e suas associações e se a área não se encontrar abrangida por plano municipal de ordenamento do território, as mesmas terão de ser sujeitas a consulta da comissão de coordenação e desenvolvimento regional territorialmente competente e autorizadas pela assembleia municipal. Tratando-se de operações de loteamento e de obras de urbanização promovidas pelo Estado, devem ser previamente aprovadas pelo ministro da tutela e pelo ministro responsável pelo ordenamento do território, depois de ouvida a câmara municipal e a comissão de coordenação e desenvolvimento regional territorialmente competente. Verifica-se, pois, existir uma tramitação procedimental prévia e a emanação de um prévio acto autorizativo da realização da operação em causa. De forma a não deixar qualquer tipo de dúvidas, decorre do n.° 6 do artigo 7.° que a isenção de que aqui se fala é apenas a de licenciamento (ou de comunicação prévia e autorização municipal) e não a de cumprimento das normas aplicáveis, quer se trate de disposições normativas de instrumentos de planeamento, quer de normas técnicas aplicáveis (constantes, designadamente, de regulamentos municipais ou do Regime Geral das Edificações Urbanas), quer ainda de normas atinentes à protecção do património cultural ou relativas ao regime jurídico aplicável à gestão de resíduos de construção e demolição (Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Março). Por exemplo, caso o acto emanado pela entidade competente que autoriza a realização da operação urbanística viole um plano municipal de ordenamento do território o mesmo será nulo por força do artigo 103.° do RJIGT. É, precisamente por estas operações terem de cumprir as normas em vigor que o artigo 93.° relativo à fiscalização determina a ela estarem sujeitas todas as operações urbanísticas, independentemente de estarem sujeitas a licença ou 163 Fernanda Paula Oliveira comunicação prévia e que as mesmas não se encontram excluídas das medidas de tutela de legalidade, designadamente ordens de embargo e de demolição. 3. A tramitação procedimental 3.1. A tramitação comum aos vários procedimentos a) O RJUE trata, na Secção II, do seu Capítulo II, as questões atinentes às formas de procedimento: o licenciamento, nos artigos 18.° a 27.°, e a comunicação prévia, nos artigos 34.° a 36.°-A, antecedidas das disposições que se apresentam como comuns aos vários tipos de procedimento [requerimento ou comunicação (artigo 9.°); termos de responsabilidade (artigo 10.°); saneamento e apreciação liminar (artigo 11.°); publicidade do pedido (artigo 12.°); consultas a entidades externas (artigos 13.° a 13.°-B); e eventual desencadeamento de um procedimento de informação prévia (artigos 14.° a 17.°)]. Todos os normativos referentes ao procedimento de autorização (artigos 28.° a 33.°) se encontram revogados, parecendo indiciar a extinção desta forma procedimental de controlo, o que, como referimos, não corresponde à realidade, uma vez que o n.° 4 do artigo 4.° determina que a utilização dos edifícios ou suas fracções, bem como as alterações de utilização dos mesmos estão sujeitas a autorização. A opção da lei a este propósito foi a de tratar o procedimento de autorização na parte em que regula, do ponto de vista substancial, a operação urbanística a ele submetida (a utilização de edifícios), ao contrário de todas as restantes situações em que as questões (e os trâmites) de ordem procedimental aparecem tratadas em separado das questões de ordem material de cada operação urbanística. Por ter feito esta deslocalização, a sistemática do diploma (designadamente, a opção de tratar separadamente as questões procedimentais e as questões materiais) fica relativamente distorcida, suscitando algumas dúvidas, designadamente, sobre se as normas constantes das disposições gerais são igualmente aplicáveis ao procedimento de autorização. Na nossa óptica, dada a inserção sistemática do procedimento de autorização na parte referente à utilização de edifícios, a aplicação 164 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão – Parte II I a este procedimento daquelas disposições gerais apenas é feita quando ocorra uma remissão expressa para as mesmas. Note-se que, nos termos do artigo 8.°-A, qualquer dos referidos procedimentos deve tramitar-se de forma desmaterializada, através de um sistema informático regulamentado, de acordo com o preceituado no n.° 2 deste artigo, através da Portaria n.° 216-A/2008, de 3 de Março, que prevê a criação de dois sistemas informáticos ou plataformas – um para os municípios e outro para a Administração central –, sistemas esses que devem articular-se de forma a permitir a sua interoperabilidade. Enquanto não existirem estes sistemas informáticos ou em caso de indisponibilidade dos mesmos após a sua criação, a tramitação continua a processar-se com recurso a suporte em papel, sem prejuízo da eventual entrega de elementos em suporte informático, nos termos do artigo 8.° da citada portaria. Novidade também do ponto de vista procedimental é a previsão de um gestor de procedimento que, embora não seja o instrutor, tem por competência o acompanhamento da instrução. A lei não determina o perfil do trabalhador da Administração local que deve ser escolhido para gestor do procedimento, ficando assim essa escolha ao critério do presidente da câmara, a qual irá naturalmente depender muito dos circunstancialismos próprios de cada município (dimensão, número de trabalhadores afectos ao departamento ou divisão de urbanismo, tipo do projecto, etc.), mas deve ter sempre presente a razão de ser da criação desta nova figura pela lei: o acompanhamento efectivo dos processos, o controlo do cumprimento de prazos e a existência de um único interlocutor no município, no que respeita aos processos em concreto, para os munícipes e para a CCDR (que, por sua vez, coordena e representa toda a Administração central, directa ou indirecta, que intervém nos procedimentos, em razão da localização). Ora, não cumprirá este objectivo legal a escolha de um gestor que não tenha um conhecimento profundo dos processos que lhe foram distribuídos ou a quem sejam distribuídos processos em tal número que se torna manifestamente impossível o respectivo acompanhamento. De igual modo, não consegue cumprir esta tarefa o funcionário que se encontrar inserido numa carreira que não pressuponha conhecimentos técnicos adequados à interlocução com os munícipes e com a CCDR. 165 Fernanda Paula Oliveira b) O artigo 9.° regula a fase procedimental correspondente à iniciativa, sendo os procedimentos aqui em causa, procedimentos de hetero-iniciativa. O procedimento inicia-se com um requerimento ou comunicação. Embora a regra seja a de que em cada requerimento (ou comunicação) apenas deva ser feito um pedido (n.° 2 do artigo 74.° do CPA), admite o n.° 3 do artigo 9.° do RJUE que possam ser formulados conjuntamente pedidos referentes a operações urbanísticas directamente relacionadas entre si. No caso de estarem em causa operações urbanísticas sujeitas a distintos procedimentos de controlo, a lei determina que embora os pedidos possam ser tramitados e apreciados em conjunto (o que pode significar, inclusive, um único gestor do procedimento), terá de se aplicar a forma do procedimento correspondente a cada tipo de operação. Considerando a diferente tramitação dos procedimentos de licenciamento e de comunicação prévia e a celeridade procedimental que é pretendida para estes últimos, designadamente em termos de timings, por comparação com os procedimentos de licenciamento, consideramos que dificilmente se conseguirá dar cumprimento à referida exigência de tramitação e apreciação conjunta, que pressupõe um procedimento similar). A Portaria n.° 232/2008, de 11 de Março, rectificada pela Declaração de Rectificação n.° 26/2008, de 9 de Maio, identifica os elementos que devem instruir os procedimentos aqui em referência. Formulado o pedido ou apresentada a comunicação, estes são publicitados sob forma de aviso, segundo o modelo aprovado pela Portaria n.° 216-C/2008, de 3 de Março, a colocar no local de execução da operação de forma visível da via pública, no prazo de 10 dias a contar da apresentação do requerimento inicial ou comunicação (artigo 12.°). c) Segue-se a fase de saneamento e apreciação liminar que visa, após a recepção do pedido ou comunicação, a apreciação das questões de ordem formal e processual que possam obstar ao conhecimento do pedido, correspondendo à concretização do disposto no artigo 83.° do CPA que determina que “O órgão administrativo, logo que estejam apurados os elementos necessários, deve conhecer de qualquer questão que prejudique o desenvolvimento do procedimento ou impeça a 166 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão – Parte II I tomada de decisão sobre o seu objecto…”. Serve esta fase para aferir a existência dos pressupostos procedimentos, quer de ordem subjectiva – competência do órgão e legitimidade do requerente –, quer objectiva – inteligibilidade, tempestividade do pedido; inexistência de decisão sobre igual pedido do requerente há menos de dois anos, etc. Em causa está a diferenciação entre o dever de pronúncia – que os órgãos administrativos sempre têm perante qualquer assunto que lhe seja apresentado pelos particulares (artigo 9.°, n.° 1, do CPA) – e o dever de decisão – que apenas existe caso estejam verificados os mencionados pressupostos procedimentais. Verificadas estas questões, o órgão administrativo competente (no caso, o presidente da câmara que, para o efeito, é auxiliado pelo gestor do procedimento) pode concluir: – pela existência de todos os pressupostos procedimentais e pela inexistência de qualquer irregularidade formal, dando andamento ao procedimento para a fase de instrução (fase de recolha de elementos que permitam tomar posição quanto ao pedido formulado); – pela existência dos referidos pressupostos, mas com necessidade de correcção do pedido (ou dos documentos a juntar), situação que, por as irregularidades serem sanáveis, deve dar origem a um despacho nesse sentido, de forma a que, sanada a irregularidade, se possa dar andamento ao procedimento. Este despacho é proferido no prazo de oito dias (159); – pela inexistência dos referidos pressupostos procedimentais ou erros insanáveis no pedido formulado, devendo, neste caso, rejeitá-lo (despacho de rejeição liminar, a ser proferido no prazo de 10 dias). Embora a fase de saneamento sirva apenas para verificar a correcção formal e procedimental do pedido, admite-se que possa haver já, neste momento, uma apreciação da questão de fundo. É isso que decorre do disposto do n.° 4 do artigo 11.°, ao admitir despacho de rejei- (159) Nesta hipótese, deve ser indicado, de forma expressa, o prazo dentro do qual devem ser apresentados os documentos em falta ou corrigidas as irregularidades, referindo-se a lei, a este propósito, a um prazo de 15 dias para que o pedido seja completado ou corrigido. Este prazo é importante, na medida em que, caso o interessado não dê cumprimento ao determinado, o procedimento considera-se extinto por deserção, valendo, no entanto, para esta extinção do procedimento, o prazo especial aqui referido e não o prazo geral constante do artigo 111.° do CPA (que é de seis meses). 167 Fernanda Paula Oliveira ção liminar quando da análise dos elementos instrutórios resultar que o pedido é manifestamente contrário às normas legais e regulamentares aplicáveis. Neste caso, o despacho deverá ser emitido no prazo de 10 dias a contar da entrega do requerimento. Consideramos não haver lugar, nesta situação, a audiência dos interessados porque esta fase tendente a assegurar a participação, na tomada de decisão, daqueles a quem a mesma diz respeito está pensada para um momento distinto. Com efeito, determina o CPA que a mesma tem lugar “concluída a instrução e antes de proferida a decisão final”, sendo, por isso, seu pressuposto um procedimento que tenha decorrido normalmente, designadamente, por estarem presentes todos os seus pressupostos procedimentais objectivos e/ou subjectivos, mas que, após a instrução, se conclui no sentido do seu indeferimento. Ora, no momento procedimental aqui em análise, estamos numa fase em que não ocorreu qualquer instrução, quer porque faltaram os respectivos pressupostos procedimentais, quer porque dos elementos apresentados se conclui imediatamente pela ilegalidade do pedido formulado. Tal não significa que o órgão competente para esta decisão não possa, facultativamente, dar cumprimento à audiência dos interessados, mas a sua falta não gera um vício procedimental do despacho de rejeição liminar. A fase adequada para apreciar as questões de ordem formal e procedimental é aquela a que aqui nos referimos, determinando por isso a lei que, não ocorrendo rejeição liminar ou convite para corrigir ou completar o pedido ou comunicação nos prazos previstos, se presume que o processo se encontra correctamente instruído. Trata-se de uma forma de disciplinar a actuação da Administração e de garantir que a posição jurídica do interessado será salvaguardada ao impedir que, a todo o momento, a Administração venha solicitar novos documentos ou pôr fim ao procedimento pelas razões referidas. A presunção aqui instituída é, no entanto, uma presunção iuris tantum já que o n.° 6 do artigo 11.° determina poder o presidente da câmara, a todo o momento, até à decisão final, tomar conhecimento (e actuar em conformidade) de qualquer questão que prejudique o desenvolvimento normal do procedimento ou impeça a tomada de decisão sobre o objecto do pedido, nomeadamente a ilegitimidade do requerente e a caducidade do direito que se pretende exercer. 168 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão – Parte II I Naturalmente que, numa situação destas, tratando-se de um aspecto fundamentador de rejeição liminar que apenas é detectado numa fase já adiantada do procedimento, pode o particular, caso este facto se tenha ficado a dever a causa imputável à Administração, pedir responsabilidade pelos danos daí decorrentes. É o que sucede se no momento da decisão final do pedido de licenciamento de uma obra particular o presidente da câmara chegar à conclusão que o interessado não tem, afinal, legitimidade, embora os documentos referentes a este pressuposto procedimental estivessem no processo desde o início, podendo e devendo, por isso, ter sido apreciados na fase de saneamento. No caso de existir boa-fé do interessado, pode este imputar responsabilidade à Administração pelas despesas referentes aos projectos de especialidades que mandou elaborar após a aprovação do projecto de arquitectura no pressuposto da correcção formal e procedimental do pedido. Naturalmente, se a ausência deste pressuposto procedimental for imputável ao próprio requerente ou comunicante, não haverá responsabilidade da Administração como também não a haverá naquelas situações em que, devido a um litígio privado, apenas já na fase de decisão administrativa surge a decisão judicial a confirmar não ter o interessado o direito que invocou no pedido ou comunicação (como se verá infra, a contestação judicial do direito que fundamenta o pedido não é, só por si, motivo suficiente para suspender o procedimento, que andará até ao fim, mas sempre sob reserva de direitos de terceiros). Se a sentença judicial surgir entretanto, confirmando a falta de legitimidade, mesmo que se esteja já em fase de decisão final, o pedido deve ser rejeitado (questões de ordem formal) e não indeferido. Pela razão anteriormente exposta, não é obrigatório, nesta situação, audiência prévia dos interessados. d) Momento relevante da instrução dos procedimentos de gestão urbanística é a dos pareceres a entidades exteriores ao município, encontrando-se a regulamentação desta matéria nos artigos 13.° e 13.°-A, que passam a ser aqueles que regulam, em exclusivo, o relacionamento da câmara municipal com as entidades exteriores aos municípios no que concerne aos procedimentos de controlo preventivo das operações urbanísticas (licenciamentos e comunicação prévias). Com efeito, ao contrário do que sucedia com a versão anterior às alterações de 2007, que excepcionava de alguns aspectos de regula169 Fernanda Paula Oliveira mentação do artigo 19.° “o disposto em legislação especial”, o artigo 13.° não contém agora esta referência de excepção. A inclusão das normas das consultas externas numa subsecção referente às disposições gerais significa a aplicação destas disposições aos procedimentos de comunicação prévia para além dos procedimentos de controlo prévio por licenciamento. [Texto retirado] Uma leitura conjugada dos artigos 13.° a 13.-B permite alcançar as seguintes conclusões: – O artigo 13.° contém regulamentação aplicável a todas as consultas externas, (prazo-regra (160), efeitos dos pareceres, autorizações e aprovações não emitidos dentro do prazo legal (161), qualificação dos pareceres como vinculativos (162)), ou seja, contém dispositivos aplicá(160) Este prazo é de 20 dias, com uma única excepção: a dos pareceres, autorizações ou aprovações respeitantes aos imóveis de interesse nacional ou de interesse público, em que o prazo é de 40 dias (n.° 3 do artigo 13.°-A). (161) Findo o prazo referido na nota anterior sem que os pareceres tenham sido recebidos, considera-se haver concordância das entidades consultadas com a pretensão formulada. (162) Na maior parte das vezes, em matéria urbanística, os pareceres mesmo quando qualificados como vinculativos, apenas o são quando emitidos num determinado sentido (em regra em sentido negativo), correspondendo àquilo que a doutrina designa como pareceres conformes. Assim, sendo negativo o parecer, a Administração é obrigada a indeferir, sob pena de nulidade [cfr. alínea c) do n.° 1 do artigo 24.°, em conjugação com a parte final da alínea c) do artigo 68.°, ambos do RJUE]. Pelo contrário, sendo favorável o parecer, a câmara municipal tanto pode deferir o pedido de licenciamento ou admitir a comunicação prévia, como pode, por motivos cuja apreciação lhe caiba efectuar, indeferi-lo ou rejeitá-la. As três condições cumulativas estabelecidas no n.° 6 do artigo 13.° para qualificar os pareceres como vinculativos são: que a lei lhes tenha conferido expressamente esse carácter, regra, aliás, consagrada no CPA, que prescreve que os pareceres são obrigatórios e não vinculativos, salvo disposição em contrário; que se fundamentem em condicionalismos legais ou regulamentares; que os mesmos sejam recebidos dentro dos prazos legais [a regra será o prazo de 20 dias, excepto se se tratar de imóvel de interesse nacional ou de interesse público ou de operações a realizar em áreas da Rede Natura 2000 (nas circunstâncias da alínea b) do n.º 4 do artigo 13.º-A) em que o prazo é de 40 dias]. Para Pedro Gonçalves, em regra, os pareceres emitidos no âmbito dos procedimentos urbanísticos conformam ou precludem o exercício do poder decisório dos municípios, pelo que se devem inserir na categoria dos actos prejudiciais. Pedro Gonçalves, “Poderá o parecer vinculante ser um acto recorrível?”, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.° 0 (Novembro/Dezembro de 1996), p. 38. Contudo, quanto à possibilidade de serem impugnados directamente pelos particulares, o Autor citado exclui-a por entender que “na perspectiva do particular a quem se destina o acto conclusivo do procedimento (…) o parecer vinculante não é senão um acto interno, no sentido de que os seus efeitos se esgotam no interior da administração”. 170 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão – Parte II I veis às consultas externas quer sejam solicitadas no âmbito do próprio artigo 13.°, quer sejam solicitas no âmbito do artigo 13.°-A ou 13.°-B. Define, ainda, o papel do gestor do procedimento no âmbito das consultas externas e quais as consultas que devem ser solicitadas directamente pela câmara municipal às entidades externas: consultas externas respeitantes ao projecto de arquitectura, desde que essa solicitação não respeite a aspectos ligados à localização desse mesmo projecto e consultas no âmbito dos projectos de engenharia das especialidades; – O artigo 13.°-A regula as consultas às entidades externas solicitadas no âmbito do projecto de arquitectura, desde que essas consultas digam respeito à localização desse projecto. Estas consultas são promovidas por uma entidade coordenadora (CCDR) que deve emitir uma decisão global no que respeita às consultas externas referentes ao projecto de arquitectura e requeridas atendendo à localização do mesmo; – O artigo 13.°-B estabelece a possibilidade de os interessados solicitarem as consultas directamente às entidades externas. Dos mesmos normativos decorrem também quais as consultas que devem ser efectuadas directamente pela câmara municipal, de acordo com o estabelecido no artigo 13.°: – as consultas respeitantes ao projecto de arquitectura que não tenham a ver com a sua localização; – as consultas atinentes aos projectos de engenharia das especialidades, identificados no n.° 5 do artigo 11.° da Portaria n.° 232/2008, de 11 de Março, excepto nas situações previstas nos n.os 8 e 9 do artigo 13.°; – a consulta a uma única entidade, ainda que esta tenha de se pronunciar em razão da localização (com comunicação à CCDR territorialmente competente). Daqui decorre que a CCDR territorialmente competente tem um papel bastante limitado ou parcelar em matéria de coordenação das entidades que tenham de emanar pareceres. Apenas coordena aquelas que tenham de se pronunciar sobre a localização, ficando todas as restantes fora da sua alçada. Para além do mais, apenas terão de ser consultadas por intermédio da CCDR aquelas entidades que tendo de se pronunciar sobre o projecto de arquitectura em função da sua localização, sejam entidades que integram a Administração directa (central ou perifé171 Fernanda Paula Oliveira rica) ou indirecta do Estado, do sector empresarial do Estado bem como de entidades concessionárias que exerçam poderes de autoridade, o que pressupõe uma indagação da natureza jurídica da respectiva entidade e conhecimentos da organização administrativa. Refere o n.° 6 do artigo 13.°-A que a CCDR deve convocar uma conferência de serviços sempre que existam posições divergentes entre as entidades consultadas. Esta afirmação é tudo menos clara na medida em que se tivermos em conta a organização administrativa do Estado, onde cada Ministério e cada ente que integra a sua Administração indirecta detêm distintas atribuições, teremos de concluir que cada uma se pronuncia sobre aspectos diferenciados de uma mesma pretensão. Por este motivo, consideramos não haver identidade entre posições divergentes e posições não coincidentes. Assim, não consideramos que seja divergente, a propósito da uma mesma pretensão, um parecer desfavorável em função de um interesse público e um parecer favorável por motivos relacionados com outro interesse público. Afirmar que não sendo coincidentes as posições das várias entidades, as mesmas terão de acertar-se numa posição única que, se não for alcançada, é proferida pela CCDR territorialmente competente, é pressupor, ainda, que a CCDR tem atribuições naquelas matérias, o que claramente não sucede. Na nossa óptica, uma entidade, para coordenar outras, terá de se posicionar “acima” delas, o que não sucede com a CCDR, que se integra, ela própria, num Ministério. Deste modo, poderá não existir divergência, em nosso entender, mesmo que uma das entidades sectoriais tenha uma pronúncia favorável e outra uma pronúncia desfavorável, dado que o âmbito da sua intervenção pode incidir sobre pontos que não se cruzam, isto é, sobre matérias em que não exista entre as duas análises qualquer interligação ou possibilidade de acerto. Divergência pressupõe uma base comum de análise pelo que se ela não existir nunca se poderão classificar as pronúncias como divergentes, mesmo quando uma seja favorável e outra desfavorável, não devendo, nestes casos, ser convocada a conferência decisória prevista no n.° 6 deste artigo (163). (163) Sobre esta questão, vide Fernanda Paula Oliveira, “A alteração legislativa ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação: uma lebre que saiu gato…?”, in Direito Regional e Local, n.° 00 (Outubro/Dezembro de 2007). 172 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão – Parte II I Uma questão que se pode colocar é a de saber se o parecer da CCDR tem, em face da câmara municipal, carácter vinculativo. Com efeito, o artigo 13.°-A apenas afirma expressamente que o parecer da CCDR “vincula toda a Administração central “(rectius estadual) – n.° 1. Na nossa óptica, uma vez que em causa está um parecer que substitui vários pareceres que assumem, quando negativos, natureza vinculativa, o mesmo tem, necessariamente, este carácter. Uma outra novidade é trazida pelo n.° 9 do normativo aqui em referência. Esta solução merece-nos, contudo, alguns reparos. Antes de mais, aí se refere expressamente que o parecer pode ter um conteúdo negativo por o projecto ser desconforme com instrumentos de gestão territorial, o que coloca dois problemas: indicia, caso o instrumento de planeamento em causa seja municipal, que cabe às entidades da Administração central apreciar o seu cumprimento, o que viola as atribuições municipais a quem esta tarefa se encontra atribuída; determina, caso não se trate de um plano municipal ou de um plano especial, que estes instrumentos de gestão territorial podem afectar os interessados, levando ao indeferimento de pretensões urbanísticas privadas desde que fundamentem um parecer negativo, quando o RJIGT é claro a determinar não serem estes planos dotados de eficácia plurisubjectiva, apenas podendo os mesmos afectar os interessados após a integração das suas opções nos planos directamente vinculativos dos particulares. Por outro lado, admite, esta norma, que se possa vir a alterar um plano para permitir uma operação que o mesmo impedia, legitimando, assim, a modelação e o ajuste das soluções dos planos às operações concretas e não o contrário. Esta solução, obviamente, apenas deve poder ser adoptada em situações excepcionais, o que se encontra salvaguardado pelo facto de o normativo em referência exigir que aquelas alterações se fundamentem em relevantes interesses de ordem regional ou municipal (164). Refira-se, por fim, a possibilidade de o interessado poder promover directamente as consultas. A Lei n.° 60/2007 introduziu a este propósito, algumas especificidades: (164) Sobre estes pontos, vide Fernanda Paula Oliveira, “A alteração legislativa ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação: uma lebre que saiu gato…?”, cit. 173 Fernanda Paula Oliveira – Estabeleceu-se um prazo de “validade” dessas mesmas consultas que é, em princípio, de um ano, contado desde a emissão dos pareceres, autorizações ou aprovações; – Esse prazo pode ser prorrogado desde que não se tenham alterado os pressupostos de facto e de direito em que os mesmos se basearam. Note-se que, como referimos, o n.° 5 do artigo 13.° é um dos preceitos aplicáveis a todas as consultas externas, pelo que se considera haver concordância das entidades externas se as suas pronúncias não forem recebidas no prazo de 20 ou de 40 dias, ainda que solicitada pelo interessado. Para estes efeitos, estipula o n.° 2 deste artigo que o requerimento inicial seja instruído com a prova da solicitação das consultas do requerente ou comunicante e de que as consultas não foram emitidas dentro dos prazos. Perante a faculdade prevista nesta norma, é ilegítima a posição de algumas entidades que se recusam a emitir parecer quando solicitado pelos particulares. Com efeito, como aqui se estipula, se aquelas entidades não responderem dentro do prazo, o parecer considera-se favorável, ainda que tenha sido solicitado por estes. Note-se que, tendo os pareceres sido solicitados pelo interessado, é inadmissível ao município promover nova consulta: basta a declaração do interessado (165). Mesmo que a ausência dos pareceres gere a nulidade do acto, esta será sempre imputável ao interessado. Caso o interessado não tenha promovido todas as consultas, o gestor do procedimento promove as que faltarem que, se respeitarem à localização, serão solicitadas através da CCDR, enquanto entidade coordenadora. Embora este artigo não seja claro, consideramos que ainda que o interessado tenha solicitado todas as consultas, deve o gestor do procedimento identificar aquelas que deveriam ter sido solicitadas pela CCDR e remeter para esta entidade as suas pronúncias de forma a que a mesma confirme se as posições são convergentes (emanando de imediato o parecer único da Administração central) ou, se forem (165) Sobre este aspecto, vide o nosso “Repetição Devida ou Indevida”, Comentário ao Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 9 de Julho de 1998, Processo n.° 43 867, in Revista do Centro de Estudos do Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, n.° 14, Ano VII – 2.04, pp. 115 e segs., Coimbra, Coimbra Editora. 174 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão – Parte II I divergentes, convoque a conferência decisória. Esta é a única forma de se garantir o objectivo pretendido pelo legislador: que a Administração estadual se pronuncie, perante o município, de uma só vez e a uma só voz. Não importa, assim, para estes efeitos, quem solicitou os pareceres, mas sim a eventual divergência que encerrem. 3.2. Algumas especificidades do procedimento de licenciamento a) Típico do procedimento de licenciamento é a existência de uma fase formal de apreciação dos projectos (de arquitectura, de loteamento, etc.). No que concerne às obras de construção, o procedimento de licenciamento está dividido em dois momentos (subfases): a primeira, atinente à apreciação e aprovação do projecto de arquitectura; a segunda, referente à apresentação dos projectos de engenharia de especialidades, conduzindo, caso estes não coloquem problemas específicos, ao licenciamento da obra. Admite-se, desde a versão inicial do RJUE, que os projectos de especialidade sejam entregues logo com o requerimento inicial (juntamente com o projecto de arquitectura), mas continua a existir a obrigação de o órgão competente apreciar primeiro o projecto de arquitectura e, apenas caso este seja aprovado, passe para o momento seguinte, referente às especialidades. Na situação, mais provável, de os projectos de engenharia de especialidades serem apresentados apenas após a aprovação do projecto de arquitectura, tem o interessado um prazo de seis meses para o fazer, prazo esse que pode ser prorrogado por uma só vez e por período não superior a três meses, mediante requerimento fundamentado apresentado antes do respectivo termo. A falta de apresentação dos projectos de engenharia das especialidades após estes prazos máximos, implica a suspensão do procedimento de licenciamento pelo período máximo de seis meses, findo o qual é declarada a caducidade após audiência prévia do interessado (166). (166) Este prazo de suspensão corresponde, na prática, a uma nova prorrogação do prazo para a entrega dos projectos de especialidade. 175 Fernanda Paula Oliveira É na apreciação do projecto de arquitectura que a câmara municipal analisa as questões de cariz urbanístico (aquelas pelas quais ela é responsável), como o cumprimento dos planos municipais e especiais de ordenamento do território, de medidas preventivas eventualmente em vigor, de áreas de desenvolvimento urbano prioritário e de construção prioritária; das servidões administrativas e das restrições de utilidade pública; e ainda as questões atinentes à respectiva inserção urbana e paisagística bem como sobre o uso proposto, devendo esta apreciação ser efectuada na perspectiva formal e funcional, tendo em atenção o edificado existente bem como o espaço público envolvente e as infra-estruturas existentes e previstas (artigo 20.°). É também desta perspectiva que são apreciados os projectos de loteamento urbano (artigo 21.°). Em grande parte desta apreciação é deixada à Administração um espaço de apreciação própria que se reconduz, indubitavelmente, ao domínio de discricionariedade administrativa. b) Estando em causa o licenciamento de operações de loteamento, há lugar a uma fase de consulta pública (artigo 22.°). Tal como se afirmava no preâmbulo inicial do RJUE, a submissão das operações de loteamento a consulta pública tem como pressuposto o facto de se entender que o impacto urbanístico provocado por uma operação deste tipo em área não abrangida por plano de pormenor tem implicações no ambiente urbano que justificam a participação das populações locais no respectivo processo de decisão, não obstante poder existir um plano director municipal ou plano de urbanização sujeitos, eles próprios, a prévia consulta pública. Não existindo prévio plano de pormenor, a operação de loteamento vai servir simultaneamente de instrumento de planeamento e de execução urbanística, já que integra elementos essenciais de programação das regras aplicáveis a uma área determinada, pelo que os cidadãos devem ter tanto ou mais interesse em participar na sua discussão pública como têm em participar na discussão dos diversos instrumentos de gestão territorial. Existe, no entanto, uma diferença fundamental entre planeamento municipal e licenciamento de loteamentos urbanos: neste caso, estamos já no âmbito dos actos administrativos de gestão urbanística que 176 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão – Parte II I apenas podem ser indeferidos nas situações expressamente previstas na lei, não dispondo, por isso, a entidade administrativa, dos mesmos poderes discricionários de que dispõe quando elabora instrumentos de planeamento, o que pode colocar em causa a eficácia, pelo menos nos termos pretendidos, desta consulta pública. Talvez por isto, no regime actualmente em vigor, a regra é a isenção deste trâmite e a excepção a sua exigência: nas situações em que a operação de loteamento exceda um dos seguintes limites: 4 hectares, 100 fogos ou 10% da população do aglomerado urbano em que a pretensão se insere. Abaixo destes limites, apenas haverá lugar a consulta pública mediante previsão em regulamento municipal. A lei não prevê, agora, os trâmites a que deve obedecer a consulta pública, nas hipóteses em que seja exigida (por exigência legal ou regulamentar), dado não existir na actual redacção tal regulamentação (contrariamente à anterior, que remetia esses aspectos procedimentais para a discussão pública prevista no RJIGT, sem prejuízo de regular especialmente as matérias referentes a prazos – mais curtos do que os do RJIGT – e ao conteúdo documental que deveria ser objecto de discussão pública). Na falta de previsão legal sobre os procedimentos de consulta pública, terão que ser os regulamentos municipais a disciplinar estas matérias. Ao contrário da sua versão inicial, o artigo 22.° não prevê agora a possibilidade de sujeição a consulta pública de outras operações urbanísticas, ainda que mediante exigência regulamentar e desde que com significativa relevância urbanística. Tal não impede, porém, que o município faça essa opção, solução que tem razão de ser quando em causa estão operações com impacte semelhante a um loteamento ou com impacte urbanístico relevante. c) A deliberação final do pedido de licenciamento consubstancia o acto de licenciamento se for de deferimento (artigo 26.°) ou, no caso de indeferimento, a negação desse mesmo pedido. Se a proposta de deliberação for desfavorável, deve ser promovida, previamente à deliberação de indeferimento, a audiência prévia do interessado, nos termos do artigo 100.° do CPA, segundo o qual, “concluída a instrução, e salvo o disposto no artigo 103.°, os interessados têm o direito de ser ouvidos no procedimento antes de ser tomada a decisão final, devendo ser in177 Fernanda Paula Oliveira formados, nomeadamente, sobre o sentido provável desta”, tratando-se de uma norma aplicável a todos os procedimentos administrativos, mesmo aos especiais, criados ao abrigo de direito anterior. O artigo 23.° estabelece os prazos máximos (prazos procedimentais, contados nos termos do artigo 72.° do CPA) para as deliberações respeitantes a pedidos de licenciamento. Se, findos estes prazos, não houver deliberação, pode o interessado pedir ao Tribunal Administrativo que intime a autoridade competente para proceder à prática do acto que se mostre devido, nos termos do artigo 112.°. A deliberação que consubstancia o deferimento do pedido de licenciamento corresponde ao momento constitutivo do procedimento administrativo em causa, embora a lei entenda que este acto apenas poderá produzir os respectivos efeitos jurídicos após a emissão do documento que serve de título à licença: o alvará, que assume, assim, a natureza jurídica de acto integrativo da eficácia do acto de licenciamento por nada acrescentar à definição da situação jurídica do particular perante a possibilidade de realizar a operação urbanística, apenas permitindo desencadear a sua operatividade. De facto, o alvará apenas permite que o acto de licenciamento produza os seus efeitos, não relevando para a definição de momentos intrínsecos do mesmo, aliados estes à noção de validade e não ao conceito de eficácia. A licença corresponde a um verdadeiro acto administrativo que “remove o limite legal ao exercício do “direito”de concretizar a operação urbanística” e que define as condições de exercício do mesmo ou, se preferirmos, é o acto que confere ao promotor o direito a realizar a operação urbanística pretendida. Trata-se de um acto que desencadeia benefícios para terceiros, na medida em que se assume como de cariz favorável aos seus destinatários, podendo ainda ser considerada como uma autorização constitutiva de direitos, pela qual a Administração constitui direitos em favor dos particulares, em áreas que, salvo a prática deste acto administrativo, se lhes encontram vedadas, por se considerar, em abstracto, que a sua atribuição aos mesmos lesaria o interesse público. O n.° 6 do artigo 23.° admite, no que concerne às obras de edificação, que estas possam iniciar-se antes mesmo de obtido o acto final de licenciamento: desde que, imediatamente a seguir à aprovação do projecto de arquitectura e tendo sido entregues todos os projectos de 178 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão – Parte II I especialidade (de forma a evitar a caducidade daquela) bem como prestada caução, seja requerida e concedida licença parcial para a construção da estrutura do edifício (167). d) A licença concedida pode ser objecto de alteração, quer antes do início das obras ou trabalhos, quer durante a execução da obra (artigo 83.°). São, designadamente, as seguintes as especificidades procedimentais a cumprir nas situações de alteração das licenças: i. São dispensadas novas consultas a entidades exteriores ao município, desde que os pedidos de alteração se conformem com os pressupostos de facto e de direito dos pareceres, autorizações ou aprovações já emitidos (e desde que estes se hajam pronunciado sobre os elementos agora sob apreciação). ii. Podem ser utilizados no procedimento de alteração os documentos do procedimento inicial que se mantenham válidos e adequados, devendo ser aplicado aqui, por paralelismo de situações e ainda que com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 72.° quanto à possibilidade de utilização dos documentos noutro procedimento após a caducidade do primeiro procedimento. iii. A alteração dá apenas lugar a aditamento ao alvará de licenciamento e não à emissão de um novo alvará, que, no caso de operação de loteamento, deve neste caso ser comunicado oficiosamente à conservatória do registo predial para averbamento. Estando em causa a alteração de uma licença de loteamento, para além do que acabámos de referir, poderá haver lugar a consulta pública (o que ocorrerá quando a mesma esteja prevista em regulamento municipal ou quando sejam ultrapassados alguns dos limites previstos no n.° 2 do artigo 22.°). Acresce ainda às regras gerais da legitimidade atinente aos procedimentos urbanísticos – que exige que o interessado (167) Esta licença parcial para a construção da estrutura é titulada por um alvará, estando a emissão deste sujeita, nos termos do n.° 4 do artigo 116.° do RJUE, ao pagamento de uma taxa pela emissão da licença. Não se trata, contudo, de um novo facto sujeito a uma nova taxa, mas da taxa pela emissão da licença que, sendo paga nesta fase, não o terá de ser com a emissão do alvará definitivo. Em alguns regulamentos municipais, opta-se por fazer pagar uma parte da taxa neste momento e a parte restante no momento da emissão do alvará definitivo, solução que nos parece a mais adequada. 179 Fernanda Paula Oliveira na alteração seja titular de um direito que lhe permita efectivar a mesma (168) – exigências acrescidas neste domínio, com vista à protecção da confiança de terceiros adquirentes dos lotes. Assim, para que a alteração a uma licença de loteamento possa ser legitimamente aprovada, exige-se que não ocorra oposição da maioria dos titulares dos lotes constantes do alvará, ou seja, da totalidade da área do loteamento. De forma a garantir que a não oposição decorra de uma opção consciente dos adquirentes dos lotes, exige-se que o gestor do procedimento notifique os proprietários dos lotes para esse efeito. Na ausência de regulamentação própria em regulamento municipal, tal notificação terá de ser feita nos termos previstos no CPA. Uma regulamentação municipal especial pode fazer sentido, ora para permitir que o interessado apresente logo, com a apresentação do requerimento para a alteração, os documentos comprovativos da referida não oposição, ora exigindo, tal como na informação prévia quando pedida para prédios de terceiros, que os interessados entreguem as certidões do registo predial com a sua identificação. Nos termos do CPA, para situações mais complexas em que esteja em causa um número elevado de interessados a notificar – como pode suceder em muitas destas situações –, admite-se que a notificação seja feita por edital, nos termos dos procedimentos de massas. Esta possibilidade de notificação por via de edital aliada à regra agora vigente de inexistência de consulta pública (que apenas ocorrerá quando prevista em regulamento municipal) torna, comparativamente com o regime anterior à Lei n.° 60/2007, os adquirentes dos lotes mais desprotegidos na sua capacidade de intervenção (e de poder condicionar) a alteração ao loteamento. A tramitação anteriormente referida e a garantia de terceiros adquirentes dos lotes não tem de ser cumprida quando estejam em causa alterações até 3% das áreas de implantação e de construção (com ou sem variação do número de lotes) previstas na licença de loteamento (n.° 8 do artigo 27.°), sendo aprovadas por mera deliberação da câmara (168) Podendo ser o próprio município relativamente a lotes ou parcelas de que seja titular, ainda que tenham sido objecto de cedências. Cfr. Fernanda Paula Oliveira, “Cedências para o domínio público e alterações a loteamento: como conciliar?”, Anotação ao Acórdão do STA de 20.10.1999, Processo n.° 44 470, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.° 21 (Maio/ /Junho de 2000). 180 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão – Parte II I municipal, sem prejuízo do cumprimento das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. 3.3. Especificidades das comunicações prévias O procedimento de comunicação prévia, que se perspectiva, na óptica do RJUE, como um procedimento mais simples e mais célere, tem, afinal, de cumprir uma tramitação procedimental com alguma complexidade. Assim, para além das já referidas fases de entrega do pedido (artigos 9.° e 35.°); publicitação do mesmo no local de execução da obra (artigo 12.°); saneamento e apreciação liminar (artigo 11.°); eventual consulta a entidades externas (artigos 13.°, 13.°-A e 13.°-B), tem ainda de ultrapassar as seguintes fases: a) apreciação da comunicação (conjuntamente do projecto de arquitectura e de especialidades); [Texto retirado] b) eventual audiência prévia, nos termos do CPA (nos casos em que se conclua que a comunicação é para rejeitar) (169); c) a decisão final de rejeição da comunicação (artigo 36.°, n.° 1) – a qual é expressa – ou de admissão da mesma (artigo 36.°-A, n.° 1) – a qual resulta da ausência de decisão de rejeição. Finda esta tramitação haverá, ainda, lugar, a: a) notificação do acto de rejeição ou informação do acto de admissão; (169) Questiona-se, em face da omissão no texto legal actual, se deve haver lugar a audiência prévia do interessado (artigo 100.° do CPA) no caso de o projecto de decisão final ser de rejeição. Em nossa opinião, em face do tipo de trâmite que aqui está em causa, concretizador do princípio constitucional da participação dos interessados, e da formulação do CPA que obriga, ainda que supletivamente, à introdução deste trâmite nos procedimentos em que se prevê um desfecho desfavorável para o interessado, a resposta tem de ser positiva. E não se diga que, por em causa estar um acto vinculado, tal trâmite pode ser afastado por a participação do interessado não ter influência no sentido da decisão. É que, mesmo nestas situações, sempre poderá o interessado impedir o surgimento de um acto por erro quanto aos pressupostos. Ora, a exigência do trâmite da audiência prévia dos interessados não poderá deixar de ser tida em consideração, pelo que os prazos para a admissão da comunicação prévia (de 20 ou de 60 dias) terão de ser contabilizados em conformidade, o que não deixa de ser um factor de incerteza. Esta suspensão é motivada, claramente, não no interesse do município, mas na garantia dos direitos procedimentais do interessado, pelo que se tem por admissível e devida. 181 Fernanda Paula Oliveira b) titulação da admissão pelo recibo da sua apresentação e comprovativo de admissão (artigo 74.°, n.° 2). Enquanto o sistema informático não estiver a funcionar, titulação por uma certidão independente de registo; c) publicitação (artigo 78.°, n.° 5); d) pagamento de taxas por autoliquidação (artigos 36.°-A, n.° 2, 80.°, n.° 2, e 116.°). e) eventual celebração de “instrumento notarial próprio” para transmissão das cedências (artigo 44.°, n.° 3) quando a elas haja lugar (169a); Uma análise comparativa entre o actual procedimento de comunicação prévia e aquele que se encontrava previsto no RJUE, antes das alterações de 2007, permite concluir que se trata de dois procedimentos completamente distintos que apenas têm em comum a respectiva designação (170). No que concerne à natureza jurídica dos actos que procedem ao desfecho do procedimento de comunicação prévia, da perspectiva do legislador, os mesmos assumem sempre a natureza de acto administrativo. Quando o desfecho do procedimento for desfavorável à comunicação do interessado, o presidente da câmara pratica um acto que se (169a) Após a alteração efectuada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, a transmissão das cedências deve ocorrer no prazo de 20 dias após a admissão da comunicação prévia e não já antes de decorrido este prazo. (170) Na versão inicial do RJUE, o procedimento de comunicação prévia correspondia a um procedimento de controlo bastante simplificado, previsto para operações com impacto urbanístico muito reduzido. O pedido para a realização destas operações era dirigido, sob a forma de comunicação, ao presidente da câmara, ao qual se anexavam as peças escritas e desenhadas indispensáveis à identificação das obras e à respectiva localização, bem como o termo de responsabilidade assinado por técnico legalmente habilitado. Seguia-se uma fase de apreciação liminar, no âmbito da qual o presidente da câmara tinha um prazo máximo de 20 dias para determinar a sujeição da obra a licença ou a autorização – o que ocorreria quando se verificasse que as operações urbanísticas não se integravam no âmbito do procedimento de comunicação prévia ou quando concluísse existirem fortes indícios de que a obra violava normas legais e regulamentares em vigor. No caso de o interessado não ser notificado para sujeitar o seu pedido a licenciamento ou autorização, podia iniciar as obras, 30 dias após a entrega da comunicação prévia, o que significava que a ausência de resposta da Administração naquele prazo tinha um efeito permissivo, podendo iniciar-se as obras pretendidas. Característica deste procedimento era, como decorre do que foi descrito, a ausência de uma decisão final expressa, fosse em sentido favorável à comunicação do interessado, fosse em sentido desfavorável. Com efeito, sempre que no âmbito deste procedimento o presidente da câmara concluísse que a obra violava normas legais e regulamentares aplicáveis, determinava a 182 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão – Parte II I designa de rejeição (171), o qual deve, necessariamente, ser expresso e ser praticado dentro do prazo legal, caso contrário, formar-se-á, por força da própria lei, um acto de admissão (favorável à pretensão). O que significa que o município, de modo a impedir a formação do acto de admissão (o qual é fictício), deve praticar o acto contrário no prazo previsto para o efeito, correspondendo a prática desse acto ao exercício de um “direito de veto” fundamentado por parte da Administração. O acto de admissão da comunicação prévia corresponde, nos termos da lei, ainda que sendo meramente fictício, a um acto administrativo, não apenas por razões formais (cfr. a epígrafe do artigo 36.°-A), mas pela equiparação que dele é feita à licença em vários normativos legais – invalidade e nulidade do acto de admissão (artigos 67.° e 68.°), revogabilidade (artigo 73.°), declaração de caducidade (artigo 71.°), renovação (artigo 72.°), prorrogação (artigo 53.°, n.° 3). Note-se que, embora esteja em causa um acto que resulta do silêncio da Administração, este não coincide com o tradicional acto tácito, na medida em que este ocorre quando, tendo a Administração um dever legal de decidir, não o faça dentro do prazo estipulado. Ora, no caso da comunicação prévia, o órgão competente apenas tem o dever legal de decidir se for para rejeitar a comunicação, não havendo um correspectivo dever legal de decidir de forma favorável. Com efeito, determina a lei que, se a pretensão cumprir todas as normas legais e regulamentares aplicáveis, não tem a Administração de proferir uma decisão expressa favorável, bastando que nada diga. Embora em causa também esteja um acto resultante do silêncio, o qual também vale, para todos os efeitos, como um acto administrativo, não tem os mesmos pressupostos que o acto tácito. sujeição do pedido a licenciamento ou autorização para que o mesmo pudesse ser devidamente apreciado e eventualmente objecto de indeferimento expresso (cfr. n.° 2 do artigo 36.° do diploma ainda em vigor). (171) Acto que não pode ser confundido com aquele que, na fase de saneamento e apreciação liminar, coloca fim ao procedimento por motivos de ordem formal ou procedimental. É que na rejeição da comunicação prévia, considerando os fundamentos que podem ser invocados para o efeito, está em causa um verdadeiro indeferimento material do pedido e não uma rejeição formal da comunicação. 183 Fernanda Paula Oliveira 3.4. Especificidades das autorizações A autorização de utilização destina-se actualmente a verificar a conclusão da obra e a sua conformidade com o projecto de arquitectura e arranjos exteriores aprovados e com as condições do licenciamento ou da comunicação prévia (n.° 1 do artigo 62.°). Nos casos em que esteja em causa a mudança de finalidade que não implique a realização de obras ou quando se trate de alteração da utilização ou de autorização de arrendamento para fins não habitacionais de prédios ou fracções não licenciados, nos termos do n.° 4 do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 160/2006, de 8 de Agosto, a autorização destina-se a verificar a conformidade do uso previsto com as normas legais e regulamentares aplicáveis e a idoneidade do edifício ou sua fracção autónoma para o fim pretendido. A decisão sobre o pedido de autorização deve ser proferida no prazo de 10 dias a contar do respectivo requerimento, prazo que apenas se alarga quando os termos de responsabilidade exigíveis não tiverem sido entregues ou ocorra indício de violação do projecto ou suas condições ou que o edifício ou fracção não são idóneos para o fim pretendido, uma vez que neste caso terá de ser desencadeada uma vistoria. Esta é determinada (e não apenas admitida) quando existam indícios sérios de desconformidade com o projecto de obra ou, no caso de este não existir, de que o edifício ou fracção não são idóneos para o fim pretendido, ao que acrescentaríamos, em qualquer dos casos, a existência de indícios sérios de violação de normas legais e regulamentares, uma vez que também esta questão cabe no âmbito de apreciação da autorização de utilização [alíneas b) e c) do n.° 2 do artigo 64.°]. Há uma hipótese, no entanto, em que a determinação da realização da vistoria passa a ser estritamente um acto vinculado: na situação da alínea a) do n.° 2 do artigo 64.°: a não instrução com os termos de responsabilidade previstos no artigo 63.°. Contudo, não sendo, neste caso, realizada a vistoria, o requerente pode solicitar a emissão do alvará de autorização de utilização, a emitir no prazo de cinco dias, mediante a apresentação do comprovativo do requerimento da mesma nos termos do artigo 63.° (cfr. n.° 3 do artigo 64.°). 184 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão – Parte II I 3.5. Os títulos dos actos de gestão urbanística Nos termos do artigo 74.°, existe sempre um documento que serve de título às decisões que põem termo aos procedimentos de gestão urbanística: no caso do licenciamento e da autorização, o alvará; no caso das comunicações prévias, o recibo da comunicação, juntamente com o comprovativo da admissão (neste caso, apenas se não ocorrer a situação prevista no n.° 2 do artigo 36.°-A). O alvará é condição de eficácia da licença, mas já não da autorização (172). No caso dos loteamentos que fiquem sujeitos ao procedimento de comunicação prévia, é este título que deve ser levado ao registo, sendo, assim, essencial, para que este desempenhe cabal e satisfatoriamente a sua função publicizante, que do mesmo constem todos os elementos enunciados no artigo 77.°, n.° 1. De forma a garantir que assim seja, exige o legislador que as especificações previstas para o alvará de loteamento sejam identificadas na apresentação do pedido a sujeitar a comunicação prévia. No caso do loteamento com obras de urbanização, estão em causa duas operações urbanísticas distintas, cada uma sujeita ao respectivo acto de controlo. Embora se trate de operações urbanísticas distintas, as mesmas, por se encontrarem directamente relacionadas, sempre foram objecto de um único título (um alvará). Esta situação muda agora, já que, embora os loteamentos se encontrem sujeitos, em regra, a licenciamento, acto que é titulado por alvará, as respectivas obras de urbanização estão sujeitas a comunicação prévia, cujo título não é aquele. A este propósito, estipula o n.° 3 do artigo 76.° que, nestes casos, será emitido um único titulo – o alvará – que titula os dois actos em causa, o qual deve ser requerido no prazo de um ano a contar da admissão da comunicação prévia das obras de urbanização. Pode, porém, a operação de loteamento, quando tenha sido antecedida de informação prévia favorável emitida nos termos do n.° 2 do artigo 14.°, estar sujeita a comunicação prévia, situação em que teremos a admissão da comunicação prévia do loteamento e a admissão da comunicação prévia das respectivas obras de urbanização. (172) Sobre este ponto, vide Fernanda Paula Oliveira /M aria José Castanheira Neves/ /Dulce Lopes/Fernanda M açãs, Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, cit., comentário ao artigo 74.°. 185 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão – Parte II I (continuação) Deveres Ónus •Existência de um livro de obras no local onde estas decorrem – artigos 97.° e 98.°, n.° 1, alíneas l) e m). • Prestação de cauções, no domínio dos loteamentos para garantir a realização das obras de urbanização – artigo 54.°. •Limpeza da área e remoção de entulhos e demais detritos – artigo 98.°, n.° 1, alínea n). •No caso de obras de edificação, afixação de uma placa em material imperecível no exterior da edificação ou a gravar num dos seus elementos exteriores, com a identificação do director da obra – artigo 61.°. 2. Direitos dos promotores das operações urbanísticas No que concerne aos direitos e garantias do requerente e do beneficiário dos actos de gestão urbanística, apontam-se como os mais importantes: a) Direito à informação O direito à informação, que decorre do artigo 268.°, n.os 1 e 2, da CRP e que se encontra regulado nos artigos 61.° a 65.° do CPA, tem também um importante relevo em matéria de licenciamento ou autori- celas destinadas a equipamentos de utilização colectiva, uma vez que, podendo estes ser privados, facilita os negócios jurídicos que podem ser realizados sobre aquelas parcelas, ainda que não possam ser alienados em direito de propriedade, uma vez que o legislador quis garantir uma titularidade dos mesmos pelo município. (233) A lei refere-se, ainda, ao pagamento das compensações ou quando as áreas necessárias para espaços verdes, equipamentos e infra-estruturas fiquem propriedade privada nos termos do n.° 4 do artigo 43.°, solução que a aplicar-se literalmente não pode deixar de estar sujeita a críticas, já que a figura das compensações deve ser vista como um mecanismo de reposição da igualdade entre, por um lado, os administrados que são onerados com cedências ou com a previsão de áreas que se mantêm na sua titularidade privada e, por outro, aqueles que não são onerados com qualquer uma destas imposições. Por esse motivo, consideramos que tais compensações devem ligar-se não ao facto de haver (ou não) cedências para o domínio municipal, mas ao facto de se mostrarem respeitados os parâmetros de dimensionamento aplicáveis. Neste sentido, vide Fernanda Paula Oliveira /M aria José Castanheira Neves/Dulce Lopes/Fernanda M açãs, Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, cit., pp. 328 e segs. 241 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão – Parte II I 3. Validade/invalidade dos actos urbanísticos a) A validade dos actos urbanísticos depende da sua conformidade com as normas legais e regulamentares em vigor à data da sua prática (tempus regit actum) – artigo 67.°. Excepção expressa a esta situação é, como se referiu, a prevista no artigo 60.° que determina a garantia activa de edifícios legalmente existentes à data da entrada em vigor do plano, admitindo-se a licença ou admissão de comunicação prévia de obras de alteração ou de reconstrução num momento em que as normas em vigor já não o permitem. Sendo a licença, a admissão da comunicação prévia, a autorização bem como a informação prévia actos administrativos, aplicam-se-lhes todas as regras que valem, em geral, para esta forma de actividade da Administração Pública e, por isso, também, as referentes à respectiva invalidade. No que concerne aos tipos de invalidade, para além das causas específicas de nulidade especialmente previstas no artigo 68.°, os mencionados actos serão ainda nulos nas situações previstas no artigo 133.° do CPA, ou em todas as outras em que a legislação preveja especificamente esta forma de invalidade (v.g., o estabelecido no regime legal da RAN e da REN). Nas causas específicas de nulidade previstas no artigo 68.°, encontram-se a violação de instrumentos urbanísticos que dispõem de eficácia directa e imediata em relação aos particulares ou a violação da licença ou admissão da comunicação prévia de loteamento (que é equiparável do ponto de vista material, a um plano de pormenor) bem como, ainda, as medidas preventivas [alínea a) do artigo 68.°]. Trata-se, em qualquer destas situações, de invalidades decorrentes de vícios de conteúdo, tal como o são as que decorrem da desconformidade com pareceres (apenas se vinculativos e não, como o normativo parece indiciar, todos os obrigatórios), autorizações ou aprovações [alínea c) do artigo 68.°]. Também vícios procedimentais podem determinar a nulidade das licenças da admissão das comunicações prévias ou autorizações [cfr. alínea c), primeira parte]. Por não se ter previsto um regime especial de nulidade para os actos urbanísticos, o regime que lhes é aplicável sempre foi o regime 245 Fernanda Paula Oliveira e autorizações sempre que a sua causa resulte de conduta ilícita dos titulares dos seus órgãos ou dos seus funcionários e agentes. Os titulares dos órgãos do município e os seus funcionários e agentes respondem solidariamente com aquele quando tenham dolosamente dado causa à ilegalidade que fundamenta a anulação ou a declaração de nulidade (245). Se a ilegalidade da licença ou da autorização municipal resultar de parecer vinculativo, autorização ou aprovação legalmente exigível, a entidade que o emitiu responde solidariamente com o município (artigo 70.°, n.° 3) (246). 4. Caducidades urbanísticas As licenças e admissões de comunicações prévias de operações urbanísticas podem cessar os seus efeitos por caducidade (isto é, pelo decurso de um prazo), podendo as caducidades urbanísticas ser divididas em dois grupos: o primeiro diz respeito às situações em que está em causa o decurso do prazo para que, uma vez licenciada a operação ou admitida a comunicação prévia, seja requerido o respectivo título (quando este seja o alvará) – valendo, neste domínio, como regra, o prazo de um ano que, contudo, pode ser prorrogado (artigo 76.°, n.os 1 e 2) (247) –, o segundo é referente às situações em que está em causa (245) Neste caso, o mesmo regime previsto para a anulação e declaração de nulidade aplica-se às situações de revogação da licença ou da autorização. (246) Sobre as consequências resultantes da declaração de nulidade das licenças ou autorizações urbanísticas, vide Pedro Gonçalves/Fernanda Paula Oliveira, “O Regime da nulidade dos actos administrativos que investem o particular no poder de realizar operações urbanísticas”, cit. (247) Quando esteja em causa a comunicação prévia ou licenciamento de operações de loteamento que envolvam a necessidade de realização de obras de urbanização (que serão objecto, elas próprias, de decisão administrativa através de admissão de comunicação prévia), a lei desenha os dois procedimentos como sucessivos, pelo que deve ser apresentada a comunicação prévia para as obras de urbanização no prazo de um ano a contar, respectivamente, da notificação do acto de licenciamento ou da admissão do loteamento e, uma vez concedidas aquelas, terá de ser requerido o alvará único (cfr. n.° 3 do artigo 76.°) também no prazo de um ano, sob pena de caducidade das licenças ou admissões anteriores. Haverá situações, porém, em que, por se sucederem duas comunicações prévias: da operação de loteamento e das obras de urbanização, não haverá lugar à emissão de alvará único. Nestes casos a lei determina, sob pena de caducidade, a necessidade de serem pagas as taxas dentro do prazo de um ano após a admissão da comunicação prévia (n.° 2 do artigo 71.°) [Texto retirado]. 250 Direito do Urbanismo. Do Planeamento à Gestão – Parte II I o decurso do prazo para a realização de obras (quer de edificação lato sensu, quer de urbanização, embora estas, se integradas no âmbito de um loteamento, possam ter efeitos sobre a eficácia da respectiva licença ou admissão de comunicação prévia). No que concerne a estas últimas, determina a lei que, a licença ou admissão de comunicação prévia caducam quando: – as obras respectivas não forem iniciadas no prazo de nove meses desde a data da emissão do alvará (ou, nos casos de silêncio, da data do pagamento das taxas, do seu depósito ou da garantia de pagamento) ou da data do pagamento das taxas, no caso da comunicação prévia [nota retirada]; – se as obras estiverem suspensas por período superior a seis meses, salvo se a suspensão decorrer de facto não imputável ao titular da licença ou da admissão de comunicação prévia; – se as obras estiverem abandonadas por período superior a seis meses; ou – se as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença ou comunicação prévia ou suas prorrogações, contados da emissão do respectivo alvará ou do pagamento das taxas, no caso de comunicação prévia. Tem havido alguma dificuldade em enquadrar juridicamente as caducidades aqui referidas, na medida em que, sendo este um instituto que nasceu no ordenamento jurídico civilístico, a sua “importação” para o direito administrativo não é isenta de dúvidas. Desde logo porque, em especial no direito administrativo, a mesma assume contornos muito heterogéneos, falando-se de uma caducidade preclusiva distinta de uma caducidade-sanção ou por incumprimento. Ou seja, ao lado da caducidade em sentido estrito – em que o direito se extingue pelo seu não exercício no prazo fixado –, fala-se em caducidade-sanção para designar situações de perda de direitos por incumprimento de deveres ou de ónus no contexto de uma relação duradoura entre a Administração e um particular. Neste caso, a noção de sanção deve ser entendida em sentido amplo, como toda a reacção desfavorável da Administração à infracção pelos particulares de normas ou de actos administrativos. (248) Nota retirada 251 Fernanda Paula Oliveira O embargo determina a suspensão imediata, no todo ou em parte (consoante se trate de embargo total ou de embargo parcial) dos trabalhos de execução da obra. Tratando-se de obras licenciadas ou objecto de comunicação prévia, o embargo determina igualmente a suspensão da eficácia da respectiva licença ou admissão da comunicação prévia bem como, no caso das obras de urbanização, da licença ou admissão da comunicação prévia de loteamento a que as mesmas respeitam. O embargo determina também a obrigatoriedade de suspensão do fornecimento de energia eléctrica, gás e água às obras embargadas, devendo para o efeito ser notificadas do acto que determinou o embargo as entidades responsáveis por tal fornecimento. Mesmo que se trate de embargo parcial, ele tem como efeito a suspensão do prazo que estiver fixado para a execução das obras no respectivo alvará de licença ou estabelecido para a admissão da comunicação prévia. O embargo é apenas uma medida de tutela da legalidade de carácter provisório compreendendo-se, assim, que caduque logo que seja proferida a decisão que defina a situação jurídica da obra com carácter definitivo. Também por se tratar de um acto provisório, o embargo deve ser determinado por um prazo fixado para o efeito, sendo o mesmo de seis meses prorrogável por uma única vez por igual período, na falta de fixação expressa desse prazo (artigo 104.°, n.os 1 e 2). 5.2. Demolição da obra e reposição do terreno O presidente da câmara pode, quando for caso disso, promover a demolição total ou parcial da obra ou a reposição do terreno nas condições em que este se encontrava antes do início das obras e dos trabalhos, fixando um prazo para o efeito (n.° 1 do artigo 106.°). A demolição deve funcionar, no entanto, como ultima ratio, na medida em que ela pode ser evitada se a obra for susceptível de ser licenciada ou autorizada, ou se for possível assegurar a sua conformidade com as disposições legais e regulamentares que lhe são aplicáveis, mediante a realização de trabalhos de correcção ou de alteração (n.° 2 do artigo 106.°). Sobre o procedimento a seguir para a determinação da ordem de demolição (designadamente, a audiência prévia dos interessados), vide n.° 3 do artigo 106.°. 256
Download