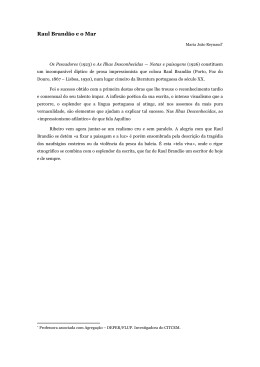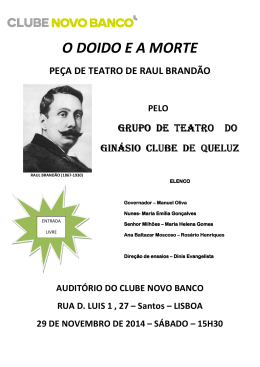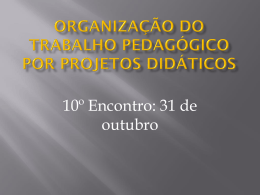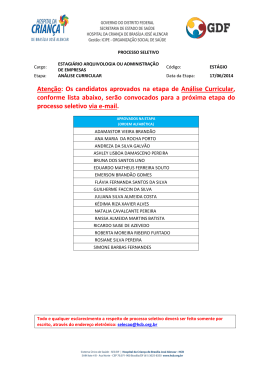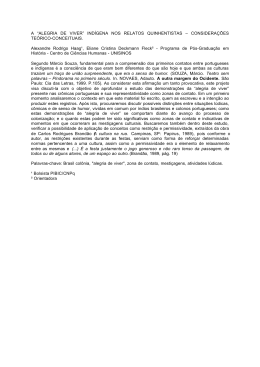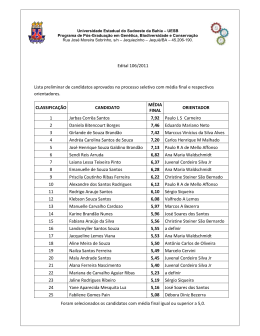DE TRAPEIROS E VENCIDOS efabulação e história em Raul Brandão Otávio Rios Portela Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro como quesito para a obtenção do Título de Doutor em Letras Vernáculas (Literaturas Portuguesa e Africanas). Orientador: Profa. Doutora Luci Ruas Pereira Rio de Janeiro Março de 2012 2 FICHA CATALOGRÁFICA RIOS, Otávio. De trapeiros e vencidos: efabulação e história em Raul Brandão / Otávio Rios Portela - Rio de Janeiro: UFRJ, 2012. xiv, 280f.: il.; 31 cm. Orientadora: Luci Ruas Pereira Tese (Doutorado em Letras Vernáculas – Literaturas Portuguesa e Africanas) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Letras, 2012. Bibliografia: f. 220-234; Anexos: 235-280. 1. Brandão, Raul (1867-1930) – El-Rei Junot, História dum Palhaço, Memórias: crítica e interpretação. 2. Narrativa portuguesa – séc. XIX-XX. 3. Literatura e História. I. Pereira, Luci Ruas. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Letras. III. Título. CDD: 869.369 Esta pesquisa recebeu financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), de Lisboa, e está em consonância com as normas de formatação dos Programas de PósGraduação da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Email do autor: [email protected] 3 4 DE TRAPEIROS E VENCIDOS efabulaçao e história em Raul Brandão Otávio Rios Portela Orientadora: Profa. Doutora Luci Ruas Pereira Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Letras (Letras Vernáculas), na área de concentração em Literaturas Portuguesa e Africanas. Esta investigação tem por corpus de análise três obras do escritor português Raul Brandão (1867-1930): El-Rei Junot (1912), História dum Palhaço (1896) e Memórias (1919, 1915 e 1933, em três tomos). O objetivo norteador desta pesquisa é o de evidenciar que o autor dá voz àqueles que foram emudecidos ao longo do processo histórico de dominação, em desfavor dos vencedores – os que escrevem a história –, fazendo saltar da sua escrita a imagem do trapeiro, esse sujeito esfarrapado que desafia os preceitos positivistas do século XIX. Portanto, a filosofia da história de Walter Benjamin está no cerne do arcabouço teórico traçado. A presente tese distingue-se por eleger como objeto de leitura crítica a parcela menos estudada da escritura de Raul Brandão, ele próprio, um autor à margem do cânone literário. Diferencia-se, ainda, por dar a conhecer manuscritos e documentos, alguns inéditos, que compõem o espólio do escritor depositado na Biblioteca Nacional Portuguesa. A crítica literária ora apresentada constrói a partir da hipótese de que literatura brandoniana provoca uma ruptura com a concepção de uma história monolítica para abraçar a idéia de uma história em ruínas e fragmentos, como é, aliás, a estrutura da maior parte de sua obra. Neste sentido, a literatura, ao ser articulada com a matéria histórica, assoma como palco para que os vencidos se estabeleçam como legítimos protagonistas das narrativas em análise. Esta crítica abre, assim, espaços para novos paradigmas para se pensar a escritura de Raul Brandão. Palavras-chave: 1. Raul Brandão: crítica e interpretação literária; 2. Narrativa portuguesa finissecular; 3. Fronteiras entre literatura e história; 4. Trapeiros e vencidos. 5 DE TRAPEIROS E VENCIDOS efabulaçao e história em Raul Brandão Otávio Rios Portela Orientadora: Profa. Doutora Luci Ruas Pereira ABSTRACT The corpus for this disseration is composed of three book by the Portuguese novelist Raul Brandão (1867 – 1930): El-Rei Junot (1912), História dum Palhaço (1896) and Memórias (1919, 1915 and 1933, in three tomes). The investigation aims at evidencing that this author gives voice to those who have been muted throughout the long historical process of domination, in disfavor of the winners, namely those who write history. Brandão thus builds in his writing the image of the swindler, a lame individual who challenges the 20th century positivist principles. Hence, Walter Benjamin`s philosophy of history is central to the theoretical framework that guides this research. This dissertation , thus, focuses its critical reading on the most understudied part of Brandão`s oeuvre, himself a writer on the margins of the literary canon. Another distinguishing feature of this investigation is the fact that it makes public manuscripts and documents, some of them unpublished, which are part of the writer`s estate, kept at the Portuguese National Library. Grounded on the hypothesis that the brandonian literature provokes a rupture with the monolithic conception of history, the literary critique offered here constructs history as ruins and fragments, which reflects, by the way, the narrative structure of part of the author`s oeuvre. In this sense, literature articulated with the historical matter appears as a stage for the losers to establish themselves as the legitimate protagonists of the narratives under scrutiny. This critique thus paves the way to new paradigms within which we may understand Raul Brandão`s literature. Key-words: 1. Raul Brandão: literary critique and interpretation; fin-de-siècle Portuguese Literature; 3. Boundaries between literature and history; Swindlers and losers. 6 DE TRAPEIROS E VENCIDOS efabulaçao e história em Raul Brandão Otávio Rios Portela Orientadora: Profa. Doutora Luci Ruas Pereira RESUMÉN Esta investigación tiene como corpus de análisis tres obras del escritor portugués Raul Brandão (1867-1930): “El Rei Junot” (1912), “História dum Palhaço” (1896) y “Memórias” (1919, 1915 y 1933, en tres tomos). El objetivo principal de esta investigación es el de poner en evidencia que el autor da voz a aquellos que estuvieron silenciados a lo largo del proceso de dominación, desfavoreciendo a los vencedores – los que escriben la historia-, haciendo surgir de su escritura la imagen del tropero, ese sujeto desharrapado que reta los preceptos positivistas del siglo XIX. Por lo tanto, la filosofía de la historia de Walter Benjamin está en el cierne del referencial teórico trazado. La presente tesis se distingue por elegir como objeto de lectura crítica la parcela menos estudiada de la escritura de Raul Brandão, él mismo, un autor al borde del canon literario. Se distingue, también, por dar a conocer manuscritos y documentos, algunos de los cuales inéditos, que componen el espolio del escritor depositado en la Biblioteca Nacional Portuguesa. La crítica literaria aquí presentada se construye a partir de la hipótesis de que la literatura brandoniana provoca una ruptura con la concepción de una historia monolítica para abrazar la idea de una historia en ruinas y fragmentos, como, a lo mejor, lo es la estructura de la mayor parte de su obra. En este sentido, la literatura, al ser articulada con la materia histórica, se asoma como escenario para que los vencidos se establezcan como legítimos protagonistas de las narrativas bajo análisis. Esta crítica abre, así, espacio para nuevos paradigmas para que se piense la escritura de Raul Brandão. Palabras-clave: 1. Raul Brandão: crítica e interpretación literaria; 2. Narrativa portuguesa de fin de siglo; 3. Fronteras entre literatura e historia; 4. Traperos y vencidos. 7 À UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ), que adotei como casa ao longo dos últimos anos; e, sobretudo, ao Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas e à Cátedra Jorge de Sena para Estudo Literários Luso-afro-brasileiros da Faculdade de Letras – distintos espaços de pesquisa sobre a Literatura Portuguesa neste lado do Atlântico; À FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN (FCG), de Lisboa, que por meio do Serviço Internacional dispensando à Cátedra Jorge de Sena para Estudos Literários Luso-afrobrasileiros da Faculdade de Letras da UFRJ, financiou esta investigação. A FCG tornou possível a estada em Portugal para a realização de estágio-sanduíche com vistas à pesquisa no arquivo de Raul Brandão depositado na Biblioteca Nacional Portuguesa; À BIBLIOTECA NACIONAL PORTUGUESA, pelo acolhimento em dias de inverno e pela generosidade com que seus funcionários facilitaram o acesso a livros e ao espólio de Raul Brandão; À SOCIEDADE MARTINS SARMENTO, em Guimarães, cujos esforços mantêm viva a memória de Raul Brandão por meio de seu valoroso acervo documental e biblioteca; À Faculdade de Letras da UNIVERSIDADE DE LISBOA, pelo acolhimento em sua biblioteca pública e salas de estudo, em cujos espaços esbocei a parte inicial desta investigação; À Faculdade de Letras da UNIVERSIDADE DO PORTO, pelas pontes acadêmicas construídas ao longo dos últimos anos, iniciadas com o acolhimento formal do estágio sanduíche realizado sob a supervisão do Professor Doutor Pedro Eiras; À UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS, em cuja experiência docente pude amadurecer profissional e intelectualmente nos últimos anos, pela tranquilidade que me proporcionou e por suscitar o desejo de querer ir muito além; À memória de RAUL BRANDÃO, cujo texto profundo permite que eu e que outros investigadores mergulhem em espaços literários repletos de sabor e de saber; AGRADEÇO. 8 À professora Luci Ruas, na certeza de que construímos uma relação íntima e inabalável, pautada no respeito e afeto mútuos, a eterna gratidão daquele garoto que, um dia, chegou à Faculdade de Letras da UFRJ com o sonho de estudar Húmus, de Raul Brandão. Obrigado por ter me orientado não apenas pelos caminhos daquele e de outros textos literários, mas também pelos sinuosos percursos da vida (acadêmica); Aos meus professores na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de janeiro: Ângela Beatriz, pela relação sempre cordial; Gilda Santos, pelas primeiras das aulas na pós-graduação; Edson Rosa da Silva, em cuja disciplina travei contato com a filosofia da história em Walter Benjamin; Teresa Cristina Cerdeira, pelo acolhimento carinhoso na Cátedra Jorge de Sena e pelo saber transmitido pelas trilhas dos textos; Monica Figueiredo, com quem aprendi muito e ri mais ainda; Cleonice Berardinelli, cuja presença em meu coração será eterna; Ao professor Pedro Eiras, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pela confiança no trabalho empreendido e pelas muitas portas abertas; Ao professor Jorge Valentim, cujo entusiasmo não me deixou soçobrar, pelas mãos sempre estendidas e prontas a ajudar com sua extrema generosidade; Ao professor Mário César Lugarinho, que com sua competência e amizade me ensinou que fazer uma tese, embora seja trabalho árduo, não é um bicho de sete cabeças – e por isso decidiu fazer uma outra; Aos professores Paulo Motta de Oliveira e Maria Theresa Abelha, que, em presença ou à distância, continuam incentivando o caminho acadêmico até aqui percorrido, desde que nos encontramos pela primeira vez na cidade de Feira de Santana (BA), em 2006; Aos professores Dalva Calvão e Sérgio Nazar David, pela leitura atenta e pela disponibilidade em arguir esta tese; À Maria Teresa Neves e Adelaide Serra, pela salutar convivência diária na BIBLIOTECA NACIONAL PORTUGUESA; À Maria Urânia Pacheco, secretaria do Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da Faculdade de Letras da UFRJ, pela prontidão em ajudar e pelas palavras de encorajamento; Às professoras Coema Damasceno e Edna Carlos Holanda, princípio de tudo; Ao amigo Heber Tavares, que me abrigou em horas de desabrigo, e que digitalizou os manuscritos em anexo; À Marcela Magalhães de Paula, parceira de muitos anos, pelo auxílio na tradução para o vernáculo dos versos da ópera Pagliacci; AGRADEÇO SINCERAMENTE. 9 Aos diletos amigos cariocas Emerson da Cruz Inácio e Rosemary Granja, que, sempre mais otimistas que eu, acreditaram, entre uma conversa e um afeto, que esta tese nasceria a contento; Ao Rodrigo Borba, que jamais ousaria não estar presente neste dia em que se encerra este trabalho que ele acompanhou de muito perto, entre filmes e passeios pela Cidade Maravilhosa; Aos amigos Carlos Felipe Pinto, Cinthya Machado, Diana Neves, Mirella Miranda e Renata Moreira, que comigo, antes ou depois, iniciaram percursos paralelos na pósgraduação em Letras, pelas numerosas horas de desabafo e pelo carinho inesquecível; Aos colegas de pós-graduação da Faculdade de Letras da UFRJ: Gabriela Ventura, Luciana dos Santos Salles, Luiz Fernando de Moraes Barros, Marcelo Pacheco, Mônica Genelhu Fagundes, Roberto Nunes Bittencourt e Vinícius Carvalho Pereira, pelos laços que até hoje se cruzam e fecundam; Aos amigos Bernardo Lima, Cláudia Souza, Elisângela Menezes, Ismahelson Luiz Andrade, Margarida Fernandes e Nuno Ribeiro, que fizeram da estada em Portugal uma aventura prazerosa; Aos amigos da Universidade do Estado do Amazonas, sobretudo Carlos Renato Rosário de Jesus, Joab Grana Reis, Juciane dos Santos Cavalheiro, Mauricio Gomes de Matos, Neliane Alves, Raimundo Barradas e Veronica Prudente, por serem laços de fraternidade em terras amazônicas; À Flávia Ruas, pelas duras palavras quando precisava senti-las; Ao Roberto Mibielli e ao Mário Petter, pelo incentivo; À Juliana Sá e ao Ed Bibiani, que me permitiram a tranquilidade necessária já perto do fim; À Adriana Aguiar, Cristiana Mota, Débora Renata Braga, Priscila Lira, Socorro Fonteles e Sônia Lima, porque a melhor forma de aprender é ensinando; À Mariana Marques de Oliveira, que depois ser minha orientanda, entrego nas mãos de Luci Ruas – outro ciclo começa; OFEREÇO. 10 À Silvana Rios e Maria Lenita Rios Portela, irmã e mãe, não sei mais em que ordem, por serem porto-seguro, ainda que à distância; & À memória de meu pai, Djacir de Miranda Portela, que desde o berço acreditou que eu chegaria longe, o meu amor, para sempre, que com esta obra a ti DEDICO. 11 SUMÁRIO APRESENTAÇÃO......................................................................................................... 14 Capítulo I ........................................................................................................................ 19 PAPÉIS NO CAMINHO ............................................................................................ 19 1.1. Nuances da crítica ............................................................................................ 20 1.2. Experiências do arquivo ................................................................................. 52 Capítulo II ....................................................................................................................... 70 A TENTAÇÃO HISTÓRICA .................................................................................... 70 2.1. Fronteiras das narrativas .................................................................................. 71 2.2. Intermezzo ........................................................................................................ 80 2.3 El-Rei Junot, a história como drama ................................................................ 88 Capítulo III ................................................................................................................... 117 DE TRAPOS E TRAPEIROS .................................................................................. 117 3.1. O procedimento alegórico ............................................................................. 118 3.2. Ressonâncias e desconcertos ou “Triunfo do barroco” ................................. 137 3.3. No bojo da tradição........................................................................................ 149 Capítulo IV ................................................................................................................... 165 QUANDO OS VENCIDOS SAEM ÀS RUAS........................................................ 165 4.1. Por que ler as Memórias de Raul Brandão? .................................................. 166 4.2. O estatuto literário da escrita memorialística ................................................ 168 4.3. Memórias, histórias, testemunhos: uma poética em farrapos ........................ 175 4.4. Erosão e ruína: o levante dos vencidos .......................................................... 203 CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................... 212 6. BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 220 ANEXOS ...................................................................................................................... 235 12 SINOPSE 0 Apresentação e primeiros contatos com o texto de Raul Brandão. I Perspectiva dos estudos brandonianos no decurso do século XX. A crítica contemporânea e o estado atual de investigação de obras de Raul Brandão. A função do arquivo brandoniano, depositado na Biblioteca Nacional, no interior desta crítica. Os objetivos da presente investigação e exposição do principal suporte teórico: a filosofia da história em Walter Benjamin. II A Poética e a distinção entre poesia/literatura e história. A questão da linguagem como representação. Revisão teórica da concepção positivista da história. As novas perspectivas da história no século XX. Formas de articular literariamente o passado: romance histórico, drama histórico e “história como drama”. Raul Brandão e a preocupação histórica. Leitura crítica de El-Rei Junot. III O palhaço como alegoria finissecular. A ópera Pagliacci. O conceito de alegoria e o procedimento alegórico. O drama barroco alemão à luz do pensamento de Walter Benjamin. Os conceitos de barroco e neobarroco. História dum Palhaço pela perspectiva do Trauerspiel. Cotejo de História dum Palhaço com A Ruiva, de Fialho de Almeida. O palhaço brandoniano como arauto de uma história em ruínas. IV O estatuto literário da escrita memorialista. O pacto autobiográfico. As Memórias e a redenção dos vencidos. Ficcionalização da memória. Leitura crítica das Memórias. A matéria histórica no memorialismo de Raul Brandão. 5 Últimas considerações. 13 O velho mundo esfarela-se: já não há artifício que o sustente em pé. [RAUL BRANDÃO. El-Rei Junot, 1912] [...] era apenas um palhaço de circo... Caída na lama a sua quimera parecia grotesca. [RAUL BRANDÃO. História dum Palhaço, 1896.] Tenho o senhor José diante de mim todo branco, com os socos nos pés e a camisa entreaberta no peito cheio de grenha cinzenta e vermelho como o monco dum peru. É assim que me aparece todo esfarrapado. [RAUL BRANDÃO. Memórias, tomo III, 1933] 14 APRESENTAÇÃO A introdução é, precisamente, momento que marca a última vez em que alguém fala pelo texto e, também, perturbadoramente, a primeira vez em que se pode começar a sentir quão distante este texto ficou. Como as autobiografias, as [...] [apresentações e] introduções também começam pelo fim. (MOLLY, 2003, p. 13). Há certo paradoxo na escrita acadêmica que faz com que o texto com o qual o leitor inicia o acompanhamento desta crítica sobre a literatura de Raul Brandão seja, justamente, o produto final de uma longa reflexão. Raul Brandão é, à época em que concluo esta tese de doutorado, um conhecido de longa data, com quem venho caminhando desde o percurso iniciático da licenciatura em Letras e com quem permaneço até o presente. Entretanto, tão diversa e vasta é a produção brandoniana que, quase sempre, estudei o autor olhando-o sob ângulos distintos. Do escritor, a meu ver, simbolista, nas primeiras leituras, hoje não resta quase nada. E do interesse por fazer também o meu exercício de crítica sobre Húmus, engendrado na dissertação de mestrado, defendida também na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, permaneceu a inquietação, que impulsiona o crítico a buscar novos textos literários. Portanto, as páginas que se seguem são, ao final de tudo, também uma autobiografia, a escrita de uma história de investigação, que não pode ser apartada do percurso crítico do sujeito que a redigiu – e que continua a redigir, eternamente no presente, no espaço do leitor. Assim, acabo por tentar me identificar com o percurso de Georges Duby quando, em A história continua, entrelaça o próprio caminho ao caminho da investigação: A história que vou contar começa em 1942, no outono. Estamos em plena guerra, que entrou em sua fase mais dura. Eu acabo de me tornar 15 agregée. Ensino história e geografia num liceu de província. Minha firme intenção é não ficar nisto, e decidi preparar uma tese de doutorado. [...] Falta-me agora escolher um tema. (1993, p. 7) Lancei-me também, certamente com menos ambição – e talvez competência –, à tarefa de escrever uma tese que, continuando os estudos despendidos no mestrado, aprofunda e contribui, de forma sistemática, para o alargamento dos estudos brandonianos. Não apenas porque é esta condição sine qua non para a existência de uma tese, mas porque, sobretudo, estaria fazendo jus à memória de um escritor que me instiga desde 2004. Escrever sobre Raul Brandão é uma forma de rememorá-lo, de colaborar para que a eclipsagem que se lhe abateu durante décadas – como se sublinha no interior desta crítica – fosse dissipada, porque ora se intenta dar a “conhecer a fundo o quanto foi dito sobre o mesmo argumento pelos demais estudiosos.” (ECO, 1988, p.2). Na esteira de Duby e, certamente, na de todos os outros que se aventuram pela experiência do doutorado, busquei uma tese, uma ideia, um fio que me mantivesse focado e que não me permitisse soçobrar, obstruído por uma “pedra no meio do caminho”, mas, paradoxalmente, por ela incitado a progredir. E, nesse percurso, continuei a descobrir que “elaborar uma tese é como exercitar a memória” (ECO, 1988, p. 5), memória não apenas do sujeito que a (d)escreve ou memória que deseja ser agente de uma canonização do autor (não é este o motivador da crítica literária?). É, sobremaneira, exercitar a memória daqueles que antes de mim pensaram o texto de Raul Brandão e que, dessa forma, permitem agora revisitar, de uma outra maneira, essa mesma escritura. Esta tese não tem, portanto, a pretensão de ser mais do que ela é: “citação como uma matéria que existe dentro de mim” (COMPAGNON, 1996, p. 33). Esta crítica é, inevitavelmente, o resultado de um esforço coletivo e dedicada (no sentido de que “se empenha, que se entrega”; HOUAISS, 2001, p. 924) ao coletivo, em 16 especial aos ensaios mais rememorados ao longo das páginas que se sucedem, é o “work in progesss” (REYNAUD, 2000) que a relação especular – na forma de uma salutar obsessão – com a escritura de Raul Brandão permite e persegue: uma escrita que parece não ter fim, em que apenas o outro parece ser capaz de arrematar o ponto derradeiro. Está-se diante de um “working paper” (COMPAGNON, 1996, p. 33), de um “trabalho em processo” com o qual o “texto [vai] se construindo” (Ibidem). Se, como disse, esta crítica é o espelho do percurso engendrado, “é preciso dar-lhe um rosto, fazê-lo falar com a voz do autor, pela última vez.” (MOLLOY, 2003, p. 13). Por conseguinte, é necessário ressaltar que a introdução desta pesquisa desdobra-se em dois momentos: este, de pendor avaliativo, impulsionado por uma visão já, agora, mais distanciada, e o capítulo inicial. É, portanto, em “Papéis no caminho”, ao embaralhar – no sentido próprio do jogo textual – a fortuna crítica brandoniana, em suas diversas fases, que se expõe, de forma detida, o tema condutor da presente crítica, a tese que se explora e persegue, o corpus literário interpretado e a sustentação teórica que permite ler Raul Brandão como o autor que facultou aos trapeiros e vencidos exercitar literariamente o levante contra os vencedores, porque, na escritura do autor, são os esfarrapados os agentes da ação. Assumindo a forma de quatro capítulos é que esta tese de doutorado construiu-se. A “Papéis no caminho” segue-se “A tentação histórica”, em que se pontua, a partir da leitura de El-Rei Junot, a relação do escritor com a história e a preocupação de que nela se façam refletir também os sujeitos à margem da sociedade, esses homens e mulheres que vivem uma história de sujeitos sem história. Em seguida, prossigo com “De trapos e trapeiros”, que se detém na História dum Palhaço para mostrar que, já no final do século XIX, no decurso da elaboração de seu texto literário, o autor permite entrever uma intuição peculiar de história, sobretudo se se levar em consideração que o 17 oitocentos esteve orientado a partir dos preceitos da filosofia positivista, que se materializaram, do ponto de vista da escritura, em narrativas que, intrinsecamente, apostavam na ideia de progresso e, portanto, de linearidade. Na contramão do cânone, História dum Palhaço rompe com a narração tradicionalmente estruturada para, a partir de então, mostrar-se como texto que é, ele próprio, edificado sobre escombros e destroços, para se revelar uma obra literária em que o palhaço emerge como arauto que anuncia uma história – numa visão finissecular – incessantemente em ruínas. Por fim, em “Quando os vencidos saem às ruas”, o foco da análise repousa sobre os três volumes das Memórias, texto em que “confessamente o Autor se desdobra” (COELHO, 1996, p. 296), iluminando a si e aos outros como personagens de uma história cujo objetivo constituiu-se em evidenciar o papel dos homens e das mulheres de um Portugal, sobretudo nas cidades do Porto e de Lisboa, que se levantam, frenéticos e atônitos, contra o stato quo da monarquia, da corrupção, da dominação das classes abastadas. É o ser esfarrapado que se torna o agente de uma outra história e que assume a posição de legítimo protagonista, tanto nas Memórias quanto nas demais narrativas em análise nesta investigação. É, portanto, pelos meandros da literatura que o escritor faz falar os que foram emudecidos no processo de dominação. Vale a pena, ainda, sublinhar a capital importância e contribuição dos estudos de Vitor Viçoso, talvez, entre todos nós, o mais apurado dos leitores de Raul Brandão. Daí que a presença de sua crítica seja uma constante, porque pelas mãos do ensaísta a escritura brandoniana parece ter sido verdadeiramente redescoberta, e esses ecos não deixam de estar presentes na leitura aqui proposta e na crítica contemporânea que trespassa a todos. Na forma de contribuição a essa referida crítica, a presente tese pretende ser, portanto, um sinal positivo de que Raul Brandão continua vivo, porque seu texto emerge não apenas como herança literária para os romancistas do século XX, mas, 18 sobretudo, como marca inequívoca de que o decadentismo português está pleno de um ideal de modernidade. 19 Capítulo I PAPÉIS NO CAMINHO Agora, a sessenta anos de distância, é que [...] parece duma actualidade mais viva e mais admirável. Agora, que assistimos à experiência novelística dos anos 30 (Régio, Gaspar Simões, o Rodrigues Miguéis de Páscoa Feliz) e, mais recentemente, ao surto duma Agustina Bessa-Luís, dum Vergílio Ferreira, dum Almeida Faria, da ficção dum José Gomes Ferreira (O Mundo dos Outros), medimos melhor o significado de Raul Brandão na literatura portuguesa, vemos nele um expoente e um grande precursor. Principalmente quando nos voltamos para o Surrealismo e o Existencialismo. [JACINTO DO PRADO COELHO. A Letra e o Leitor, 1996] 20 O capítulo intenta apresentar os primeiros papéis que norteiam a investigação em curso, notadamente quando faz um levantamento de significativa parcela da crítica brandoniana ao longo do novecentos e da primeira década do século XXI. Destaca-se, na segunda seção, a experiência de manipulação do espólio de Raul Brandão, depositado na Biblioteca Nacional, em Lisboa, e o modo como o contato com esses manuscritos impulsionaram este estudo rumo à busca por uma concepção de história, esboçada ao longo da produção literária do escritor. 1.1. Nuances da crítica Silêncio e repetição, ou posso dizer de modo mais específico: a repetição do silêncio e o silêncio sobre a repetição. O quiasmo que se forma como um jogo de palavras aparentemente despropositado é o artifício aqui adotado para dar início à exposição sobre a investigação empreendida em torno da obra de Raul Brandão: escritor português da virada do século XIX para o XX, mas que a mera justaposição (como forma adjetiva) do termo finissecular ao seu nome não é suficiente para dar conta da totalidade e da diversidade de seu pensamento e estética. Digo repetição do silêncio porque, durante décadas, o meio universitário fechou os olhos para textos tão significativos, como verdadeiramente o são, para citar apenas os de minha predileção: A Farsa, El-Rei Junot, Húmus e as Memórias. Ao observar o percurso da crítica que se debruça sobre a produção literária brandoniana – produção que tem início ainda na longínqua década de 1890 e segue até a morte do escritor no ano de 1930 –, percebe-se que, como terei oportunidade de mostrar no interior da presente investigação, durante algum tempo (quase) nenhum juízo estético lhe foi atribuído, centrando-se em questões de interesse artístico (o valor da arte) ou acadêmico (o interesse pelo estudo aprofundado). Por conseguinte, não poderiam, a princípio, entrar em causa as evocações elogiosas emitidas por Teixeira de Pascoaes, com quem Raul 21 Brandão desenvolveu longa amizade e profícua colaboração intelectual, que, à guisa de ilustração, diz sobre o texto brandoniano, em artigo publicado na revista A Águia: Eis o Verbo em delírio! E eis a Tragédia, e nova tragédia e profundamente lusíada! E assim, Raul Brandão deve ser colocado entre os nossos raríssimos gênios criadores e representativos. É triste que esta obra, tão intensa e profundamente dramática, tão reveladora do nosso Povo, não possa ser compreendida, por enquanto, em Portugal, onde o gosto literário não vai além dum certo lirismo exterior e musical... (PASCOAES, 2005, p. 150). O poeta do saudosismo invariavelmente ascende o escritor da Foz do Douro à condição de maior expoente de sua geração, num juízo que fica comprometido pelo afeto e pela opção retórica, mas que, ainda assim, traz aspectos relevantes do conjunto da obra de Raul Brandão, a exemplo da carga lírico-dramática e de certo nacionalismo incipiente – não de todo concebido, mas que se desvela no interesse do escritor em retratar senão a categoria cênica, os tipos sociais ou ainda os processos históricos da nação portuguesa. Outrossim, quando se trata de mergulho na crítica brandoniana, é forçoso descrever qual crítica a presente seção deseja circundar. Refiro-me a três momentos específicos: a) à crítica de formação, produzida em grande parte pelos integrantes de círculos literários e políticos próximos ao autor em estudo e que se compreende entre a década de 1920 e a década seguinte; b) à crítica de reabilitação, centrada na década de 1960 e que aborda um Raul Brandão que, embora ausente do cânone da literatura portuguesa, influi decisivamente para a consecução do romance português, sobretudo na segunda metade do século XX; c) à crítica contemporânea, que, herdeira das gerações anteriores, busca romper com o impressionismo do primeiro período e deslocar, por meio da sustentação de ideias e argumentos, o papel de destaque para a escritura brandoniana nas primeiras décadas do século XX – e não apenas nessas, mas no 22 decorrer de todo o século. É a esta crítica (itens b e c) que atribuo o adjetivo de estruturada. Não porque as anteriores carecessem de textos bem redigidos, mas porque é desde as décadas de 1960 e 1970 à atualidade que se observa o interesse sistemático pelo estudo das obras de Raul Brandão, bem como a sequência de pesquisas de fôlego, que tem princípio com as publicações de Vergílio Ferreira (1991; 1995) e, sobretudo, de Guilherme de Castilho, com Vida e Obra de Raul Brandão, em 1979, e segue até aos ensaios de Pedro Eiras e a esta própria tese. Não obstante a maior parte dos estudos sobre a obra do escritor do Douro serem desenvolvida a partir de universidades e centros portugueses, a pesquisa brasileira figura em papel de destaque no que tange à tentativa de deslocá-lo, senão da periferia do sistema literário lusitano à posição central, ao menos a uma situação confortável. A crítica brandoniana fundada deste lado do Atlântico encontra espaço para produção, sobretudo no eixo Rio de Janeiro/São Paulo, tendo ganhado impulso ainda no alvorecer da década de 1990 e contribuído para a publicação de artigos e ensaios dispersos que resultam, em última instância, na execução desta pesquisa de doutoramento na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Há de se dizer, portanto, que, da mesma forma que se sublinha a intenção original e inédita desta investigação, é preciso destacar a absoluta consciência de que não se funda neste texto o marco zero da pesquisa em Raul Brandão e sua literatura. De volta ao mergulho na crítica brandoniana, quando refiro ao silêncio por essa engendrado, afasto para segundo plano, portanto, juízos motivados por outras questões que não a de ordem estética, como corriqueiramente se fez, durante a década de 1920, em que Brandão se ligou ao grupo de intelectuais da Renascença Portuguesa, editora da revista Seara Nova, tendo sido ele próprio fundador e membro da direção do periódico. A orientação que se toma nesta investigação elege o pensamento fornecido por uma 23 crítica já amadurecida, fruto da reflexão demorada e elucidada, que se organiza em camadas de leituras sucessivas e comprometida com o senso acadêmico dos estudos literários, dividindo-se, a meu ver, em antes e depois da publicação do texto seminal de Guilherme de Castilho, reeditado no ano de 2006 pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. O texto destacado, embora possa ser criticado quanto às concepções teóricas,1 ainda se firma como trabalho valoroso e exaustivo sobre o período formativo do escritor e as suas principais obras, tornando-se referencial para uma iniciação na crítica brandoniana. Esse compêndio possui uma organicidade bastante diversa do livro levado a cabo por João Pedro de Andrade, com o título Raul Brandão – A Obra e o Homem, que, vindo a lume no ano de 1963 pela Arcádia Editora (obtendo nova edição em 2002 pela livraria Acontecimento), se estabelece a partir de bases notadamente fotobiobibliográficas, configurando-se pesquisa documental e de interesse pelo resgate da memória do escritor, em vez de se debruçar por uma proposta de análise e crítica da escritura brandoniana. Como exposto no início do capítulo, de súbito silêncio passou-se à eufórica celebração. Aqui se deve recordar particularmente o ano de 1967, por ocasião das efemérides do centenário de nascimento do escritor e dos cinquenta anos de publicação da primeira versão de Húmus,2 livro sobre o qual vieram a incidir os direcionamentos e esforços de parte significativa da crítica subsequente, podendo-se mesmo detectar nítida filiação às ideias que se cristalizaram no ensaio “No limiar de um mundo, Raul 1 Em vida e obra de Raul Brandão (2006), Guilherme de Castilho não se furta a compor painel biográfico do escritor em estudo, perseguindo os primeiros estágios da escritura brandoniana para, em seguida, abordar o texto literário como objeto de sua leitura, percorrendo desde o opúsculo Os Nefelibatas até Portugal Pequenino, publicação de Raul Brandão em parceria com sua esposa, Maria Angelina Brandão. 2 O volume reúne os textos apresentados no Colóquio Raul Brandão. Homenagem no seu centenário, de 1967. Participaram do evento, quase todos com depoimentos sobre a forma como conheceram o escritor das Memórias ou sobre suas primeiras impressões das leituras de seus livros, Álvaro Dória, Acúrcio Pereira, Almeida Faria, Aníbal Mendonça, Arsênio Mota, Assis Esperança, Augusto Casimiro, Carlos Carneiro, Cruz Malpique, Eugénio de Andrade, Ferreira de Castro, Hernani Cidade, Ilídio Sardoeira, João José Cochofel, João Pedro de Andrade, José Ferreira Monte, Luis Francisco Rebello, Luís de Oliveira Guimarães, Manuel Mendes, Maria José Teixeira de Vasconcelos, Mário Dionísio, Reis Brasil, Roberto Nobre, Rogério Paulo, Sant’anna Dionísio, Santos Simões, Túlio Ramires Ferro e Vergílio Ferreira. 24 Brandão”, de Vergílio Ferreira (1991), motivado por uma relação que ultrapassa a do interesse universitário e se avoluma como identificação estética entre escritores, ambos de estilo convergentes,3 em que o debate acerca da existência do homem ganha relevo na tessitura , e na “Releitura do Húmus”, de David Mourão-Ferreira (1992), seguido de outro ensaio de mesma autoria, que se detém no teatro brandoniano. Os dois (ou se preferir, os três) estudos vêm rebater juízos negativos sobre a escritura de Raul Brandão – com especial atenção ao que disseram João Gaspar Simões, sobretudo em O mistério da poesia (1971), e ainda Castelo Branco Chaves (1934) ou José Régio (1952)4 – e contraporem-se às reminiscências dessa crítica conservadora e pouco renovada, que encontra espaço para ecoar nas palavras de professores com trajetória de destaque, a exemplo de Óscar Lopes: Devido a tais repetições, em inúmeras variantes de vários temas ou simples motivos, como estes que já aparecem no seu primeiro livro; devido ao inacabamento da sua estrutura propriamente ficcionista, cujo máximo equilíbrio se nos depara, ainda assim, na peça O Gebo e a Sombra, a obra brandoniana não pode deixar de aparecer a quem leia em mais de dois ou três livros, o máximo, como uma espécie de diário de memórias ou reflexões em busca de uma filosofia ou de uma cristalização literária, ora lírica, ora dramática, ora em narrativa imaginária, géneros que se interferem e até reciprocamente se anulam a cada passo. A improvisação está sempre à vista, mesmo na arrumação do material erudito nos volumes de reconstituição histórica. (1999, p. 182). Ao se referir ao texto literário como fruto da improvisação, Óscar Lopes, em 5 Motivos de meditação (1999), corrobora o que já havia dito sobre o autor do Húmus e das Memórias em capítulo publicado no volume Entre Fialho e Nemésio (1987), desta 3 Para tal convergência, ver, por exemplo, o ensaio “Húmus e Signo sinal ou o diálogo possível entre romances de um tempo de crise”, apresentado por ocasião do VI Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas (AIL), em 1999, de autoria de Luci Ruas. 4 A intenção dos comentadores citados não parece ser a de denegrir a poética brandoniana, mas, como se percebe, acaba por colocar em xeque as qualidades do texto em vez de contribuir para sua difusão. 25 feita à página 346,5 praticamente indo na contramão do que havia proferido em Ler e Depois: crítica e interpretação literária (1969), em que afirma ser Raul Brandão dotado de “uma permanente preocupação estilística” (LOPES, 1969, p. 175). E, todavia ainda, o crítico parece não tomar ciência do complexo trabalho de pensar o próprio texto e partilhá-lo com os contemporâneos, como não deixa dúvida o volume contendo as cartas trocadas entre o escritor da Foz do Douro e o poeta Teixeira de Pascoaes, coligidas por António Mateus Vilhena & Maria Emília Marques Mano, em 1994, e sobre as quais Maria João Reynaud (2000) sustenta, em parte, o processo de metamorfoses ou alterações na escritura brandoniana que será o cerne de sua pesquisa de doutoramento, que estuda as três versões do Húmus, publicadas respectivamente nos anos de 1917, 1921 e 1926. Por outro lado, no texto que serviu de encerramento às comemorações, na cidade de Guimarães, do centenário de nascimento de Raul Brandão, Vergílio Ferreira, em sua crítica refundadora, ao largo de todos os juízos estéticos que apontam para uma falha estrutural na escritura brandoniana, presente não apenas no Húmus mas no conjunto da obra, assevera: “Claramente, Raul Brandão luta contra os padrões da ficção tradicional, cedendo paralelamente ao desejo de se adiantar à matéria romanesca” (FERREIRA, 1991, p. 214), e completa mais adiante: “Na oscilação indicada, na atracção de valores contraditórios, na tentativa de criar um novo tipo de novelística, obviamente Raul Brandão teria de muitas vezes falhar” (Ibidem, p. 215). Desta forma, em lúcida argumentação, Vergílio Ferreira desloca para plano secundário o estudo do caráter formal da narrativa brandoniana, tônica da crítica de formação, para tomar centro no 5 Nas palavras de Óscar Lopes: “O mais visível traço estrutural da obra de Raul Brandão é o de uma certa deficiência de estrutura. Nenhum outro escritor português acata de um modo tão óbvio o célebre dito de Napoleão segundo o qual a repetição é a figura de estilo mais necessária. Todos os seus livros são, no fundo, refundições do mesmo livro. Os temas, as personagens, os pequenos motivos e fórmulas estilísticas reaparecem constantemente, em versões sempre mais ou menos retocadas” (LOPES, 1987, p. 346). 26 conteúdo do texto, mesmo que o aspecto interno venha a modificar a estrutura maior, neste caso o modelo de romance praticado no século XIX. Desejo voltar outra vez à longa citação de Lopes (1999, p. 182), em que merece destaque o fato de imputar a necessidade de que a literatura promova uma busca pelo equilíbrio, quando é sabido amplamente que o texto brandoniano é, quase todo, uma nebulosa criação em que se manifesta o absurdo da vida, mitigada pela dor, pelo grotesco da existência e pela nevrose de um fim-de-século6 em suas múltiplas facetas, e que posicionará a obra de Brandão no que José Carlos Seabra Pereira chama, acertadamente, de “encruzilhada”, “período de substancial renovação, que altera a correlação de forças entre os sistemas estético-ideológicos” (1995, p. 19). Não obstante incoerências internas no seio de sua própria crítica brandoniana, aspecto que revela o sempre retorno ao texto de Raul Brandão como objeto estético de sua eleição – o crítico de 1969 não é o mesmo de 1987, tampouco o de 1999 –, Óscar Lopes possui méritos no que se refere à reabilitação literária do autor de Húmus: aponta, quando poucos sequer lembravam, a face histórica da produção de Brandão, embora ela impute o valor de reconstituição e não o de literatura. E, ainda, propõe uma leitura que toma como ponto de partida e/ou articulação o simbolismo-decadentismo, ou sinaliza a obsessão pela ruína que subjaz latente na escritura brandoniana. Sobre a face da prosa historiográfica talvez arriscasse mesmo a dizer que é por meio do interesse que Lopes (1969) demonstra no El-Rei Junot, livro que apresenta “o peculiar D. Joao VI brandoniano”, que a “perspectiva histórica” (1969, p. 191) encontra substrato para emergir, de acordo com Guilherme de Castilho, na forma de uma teoria metafísica da história em que “[...] não podemos perder de vista, se queremos cingir mais de perto a razão específica que teria levado o escritor a lançar-se na senda da 6 Sobre este aspecto, afirma A. M. B. Machado Pires: “fica-se com a convicção de que uma aguda consciência dos males da técnica e uma sistemática desconfiança perante o progresso inquietaram o homem finissecular” (1992, p. 126). 27 História,7 a circunstância de estar na base, como motor causante desses acontecimentos, o próprio homem” (2006, p. 318). E, há de destacar que, antes de Óscar Lopes (1969), apenas Vergílio Ferreira, outra vez em seu ensaio incontornável, havia apontado para essa sedução que a História desperta no escritor: “O que o seduziu foi o contraste entre o aparato com que se representa a História e a miséria com que se fez – ou a dos seus actores” (FERREIRA, 1991, p. 180). Essa faceta é a porção quase obscura de um Raul Brandão, reconhecido como poeta dos pobres e dos vencidos, habitante incontido deste Portugal decadente e desta Europa finissecular que Eça de Queiroz já sublinhara em Notas contemporâneas (“A decadência do riso”): “Eu penso que o riso acabou – porque a humanidade entristeceu. E entristeceu por causa de sua imensa civilização” (s/d, p. 165). Entre os colaboradores da crítica contemporânea, seguindo os passos da ensaística reabilitadora de Vergílio Ferreira, é Jacinto do Prado Coelho que, em breve apontamento, observa a compleição com que a história assoma na escritura brandoniana, ao assinalar: “marcado para a vida inteira pela angústia do fim-de-século, tem uma visão apocalíptica da história contemporânea” (2003, p. 298, grifo meu). Ao pontuar a “aguda consciência dos males”, António Machado Pires (1992) permite inserir, ao lado dos vetores artístico-literários, a sintomática percepção da derrocada irreversível do império colonial lusitano e, na mesma esteira, do modo de pensar as ciências, antes tão ávidas por se travestirem de um rigor positivista imposto por um “princípio racional” (KELLY, 1998, p. 256), que, no campo da história, permitiu “aos historiadores reivindicar[em] a posse de um plano médio epistemologicamente neutro que se supõe existir entre a arte e a ciência” (WHITE, 7 Na contemporaneidade, os teóricos têm evitado divergir entre as grafias História (com letra maiúscula) e história (com letra minúscula), ao passo que se tem convencionado utilizar-se da primeira forma quando se faz referência ao conceito abstrato ou à disciplina (área) do conhecimento humano, e da segunda forma no sentido de história que se constrói como narrativa, ou ainda as diversas concepções de história, tais como história tradicional, nova história, micro-história, história vista de cima, história vista de baixo, história dos vencidos, história dos vencedores, história do cotidiano – termos utilizados largamente no meio universitário e apresentados no segundo capítulo desta investigação, sobretudo na primeira seção. 28 2001, p. 39), dotando a disciplina de um discurso e método. Em outras palavras, é também nos rumores da esquina dos séculos que o discurso da ciência histórica conhece o processo de corrosão e que se faz urgente a busca por novas metadiscursividades, capazes de auferir que o historiador é aquele que busca a verdade e que o escritor é o que se deleita com o espaço da ficção. No entanto, o que se percebeu ao longo do século XX, no campo da Teoria da História, é que, mais importante que forjar uma distinção palpável para os dois modelos narrativos, foi o uso que se pôde fazer a partir da aceitação da interdisciplinaridade ou, em segunda definição, intranarratividade (o sintagma literatura versus história é substituído por literatura e história). O fim-deséculo revela-se, portanto, como momento social (porque é estético, literário, histórico e sociológico) seminal para a configuração de modelos de pensamento que dão forma aos anos novecentos, seja no campo da arte, seja no interior da crise de uma ciência positivista. Voltando ao balanço da crítica brandoniana: como disse anteriormente, tem-se investido com bastante frequência na problemática ou incapacidade de determinação genológica dos textos de Raul Brandão, num dispendioso esforço para encontrar o motivo de um recorrente e sistemático desajuste do corpo do texto, tateando, às escuras, por um caminho que Luís Mourão, nos ensaios Um romance de impoder (1996) e Sei que já não, e todavia ainda (2003), circunscreve, desvia e ultrapassa ao perguntar se “poderemos ler Húmus sem a mediação museológica que o ilumina com a notoriedade dos mortos que se lembram” (MOURÃO, 2003, p. 13). Interrogação que estendo ao conjunto da obra, quanto mais lembro Maria Alzira Seixo, ao dizer no princípio de A palavra do romance: “Os estudos literários do século XX têm sido em boa parte dominados pelo desejo de entendimento, sob perspectivas críticas diversas e 29 privilegiando ângulos de consideração diferenciados das estruturas e do ordenamento peculiar que pode ser atribuído à forma romance” (1986, p. 13). Não que essa necessidade de definição, de equacionar o texto literário, seja desinteressante ou desprovida de mérito; o que se pretende apontar aqui é apenas o fato de que a busca por um preceito estrutural já não encontra campo tão propício como há décadas, em que o pendor estruturalista vigorava. Parece, por conseguinte, que essa discussão é secundária ou periférica quando se pensa em termos de crítica literária. O aspecto formal da escritura brandoniana, bastante perseguido pela crítica de formação, perde espaço para a análise das construções estilísticas, intelectuais e conceituais que, mesmo sem o desejar (aqui a intencionalidade do autor não deve ser o cerne das considerações), o texto de Raul Brandão permite inferir e, mais que isto, observar. Desejo, de momento, registrar o pensamento de David Mourão-Ferreira, que acerta, ao antever os trabalhos da crítica: (Que eu saiba nem o próprio Raul Brandão lhe [Húmus] terá chamado romance. Pelo menos, a edição que tenho diante dos olhos (que é a segunda, publicada pela Renascença Portuguesa em 1921 e impressa na tipografia do Anuário do Brasil, no Rio de Janeiro) – à qual, de resto, João Pedro de Andrade não faz referência no seu livro – mostra-se inteiramente omissa no que tange à indicação do género. Mais estranho se torna, por isso mesmo, que os melhores dos seus críticos tenham levantado semelhante problema, embora para unanimemente concluírem – como acabámos de ver – que o Húmus, no final de contas, não será um romance. Porquê (sic) tamanha preocupação em afirmar que o livro não é aquilo que o autor, por seu lado, e segundo parece, nunca disse que fosse? (1992, p. 182). A David Mourão-Ferreira imputa-se, na sequência da crítica revelada no breve ensaio de nove páginas, o questionamento de uma ensaística de poucos caminhos, abrindo amplo movimento de redescoberta não apenas da prosa de Brandão, mas de escritores que produziram num tempo inscrito sob a égide do simbolismo-decadentismo. 30 Atestam essa virada nos estudos brandonianos, que, a partir deste marco crítico, perseguem novas nuances da poética e buscam inserir a obra do escritor no contexto maior da literatura portuguesa da esquina do século XIX com o XX, Guilherme de Castilho, ensaísta pertencente à última geração da presença, que alicerça e apresenta denso estudo como tese de doutoramento, ao qual referi anteriormente (e já em 1971 publica artigo no segundo número da Colóquio/Letras); Álvaro Manuel Machado, que escreve e publica em 1984, pelo Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, o ensaio Raul Brandão entre o romantismo e modernismo (1999), volume pouco extenso, mas cujo mérito de popularizar, em certa medida, o nome de Brandão e o livro Húmus não se pode negar (atualizado e reeditado pela Editorial Presença no ano de 1999); Vitor Viçoso, que empenha parte das décadas de setenta e oitenta substanciando o ensaio que defende como tese, com o título A Máscara e o Sonho – vozes, imagens e símbolos na ficção de Raul Brandão, no ano de 1987, publicada em livro pela editora Cosmos somente em 1999; Maria João Reynaud, que se fixa na proposta de edição das três versões do Húmus e submete a tese Metamorfoses da Escrita, logo chegada às bibliotecas portuguesas com a veiculação em livro pela Campo das Letras. A investigadora foi encarregada, na sequência, em função da experiência que desenvolveu no cotejamento das edições, a montar, em três volumes, o que se tem chamado de fixação definitiva do Húmus, sendo dois volumes fac-similados e o último com aparato crítico, notas e introdução. Os textos de Castilho (2006), Machado (1999), Viçoso (1999) e Reynaud (2000)8 podem ser considerados, em conjunto, eixo central dos estudos brandonianos contemporâneos, servindo de base ou ponto de partida para novas investigações. Dialogam e contribuem para a tessitura de uma série de pequenos escritos sobre Raul 8 Deve-se atentar para o fato de que as edições princeps dos livros aqui referidos são publicadas, respectivamente, nos anos de 1979, 1984, 1999 e 2000. 31 Brandão, empreendidos por docentes renomados, mas que, com algumas exceções que serão apontadas aqui, pouco inovam no que tange às ideias contidas em trabalhos anteriores, mas se destacam por criar e ampliar espaços de leitura e discussão sobre a obra do escritor. De uma forma ou de outra, chamo a atenção para esses pequenos escritos (assim os denomino não por depreciação, mas em referência ao tamanho e mesmo às pretensões desses trabalhos se comparados ao núcleo principal dos estudos contemporâneos) que servem, e continuam servindo, para cristalizar conceitos que, se hoje se pode falar em lugar-comum, constituíam a fronteira dos estudos brandonianos: que a escritura de Brandão é digna de investigação acadêmica, que Húmus é um marco na nossa modernidade literária em língua portuguesa, que o escritor pode ser encontrado na raiz genealógica (e genológica) de narradores portugueses e brasileiros da primeira e da segunda metades do novecentos, que é detentor de estilística singular. Parece, para arrematar o quiasmo que deixei em suspenso, que não apenas Raul Brandão continuou a ser, embora de outro modo, o escritor de “temas e simples motivos” (LOPES, 1999, p. 182), de um livro único, mas que a crítica especializada se especializou de tal forma que não tem enxergado para além do Húmus outro texto brandoniano digno de investigação de fôlego ou mesmo de incentivo para leituras livres de interesses acadêmicos. É o que se pode chamar de silêncio sobre a repetição ou de licença reiterada para repetir. É preciso dizer que as gerações de estudiosos fizeram com propriedade seu trabalho de leitura e análise literárias, e a prova irrefutável da qualidade da crítica desvelada (que se não é numerosa é, ao menos, competente) é que concepções antes consideradas ousadas ou pouco aceitas sobre a escrita de Raul Brandão, hoje se tornaram consenso e são o ponto de partida para que se possa pensar a escritura brandoniana, projetando-a, do ponto de vista da crítica, para novo momento, no qual 32 esta tese penetra: o (re)posicionamento crítico do texto literário do autor a partir da relação que estabelece com a matéria histórica – uma preocupação ou intuição histórica. Daí que se pode reavaliar e pôr em discussão o que hoje se tem concebido como centro da produção de Raul Brandão, admitindo-se que há, portanto, centro e margem/periferia dentro de cada microssistema literário ou ainda, se se aceitar que o escritor em destaque é um artista à margem da fixação do cânone, que há um centro relativo e uma margem absoluta. A insistência em discutir ideias consolidadas, que se evidenciam no empenho despendido por estudiosos para validar ou refutar opiniões emitidas ainda nas primeiras décadas do século passado, como a que sustenta que Raul Brandão constrói no trajeto de sua constante reescrita dos textos um livro único,9 embora basilares para a formação de fortuna crítica especializada, tem-se tornado, não raras vezes, em fator de prédirecionamento das investigações, o que se faz patente, por exemplo, quando se verifica que antes desta pesquisa, apenas uma dissertação de mestrado, defendida na Universidade de Lisboa,10 tenha tomado as Memórias como material literário de análise, ou ainda que se desconheçam pesquisas que priorizem a leitura de obras como El-Rei Junot ou Vida e Morte de Gomes Freire, para ficar apenas no eixo da narrativa de fundo histórico. Outra parcela da produção literária de Brandão a que a crítica se tem dedicado de modo insuficiente11 são as narrativas breves e o próprio teatro, a revelia do notável 9 Em A experiência estética de Raul Brandão, dissertação de Mestrado defendida na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob orientação da Professora Doutora Luci Ruas Pereira, afirma-se: “a temática trabalhada no Húmus não é necessariamente [...] original, mas um exercício de escrita que já vinha sendo praticado [...] isso reforça a idéia de um livro único, apontada por Maria João Reynaud em sua Tese” (RIOS, 2007, p. 107). 10 Trata-se de O lugar do eu e do(s) outro(s) nas Memórias, de Raul Brandão, dissertação apresentada por Felipa Mendes Barata (2008). O estudo tem como eixo central a verificação da construção do sujeito escritor a partir dos postulados teóricos da autobiografia, memorialismo e escrita de si. No 4º capítulo, dedicado exclusivamente às Memórias, há crítica contextualizada sobre o trabalho da estudiosa. 11 Há de se fazer uma ressalva e lembrar, aqui, o acurado trabalho desenvolvido por Rita Martins em Raul Brandão – do texto à cena, dissertação de Mestrado publicada na forma de livro pela Imprensa Nacional 33 componente dramático que permeia toda a obra e que a torna, nas palavras de David Mourão-Ferreira, a “definitiva criação do teatro português de todos os tempos” (1992, p. 179). Jorge de Sena, antes mesmo de Mourão-Ferreira, em crítica à encenação que se fez de “O Gebo e a Sombra” (In: BRANDÃO, 1970), recomenda que “Há de se ver esse drama admirável de um dos raros génios de que a nossa literatura pode autenticamente orgulhar-se” (SENA, 1988, p. 216). Por seu turno, se o comentário de David Mourão-Ferreira, é, todavia, apologético, converge para o pensamento de Luciana Stegagno Picchio, que em sua História do Teatro Português, obra referencial para a análise do gênero dramático em Portugal, afirma que, em Raul Brandão, “Toda a temática dos anos vinte, a concepção de vida como farsa trágica, e o filosofismo dissolvente, que em Itália conduzirá ao Pirandello e na Alemanha ao expressionismo, se encontram já nestes textos dolorosamente grotescos em que a gargalhada sabe a escárnio e a vómito“ (PICCHIO, 1969, p. 310), alinhando, deste modo, o escritor português a nomes representativos do teatro europeu de Itália e da Alemanha. Ainda sobre a notável qualidade do teatro brandoniano, Luiz Francisco Rebello afirma: “o teatro de Raul Brandão, ao mesmo tempo em que afasta da linha naturalista dominante, propunha uma, então insólita, problemática existencial, ao transcrever, com exasperado dramatismo, o conflito” (1972, p. 101); e, ao fazê-lo, o crítico reconduz a produção brandoniana ao lugar cimeiro do teatro em Portugal, não sem contextualizar sua poética no fértil período finissecular. Papéis têm sido continuamente emendados, aprofundando a sensação de paralisia da crítica para a produção de novas ideias que, como as personagens dos dramas estáticos de Raul Brandão, repetem. Vejamos, a título de ilustração, o que publica Casa da Moeda em 2007. Todavia, como esta pesquisa não se debruça sobre o corpus dramático de Raul Brandão na forma de suas peças teatrais, o livro de Martins (2007) não será objeto de reflexão mais detalhada ao longo destas páginas. Entretanto, é preciso sublinhar que se trata, muito provavelmente, do mais importante estudo sobre o teatro do escritor de Guimarães publicado até hoje. 34 Eduardo Prado Coelho, sob o título de “Um novo paradigma ficcional (Raul Brandão)”, compilado em A escala do olhar: Podemos colocar a questão nestes termos: será que faz sentido afirmar que o Húmus de Raul Brandão é uma obra tão importante como o Livro do Desassossego de Fernando Pessoa? Se considerarmos não o conjunto da produção dos respectivos autores, mas as duas obras em si mesmas, creio que a resposta deve ser positiva. Húmus é texto tão denso e perturbador para a literatura portuguesa como é o Livro do Desassossego. São duas obras-primas da literatura europeia, que marcam entre nós todo o século XX. Ambas indecisas na fixação da sua textualidade ou arquitectura, e no entanto ambas abrindo um novo espaço no curso da modernidade. Contudo, o destino que tiveram foi diferente. Enquanto a obra de Raul Brandão teve a sua primeira versão em 1917, Fernando Pessoa trabalhou longa e descontinuamente no projecto do Livro do Desassossego, mas a primeira versão deste livro aparece já no final do século. Depois disso, sucederam-se edições e traduções, e cada uma recombina os materiais existentes de um modo que quase permite dizer que inventa um novo livro. (2003, p. 24). Com respeito ao intelectual, autor de obras importantes nos estudos de literatura portuguesa, é preciso dizer que o parágrafo com o qual o breve ensaio inicia não traz, como já evidenciado pelo uso de citações anteriores, componentes antes desconhecidos ou perspectivas inovadoras para os estudos brandonianos. E nem o poderia fazer, uma vez que as palavras de Coelho assumem o papel de comentário de leitura e mesmo de resenha crítica com vistas à divulgação do trabalho empreendido por Maria João Reynaud (2000). Ao evocar a possível relação entre Húmus e Livro do desassossego, esquece-se, por exemplo, de que o texto posteriormente estruturado, a partir dos escritos dispersos deixados sob a assinatura do heterônimo Bernardo Soares, é evidência colocada à mostra desde que, pelo menos, Aliete Galhoz e Teresa Sobral Cunha recolheram e transcreveram o material deixado pelo poeta de Orpheu. Parece-me ter sido Eduardo Lourenço quem primeiro, entre os renomados críticos portugueses, apontou a convergência entre duas escrituras, ao mesmo tempo vistas como opostas e 35 complementares entre si, quando da publicação do ensaio “Metamorfose da ficção contemporânea (temporalidade e romance)”, ainda na década de 1980, antecipando pensamento que Eduardo Prado Coelho depois vai glosar: Mais intelectual, menos patético no seu expressionismo puro, Raul Brandão não estaria longe daquele texto supremo da nossa literatura deste século, aquele que instalado no coração da própria ficção a torna luminosamente supérflua. Refiro-me ao Livro do Desassossego. Como o texto de Pessoa, embora sem o seu humor devastador, a ficção de Raul Brandão tem um só personagem e esse personagem impede que, a qualquer título – salvo como figura indiferente da suprema evidência vital – se converta em personagem propriamente dito. (LOURENÇO, 1993, p. 307).12 A comparação entre os textos literários reportados na citação de Eduardo Lourenço perpassa os interesses apontados para esta investigação. Não é interesse fazêlo, mas tão somente apontar como as ideias lançadas pelo filósofo português proliferam com fecundidade em curto espaço de tempo. Além disso, como bem lembra Eduardo Prado Coelho, o Livro do Desassossego é resultado de um trabalho de arquitetura e organização posterior, cuja primeira edição foi liderada por Jacinto do Prado Coelho e publicada no ano de 1982. Portanto, como comparar as duas obras? E mais: como pode o ensaísta dizer que as duas obras “marcam entre nós todo o século XX” ou que são “obras-primas da literatura europeia” (COELHO, 2003, p. 24), quando uma delas simplesmente não existia enquanto corpo fixado no decorrer de quase todo o século, 12 O texto referido data de 1988, conforme indicação de fim de texto do próprio autor. Ainda sobre a relação entre Húmus e o Livro do Desassossego, Eduardo Lourenço, outra vez na esteira do expressionismo – como faz Maria João Reynaud ao publicar Sentido Literal (2004) –, afirma: “Sem as reticências, poderíamos imaginar que estávamos lendo algumas passagens do Livro do desassossego. Húmus, na verdade, visto de hoje, tem visos de Livro de desassossego do pobre. A menos que seja o Livro do desassossego seja o Húmus do rico... (sic) Ou que ambos – com Unamuno de permeio – façam parte da mesma constelação da alma, mas não da escrita, o que é capital para o nosso caso, pois o Livro do desassossego, nessa perspectiva, nada tem de expressionista, embora o seu fundo desolado o coloque nas paragens do desespero nu do expressionismo nórdico. Na verdade, ao contrário de Pessoa, Raul Brandão não se exprime a partir de qualquer visão de mundo mais ou menos lógica, ou de uma pluralidade incompatível delas. Raul Brandão fala apenas da interior-exterior imersão num acabrunhante tempo nulo, matriz de uma espécie de ausência física [...]” (LOURENÇO, 2001, p. 34). 36 porque não recebeu do autor a atenção demorada, de uma escrita desejosa de si e que sempre revisita a si própria, mesmo após ser materializada em livro? Ainda Eduardo Prado Coelho, nas páginas que seguem à citação anteriormente oferecida, afirma que o insistente trabalho de refazer sisificamente o próprio texto – e a isto voltarei outras vezes no decorrer desta leitura – questiona três preconceitos amplamente divulgados sobre a escritura brandoniana: a primeira, exposta por João Gaspar Simões e evocada em páginas anteriores desta investigação, de que o autor da Foz do Douro teria um “jeito desordenado ou inarticulado de escrever” (1971, p. 25); a segunda, formulada por José Régio, de que “se trata de uma obra mal acabada” (1952, p. 26); a terceira ainda incutida ao mesmo Régio, de que Raul Brandão teria uma incapacidade “para se situar num gênero” (Ibidem). Os textos lembrados foram publicados, respectivamente, nos anos de 1931 e 1952, o que permite inferir que, passadas sete décadas, a fortuna crítica volta-se corriqueiramente aos ensaios dos mentores da presença. Ainda assim, é possível evidenciar que Eduardo Prado Coelho esteve atento aos juízos emitidos pela crítica brandoniana e que, reconhecendo o valor estético na produção de Raul Brandão, dedica-lhe espaço para reflexões naquilo que, repita-se, são mais comentários de leitura que ensaios com pretensões maiores. Desejo retomar o passo da citação de Eduardo Prado Coelho em que se refere à crítica brandoniana em seu período de formação. Quando se verificam as fontes primárias evocadas, observa-se que Gaspar Simões ressaltou em seu texto não propriamente a desarticulação da prosa de Brandão – que disto se encarregou Chaves13 ao dizer: “Brandão pertence a esta espécie de artistas confiados somente à sua 13 Por rigor, há de se ressaltar que Castelo Branco Chaves, na conferência pronunciada na Universidade Popular Portuguesa a 17.05.1934, tinha, entre as suas intenções, como destaca a Advertência, escrita por António Sérgio à separata impressa pela empresa cultural Seara Nova, afirmar que “Raul Brandão foi um dos nossos; teve em nós grandes amigos; nesta pequena casa seareira continua a viver o seu espírito, nimbado aos olhos de todos pela nossa admiração e pela saudade” (SÉRGIO, 1934, p. 5). O fato é que, talvez, as palavras dos críticos da Renascença Portuguesa tenham sido mais prejudiciais que favoráveis à imagem de Raul Brandão e à obra do escritor do Douro. 37 inspiração interior, estando sempre antes a sua obra “á ver lo que sale” (sic); e ainda mais adiante: “um improvisador e um comovido” (1934, p. 13) –, mas o seu vetor fundamentalmente poético, no qual se sustenta não apenas a literatura do Húmus e de seu autor, mas de um conjunto de escritores desse período. Basta que se lembre, por exemplo, de António Nobre, António Patrício, Camilo Pessanha, Guerra Junqueiro, Teixeira de Pascoaes ou Trindade Coelho. É, em parte, nesse argumento de que os textos do fim-de-século se utilizam de uma linguagem embebida de forte teor líricopoético, que se vai sustentar a formação do binômio simbolismo-decadentismo, do qual se lança mão quando a distinção ou problematização entre as duas estéticas não é necessária ou não é possível. Sobre a imprecisão no uso dos termos (i.e, simbolismo e decadentismo), Fernando Guimarães, nas páginas introdutórias à Poética do simbolismo em Portugal, diz: “A partir desse conjunto de ocorrências estabeleceu-se uma periodização mais ou menos ambígua, pela qual se demarca uma separação entre Decadentismo, geralmente considerado como a fase inicial [...] [dos] movimentos, e Simbolismo” (1990, p. 11), referindo-se, neste caso, à literatura francesa. Em outro livro, desta feita Simbolismo, modernismo, vanguardas, Guimarães aponta para o desinteresse da crítica no estudo do período que vai do final século XIX até aos anos 1930, destacando que [...] tanto o Decadentismo como o Simbolismo têm sido por vezes incorretamente valorizados. Na sua generalidade, o desinteresse quanto ao estudo desse período resulta de duas razões. Uma delas provém de os seus críticos ainda hoje se fixarem, não raro, na ilusão normativa que consiste em duvidar do bom gosto que a generalidade destes poetas teriam (e que, certamente, alguns deles não passaram a ter quando, mais ou menos arrependidos, desvalorizaram com o assentar dos anos os momentos mais polémicos da sua poesia). Estaria a outra razão na acusação feita a decadentistas e simbolistas de serem tão-só formalistas, puros defensores da arte pela arte, em face de uma poesia de intervenção ou empenhamento cuja ênfase se prolonga de Junqueiro ao Neo-Realismo típico dos anos 40. (2004, p. 10-11). 38 Se, para os críticos e leitores do final do século, a literatura de pendor crepuscular possui forte vinculação ao interesse pela forma, parece, no entanto, que a este preceito não se ajusta à literatura de Raul Brandão. Ao contrário, o escritor desestabiliza a forma da novelística para lhe conferir um estatuto híbrido, espécie de ambiguidade da escritura. Esta se configura num dos veios analíticos que, continuamente abordado pelos estudiosos da literatura portuguesa, se interessa pela presença do lírico14 na obra de Raul Brandão e de seus herdeiros estéticos, o que Luís Mourão identifica como o rastro da “presença de Húmus, ou daquilo que na sua restante obra ficcional e dramática é lido sub specie Húmus” (2003, p. 11). Nesse microssistema, Mourão ressalta o lugar da escrita de Vergílio Ferreira, que comporta um debate tanto na seara das influências finisseculares, como possibilita um avanço das análises para as décadas seguintes do século XX, mantendo viva e fecunda a narrativa de matizes líricos, como assegura Rosa Maria Goulart: É, aliás, curioso notar que as interferências líricas na nossa literatura finissecular se fiquem pela notação fragmentada, pela divagação impressionista, pelo conto breve, mas não tenham lugar em nenhum grande romance. Crise da narrativa? – Perguntar-se-á. Incompatibilidade da lírica, pela intensidade emocional que pressupõe e respectivas repercussões a nível técnico-compositivo, com a maior extensão do romance? (1991, p. 67). É preciso ter em conta que a investigadora lança mão de uma categoria a que chama de romance lírico, apontando-o como vetor de superioridade em uns (escritores) e relegando-o à condição de segundo plano em outros, sem elucidar as fronteiras entre os modos do discurso, fronteira que, naturalmente, não é definível. Se, por um lado, Goulart enxerga o romance de Vergílio Ferreira na perspectiva do poético, i.e. do texto 14 Entre os críticos brasileiros, também Dalva Calvão faz coro quando se pensa o texto de Húmus na “fronteira entre poesia e prosa”, [...] e em seu “descompromisso com a continuidade linear” (VERANI, 2001. p. 63). 39 lírico, cotejando-o, portanto, com o modelo de narrativa inaugurada por Raul Brandão – esse estatuto híbrido a que referi anteriormente –, por outro, Luci Ruas visualiza o entroncamento dos processos ensaísticos e literários na escritura vergiliana, fazendo com que o autor de “No limiar do mundo, Raul Brandão”, escrito em 1967, transpusesse para a narrativa aquilo que primeiro havia manifestado em ensaio: a presença de Raul Brandão. Diz a estudiosa, impulsionadora dos estudos brandonianos no Brasil: Daí podermos afirmar que Signo sinal, escrito seis décadas depois dos gritos lacerados das figuras que se movem na paisagem da narrativa brandoniana, também em tempo de crise, prolonga, de modo mais aprofundado, as interrogações e torna realidade o romance que Vergílio Ferreira tão bem reconheceu como o romance do nosso tempo: aquele que, esquivando-se ao espetáculo (e o espetáculo está em ruínas em Signo sinal), aponta para a interrogação que obriga o olhar mais aprofundado, olhar que, em vez de passear pela paisagem, incide sobre ela, fazendo abalarem-se os alicerces de um sujeito que vive num mundo cujos alicerces já se abalaram. (RUAS, 2001, p. 1) A palavra de Luci Ruas abre duas janelas em que é proveitoso debruçar-se: a primeira é a retomada do conceito de romance-espetáculo/romance-problema sugerido por Vergílio Ferreira no longínquo “Situação actual do romance”.15 O ensaísta português vê na obra de Raul Brandão o aflorar do romance-problema no alvorecer da modernidade, ao dizer, sem desvios, que a obra do escritor da Foz do Douro “abre-nos, com efeito, perspectivas para o que se vem chamando ‘romance-ensaio’ e eu prefiro chamar ‘romance-problema” (FERREIRA, 1990, p. 214), uma escritura da renovação da escrita. A segunda janela é a imagem do sujeito abalado, em ruínas, que revela, ele próprio, o soçobrar de uma estética, mas, sobretudo, aponta para uma alegoria contínua (e contígua) à novelística de Brandão e de Ferreira. É, com efeito, pelas mãos da pesquisadora, que a alegoria brandoniana da ruína foi-me revelada, ainda nos idos da dissertação de mestrado, quando, no Húmus, aponta 15 Observar que a edição original do ensaio, publicada em Espaço do Invisível, volume 1, data de 1965. 40 para o estado de caos em que se encontra a vila embolorada que serve de pano de fundo ao livro, e no Signo sinal evidencia o terremoto que acomete não apenas o espaço mas a estruturação da narrativa vergiliana. Mais comentários e implicações sobre a imagem da ruína na poética brandoniana são reservados para os passos subsequentes desta tese. De momento, deve-se lembrar de que o estatuto híbrido da obra de Raul Brandão resulta da intersecção entre o prosaico e o lírico, residindo, nesta dissolução das fronteiras, a singularidade e o paradoxo da modernidade, como sustenta Matei Calinescu em As 5 faces da modernidade (1999). Dessa forma, retornando ao pensamento de Rosa Maria Goulart, “o romance contemporâneo mostrou-se, portanto, capaz de não só prolongar como enriquecer a prestimosa herança do Decadentismo e do Simbolismo” (1991, p. 68), entendida sob a forma do lirismo finissecular, o que faz lembrar diretamente o Vergílio Ferreira de “Situação actual do romance”, que diz: “O romance está em crise – toda a gente o proclama. Esta crise, porém, referindo-se ao romance como género literário específico, vem a enquadrar-se afinal também na crise geral da arte” (1990, p. 175); crise que se revela, ela mesma, extremamente criativa na busca de novas formas e novos valores para a escrita. O estudo sobre as peculiaridades da estrutura do romance do século XX não é tema fulcral para o desenvolvimento desta pesquisa, que daí resultaram outras investigações. O que se deseja ressaltar é que continuar o debate sobre a impossibilidade de definição dos gêneros na escritura de Raul Brandão – à semelhança do que apontou Eduardo Prado Coelho (2003, p. 26) como sendo um tema relevante sobre o qual se debruçou Maria João Reynaud (2000) – é tarefa levada a cabo pelas gerações de pesquisadores que me precederam sem que, todavia, tenham chegado a consenso. Esse tipo de discussão teve seu papel e importância na crítica brandoniana e, embora 41 continue a respingar na crítica contemporânea, não parece que se configure como terreno fértil que propicie um mergulhar intenso nas formas, condições e perspectivas que a escritura brandoniana abre para a literatura portuguesa do século que findou e deste século que inicia. Há de se fazer o destaque, no entanto, de que a investigação de Reynaud realiza a sedição de uma crítica agora anacrônica, de tempo passado, como se fizesse um esforço de contra crítica na intenção de afastar os fantasmas e preconceitos pretéritos, como bem sublinhou Eduardo Prado Coelho (2003), e ver, por exemplo, na recorrência dos temas, não uma fator de desagravo, mas de unidade na diversidade de uma intuição estética. Ainda sobre a elucubração de ser ou não a narrativa brandoniana proposta singularmente ousada de poesia em forma de prosa, Fernando Guimarães, desta vez por ocasião do “Colóquio Ao Encontro de Raul Brandão”, realizado na Universidade Católica Portuguesa em 1999, aproxima o escritor do Douro de seus contemporâneos, quando estes, inseridos num momento estético comum, acabam por convergir para o amolecimento das estruturas narrativas que o próprio Brandão praticava, sem, no entanto, apregoar: (Como se sabe, Raul Brandão nasceu no mesmo ano, ou seja 1867, em que António Nobre e Camilo Pessanha também nasceram. É dois anos mais velho que Eugénio de Castro e que um poeta com quem conviveu e com quem colaborou ocasionalmente numa obra comum, Júlio Brandão. António Patrício – outro escritor que, além de poeta, se apresenta nas suas obras teatrais como um caso extremamente significativo daquilo que são “poetas em prosa” – tinha cerca de dez anos menos. Fernando Pessoa era mais novo vinte e um anos e é também um autor que soube transgredir consequentemente os géneros e as fronteiras que entre prosa e poesia existem. Raul Brandão pertence, portanto, à geração de simbolistas[-decadentistas], geração essa que irá confinar com outra, a do Modernismo [de 1915]. (GUIMARÃES, 2000, p. 29-30). 42 O crítico lusitano situa o escritor de Guimarães entre António Nobre e Camilo Pessanha, acalentando Raul Brandão no seio do simbolismo-decadentismo stricto sensu, a escola dos “poetas em prosa” (Ibidem),16 imputando-lhe o papel de figura ascendente e referencial no grupo dos nefelibatas portuenses, cenáculo de escritores que, a exemplo dos Vencidos da Vida, grupo a quem o crítico António José Saraiva chama de tertúlia ocidental (“Chamamos a este grupo ‘tertúlia ocidental’ porque o seu encontro se dá na linha ‘onde a terra acaba e o mar começa’, no ocidente da Península, ora em Coimbra, ora em Lisboa, ora no Porto, cidades onde se reuniu o grupo”; SARAIVA, 1990, p. 14). O grupo dos nefelibatas marcou a história da literatura portuguesa a partir da publicação de breve opúsculo, sob o pseudônimo de Luís de Borja, e que teve, muito provavelmente, a liderança de um Raul Brandão iniciante, mas que então acenava para a função central que o escritor desempenhará em sucessivos círculos literários e publicações periódicas até o fim da vida. 16 Desde a crítica de reabilitação até a crítica contemporânea, o juízo de Túlio Ramires Ferro (1949), que conferia à escritura brandoniana o estatuto de arte simbolista – muito em função de o escritor de Guimarães ter sido contemporâneo de Eugénio de Castro e de António Nobre, de quem foi amigo pessoal –, parece superado. Ensaístas de projeção, a exemplo de Vergílio Ferreira, Guilherme de Castilho e Vítor Viçoso, buscam alternativas para fugir ao simbolismo como filiação estética da obra de Raul Brandão. É nesse ponto, ou seja, com essas duas últimas fases dos estudos brandonianos, que ganha corpo a ideia do decadentismo no escritor de Guimarães, muito porque é na segunda metade do século XX – e, sobretudo, nas duas últimas décadas do referido século – que o conceito de decadentismo propalou-se no cenário acadêmico internacional. Por conseguinte, julgo que considerar a obra em estudo nesta investigação como escritura atravessada por essa estética finissecular é o posicionamento mais apropriado – e menos perigoso – à crítica de hoje, que atualiza a crítica do passado em função do tempo presente – este também milenarista como o fim do século XIX e primeiras décadas do novecentos. Muito embora desde a crítica de reabilitação não seja plenamente aceito insistir numa ótica de Raul Brandão como simbolista, há estudiosos que, por motivos que fogem ao escopo desta pesquisa, insistem em glosar – ou ainda ecoar – o juízo de Túlio Ramires Ferro, seja porque desconsideram que é já quase pacífico visualizar Raul Brandão como decadentista, seja porque, insistindo que o escritor de Guimarães não se propunha a escrever em prosa (porque,como asseverou a crítica de formação, o autor não sabia escrever em prosa, conforme se observa nas páginas deste capítulo), desqualifica-o como sujeito que materializa no corpo do texto uma concepção moderna de narrativa, o que permite sustentar, na esteira de Vergílio Ferreira (1991), que se trata de uma escritura que se abre – e por que não dizer inaugura – para o romance moderno em Portugal. Dos artigos e ensaios da critica contemporânea que ainda posicionam a escrita de Raul Brandão na seara do simbolismo, destaca-se o posicionamento de Maria Wellitania de Oliveira Cabral, pelo caráter recente da publicação: “O estilo de Raul Brandão, hipermetafórico e ondulante, mais próximo da poesia que do romance, acompanha as fases evolutivas de sua carreira literária. Mais poeta que ficcionista (ou prosador), tornou-se quem melhor realizou a tendência fundamental da prosa simbolista, acabando por ser o mais importante prosador do Simbolismo português.” (2010, p. 312). 43 Se Fernando Guimarães enxerga um Brandão que é, ele próprio, produto do decadentismo finissecular, vejo no escritor da Foz do Douro a ponte ou o elo que liga o Antero dos últimos sonetos, embevecidos de angústia e dor, à presença de Teixeira de Pascoaes, esta ocupando a função de pilar nacionalista no discurso literário brandoniano. Sim, porque o autor de A Farsa, Os Pobres, Húmus e O pobre de pedir embrenha-se no que Vergílio Ferreira pontua como os dois cernes da escritura de Brandão (“Os dois grandes problemas, ou as duas grandes séries de problemas na obra de Raul Brandão situam-se, como disse, na esfera econômica e na metafísica”; FERREIRA, 1991, p. 176)17 para tratar de uma questão que, se é por um lado universal, é, sobretudo, portuguesa e ainda regional. Dessa forma, Raul Brandão eleva a efabulação em torno de personagens descentradas e antitéticas de um possível norte de Portugal à problemática da condição humana, revelando, neste caminhar, uma visão particular da história, que é o que se confronta na presente investigação. Em outras palavras: o interesse pelas novas perspectivas históricas na/da literatura brandoniana. Sobre o folheto Os Nefelibatas, Guilherme de Castilho dedica-lhe algumas páginas, centrando-se em três questões principais: a) na cronologia, que resolve com facilidade (“No que respeita à data, pode fixar-se, sem lugar a erro, entre Outubro de 1891 e Abril de 1892”; 2006, p. 109); b) na autoria da pequena publicação de 28 páginas, em busca de se delimitar se o escritor teve ou não o papel decisivo na consolidação do “manifesto iconoclasta” (Ibidem, p. 110), hipótese que, nas palavras de Castilho, “parece não ser já tão fácil aclarar” (Ibidem), para se desdizer logo a seguir (“Sem muita hesitação responderemos ter sido Raul Brandão o autor material do <<delito>>”; Ibidem, p. 111); (3) na “análise do próprio texto”, afirmando-o ser 17 Fazendo eco às palavras de Vergílio Ferreira, Jacinto do Prado Coelho ratifica: “No Húmus, o problema existencial e o problema metafísico interpenetram-se, conjugam-se.” (1996, p. 298). Embora o ensaísta tenha pontuado essas tensões apenas no livro de 1917, nem por isso se pode deixar de ver que o econômico e o existencial, ou, como quer Coelho, o social e metafísico, estão presentes na literatura brandoniana. 44 “opúsculo de extrema raridade (o exemplar que possuímos pertenceu a António Nobre) cremos valer a pena usar da transcrição até ao limite para que possamos ter uma ideia mais ou menos exacta do conteúdo”18 (Ibidem). Também Vitor Viçoso dedica comentários ao folheto, considerando-o como “delirantemente decadentista” (1999, p. 71) e, na esteira da sequência percorrida por Guilherme de Castilho, debruça-se em comentários sobre a questão da cronologia (“Portanto, conclui-se que o opúsculo teria sido editado entre 15 de Dezembro de 1891 e a primeira semana do ano seguinte”; Ibidem, p. 71), pelo incógnito da autoria e pela necessidade de se tomar a pequena produção como texto literário que é, fazendo notar que Brandão e seus colaboradores criam o mito do Poeta, verdadeira “dramatis persona que esconde e emblematiza [...] um provável criador colectivo” (Ibidem, p. 73), e o gérmen de uma poética em que se afigura “já com nitidez o progressivo fascínio brandoniano pelos noctâmbulos filósofos, pelos grotescos e sonhadores que irão mais tarde proliferar em Os Pobres [...] e cuja matriz estará também no Gabiru de Húmus” (Ibidem, p. 77). Desse modo, o ensaio de Vitor Viçoso evidencia a presença do onírico e da “estesia dolorista” (Ibidem, p. 16) na fase formativa de Raul Brandão, compondo um mapa detalhado de manifestações simbólicas e imagéticas na ficção do escritor – incipiente em Os Nefelibatas e História dum Palhaço –, passando a centrar-se, no segundo momento, na análise do Húmus, sobre o qual diz: Ora, o livro dos livros do autor é, indubitavelmente, Húmus, aquele que contém todos os outros e onde mais adequadamente, pela eficácia da rede simbólica, numa homologia entre húmus e as profundidades do eu, consegue esboçar essa sombra simultaneamente fugitiva e cativa e que funde os fantasmas individuais e colectivos. É também nela que a enunciação, enquanto espaço de estranheza face à sua própria voz e aos seus mitos, atinge o seu acme. (1999, p. 15). 18 Esta pesquisa teve a oportunidade de consultar edição diplomática do folheto Os Nefelibatas, na Sociedade Martins Sarmento, por meio de exemplar da série limitada a cem exemplares que foi publicada pela instituição de Guimarães, por ocasião do centenário da editio princeps. 45 Elegendo a versão de 1926 como guia, o ensaísta dedica-se a evidenciar a riqueza e a plurissignificação latente na narrativa brandoniana, associando-a, não raras vezes, ao inconsciente da criação literária, o que faz por meio da sugestão do sistema psicanalítico (ego – o eu, id – o oculto), em que, na contramão da recorrência teórica, não busca nas fontes de Freud ou de Lacan sua sustentação, mas tão somente dela se utiliza para conferir ao próprio estudo um isomorfismo temático e conceitual que atenda à própria realidade do fim-de-século brandoniano. Ao fazê-lo, não corre o perigo de, portanto, tornar-se crítica anacrônica,19 mas a utiliza para salientar como a atmosfera do sombrio e do grotesco que completa a união, por vezes questionável, entre o tempo cronológico e sociológico e os impulsos artísticos da criação. Percebe-se que o trabalho empreendido por Viçoso faz um recorte do todo apresentado originalmente por Castilho (2006), buscando, a partir de uma linha crítica interessada pela identificação das redes simbólicas, as camadas subterrâneas do texto com o auxílio de um substrato filosófico (“Mas, mesmo neste caso, não existirá, contudo, uma certa analogia entre a mobilidade ascendente das forças inconscientes, em Húmus, e a vontade-de-viver schopenhaueriana?”; VIÇOSO, 1999, p. 334-335). É somente nas páginas finais de seu estudo que Vitor Viçoso se preocupa em apontar o livro, a meu ver, mais canônico do escritor (porque Húmus tem sido o mais trabalhado pela crítica, que o toma como baliza da estética brandoniana),20 como reflexo de um tempo de crise e, por isso mesmo, uma escrita da própria crise. Então, passa à 19 Lembremos que A interpretação dos sonhos, de Sigmund Freud, encontra sua publicação inicial em 1899, embora se possa afirmar que, “Herdeiro de Dostoievski e contemporâneo de Freud (embora decerto Raul Brandão ignorasse Freud ainda em 1917), Raul Brandão, ao mesmo tempo que nos pinta o homem em toda a crueldade dos seus instintos, multiplica os quadros de miséria e degradação, revoltado e fascinado pelo espetáculo da dor.” (COELHO, 1996, p. 299). 20 Acrescente-se que, quando me refiro ao Húmus como o mais canônico livro de Raul Brandão, refirome, naturalmente, ao trabalho desenvolvido pela crítica desde os tempos de formação e que o tornam, portanto, a obra mais difundida do escritor. Não avalio qualidades estéticas e, de imediato, não tenho o propósito de discutir a fronteira entre o centro e a margem no conjunto literário de Brandão, embora esta investigação, no seu todo, venha a colocar em xeque o privilégio dado ao livro de 1917 quando, no corpo de sua análise, opta por títulos pouco explorados ou ainda não estudados em profundidade. 46 discussão sobre o tempo na narrativa brandoniana (tempo vectorial e tempo vertical; Ibidem, p. 341 e ss.) e sobre as antíteses morte-vida (do ser e de Deus), assinalando que a obra em questão é “um texto monótono, por vezes, quase uma litania – a reiteração de um lexema ou de um grupo de lexemas [...]; das mesmas estruturas fônicas [...], semânticas e sintáticas” (Ibidem, p. 361). E mais à frente acrescenta: “As frases ora crescem e rebentam em bolhas de sangue ou de espanto, ora se ressecam e encolhem, como fluxos e refluxos que ritmam o corpo textual – vagas crispadas e patéticas alternando com declínios e tempos mortos” (Ibidem, p. 362), com as quais termina o ensaio, deixando ao leitor a certeza de que se debruçou sobre trabalho vigoroso, cujo mérito de por o tema do decadentismo finissecular entre as nuances centrais da poética brandoniana não pode ser esquecido nem minorado. Vitor Viçoso estabeleceu um recorte e uma linha próprios para a construção de sua investigação a partir das sugestões deixadas por Guilherme de Castilho (2006). Por sua vez, Maria João Reynaud deu continuidade à tendência de delimitação, escolhendo apenas Húmus, entre as obras selecionadas por Viçoso, para compor sua pesquisa, abandonando o campo da filosofia ou da leitura interpretativa dos símbolos e imagens para abraçar o trabalho da crítica textual e genética, cotejando linha a linha as três versões do livro, e mapeando, a partir da correspondência trocada por Brandão & Pascoaes (1994), a cronologia da redação e das alterações no corpo do Húmus. O que desejo por bem sublinhar é o modo como se desenvolveu a crítica brandoniana, tendo como eixo principal as teses que venho elencando: olhares críticointerpretativos sobre um conjunto de livros ou um livro específico, circundando o núcleo central da escritura de Raul Brandão. Quando digo central, não é porque julgo ser, por exemplo, Húmus peça fundadora e a mais importante desse mosaico (é quase impossível avaliar, sem se trair, qual a obra mais valorosa de um conjunto poético), mas 47 tão somente porque se deseja dar a dimensão de que, até na literatura de um escritor per si considerado à margem (como parecem ser quase todos os simbolistas-decadentistas), encontra-se um centro e uma periferia, textos que são frequentemente visitados pela crítica e outros esquecidos ou relegados a segundo plano, num fenômeno de (de)formação que tende ao limite de criar a margem da margem ou, em outras palavras, o refugo da crítica. É esse refugo que interessa: o avesso que instiga. No conjunto, a crítica brandoniana deflagrada a partir de 1967 é unânime em declarar a modernidade da literatura de Raul Brandão, indo mesmo encontrar no seio de sua escritura traços dum modernismo que se situa entre o latente e o pujante, numa tensão que se encontra na fronteira do paradigma narrativo do século XIX e a busca por um novo conceito, que está, justamente com Brandão e outros escritores (lembremos os círculos paralelos aos da tertúlia portuense, como o grupo de Orpheu), em formação e debate. Todavia, é improvável negar que o pensamento de Fernando Pessoa tenha galgado uma repercussão sui generis no século XX, em oposição às ideias do autor das Memórias, que se torna conhecido no seio de uma intelectualidade restrita e, sobretudo, acadêmica, ou ainda por breves e descontextualizados fragmentos textuais, de valores telúricos,21 como se lê em manuais e livros escolares. Não é à toa que Álvaro Manuel Machado, em consonância com a tendência de se pensar a literatura de Raul Brandão em parelha com o nouveau roman (e mais uma vez é Húmus o livro eleito),22 alinha o escritor do Douro a Marcel Proust, propondo a hipótese de que há “um Portugal que precisamente por ser visto de Paris é cada vez mais essencialmente português, um Portugal infinitamente mitificado que o espelho francês reflete dia-a-dia” (MACHADO, 1999, p. 89). No entanto, como observa o ensaísta, “Trata-se antes de um mero reflexo 21 Uma análise do telúrico na obra de Raul Brandão será enfeixada mais adiante, quando da leitura crítica das Memórias (cf. capítulo “QUANDO OS VENCIDOS SAEM ÀS RUAS”). 22 Reflexão traçada, anos antes, por David Mourão-Ferreira no memorável ensaio diversas vezes aqui referido, e ainda nos ensaios de Vergílio Ferreira (1991 e 1995). 48 estético vindo de Paris através de um poeta tipicamente parisiense, um poeta ‘moderno’, poeta da cidade estrangeira, Baudelaire” (Ibidem, p. 91), no contexto histórico-cultural em que a Cidade Luz é o modelo perfeito de babel cosmopolita, avant la lettre e artificiosa, lugar em que habitam o dândi (“um dândi nunca pode ser um homem vulgar”; BAUDELAIRE, 2002, p. 871) e o flâneur, imagens que se destacam num tempo de aristocracia e modernidade. Desta feita, diz Álvaro Machado, enlaçando Brandão e Proust (e o fim-de-século português e o existencialismo francês), e encontrando, ambos os escritores, na fecundidade baudelairiana o momento precursor: Aliás, não é casualmente que cito Proust nesta abordagem inicial de Húmus como síntese inovadora de toda ficção brandoniana. De facto, a tentação é grande de estabelecer um paralelo comparativista com o autor de À la recherche du temps perdu, quanto mais não seja porque Proust e Raul Brandão, quase exactamente contemporâneos (Proust nasceu quatro anos depois, tendo morrido em 1922), sofrem igual influência determinante de Baudelaire e sobretudo dos decadentistassimbolistas, transpondo ambos para o romance como gênero total (aquilo a que Umberto Eco viria a chamar “romance aberto”) essa linguagem simbolista da poesia finissecular. E, enfim, também porque para ambos o tempo é, estruturalmente, através da aprendizagem filosófica bergsoniana (mais a da estética de Ruskin em Proust) a personagem tutelar de toda a elaboração narrativa, em ambos no eu do “artista” que se confessa e interroga. (MACHADO, 1999, p. 70). O autor de Raul Brandão entre o romantismo e o modernismo, apesar de propor, como se lê na citação, um “parelelo comparativista” do volume que concebe como “síntese inovadora de toda ficção bandoniana” (Ibidem) com a arte francesa, não pavimenta o caminho apontado nas páginas de seu ensaio, uma vez que parece deixar conscientemente a lacuna para que seja preenchida no futuro, fato que em si não desmerece o labor intelectual empreendido por Machado. É Pedro Eiras quem dá corpo à investigação que toma para si a necessidade do viés comparatista, não apenas sugerindo, mas efetivamente alinhando Brandão a outros 49 escritores – e desta vez portugueses, sem lançar mão de um sistema centro-periferia na literatura portuguesa, mas avaliando, de forma orgânica e convergente os temas e matizes que emergem das escrituras de Fernando Pessoa, Herberto Helder e Maria Gabriela Llansol, textos que se comunicam porque possuem vozes narrativas (cf. ABBOTT, 2002, p. 63-66; REIS & LOPES, 2000, p. 422-423) proeminentes em detrimento de um percurso ideal de narração. O autor de Esquecer Fausto (2005) compõe quatro ensaios distintos, e, em cada um deles, a estruturação está por si completa (embora estejam unidos por um fio que se delineia a partir de conceitos-chave, como “sujeito”, fragmentação”, “perda da unidade”, “a necessidade da escrita”, “ética”, “modernidade”), com o que se pode afirmar que o livro de Pedro Eiras, se por um lado não é uma tese estritamente sobre a escrita brandoniana, cumpre o desafio lançado por Álvaro Manuel Machado (1999, p. 70), além de dar nova roupagem teórica a temas recorrentes nos estudos sobre Raul Brandão, incluindo Deleuze, Freud, Lacan e Nietzsche. Por outro lado, Húmus, mais um vez, é posto como metonímia da biblioteca brandoniana – a parte pelo todo – , em nova demanda para se evidenciar a modernidade desse texto de três versões e, por consequência, de toda uma escrita ou, melhor dizendo, uma prática de escritura. Por outro lado, já em Tentações (2010), Pedro Eiras distancia-se da espinha dorsal dos estudos brandonianos, isto é, desta crítica que busca colocar de pé os núcleos centrais da investigação em torno da obra do escritor, levando o ensaio proposto para o limite do que se poderia vislumbrar em termos possíveis para uma análise comparatista do Húmus, acompanhado por outros textos literários do prosador. O ensaísta toma para si a tarefa de colocar em parelha duas figuras, de imediato, opostas ou incompatíveis: Sade e Raul Brandão, o que faz por meio da comparação entre o livro de 1917 e Justine, de 1791. A morte, o medo e a palavra ganham destaque no exercício criativo de Eiras. 50 Com habilidade, justapõe dois livros numa escrita inusitada, que, como assegura em “Nota”, não é mais que uma “intuição” (EIRAS, 2010, p. 7), de toda forma sedimentada e amplamente fundamentada como também o é seu Esquecer Fausto. A leitura crítica do autor de Tentações faz lembrar o ensaio de Edson Rosa da Silva, publicado na revista Semear (2000), em que discute o conceito de “Museu Imaginário” proposto por André Malraux. Retomando o artigo “Bibliothèque et musée: diffusion et métamorphose de la littérature et de l'art dans la réflexion d'André Malraux”, artigo publicado em Estudos Neolatinos (1998), o ensaísta diz-nos da liberdade de fronteiras que se estabelece no seio desses espaços da imaginação. Dispensando a fisicalidade e o ordenamento, que são a tônica dos museus ditos convencionais ao redor do mundo, o Museu de Maulraux permite reunir, no espaço da virtualidade e da mente criativa, todos os monumentos e peças artísticas dispersas. A biblioteca de que fala Edson Silva (2000) tem a mesma capacidade de embaralhar, agora palavras e livros, mas contraditoriamente os torna rede única, em tessitura barthesiana que se consolida na mente do leitor. Penso que esse apagamento, proporcionalmente mais produtivo quanto mais se esvai, é o núcleo de condensação da crítica brandoniana contemporânea, porque, ao lado do Húmus, podem-se ler as Memórias, e, ao lado destas, História dum Palhaço, sem que haja critérios de primazia, importância ou hierarquia para o crítico que investiga o escopo brandoniano. Quando se tem uma percepção global (que é diferente de dizer que se tem o conhecimento total, posto que este nunca estará à mão), os temas avultam e se, como permite a biblioteca em questão, a história da crítica pode ser revisitada e repaginada, é possível tentar levantar outros temas a partir de outras teorias. Julgo que é hora, portanto, de passar aos meandros metodológicos e teóricos desta investigação, para que o leitor não se canse de vislumbrar na tentativa de recuperação do passado desses estudos, pois que isto está 51 feito – e digo que bem feito pelos investigadores que me antecederam – e posto que minha tese é outra. Portanto, é preciso reformular, em síntese, o que se almeja desenvolver e elucidar ao longo desta investigação, qual seja: se, por um lado, busco na relação entre a literatura e a história a consistência teórica desta pesquisa, por outro, não vislumbro o enquadramento natural e quase acomodado da história na ficção. Deseja-se, ao analisar outra parcela da escritura brandoniana, aquela que está à margem de Húmus, entender como a percepção e apreensão dos processos históricos transcorridos no final do século XIX e primeiras décadas do século XX implicam literariamente no que se pode formular como intuição histórica ou ainda tentação da história em Raul Brandão, que, se se materializa nos textos ditos de fundo histórico, está, de outro modo, presente em todo tecido textual brandoniano por meio de contextos que vão ao encontro dos estudos históricos. É, por exemplo, sabido que as ideias benjaminianas estão enraizadas na escola dos Annales – e aqui me refiro especificamente à primeira fase –, mas pouco se percebe que a literatura de Raul Brandão dialoga com a filosofia de Walter Benjamin porque são, ambas, reflexões que retornam, obsessivamente, à imagem da ruína e às formas de catástrofe num mundo finissecular e depressivo que é a Europa em tempos sombrios. A escritura de Brandão propõe, nessa medida, a erosão do olhar monolítico e monocromático sobre a matéria histórica. Na esteira desta investigação, surge, naturalmente, uma hipótese principal: que a visão brandoniana da história comunga com a visão benjaminiana, sem que, todavia, Brandão tenha sido leitor de Benjamin – embora os dois tenham sido, em grande parte, contemporâneos. Desse modo, o escritor de Guimarães toma para si a missão de narrar uma história pelo viés dos vencidos – os 52 trapeiros – e em desfavor dos vencedores. No texto do escritor espreita-se uma história sem aura. Retomando o ensaio de Vergílio Ferreira, se Raul Brandão “luta contra os padrões da ficção tradicional” (1991, p. 214), também torna patente o desajuste em continuar a fazer narrativa histórica ao modo do cânone do século XIX e, em última instância, em pensar a própria história como se ainda estivesse mergulhado no contexto do oitocentos. Ao contrário de tudo que as tendências positivistas impuseram, na retina de Raul Brandão estão pintados um novo uso e um novo modo de trabalhar os símbolos, signos, imagens e alegorias alinhavados à história. Daí a necessidade de que antes de se abordar os textos literários propriamente ditos seja preciso discorrer como a presente investigação encontra seu caminho em meio ao arquivo literário de Raul Brandão depositado na Biblioteca Nacional em Lisboa e, ainda, o modo como a filosofia benjaminiana da história pode iluminar a crítica brandoniana desvelando nova perspectiva de análise ora consubstanciada. 1.2. Experiências do arquivo Até agora, tenho me detido em, na medida do possível, escrever um percurso da crítica brandoniana, fazer a crítica da crítica, apresentando não apenas parcela considerável da fortuna (sobretudo da crítica de reabilitação e da crítica contemporânea), mas sinalizando, desde então, que o presente estudo busca um caminho próprio. Parti de imersão realizada no arquivo de Raul Brandão, que pertence à Sociedade Martins Sarmento, instituição sediada em Guimarães, e disponibilizado em meio digital pela Biblioteca Nacional, em Lisboa. O acervo brandoniano não possui a extensão monumental dos papéis de Fernando Pessoa, mas nem de longe pode ser considerado um pequeno espólio documental: trata- 53 se do conjunto23 de mais de mil e cem documentos, muitos dos quais contendo dezenas de páginas manuscritas e/ou dactiloscritas, computando, invariavelmente, mais de dez mil imagens individuais que precisaram ser observadas – e muitas vezes decifradas – uma a uma, tarefa por si só de difícil execução e que, dado o número de documentos inéditos revelados e também outros que foram revisitados, ampliaram o objetivo inicial, que era o de promover um estudo da recepção do texto brandoniano a partir da correspondência recebida pelo escritor e de publicações veiculadas nos periódicos A Águia, Seara Nova e em jornais de circulação à época. No contato com a correspondência, que além de referendar a existência de relações com intelectuais revela novos correspondentes de Raul Brandão (a exemplo de António Botto, António Patrício, José Rodrigues Miguéis, Mário Beirão e de importantes figuras do movimento republicano), fui surpreendido na forma como as Memórias, livros de nuances memorialísticas, autobiográficas e historiográficas, ou ainda os volumes de teatro e os textos de viagens e paisagens (tal como As Ilhas Desconhecidas e Os pescadores) despertaram leitores apaixonados e, não raras vezes, frenesi nos jornais lisboetas e portuenses. Ao lado de um escritor profícuo, que se pode, sem medo, considerar um polígrafo, emerge o jornalista capital, que, mesmo longe da redação, espaço fundamental para sua formação literária e humanística na década de 1890, continua a dar vazão a uma estética muito particular de ver o mundo ao seu redor, seja por meio do impressionismo, seja do expressionismo, tão caros a Raul Brandão, e que o ligam particularmente à pintura, como de fato está, não apenas pela técnica de escrita, costumeiramente plástica, mas pela relação de longa data com o pintor Columbano Bordalo Pinheiro. 23 O inventário do arquivo, elaborado pela equipe da Biblioteca Nacional, dividiu os materiais encontrados em 1161 lotes de documentos, de tamanhos variados, embora a experiência in loco tenha apontado para o total de 1164 materiais. 54 É tarefa árdua rastrear quem primeiro sublinhou o expressionismo de Raul Brandão, apontado por Vitor Viçoso como uma estética “que teria as suas raízes numa das vertentes do imaginário decadentista: o dolorismo fantástico, voluptuoso e nocturno” (1999, p. 95).24 Encontram-se ecos não apenas entre os estudos acadêmicos, mas inclusive entre os leitores contemporâneos de sua escrita, como se pode ler em carta datada de 16 de janeiro de 1927 e remetida de Paris ao escritor da Foz do Douro: Raul Brandão pintor. Grande pintor, de uma hora para outra! Enfim, a pintura estava em ti, em sentimento e em arte. O colorista maravilhoso dos “Pescadores” e o profundo pintor naturalista dos “Pobres”, obra sem paisagem, que de um muro de pátio e de uma única árvore emparedada na sombra, conseguiu fazer uma dúzia de quadros à Rembrandt [.] Tinha dentro de si um pintor de gênio, sem dúvida. Para passar das palavras aos pincéis só lhe faltava a técnica. E faltava. Como diabo a teria ele adquirido, como se teria senhoriado (sic) dela? Este é o mistério que ninguém desvendará.25 O próprio Raul Brandão deu a tônica de sua literatura expressionista (“O autor envolve-o com uma aura expressionista”; VIÇOSO, 1994, p. 178) quando, por diversas vezes, apontou em seus textos uma predileção e interesse pela pintura, seja ela em claroescuro, seja nas pincelas coloridas das paisagens à beira-mar, sendo costumeira a aproximação escrita/pintura desde os tempos da crítica de formação. Há certa obsessão pelo uso das cores, por vezes contrastivas entre si como se, desse modo, o autor pudesse, ao pintar com as palavras, colocar o leitor diante de um mundo que é uma imensa tela cinzenta, representação pictórica de uma Europa embebida em melancolia, que raras vezes permite o entrar fortuito de uma cor mais vivaz em seus domínios. Todavia – volto à carta acima exposta –, o missivista parece não ter ciência de que Raul 24 Dentre os primeiros críticos portugueses, encontra-se Eduardo Lourenço (1993, p. 307 – citado anteriormente) e José Carlos Seabra Pereira (1995). 25 Carta inédita, cota BN D2/27, escrita por Filinto de Almeida (n. 1857, m. 1945). A ortografia dos originais está adaptada à norma brasileira ainda vigente no ano de 2012. Por questões técnicas, optou-se por incluir, na forma de apêndice, os manuscritos autógrafos e outros materiais também inéditos encontrados no arquivo brandoniano e aqui diretamente referidos. 55 Brandão há tempos convivia com o mundo das artes plásticas, como desvela carta de Columbano, enviada ainda em 21 de junho de 1896, ano em que, como se sabe, o escritor publicou a primeira versão da História dum Palhaço: “Já estou instalado no meu novo ateliê, n’aquele casarão, que você muito bem conhece. Tem uma luz lindíssima, não imagina, chega a ter um ar respeitável. [...] Peço-lhe que me escreva de quando em quando.”26 Na última carta enviada por Columbano Bordalo Pinheiro a Raul Brandão, datada de 4 de abril de 1928, na iminência da morte do primeiro, é revelado que o escritor da Foz avança nas técnicas de pintura, dedicando-se, à época, à pintura de flores, não mais à natureza morta ou à caricatura: “Soube pela carta da Senhora D. Maria Angelina, escrita a minha mulher, que o meu amigo se está agora dedicando ao estudo da pintura de flores. Tenho muita curiosidade de ver essa nova feição dos seus trabalhos”.27 A breve exposição da correspondência, que antecipa em si o estudo feito no arquivo literário brandoniano, tem por função evidenciar que a predileção de Raul Brandão por uma literatura essencialmente plástica não é acaso fortuito, e que a preocupação e o interesse que a pintura desperta no escritor pode ser mapeado, seja pelo material trocado, seja pelos textos que escreve desde a remota década de 1890, seja ainda pela análise que Raul Brandão faz sobre a pintura de Columbano, publicada na Revista d`Hoje, em janeiro de 1895, como elucida Vitor Viçoso: Já no artigo anteriormente focado, o seu elogio da pintura decadentista, exposta em Paris, contrastava com a crítica negativa que fazia à pintura portuguesa de então [...]. Ora, o que Raul Brandão [...] sobreleva na pintura do retratista português é essa capacidade de fuga à ‘educação da cor’, aos modelos cromáticos impostos institucionalmente e a adopção duma ‘visão pessoal’ noturna, saliente sobretudo nos retratos onde predominam as cores escuras e o fundo nego. (VIÇOSO, 1999, p. 97). 26 27 Cota BN D2/460, de autoria de Columbano Bordalo Pinheiro (n. 1857 – m. 1929). Cota BN D2/469, também de autoria do pintor português. 56 Não apenas em A máscara e o sonho (1999) Viçoso debruça-se sobre essa faceta da escrita brandoniana. Em artigo publicado nas Actas do Colóquio Ao Encontro de Raul Brandão, assevera: “o estigma decadentista-simbolista, que caracteriza a sua prosa, aproxima-se de um expressionismo grotesco, frequentemente carregado de tonalidades apocalípticas” (2000, p. 39, grifo meu), para completar mais adiante: “Na obra de Raul Brandão, o real é sobretudo um efeito de simulacro, e esta ilusão de contornos barrocos amplifica-se através de um atroz ou caricato desfile de máscaras” (Ibidem, p. 44, grifo meu). Para o crítico, o expressionismo surge como uma tendência crepuscular e contrasta de forma evidente com um simbolismo, que, em sua acepção mais à risca, encontrará menos repercussão em Portugal do que o decadentismo finissecular. É, portanto, na força da caricatura, no traçado em preto e dourado e numa plasticidade sustentada por uma capacidade cinética de base (quase) nula que Raul Brandão se apoia para moldar singular estilo que permeia sua obra desde a História dum Palhaço até aos últimos livros, como em O pobre de pedir. Na esteira de Vitor Viçoso, também Eduardo Lourenço (veja-se o comentário anterior sobre o tema), dedica-se ao estudo do expressionismo28 e sua presença no cabedal das estéticas do fim do século. O filósofo português aponta Fialho de Almeida e Raul Brandão como os legítimos representantes da tendência no seio da literatura portuguesa, ao destacar o papel cimeiro da escritura brandoniana: “O nosso ‘expressionismo’, na fraca medida em que existiu – e só a partir de Fialho podemos detectar sua presença – é um ‘expressionismo’ mais de ressentimento do que de afirmação, [...] ou do protesto humilde à Raul Brandão, autor, por antonomásia, dos Pobres.” (LOURENÇO, 2001, p. 32). 28 É precisa lembrar de que a tese de doutorado de Vitor Viçoso, que deu origem ao livro homônimo, foi defendida no ano de 1987, antes, portanto, de Eduardo Lourenço esboçar o seu pensamento sobre Raul Brandão e o cabedal expressionista do final do século. 57 É Jorge Valentim quem primeiro aponta, entre os críticos brasileiros, o diálogo intersemiótico que reside na literatura brandoniana, ao partilhar os agravos de Saturno com Columbano Bordalo Pinheiro, a quem o escritor do Porto dedica a primeira das versões de Húmus: Diante destas constatações da inquestionável importância de Columbano, enquanto homem e artista de Portugal oitocentista finissecular, entendemos a razão de, muito justamente, o autor de Húmus dirigir-se ao criador de Antero como Mestre e a ele dedicar a obra. Como o Mestre Columbano, Raul Brandão se debruçava sobre os seus personagens, apresentando-se como um típico retratista psicológico. [...] É sob o mesmo signo columbano da ambiguidade, da dualidade pictórica, que Raul Brandão recria e pinta [...] a realidade portuguesa finissecular (2004, p. 40-41). A positiva insistência de Valentim em abordar a relação especular entre as obras do eminente pintor e de Brandão parece encontrar seu ápice quando, ao discorrer sobre a importância da técnica do artista plástico na composição textual do autor de História dum Palhaço, sintetiza: “acreditamos que o Mestre Columbano é mais que homenageado. Ele é chamado para dentro do próprio texto” (Ibidem, p. 45). E adiante complementa: do “olhar cavernoso e catastrófico do Antero de Columbano, o autor de Húmus parece tirar o olhar grotesco, a atmosfera brumosa e a angústia ressentida do pensamento de Gabiru” (Ibidem, p. 46). Também Raul Brandão, em entrevista ao jornal Diário de Notícias de 7 de janeiro de 1927, explana sobre sua relação com a pintura, mostrando o modo pelo qual passou a fazer quadros a óleo, despertando estranheza e admiração entre escritores e artistas plásticos. Responde o autor, quando instigado pelo repórter: “Eu trouxe alguns desses quadros comigo, mas recomendei na minha casa que os escondesse, pois o mestre 58 Columbano podia aparecer por lá e rir-se de mim. Houve, porém, quem lhe fosse dizer que eu pintava. E no dia em que foi visitar-me quis ver os quadros”.29 O desvio até aqui foi longo, e, ainda sobre a relação Columbano/Brandão, voltarei oportunamente. De momento, é necessário retomar o impacto que tive ao estabelecer contato com o espólio brandoniano, sem me contradizer ou perder a coerência interna, uma vez que este próprio desvio só foi possível e engendrado a partir de documentos encontrados no arquivo. O conhecimento do acervo reescreveu os passos que se tinha para a investigação: Húmus cedeu o papel ao El-Rei Junot, à História dum Palhaco e às Memórias, posto que a correspondência e outros papéis que integram o espólio facultam perceber o destaque ocupado por esses textos no conjunto da literatura brandoniana. Logo, os temas e os símbolos, dispersos e evocados na leitura de Vítor Viçoso (1999), condensam-se na imagem do trapeiro, que, por vezes, toma a forma do clown/palhaço (do livro de mesmo nome): porta-voz do pessimismo e da melancolia decadentistas. O palhaço brandoniano, tal qual o trapeiro benjaminiano, emerge como arauto do fim-deséculo, espécie de anjo torto que não mais detém a sua auréola (BAUDELAIRE, 2002, p. 333: “a minha auréola, num movimento precipitado, escorregou-me da cabeça e caiu no lodo do macadame. [...] Julguei menos desagradável perder as minhas insígnias do que ter os ossos rebentados.”) e que se irmana com o anjo da história que Walter Benjamin vê a partir do Angelus Novus (de Paul Klee). Além das Memórias, tecido sintético (não por ser artificial, mas por ser síntese de uma estética plural) da produção literária brandoniana, em que todas as tendências e as temáticas se reencontram e se cruzam, a efabulação de fundo histórico, contraponto natural e definitivo ao argumento de que Raul Brandão não sabia escrever de forma estruturada, ganha relevo, assumindo-se como tema para capítulo desta pesquisa. Aliás, 29 Cota BN D2/939. Trata-se do rascunho da matéria jornalística, cujo título é “Raul Brandão: pintor”. A consulta aos arquivos do Diário de Notícias não se configurou como estritamente necessária à investigação. 59 é preciso ressaltar que não há, no Brasil ou em Portugal, investigações que priorizem El-Rei Junot ou Vida e Morte de Gomes Freire como obras dignas de interesse acadêmico. O trabalho com o arquivo literário permite tanto uma investigação de base genética quanto de caráter da recepção do texto de Raul Brandão – e sobre isto se discute mais adiante. No entanto, se se pensava em adentrar pelos meandros específicos dos arquivos literários, tornando, portanto, o acervo um objeto central da investigação, o contato com o espólio redimensionou os passos desta crítica, fazendo com que o desejo inicial de realizar um estudo da recepção crítica da literatura brandoniana, ao momento de sua veiculação, fosse substituído pelo interesse em investigar a percepção da história em textos literários menos difundidos do escritor. Outrossim, o arquivo de Raul Brandão, longe de ser peça acessória ao estudo proposto, conduziu a um amadurecimento crítico, a fim de que propusesse a tese e a hipótese principal dispostas em páginas anteriores deste capítulo, as quais se reiteram a fim de tornar ainda mais nítidos os caminhos projetados: (tese) a escritura de Brandão enseja a erosão do olhar monolítico e monocromático sobre a história trazendo nos textos literários El-Rei Junot, História dum Palhaço e Memórias uma visão particular de concepção de história, que põe em xeque as concepções alicerçadas no século do positivismo, porquanto (hipótese) partilhe com Walter Benjamin a obsessão por uma narrativa dos vencidos em detrimento dos vencedores,30 do micro em vez do macro, do fragmento em contrário à totalidade. Por conseguinte, o escritor utiliza-se no decurso de sua construção literária a 30 Ao lançar mão dos termos “vencidos” e “vencedores”, é preciso explicitar o que afirma Michael Löwy sob a perspectiva benjaminiana encampada entre as classes dominantes e as classes dominadas: “Ele [Benjamin] acusa o historicismo de identificação com os vencedores. Evidentemente, o termo ‘vencedor’ não se refere, aqui, às batalhas ou às guerras comuns, mas à ‘guerra de classes’, em que um dos campos, a classe dirigente, não cessou de vencer os oprimidos – desde Spartacus, o gladiador rebelde, até o Spartakusbund (Liga Espartaquista) de Rosa Luxemburgo, e desde o Imperium romano até o Tertium Imperium hitlerista.” (2005, p. 71). A observação faz-se necessária porque Raul Brandão escreveu grande parte de sua obra na iminência da guerra ou sob o signo da barbárie que a Primeira Guerra e o pós-1918 espalhou pela Europa. 60 imagem obsessiva da ruína e a alegoria do trapeiro, este como personagem funcional (e não personagem-tipo) que povoa não apenas História dum Palhaço, mas que subjaz e atravessa as obras eleitas para análise e interpretação. É necessário dizer que a manipulação de arquivos de escritores tem despertado interesse por parte da crítica especializada e de instituições e organismos que se preocupam em preservar a memória de uma escrita e de seu autor. Multiplicam-se no Brasil, em Portugal e ao redor do mundo redes de investigadores empenhados na (re)leitura de obras à luz de documentos inéditos ou simplesmente ignorados em virtude do contexto de uma prática da investigação literária que desprezava o potencial desses papéis. No célebre ensaio “A morte do autor”, o intelectual francês Roland Barthes (2004a) propõe um reposicionamento dos estudos literários, cujo novo foco deveria refletir um deslocamento, partindo da instância autoral em direção à função do leitor. Como resultado desse reposicionamento, o texto passa a ser o objeto central da investigação. O que poderia ser, em primeiro aspecto, lido como esvaziamento do autor – e, em certa medida, tal esvaziamento se refletiu nas investigações dos primeiros anos e décadas após a publicação do texto barthesiano –, é rediscutido pela crítica literária contemporânea como um redimensionamento, que acaba por tornar o estudo do texto o foco central das pesquisas e leituras críticas que se fazem a partir de então. Roland Barthes, por meio do sepultamento metafórico do autor, não busca o encerramento definitivo dos significados lançados a partir do emissor do texto, mas um equilíbrio necessário entre autor/texto/leitor. Por conseguinte, tendo em vista que o trabalho com arquivos literários feito pela crítica atual tem por objetivo último o manuseio do próprio texto literário em questão, o esclarecimento e o enriquecimento dessa crítica de texto, não há por que ter receio de 61 lançar mão de papéis arquivados, como se, ao manuseá-los, houvesse por resgatar do limbo o autor sucumbido por Barthes. Com o trabalho no acervo, emerge o desejo de desvelar o próprio texto literário, de tornar a interpretação mais densa e rica, lançando mão do conhecimento que reside nos manuscritos e datiloscritos, sejam eles do próprio autor, sejam de terceiros (sobre o autor). Foi este o espírito investigativo norteador: os papéis depositados na Biblioteca Nacional em Lisboa abrem outras perspectivas para a leitura critica da escritura brandoniana, entre as quais a de que o texto de Raul Brandão, antecipando-se às formulações teóricas que os historiadores do século XX tecem, rompe com a concepção de história em voga no positivismo do século XIX e torna a escrita literária em espaço de expressão daqueles que foram excluídos pela historiografia tradicional oitocentista. Ao autor de El-Rei Junot, História dum Palhaço e Memórias importa narrar os emudecidos. A pesquisa em arquivos literários não rejeita o postulado barthesiano de colocar a linguagem como plano primeiro da investigação, uma vez que, se essas práticas recorrem a questões da ordem dos bastidores da criação, o fazem para elucidar problemas de ordem textual. Além disso, a recuperação da noção de autor vem ganhando força desde as décadas de 1970 e 80, como salienta Rosa Maria Goulart (2001, p. 45); e estudiosos reunidos por ocasião do Coloquio Internacional Homenaje a Roland Barthes já apontavam, em seus escritos acadêmicos, evidências de que o autor continua agindo sobre o texto. Nessa esteira, diz Marília Rothier Cardoso: Hoje, com décadas de exercício de interpretação textual, os conceitos propostos por Barthes e seus contemporâneos perderam a radicalidade. Não é o caso de recuperar-se a autoridade do escritor, mas tem-se procurado rastrear as marcas de seu corpo, inscritas no texto, como índice de inserção história do mesmo. Quando se atenta para essa dimensão, fica patente que os traços datados do trabalho da escritura transportam, em seu deslizamento pela página, o conjunto de saberes e valores coletivos da cultura. Assim, longe de apresentarse neutro, o texto testemunha o conflito acirrado de forças históricas, 62 presentes na sua construção e desdobradas nos casos de sua divulgação (2003, p. 44). Desta feita, o que foi considerado lixo literário ou mero resíduo laboral do autor passou a figurar como material de trabalho para a linha de pesquisa que “combina o conhecimento dos arquivos com a perspectiva cultural”, em busca de “desenvolver uma vertente muito específica de crítica” (Ibidem, p. 44) que, ao reciclar os velhos papéis (CARDOSO, 2001), inova e reinventa, tirando-os da condição de espólio (morto e inútil) para o da constituição do arquivo ou acervo (vivo e útil), cuja função primordial é a preservação de determinado patrimônio cultural a fim de que os materiais encontrados sejam organizados, catalogados e disponibilizados a pesquisadores e estudiosos. A formação de acervos de escritores não segue um processo padronizado, único, e resulta da prática do colecionismo, pelo que se infere que o material que está sendo conservado possui valor histórico-artístico. Ivo Castro (1990, p. 13) propõe, embora sem se deter no tema, uma tripartição dos tipos de arquivos, classificando-os em artificiais (ou terciários), passivos e ativos. São terciários quando outrem, que não o próprio autor, acumula manuscritos dispersos, correspondências, notícias publicadas em jornais e revistas; passivos, quando resultam de coleção formada pelo próprio autor, que vai guardando seus papéis sem um objetivo definido e sem uma organização precisa; e ativos, quando o produtor dos materiais possui o objetivo claro de legar a coleção em formação à posteridade, organizando-a cuidadosamente. Sejam terciários, passivos ou ativos, os arquivos evidenciam uma nova concepção da obra literária e da figura autoral, motivo pelo qual se faz necessário que os materiais advindos da criação literária, e que circundam as esferas pública e privada da vida do autor, sejam colecionados e conservados, ação que ganha força, sobretudo, a partir do romantismo, quando a noção de autor, como a conhecemos, se estabelece. 63 A prática da manutenção e preservação de arquivos literários está atrelada a uma política de Estado, seja porque os materiais envolvidos são de interesse coletivo, seja porque é dispendioso custear-lhes a conservação. Além da consolidação da noção de autor e de obra literária no século XIX, o surgimento dos primeiros acervos dependeu da visão crítica de estudiosos que viram nesse tipo de material expressiva fonte de pesquisa, bem como de bibliotecas e instituições universitárias que acolheram a nova proposta de investigação e socialização desses materiais, forçando-os a serem colocados sob o manto do Estado moderno. Seja qual for o arquivo literário, podem-se encontrar, fundamentalmente, três tipos de materiais: 1. manuscritos autógrafos e idiógrafos; 2. apógrafos; 3. epitextos públicos e privados. Essa tripartição abarca a divisão, proposta por Genette, em Paratextos Editoriais (2009), em peritextos e epitextos, pois os manuscritos e os apógrafos estão repletos de informações peritextuais, que circundam o texto propriamente dito, tais como notas de rodapé, títulos de capítulos e livros, anotações à margem, dentre outras. O manuseio de acervos literários, com fins investigativos, depende do tipo de pesquisa que se pretende construir com os materiais analisados, mas, grosso modo, pode-se estabelecer a relação entre estudos de gênese e os manuscritos e apógrafos (peritextos), assim como entre as pesquisas de recepção de textos literários e os materiais peritextuais, sobretudo cartas trocadas entre escritores, artigos e resenhas publicados em jornais e revistas da época, entrevistas concedidas a veículos da mídia. Ainda no âmbito da contextualização do que vem a ser trabalhar com arquivos literários e, neste caso com o de Raul Brandão, algumas últimas e breves considerações sobre o tema são necessárias. Primeiro, que as investigações anteriores que se debruçaram sobre a prosa brandoniana não se beneficiaram da existência do acervo (organizado pela Biblioteca Nacional Portuguesa), uma vez que é somente por volta de 64 2008, embora as bobinas de microfilme datem de março de 2006, quando a presente tese começou a ser esboçada, que os materiais foram colocados à disposição do público interessado, embora seja verdade que eventuais buscas individuais nos papéis de Raul Brandão já tenham sido realizadas por João Pedro de Andrade (2002), em conjuntura teórico-investigativa bastante distinta da que nutre esta crítica, e que alguns contemporâneos do escritor tenham revelado, ao longo do tempo, documentos em suas posses. Segundo, que dado o volume de informações – tais como cartas enviadas para o escritor do Douro por intelectuais portugueses, leitores, críticos literários e editores estrangeiros, cartas amorosas de Raul Brandão à Maria Angelina Brandão, recortes de jornais e outros periódicos da época, manuscritos de diversos textos que revelam o processo de construção e realização da escrita, fotografias, acordos e dispositivos contratuais assinados entre o autor e casas editoriais, os abundantes cadernos de capa preta em que estão registradas as impressões sobre o dia-a-dia lisboeta e portuense a partir da visão do escritor, planos de realização de obras futuras e das que estavam em andamento, desenhos (caricaturas, sobretudo) e plantas baixas –, é imprescindível que investigações realizadas encontrem no acervo um suporte documental, atestando, para além de pormenores biográficos, concepções e ideias do escritor. Terceiro, que a presente investigação, quando recorre à articulação com o espólio do escritor, fá-lo investindo no trabalho com a correspondência (nomeadamente a que foi recebida pelo escritor) contida no acervo para, assim, tentar retirar da sombra certa parcela da obra de Raul Brandão. Foi esta que, ao final das contas e ao cabo de toda a pesquisa in loco, possibilitou a construção de uma visão analítica da obra, resultando na opção pela margem também no eu diz respeito aos textos literários. Daí o interesse em se fixar não mais no que o próprio Brandão designou de “A história humilde do povo 65 português”, como atesta Maria Angelina em entrevista a João Marques (ANGELINA BRANDÃO, 1952, p. 9), mas pelos textos que não têm sido ou foram objeto de perspectiva demorada. Qual é, portanto, o papel dado ao arquivo brandoniano nesta investigação? Comece-se por dizer que a eleição de El-Rei Junot, História dum Palhaço e das Memórias não reflete um caso fortuito. Ao contrário, a escolha das obras justifica-se por comporem, no conjunto, um painel amplo, ao mesmo tempo diversificado e integrado, dessa relação de meias paredes com a história, a qual subjaz no texto literário de Raul Brandão. O segundo livro, se não aponta, diferentemente dos tomos memorialísticos que o seguem, aspectos ou momentos históricos da sociedade portuguesa, traz à baila a imagem desse palhaço/trapeiro que é, a seu modo, uma alegoria do fim-de-século que experimenta uma crise histórica: envolto em brumas, embebido de melancolia, patético e grotesco como uma figura barroca, à beira do caos. O espólio é, desse modo, ponto de partida para que se ligue, em que pese uma leitura crítica do texto, a literatura brandoniana às teorias críticas da nova história, entre as quais ganha destaque o pensamento anti-historicista de Walter Benjamin, que insiste que é preciso “acordar os mortos e juntar os fragmentos” (1994, p. 226) daqueles que foram emudecidos pelo tropel dos vencedores, esses homens que “participam do cortejo triunfal, em que os dominadores [...] espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão” (Ibidem, p. 225). O escritor de Guimarães e o filósofo alemão partilham dessa sensação apocalíptica e fragmentária de uma história em ruínas, em que os mortos e os vencidos são silenciosamente esquecidos, o que se pode evidenciar, por exemplo, a partir de fragmentos das teses “Sobre o conceito da história”: “O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo 66 não tem cessado de vencer.” (BENJAMIN, 1994, p. 224-225). E não se pode conceber o historiador também como o escritor que se preocupa em dar “um salto de tigre em direção ao passado” (Ibidem, p. 230) para tornar esse passado redimível, citável e memorável, para que fique, enfim, a salvo da manipulação dos dominadores? No arquivo do escritor, verifica-se que muitos foram os missivistas para quem o palhaço converteu-se em alegoria-chave da narrativa de Raul Brandão. Parece-me que é, portanto, com a publicação deste segundo livro31 que a escrita brandoniana se firma como prática consciente de pensar o próprio texto e pensar a exterioridade de uma sociedade portuguesa e europeia em convulsão. Observe-se esta carta inédita, datada de 25 de maio de 1926, ano de publicação da edição refundida da obra em questão: Recebi o seu formoso e simpático livro [, pelo] que sinceramente lhe agradeço [,] e que guardarei como uma lembrança aparte, entre tantas outras que a si me prendem. Apesar de continuar muito doente já li uma grande parte do volume, que é um dos mais belos que têm saído de sua pena. Se não estou em erro, o meu amigo retocou algumas passagens da edição primitiva. Refiro-me, em especial, à Morte do Palhaço, que, lida após tantos anos agora, sobre a leitura que outrora fiz, me parece mais emocionante e mais intensamente dramático. Seja como for, o livro é ótimo e, através dele, continua a afirmar-se o raro temperamento do seu autor, verdadeiro prescutador (sic) de almas.32 Ao dizer que a escritura de Raul Brandão possui a capacidade de perscrutar, de investigar as almas, o missivista aponta para a perspectiva psicológica da narrativa brandoniana, em que constrói personagens plenos de conflitos, emparedados entre a dor (o real) e o sonho (o desejo). Não é justamente esta a tônica da História dum Palhaço de 1896? Não reside neste texto caracteristicamente finissecular uma espécie de testamento ou legado literário da geração de 1890, da qual o escritor da Foz do Douro fez parte e na 31 Impressões e Paisagens, vindo a lume na data de 1890, é o primeiro livro do escritor, editado pela tipografia de A. J. da Silva Teixeira. Exclui-se desta sequência de obras o opúsculo Os Nephelibatas, pela particularidade de ser obra coletiva, além de não trazer em sua capa a assinatura do escritor, embora a leitura do texto permita forte evidência de uma matriz literária brandoniana no corpo do texto. 32 Carta inédita, cota BN D2/18, datada de 25 de maio de 1926 e escrita por António José de Almeida (n. 1866, m. 1929), político republicano e sexto Presidente da República. 67 qual se formou? Há no arquivo de Brandão missiva datada de 10 de novembro de 1926, portanto alguns meses após a carta apresentada anteriormente. O documento foi redigido por Justino de Montalvão na esteira da edição refundida da História dum Palhaço e, da mesma forma, apoiada ainda nas edições que eclodiram nesse ano particularmente profícuo para o escritor.33 Justamente ando a acabar de escrevinhar uma imensa papelada que te diz respeito. Imagina tu que comecei (como sabes) por fazer o prefácio para a Morte do Palhaço que te tinha anunciado. Mas de tal modo foi inchando, inchando que em vez dum prefácio dá um livro. Nesse livro, que tenho quase pronto – em vez de tratar só da tua obra , comecei a meter tudo o que me vinha à mente [,] tudo o que me vinha vindo à cabeça sobre a nossa mocidade. E de tal maneira a imaginação foi tecendo, tecendo... [...] Vou pois publicar um livro (um volume de cerca talvez de 150 páginas) junto ao que tinha primeiro escrito com a intenção do prefácio – toda a história pitoresca da nossa geração, com este título genérico “Os Insubmissos”. Será uma série da qual o primeiro é o volume em que falo de ti. O segundo será referente ao Nobre, etc.34 A carta é bastante longa para ser transcrita na íntegra. O que se continua a observar nas páginas que seguem é como a narrativa de História dum Palhaço continua a ecoar nas produções seguintes de Raul Brandão e como o texto em destaque é peçachave para a leitura da poética brandoniana. Guilherme de Castilho (2006) considera-a uma obra de transição, vista ainda desta forma pela crítica de reabilitação. Vitor Viçoso debruça-se sobre ela, na perspectiva de uma narrativa decadentista, em cujo interior desnuda-se “certa falta de coerência ou de lógica organizativa, parecendo, por vezes, mais uma desconexa acumulação de textos – uma coleção de ‘papéis’ escritos ao sabor de inspirações momentâneas” (1999, p. 157). 33 As Ilhas Desconhecidas. Notas e Paisagens (Aillaud & Bertrand, 1926), A Morte do Palhaço e o Mistério da Árvore (Seara Nova, 1926: 2ª edição refundida), Jesus Cristo em Lisboa (Aillaud & Bertrand, em colaboração com o poeta Teixeira de Pascoaes). 34 Carta inédita, cota BN D2/325, escrita por Justino de Montalvão (n. 1872 – m. 1949), que foi ministro plenipotenciário da República, no ano de 1925. 68 Vista sob esse prisma, a refundição de 1926 efetua outra estruturação interna (que, afinal, não é tão diferente assim nas duas edições da obra), mas não se encarrega de lhe conferir outra roupagem que não a de papéis colados, numa espécie de narrativa anárquica, que tem em seu bojo a proposta do trapo, do fragmento, do desequilíbrio, do desajuste, da própria ruína materializada textualmente. No entanto, para que se possa ler História dum Palhaço por esse viés é preciso revestir-se de um intuito que se afaste da preocupação estrutural e buscar cada vez mais outros olhares a partir da escritura brandoniana. Volto, portanto, à pergunta lançada anteriormente: qual o papel conferido ao arquivo de Raul Brandão no interior desta pesquisa? O texto que se construiu até este passo parece ser a própria resposta: ser suporte, ser ponte, fonte que fecunda e enriquece o estudo do texto. Se, no percurso da investigação, parte-se da imagem do palhaço para questionar a forma como a matéria histórica subjaz ao texto literário, não é o livro de 1896 a única obra em que se analisa detidamente o texto brandoniano. A complexa teia emaranhada entre os escritos literários e os escritos históricos na narrativa de El-Rei Junot e os três volumes das Memórias, livro que tem, para além do teor literário, o valor de representar historicamente os anos conturbados do início do século XX, completam o corpus literário da análise. Sobre o conjunto de textos ora proposto pesa um silêncio incompreensível por parte da crítica, que, quando os interpretou, o fez a partir de pressupostos claramente filiados à crítica de formação, hoje distante do valor que se tem conferido ao texto de Raul Brandão. É inquirindo a prosa historiográfica disposta nas páginas de El-Rei Junot, problematizando a alegoria neobarroca da história que se fixa como imagem finissecular na História dum Palhaço, e questionando a intrincada relação entre escrita memorialística e escrita (auto)biográfica no relato dos momentos finais monarquia e 69 primeiros anos da República portuguesa (Memórias, em três tomos) que a presente investigação se desenvolve. Em acordo com a ordem aqui explicitada, os capítulos subsequentes encarregam-se da leitura crítica dos livros, percorrendo distintos caminhos teóricos com o intuito de evidenciar que, para Raul Brandão, “nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história.” (BENJAMIN, 1994, p. 223). 70 Capítulo II A TENTAÇÃO HISTÓRICA A corte portuguesa era nessa época um paraíso de delícias fáceis: a existência moldava-se no tipo das cortes italianas, com excepção das orgias de punhal e veneno. O paço era um teatro: o rei comia, adormecia, ouvia os conselheiros para tratarem dos negócios públicos ao som de músicas permanentes. [MARTINS, Oliveira. História de Portugal, 1987.] 71 Neste passo da investigação, analisa-se a prosa historiográfica de El-Rei Junot. Inicialmente, dedica-se ao estudo teórico das fronteiras entre as narrativas literárias e históricas. Entretanto, a maior parte do capítulo é dedicada à leitura crítica do livro publicado em 1912, em que se discute a manifestação intuitiva da latência histórica na obra de Raul Brandão. A primeira e a última seções estão ligadas por um intermezzo, que, sem desejar deter-se demasiadamente nas questões de gênero literário, apresenta conteúdos necessários à análise apresentada na sequência, tais como romance histórico, drama histórico e ainda “história como drama”. 2.1. Fronteiras das narrativas Há muito que a relação entre literatura e história é alvo de especulações. Aristóteles debruçou-se sobre o tema, buscando articular de que forma poesia e história apresentavam pontos divergentes. O filósofo antigo legou à sociedade ocidental a concepção apriorística de que o discurso poético35 distingue-se do discurso histórico. Uma vez que o primeiro, por se debruçar sobre questões mais universais, atinge um patamar superior, o segundo, por outro lado, é classificado como produção mais vizinha ao mundo particular dos homens, da observação da verdade.36 Aristóteles, menos que apontar a relação dicotômica entre poesia e história, legou à poesia – e à literatura, sua herdeira conceitual, sobretudo a partir do século XVIII37 – o posto cimeiro das faculdades linguísticas do homem no seu processo de representação: 35 Aprofundar os conceitos esboçados por Aristóteles não é objetivo desta investigação. Por isso, não se faz uma definição precisa do termo ficção na forma que a utiliza o filósofo grego, bastando, portanto, que o vocábulo possa substituir, momentaneamente, o conceito de literatura. Ao passar ao largo dessa discussão de bases aristotélicas, busca-se avançar para questões mais específicas elaboradas ao longo da segunda metade do século XX e que, portanto, apresentam-se como mais úteis ao estudo da produção de Raul Brandão. No entanto, para maiores esclarecimentos, o livro de Luiz Costa Lima (2006) é de valor inquestionável por repousar no estudo teórico da representação literária o seu interesse de estudo. 36 Teresa Cristina Cerdeira da Silva, em introdução à tese de doutoramento defendida na Universidade Federal do Rio de Janeiro e publicada pela editora Dom Quixote, lança suas suspeitas de que o discurso histórico é o da procura da verdade, em oposição ao discurso literário na sua especificação como ficção: “E o discurso ficcional não seria, também ele, uma procura da verdade feita através da visão mágica que a criação permite? Pelos caminhos da ciência e da arte, da razão e da emoção, não pretende o homem chegar a um ponto comum – o da revelação do mistério de existir? “(SILVA, 1989, p. 24). 37 Vítor Manuel de Aguiar e Silva recupera a história do conceito de literatura, ponderando que “foi na segunda metade do século XVIII que, em virtude de importantes transformações semânticas, o lexema literatura adquiriu os significados fundamentais que ainda hoje apresenta: uma arte particular, uma 72 Pelas precedentes orientações se manifesta que não é ofício do poeta narrar o que aconteceu; é, sim, o de representar o que poderia acontecer, quer dizer: o que é possível segundo a verossimilhança e a necessidade. Com efeito, não diferem o historiador e o poeta por escreverem verso ou prosa (pois que bem poderiam ser postos em verso as obras de Heródoto, e nem por isso deixariam de ser história, se fossem em verso o que eram em prosa) – diferem, sim, em que diz um as coisas que sucederam, e outro as que poderiam suceder. Por isso é a poesia algo de mais filosófico e mais sério do que a história, pois refere aquela principalmente o universo, e esta o particular. (ARISTÓTELES, 1992, p. 53-55). Ao formular o conceito de verossimilhança, na forma de mecanismos estruturais implícitos que conferem ao texto poético38 unidade e coerência, Aristóteles reserva para o domínio da história o que julgou estar em plano inferior, isto é a noção de real, ou melhor, de verdade histórica. O moderno conceito de literatura absorveu os pressupostos aristotélicos, tornando-se patente, sobretudo, nos séculos iluministas, a distinção entre literatura (divertimento) e ciências (conhecimento). Sendo, portanto, espaço da arte, é somente na literatura que reside o divertimento, não no sentido a que Umberto Eco acertadamente adverte (“Divertir não significa di-vertir, desviar dos problemas. [...] Divertindo-se, de certo modo aprendeu.”; ECO, 1985, p. 48), fazendo lembrar os preceitos da Poética: “Eu, grande admirador da poética aristotélica, sempre pensei que, apesar de tudo, um romance deve divertir também e sobretudo através da intriga.” (Ibidem, p. 49). específica categoria da criação artística e um conjunto de textos resultantes desta actividade criadora.” (1993, p. 10). Da forma como o conceito de poesia e literatura distinguiram-se, acrescenta: “Dentre de tal condicionalismo, não era possível impor a designação genérica de poesia a uma produção literária em que avultavam cada vez mais, quer sob o aspecto quantitativo, quer sob o aspecto qualitativo, os textos em prosa. Poesia passou a designar prevalentemente os textos literários que apresentavam determinadas características técnico-formais ou então passou a designar uma categoria estética susceptível de qualificar quer obras artísticas não-literárias, quer determinados aspectos e manifestações da natureza ou do ser humano. Tinha de se adoptar portanto outra designação genérica mais extensiva. Essa designação foi literatura.” (Ibidem, p. 12-13). 38 Na extensão desta investigação utilizar-se-á, a partir deste passo, o termo literatura em substituição ao poético, usado por Aristóteles. 73 O romance a que o ensaísta italiano refere-se é de sua própria autoria, O nome da Rosa.39 Nesse sentido, fundindo, portanto, literatura e história, ainda assim a capacidade de divertir não está anulada, porque o entendimento caminha no sentido de que a história também pode ser divertimento: “Um século depois de apagar-se, recolhida atrás das opacidades da erudição, a história séria fazia assim sua entrada no campo das produções literárias de grande consumo.” (DUBY, 1993, p. 108). Os pensamentos de Eco (1985) e Duby (1993) encontram-se na perspectiva de que o primeiro se propõe a escrever um romance histórico e o segundo a escrever uma história como romance, história como narrativa em que a expressão literária está inalienavelmente incrustrada. Claro está que se a distinção proposta na Poética de Aristóteles balizou, por muito tempo, os caminhos teóricos para o debate das relações entre literatura e história. Essas veredas vêm sendo reavaliadas à medida que a expansão dos estudos históricos no século XX, sobretudo na segunda metade, questiona a distinção que há tempos inquieta os teóricos da literatura. No entanto, o que pode parecer uma insistência despropositada, posto que seja pacífico que a antiga dicotomia (literatura versus história) já não suporta a ruptura das fronteiras a que a modernidade nos obriga, é, ao contrário, necessário quando se observa que há muito que problematizar nas relações entre literatura e história. É da própria complexidade da linguagem que representa (ou imita, se se preferir), que advém a polêmica contenda, das mais atuais no aspecto teórico: 39 Se, como esclarece Umberto Eco, a trama de O nome da Rosa é constituída sobre as bases de um romance policial (“Só me restava escolher [...] a mais metafísica e filosófica, o romance policial”; 1985, p.45), o processo de construção da narrativa obedece aos modelos do romance histórico: “Na verdade, não decidi apenas contar sobre a Idade Média. Decidi contar na Idade Média, e pela boca de um cronista da época.” (Ibidem, p. 19). Mais adiante, esclarece os meandros da escritura do romance, discorre sobre as especificidades do romance histórico, em que diz do próprio livro: “a Idade Média é a nossa infância no estilo de Excalibur. Nesse caso, o problema é outro e não pode ser ignorado. Que significa escrever um romance histórico? Creio que existem três maneiras de contar o passado.” (Ibidem, p. 62). Em outro passo do ensaio, afirma: “Nesse sentido certamente eu queria escrever um romance histórico” (Ibidem, p. 64). 74 Hoje se derivou para a história do cotidiano, história das sensibilidades. Há muitos nomes que podemos dar a esse esforço, que acho notável, de enriquecer os conteúdos mesmos. Mas, apesar desse reconhecimento, eu ainda tenderia a dizer que a ficção, incluindo o que pode ser, incluindo o imaginário, incluindo a poiesis, é diferente. (BOSI, 2001, p. 140). Se, como sublinha Alfredo Bosi, há uma salutar diferença entre o discurso da literatura e o registro da história, por outro, é ponto pacífico que o século XX experimenta uma tendência ao apagamento das fronteiras entre os gêneros40 históricos e literários. Por conseguinte, em função do caráter interdisciplinar em que esta investigação se fundamenta, é produtivo abandonar, momentaneamente, a contenda pelo nosso lado de conforto – o dos estudos literários – e lançar-se pela seara da teoria e dos métodos da história a fim de pavimentar o caminho para o desenvolvimento desta crítica sobre a obra de Raul Brandão. Pode-se indubitavelmente sublinhar que a ficção penetrou os domínios do discurso histórico, esse “discurso sobre o passado [que] é uma elaboração presente de um determinado sujeito sobre os factos passados” (SILVA, 1989, p. 24), fato patente desde que, no ocidente, interessou-se por ambientar as narrativas em tempos pretéritos. Resulta daí, também, a história penetrar a seara da ficção. Dos mais significativos exemplos a que se pode remeter é o caso da produção histórica de Michelet – “poeta da mais orgânica criação político-moral do Ocidente” (LOURENÇO, 1988, p. 94) – para quem a história é “o espaço mágico da ressurreição do passado, que só pode ser atingida através do encontro com o poético” (Ibidem, p. 25), ou ainda o de Georges Duby (1993), que, em A história continua, dá a conhecer notável labor (meta)historiográfico, compondo a sua escrita da história e enlaçando-a ao discurso literário. Se o ensaísta 40 Walter Mignolo suscita que a narrativa histórica possa ser considerada como um gênero particular de narrativa: “E há alguma dúvida de que a questão entre literatura e história é um caso de fronteiras e de configurações discursivas (ainda que não adequadamente) identificadas como “gêneros”? (MIGNOLO, p. 2001, p. 126). 75 francês da nova história traça um percurso híbrido, na confluência de uma teoria da história e do registro autobiográfico de seu ofício de historiador, destaca ainda que os livros de história caíram no gosto do grande público leitor, tornando, eles próprios, objetos de entretenimento: “Um século depois de apagar-se recolhida por trás das opacidades da erudição, a história séria fazia assim sua entrada no campo das produções literárias de grande consumo.” (DUBY, 1993, p. 108).41 Com efeito, essa concepção moderna da escrita da historia tornou-se possível, sobretudo, pelo esforço intelectual de um grupo de historiadores, que, reunidos em torno da revista Annales d`histoire économique et sociale, fundada em 1929 por Lucien Febvre e Marc Bloch, preocupou-se, entre outros aspectos, com “o problema da dialética do tempo curto e do tempo longo” (VOVELLE, 2005, p. 123), tentativas de construções teóricas que sinalizaram a abertura de novos paradigmas da história e dos próprios estudos da área, como assevera Jacques Le Goff, ao assinalar que a nova história almeja ser uma História dos homens, de todos os homens, não unicamente dos reis e dos grandes. História das estruturas, não apenas dos acontecimentos. História em movimento, história das evoluções e das transformações, não história estática, história quadro. História explicativa, não história puramente narrativa, descritiva – ou dogmática. História total, enfim... Esse programa da história nova, que tem mais de dois séculos, vai ser retomado por Chateaubriand e Guizot na primeira metade do século XIX. (2005, p. 52). Essa nova concepção pressupõe que o historiador desempenha uma ação interventiva na escrita da história e que esta é, pois, um tipo particular de escrita, 41 Registra Georges Duby: “Num ensaio de ‘ego-história, já expus em outra ocasião o meu itinerário profissional, mas muito brevemente, limitando-se às circunstâncias, às quais não preciso voltar aqui, e sem falar verdadeiramente do meu ofício. Pois é do que falarei agora, sobriamente, familiarmente. Falarei, melhor dizendo, do nosso ofício, pois vamos todos pelo mesmo caminho, nós, os historiadores, em companhia dos especialistas de outras ciências humanas. [...] O mesmo vento nos empurra, e geralmente navegamos em conjunto. Em conseqüência, esta história não é apenas minha. É a história, que se estende por meio século, da escola histórica francesa.” (1993, p. 7-8). Quem pode contestar o valor histórico dessa escrita? 76 enquanto a história é, ela própria, escritura, por vezes se aproximando do ensaio, gênero incerto em que a literatura rivaliza com a análise (cf. BARTHES, 2004b). Compreender o papel da École des Annales na formulação de novos paradigmas na concepção da história é fulcral para que se possa enxergar o fato de que entre o texto literário e o texto histórico há certo elo inolvidável. Peter Burke assevera que uma “definição categórica não é fácil” (1992, p. 10), que “a nova história é a história escrita como uma reação deliberada contra o ‘paradigma’ tradicional” (Ibidem); que representa uma renovação na percepção de todo o campo da história e da historiografia, rompendo com o que “poderíamos também chamar [...] de a visão do senso comum da história, não para assinalar que ele tem sido – com muita freqüência – considerado a maneira de se fazer história, ao invés de ser percebido como uma dentre várias abordagens possíveis do passado” (Ibidem). A oposição das ciências às letras parece frágil. Todavia, é nessa corda-bamba que a Teoria da História vem nutrir suas reflexões, mostrando as contradições e inconsistências de um saber que é antigo como Heródoto, o “primeiro narrador grego” como lembra Walter Benjamin (1994, p. 203). Saber que se reinventa com frequência, faz-se e desfaz-se, recua e avança, mas que apenas na primeira metade do século XIX adquire status de disciplina acadêmica. Heródoto inaugurava, mesmo sem o desejar ou ter ciência de que o fazia, “essa História política que é, por um lado, uma histórianarrativa e, por outro, uma história dos acontecimentos, uma história fatual (sic), teatro de aparências que mascara o verdadeiro jogo da história, que se desenrola nos bastidores e nas estruturas ocultas” (LE GOFF, 2005, p. 40). Heródoto contribuiu para essa história ao assentar a primeira pedra da história-monumento, tecendo a história dos grandes feitos. 77 Por sua vez, Walter Benjamin ajuíza: “O historiador é obrigado a explicar de uma ou outra maneira os episódios com que lida, e não pode absolutamente contentar-se em representá-los como modelos da história do mundo. É exatamente o que faz[em] [...] os cronistas medievais, precursores da historiografia moderna” (1994, p. 209). Desta maneira, o narrador da história atua de forma ativa sobre o texto histórico, não mais se contentando em contemplar os fatos do passado, porque se dá conta de que já não é mais possível “realizar o velho sonho do historiador positivista: assistir passivamente à produção ‘objetiva’ da história pelos documentos” (LE GOFF, 2005, p. 70). É proveitoso relembrar Adorno (2003, p. 55), quando se refere ao romance contemporâneo: “Do ponto de vista do narrador, isso é uma decorrência do subjetivismo, que não tolera nenhuma matéria sem transformá-la, solapando o preceito épico da objetividade”. Escrever a história é, mesmo a contragosto, intervir. Nessa esteira, pode-se dizer que o historiador contemporâneo é aquele que antes ou depois dos Annales contesta o modelo rankiano de história monumental e estática, que atua na cena da história porque a tenta recriar, porque a filtra, porque busca encontrar não somente uma causa-efeito linear como leitor que só percebe a primeira camada do texto, mas que é capaz de conectar os pequenos tecidos da história, indo e voltando ou cobrindo as lacunas, quase sempre se apropriando do dever de interpretar, fugindo ao olhar inocente do historiador arrogante: “o historiador precisa ‘interpretar’ o seu material, preenchendo as lacunas das informações a partir de inferências ou de especulações” (WHITE, 2001, p. 65). A mera existência dos fatos não faz a história, e, por isso, “torna[-se] imperativo considerá-los na indissociável coesão que os reúne se queremos compreender o funcionamento do sistema” (DUBY, 1993, p. 13). Ao considerar a história como tipo particular de narrativa, em que a necessidade da interpretação se faz patente, vêm à mente os modelos esboçados por Northrop Frye e 78 explicados por White (2001). O trabalho do historiador é, portanto, dotar a massa disforme e amorfa da história de um suporte em forma de texto; ou, de forma mais precisa, de um gênero ou moldura em que o texto cumpra o papel que lhe é imbuído. Frye enxerga na produção dos historiadores oitocentistas íntima relação entre gêneros literários e intenção historiográfica, como se, ao tomar a forma do romance, da tragédia, da comédia ou da sátira, a história neles se emoldurasse, servindo-se da literatura como fio norteador. Há diversos modos de urdir os fios do texto histórico, que vão além da escolha do gênero em que se vai concretizar o relato. Implica necessariamente “preencher as lacunas do registro por meio de uma dedução dos fatos que ‘devem ter ocorrido’, a partir do conhecimento dos fatos que se sabe terem efetivamente ocorrido” (WHITE, 2001, p. 76). Michelet narra a Revolução Francesa na forma do romance enquanto Tocqueville representa o mesmo período na forma da tragédia: feituras diferentes porque os dois historiadores têm concepções distintas sobre os caminhos da história europeia – caminhos que contribuíram para desembocar em 1789 – e também os que se esboçaram a partir da data referencial. Ora, ao escolher o romance e não a tragédia, Michelet assume o caráter interpretativo de sua historiografia. Não se afirma, entretanto, que pensar o texto histórico como artefato literário é prerrogativa do historiador francês – muito ao contrário. Todavia, menos ainda se deve afirmar que o exemplo de Michelet não é apropriado, uma vez que pode ser considerado como propositor de modelo que foge às regras da ciência e que, portanto, aproxima-se dos ideais literários. Avulta saber que “a maioria das seqüências [...] pode ser contada de inúmeras maneiras diferentes, de modo a fornecer interpretações diferentes daqueles eventos e a dotá-los de sentidos diferentes” (Ibidem, p. 101). O historiador estabelece contato com registros escritos, orais, pictóricos, mas eles não falam por si. É preciso interpretá-los, moldá-los, 79 aproximando, em nossa contemporaneidade, a escrita da história ao processo de elaboração do ensaio. A história da França não é intrinsecamente heroica, irônica ou trágica, assim como a história do Brasil e da chegada dos europeus às terras ameríndias não é necessariamente a história dos vencedores ou a história dos vencidos, a história da vitória do modelo civilizacional sobre a cultura da barbárie e da ignomínia. No entanto, os que escrevem esse período da história – o das grandes navegações – estão investidos de um olhar europeu: ou porque são europeus, ou porque se formaram em escolas em que o pensamento europeu, emergente na forma do etnocentrismo, vigora. Silviano Santiago declara: “Vemos, portanto, que as descobertas [...] e a posterior ocupação das terras [...] serviram não só para alargar as fronteiras visuais e econômicas da Europa, como também para tornar a história europeia em História universal, História esta que, num primeiro momento, nada mais é do que estória, ficção, para os ocupados” (1982, p. 16). Ao tratar da unidirecionalidade do relato histórico, o crítico brasileiro põe o dedo na questão da interpretação da história. Contudo, Michelet não é caso isolado. Também os annalistes, no exercício de narrar a história – que é, afinal, o ato de pôr a linguagem em movimento para construir modelos (narrativas) possíveis daquilo que se quer retratar –, recorrem ao imaginário. Essa ruptura, da qual a nova história é uma das mais significativas perspectivas de se enquadrar o objeto histórico, parece ecoar – ou ainda produzir-se paralelamente – na filosofia da história de Walter Benjamin e na obra de Raul Brandão, ambos pensadores do início do século. Benjamin e Brandão operam fraturas no modo positivista de compreender a história e sua narrativa, mesmo que o façam por caminhos diferentes mas com análoga intuição de que é preciso narrar uma história dos vencidos, em desfavor dos vencedores, portanto. Nessa esteira, El-Rei Junot é o texto de partida para 80 que se evidencie de que forma matéria histórica e expressão literária se articulam de modo a marcar significativa ruptura com os padrões estético-literários e historiográficos do século XIX. 2.2. Intermezzo Disposto numa plêiade de possibilidades de estruturação, não é de se estranhar que Umberto Eco vislumbre três formas de narrar o passado, matéria da qual se constitui um dos mais conhecidos gêneros literários que articulam matéria histórica e expressão literária. Opto por problematizar esse tipo particular de romance porque, como é desenvolvido ao longo deste capítulo, embora a escritura de Raul Brandão (sobretudo no El-Rei Junot) não possa ser definida pelo gênero ora exposto, é plausível que seja considerada por alguns estudiosos como manifestação particular que tem no romance histórico um ponto de articulação teórico-crítico. O ensaísta italiano distingue modos diferentes de construir o passado nas molduras da narrativa literária: o primeiro, lança mão “[d]o passado como cenografia, pretexto, construção fabulística, para dar curso livre à imaginação” (ECO, 1985, p. 62); o segundo, como texto que “escolhe o passado ‘real’ e reconhecível [...] para torná-lo reconhecível [e povoado] [...] de personagens já registrados na enciclopédia”, fazendolhes “realizar certar ações que a enciclopédia não registra [...] mas que também não a contradizem” (Ibidem, p. 62-63); e o último modo, a que define como romance histórico, atribuindo ao desempenho das personagens o papel primordial na configuração do gênero: “O que os personagens fazem serve para compreender melhor a história, aquilo que aconteceu. Acontecimentos e personagens são inventados, entretanto dizem sobre a Itália da época coisas que os livros de história disseram com tanta clareza.” (Ibidem, p. 63-64). O conceito de Umberto Eco sobre romance histórico 81 sinaliza na direção que György Lukács expõe na sua ensaística, pautando-o na produção literária de Walter Scott como modelo inicial do romance histórico no contexto europeu: Ambos os críticos evidenciam a função estratégica das personagens no âmbito da composição: É óbvio que Scott não aplica essa forma de figuração apenas às grandes personagens representativas, historicamente autênticas e universalmente conhecidas. Ao contrário, em seus romances mais importantes, o papel de destaque é desempenhado justamente por personagens históricas desconhecidas, históricas apenas em parte ou puramente fictícias. (LUKÁCS, 2011, p. 55). O romance histórico, tanto sob o ponto de vista de Umberto Eco, quanto pelo viés de Lukács, partilha tacitamente que não se pode narrar um passado recente.42 Ao menos, esta é uma das prerrogativas fundamentais do que se concebe por romance histórico tradicional, admitindo-se, portanto, que à maneira do romance, esta forma complexa que se reinventa constantemente,43 o romance histórico não se funda na homogeneidade da forma com que o passado é representado. À parte as especificidades de O nome da Rosa, em que o tempo da enunciação e o tempo da ação estão ambos recuados no passado (mas, mesmo assim, é um Adso velho que narra os acontecimentos decorridos à época da juventude), importa observar, com Lukács, que o romance histórico “não se trata do relatar contínuo dos grandes acontecimentos históricos, mas do despertar ficcional dos homens que o protagonizaram.” (LUKÁCS, 2011, p. 60). No âmbito da literatura portuguesa, Alexandre Herculano é quem primeiro se projeta pela escrita na forma de romance histórico. No conto “O Bispo Negro (1130)”, 42 Esclarece Maria de Fátima Marinho, quando trata da diegese do romance histórico de Walter Scott: “O hiato de sessenta anos marcaria assim a distanciação suficiente não só para criar uma boa perspectiva crítica, mas também para afastar o momento da enunciação (que idealmente seria também, grosso modo, o da leitura) do tempo em que decorre a acção.” (1999, p. 11). 43 Da multiplicidade de forma que admite o romance no século XX, justamente quando Raul Brandão escreve El-Rei Junot, assevera Jean-Yves Tadié: “O romance no século XX vai de uma afirmação a uma negação, de uma presença amontoadora a uma ausência total, de um imenso ruído a um silêncio quase completo. Duas tendências parecem compartilhar o género ao longo do século: uma consiste em abalar as convenções objectivas da ficção para dar à voz do autor uma extensão proliferante; a outra, pelo contrário, abole essa fala para anunciar a morte do escritor e talvez da escrita.” (1992, p. 11) 82 mais que narrar a tensão entre o príncipe Afonso Henrique e a Santa Sé, personificada na figura do cardeal D. Bernardo, e que resulta na eleição de outro bispo, este obediente às ordens do intempestivo governante, Herculano assume a preocupação em resgatar a história de Portugal, tornando-a literária e, por conseguinte, acessível ao leitor com o intuito de restituir a verdade dos fatos: Se a história se contenta com o triste espetáculo de um filho condenado ao exílio aquela que o gerou, a tradição carrega as tintas do quadro, pintando-nos a desditosa viúva do conde Henrique a arrastar grilhões no fundo de um calabouço. A história conta-nos o facto; a tradição os costumes. A história é verdadeira, a tradição verosímel; e o verosímel é o que imporá ao que busca as lendas da pátria. (HERCULANO, 1998, p. 247-248). A escritura de Alexandre Herculano, na busca por recuperar o passado distante de Portugal, engendra o projeto estético do romantismo português. O imaginário mítico da nação, consolidado no oitocentos, constitui-se, em grande parte, graças aos esforços despendidos pelo romancista, que julga, com sua escrita interpretativa (e de bases documentais), a possibilidade de que a história portuguesa seja resgatada, restituindolhe à monumentalidade que a historiografia positivista persegue. Remexendo entre o factual e o ficcional, corrobora o princípio aristotélico, segundo o qual a distinção fundamental entre os dois gêneros (i.e, literário e histórico) é a de que “diferem, sim, em que diz um as coisas que sucederam, e outro as que poderiam suceder” (ARISTÓTELES, 1992, p. 53, loc. cit.). Herculano intentava que o leitor absorvesse o texto como restituidor da verdade histórica. O projeto histórico que o movimenta é, em princípio e grosso modo, o intento que também moverá Oliveira Martins: debruçar-se sobre o fato como categoria fundamental da historiografia, buscar a relação de causa e efeito nos acontecimentos, narrar, na linearidade possível, a história (in)interrupta da nação lusitana desde a fundação, e, quase sempre, buscar as origens do povo português 83 antes mesmo do advento de Portugal como primeiro Estado moderno europeu. A diferença fulcral reside em que o olhar romântico enaltece a nação, busca “descobrir o perfil do nosso rosto, a cor da nossa aventura no conjunto da aventura maior da História, no grande espelho [...] da Civilização” (LOURENÇO, 1988, p. 98), ao passo que o filtro realista busca no fluxo do passado as causas para a decadência instalada44. Sobre o viés nacionalista de produção historiográfica do novelista do romantismo, observa-se: Quando, no século XIX romântico, Alexandre Herculano investe na história e na ficção como formas de revigorar o seu presente através de um projecto de restauração do passado, elege, entre muitos outros, esse tempo da Dinastia de Avis para aí buscar uma das casas fundadoras da nacionalidade que é o próprio Mosteiro da Batalha. Historiador e ficcionista ele próprio, escreve o texto que fará do monumento arquitectónico a metáfora concreta da história nacional nas lutas pela independência portuguesa. Mais que isso, transforma o monumento no livro em que se inscreve a história do artista. (CERDEIRA, 2000. p. 22-23). Fato é que, na escrita de Lendas e narrativas – e poder-se-ia dizer que em quase toda a sua produção –, a expressão literária se sobrepõe à matéria histórica45, residindo a estruturação do texto no desejo de restaurar o passado – monumental, como lembra Teresa Cristina Cerdeira (2000). Para fazê-lo, preenche as lacunas deixadas pelos que escreveram o tempo passado na nítida direção de interpretar a história portuguesa como uma narrativa heroica. O conto “O Bispo Negro (1130)” é seminal quando se pensa na formulação do herói no romance histórico de Alexandre Herculano, posto que a figuração do príncipe leva ao entendimento de que é graças ao empenho e força política de Afonso Henriques que o Estado pôde nascer. 44 Ao longo da análise de El-Rei Junot esboça-se o cotejo entre Oliveira Martins e Antero de Quental, lembrando que o primeiro deve ao segundo a visão pessimista da história portuguesa como Estado decadente no contexto peninsular, também em decadência. 45 Sobre o componente intrinsecamente efabulativo na sua composição histórica, Maria de Fátima Marinho sublinha: “Se, por um lado, o estudo da História apaixonou intelectuais românticos, ao ponto de Herculano, por exemplo, ter percorrido o país à procura de documentos que esclarecessem a vida medieval portuguesa, por outro, não é menos verdade que uma certa efabulação com base histórica, isto é, a criação de universos, simultaneamente fictícios e referenciais, foi também uma constante de um período específico do Romantismo europeu e português.” (1999, p. 53). 84 A orientação histórica ensejada no texto literário reforça as bases para o recrudescimento do absolutismo monárquico, demonstrando que é no fortalecimento do poder régio que também se fortalece a nação. Como se depreende, o romance histórico de Herculano privilegia a representação de acontecimentos do passado distante, propositadamente esquecendo-se do descalabro trazido pela Dinastia de Borgonha. O texto do romancista romântico investe na individualização do herói como categoria narrativa capaz de dar unidade e sentido à restauração do passado. Apenas representando um passado distanciado parece ser possível intervir de tal modo na configuração da personagem que, ao fazê-lo, o romancista não comprometa a “ilusão da verdade num mundo inventado” (MARINHO, 1999, p. 35). Talvez seja esse, aliado à orientação de dignificação do passado nacional, o motivo que direcione Herculano à escrita de um passado medieval. Também Umberto Eco (1985) elegeu a Idade Média como objeto de sua reflexão, aliando à vantagem conferida pelo distanciamento a pesquisa histórica meticulosa de que se utilizou para construir os ambientes, as personagens, o próprio modo de pensar naquele tempo das catedrais46. Esta configuração corresponde ao modelo tradicional do romance histórico, mas este não é, como bem salienta Eco (1985), a única estrutura possível, mas pode ser o ponto de partida para o estudo de El-Rei Junot. Lukács ensina que o romance histórico inglês, notadamente o de Walter Scott, busca sempre o caminho do meio como forma de representar o equilíbrio político e econômico da Inglaterra ao longo de séculos em que a Europa mergulha em crises e guerras (“O ‘herói’ do romance scottiano é sempre um gentleman inglês mediano[.]”; LUKÁCS, 2011, p. 49). A narrativa de El-Rei Junot, entretanto, parece configurar-se como proposta de leitura historiográfica dos extremos, repleta de momentos dramáticos, 46 A ambientação referida contribui para a constituição do sentido de “colorido local”, como intui György Lukács (2011, p. 69), ao qual se pode definir como “um simulacro do passado, mas que nunca o pode nem pretende reproduzir.” (MARINHO, 1999, p. 36). 85 assim como, na sua constituição, abandona o protótipo do herói do romance romântico, individualizado e psicologicamente lapidado. As personagens da narrativa, quando figuradas de forma precisa, são objetos do escárnio do narrador, que deles lança mão na busca de um padrão eminentemente histriônico, beirando o deboche. Na sua escritura, os monumentos são abalados, as bases do edifício nacional soçobram, restando ao escritor retratar o homem português em seus conflitos. De certa forma, a escritura de Raul Brandão afasta-se de um marco institucional de concepção da história para abraçar os agentes de uma história em ruínas. Por isso, não me parece que se possa considerar El-Rei Junot romance histórico, porque não o é, não ao menos nos moldes que a teoria do romance concebeu. Se, no romance de Walter Scott, “a necessidade histórica é sempre um resultado” (LUKÁCS, 2011, p. 79), a narrativa brandoniana abre-se para a necessidade histórica como pressuposto, ponto de partida: à história como ornamento sobrepõe-se a história como forma, como matéria dramática. Raul Brandão tem por intuito narrar os agentes do período das invasões napoleônicas, desmonumentalizando a história, buscando a ruptura com o viés positivista que norteia a prática historiográfica no século XIX. Sem propor-se a uma narrativa da luta de classes, o escritor estrutura El-Rei Junot em torno “[d]o conflito de forças sociais em seu ponto mais extremo e agudo” (Ibidem, p. 125), qual seja: a tensão entre vencedores e vencidos. Daí que seja proveitoso observar o “nexo na vida entre o conflito dramático e a convulsão social” (LUKÁCS, 2011, p. 127) presente na obra. A forma dramática é eminente conhecida de Raul Brandão, seja na ordem específica do teatro, seja na teatralização a que os textos se submetem. No entanto, como pensar um conceito de drama histórico? Ou seria mais propício apontar a história como drama, a história como teatro de um mundo em crise? 86 O conceito de drama histórico, “expressão por que são comummente (sic) apelidados os dramas da autoria dos chamados românticos da primeira geração e que tentaram dar um qualquer enquadramento histórico às tramas tecidas” (VASCONCELOS, 2003, p. 45), é, certamente, menos conhecido que o de romance histórico; seja porque os estudos literários elegeram a forma do romance entre as prioridades de suas análises, seja porque o drama é um conceito que se avizinha do teatro enquanto gênero literário específico, seja porque corriqueiramente se confunde com “dramalhão”47, forma exagerada, que de alguma maneira remete à imagem distorcida que se tem do barroco na literatura. A rigor, e para fins de baliza estéticoliterária, o drama histórico encontra em Almeida Garrett, com o Frei Luís de Sousa, modelo mais bem lapidado do gênero em Portugal, como explica Luiz Francisco Rebello: “A uma primeira, e linear, leitura, Frei Luís de Sousa é um drama histórico no sentido mais abrangente da expressão, uma vez que na sua base estão factos e pessoas reais extraídos de um passado ‘comparativamente recente”. (2007, p. 38). Deve-se acrescentar, a fim de esclarecer os limites a que o autor do romantismo se impôs na hora de resguardar-se quanto às exigências de objetividade e veracidade históricas perseguidos à época, que Almeida Garrett opera o texto dramático “suprindo lacunas ou alterando alguns dados, sempre que a necessidade da efabulação dramática a isso compelia” (Ibidem, p. 38-39), com o fito de evidenciar a “consciência da nossa fragilidade histórica” (LOURENÇO, 1988, p. 85). Daí que o autor construa uma obra que é “fundamentalmente a teatralização de Portugal como povo que só já tem ser imaginário (ou mesmo fantasmagórico) – realidade indecisa, incerta do seu perfil e lugar na História.” (Ibidem). 47 Para maior esclarecimento sobre o subgênero conhecido como “dramalhão”, observar a valiosa contribuição de Luiz Francisco Rebello (2007) em estudo sobre o drama histórico em Portugal. 87 György Lukács também se debruça sobre o conceito de drama histórico, reconhecendo-lhe importância entre as formas literárias do século XIX: Entretanto, justamente em razão do novo sentido atribuído à história muitos escritores puderam dar a suas figurações ficcionais uma tal quantidade de detalhes empíricos, de fatos simples, que a necessidade histórica, em sua plenitude, só podia aparecer de modo abstrato. Pois toda potência ou necessidade histórica figurada no drama é abstrata, em sentido ficcional, quando não se incorpora de modo adequando e evidente em homens concretos, em destinos concretos de seres humanos. (LUKÁCS, 2011, p. 139). Da forma exposta, o ensaísta húngaro aponta o drama histórico como forma – é delicado atribuir-lhe o estatuto de gênero, porquanto salienta Ana Vasconcelos que esse tipo de produção, em que predomina a expressão literária sobre a matéria histórica, resulta “da confluência de duas componentes – história e Ficção – que, à partida, se situam em esferas opostas e de difícil articulação48” (VASCONCELOS, 2003, p. 26) – abstrata em que, à semelhança do romance histórico, a matéria histórica serve de ornamento ao texto literário. No entanto, o texto de El-Rei Junot não se quer matéria abstrata, pois é sobre a história que essa escrita se espraia. Estamos, portanto, diante de caso singular na literatura portuguesa do início do século XX, em que se pode partir do pressuposto de que Raul Brandão constitui sua prosa historiográfica nas raias da expressão literária, não o contrário. A parte isso, a narrativa brandoniana está repleta de valor estético e é sobretudo por sua qualidade literária que importa à investigação. 48 Frederic Jameson argumenta na mesma direção, imputando ao romance histórico a necessidade de suave articulação entre o histórico e o ficcional: “O romance histórico não deve mostrar nem existências individuais nem acontecimentos históricos, mas a intersecção de ambos: o evento precisa trespassar e transfixar de um só golpe o tempo existencial dos indivíduos e seus destinos. A esse respeito, gosto de citar o grande poema de Brecht: ‘Ó vicissitudes do tempo, vós, esperança do povo!’etc.” (2007, p. 92). Desta forma, pode-se caminhar, com mais segurança, na distinção entre romance histórico e drama histórico. 88 2.3 El-Rei Junot, a história como drama Neste olhar sobre El-Rei Junot, dentre as abordagens que se fazem necessárias, a composição estrutural da obra não é menos interessante. O escritor de Guimarães construiu a narrativa na forma de dez capítulos, em que se podem ler não apenas quadros da história portuguesa, mas também uma análise acurada do cenário europeu nos anos imediatamente posteriores à Revolução Francesa. Para tanto, não abriu mão de erigir posicionamentos críticos e interpretativos a partir do subsídio de toda a plêiade de papéis com que se depara no decurso da pesquisa histórica. Convém assinalar que Raul Brandão utiliza o primeiro capítulo da obra, a que atribui o título de “Introdução”, para pavimentar o aparato teórico que sustenta a concepção de história que norteia o livro. Não obstante se leia que “A história é dor, a verdadeira história é a dos gritos” ou, ainda, que “Todo o século XVIII resume-o na luta da Revolução contra fórmulas arcaicas” (BRANDÃO, 1982, p. 19), Guilherme de Castilho (1982), em estudo introdutório à obra, reafirmando opiniões exaradas quando da publicação de Vida e Obra de Raul Brandão, como se verá mais adiante, concebe ElRei Junot mais como biografia49 que literatura em que a história se infiltra. Aliás, na direção oposta à que sustento, Castilho afirma: “De facto, se na história da nossa literatura existe escritor em que se congreguem os traços marcantes do que se poderia chamar o anti-historiador, esse escritor é por certo Raul Brandão.” (CASTILHO, 1982, p. 9-10). Não se deve enveredar por uma leitura crítica que distancie o escritor das suas faculdades de historiador [ou de, no mínimo, severo admirador da matéria histórica, sobre a qual se debruça, mesmo que de forma ainda não profissional]50, posto que, como 49 Guilherme de Castilho (1982, p. 12) sugere, sem se aprofundar no tema, que El-Rei Junot pode funcionar como biografia do general francês a serviço das tropas napoleônicas, como se, desse modo, solucionasse a tensão que o ensaísta enxerga entre a matéria histórica e a escrita literária. 50 Mais adiante, ver-se-á que, por pouco, Raul Brandão não abraçou a historiografia como objeto privilegiado de sua ocupação, tornando-se historiador a serviço do governo de Portugal. 89 elucidado ao longo da primeira seção deste capítulo, as fronteiras entre literatura e história são fluidas e, em todo o caso, a presença da matéria histórica não elimina as potencialidades literárias no bojo do texto que se inscreve. A recepção que o livro mereceu quando de sua publicação permite ainda verificar que os leitores de El-Rei Junot não identificaram no hibridismo de sua composição fatos que por si sustentassem polêmicas de ordem genológica. Ao contrário, alguma crítica veiculada em jornal de grande circulação dá a impressão de que Raul Brandão se beneficia do estatuto de escritor (de textos literários) da mesma forma que tenta se firmar como historiador, aproximando-se de Michelet, cuja historiografia se avizinha da forma romanesca: Dirão os que têm da História a velha noção hierática e sisuda, que Raul Brandão não faz história, porque faz romance. Mentira. As personagens que lhe dançam entre os dedos enolavinhados aparecem tais como são. Não se lhe encobrem as mazelas. Mas também não se lhes empanam as virtudes. A História deve ser assim – justa. [...] Há nas páginas deste livro um tal sabor a Michelet que faz bem ver como ainda em Portugal há quem saiba olhar bem o passado e tratá-lo e interpretá-lo com grandeza. 51 Ainda no que diz respeito à ideia de história que se delineia no capítulo introdutório de El-Rei Junot, distingue-se o modo como Raul Brandão concebe a história a partir de um processo permanente de revolução. É certo que os estudos históricos também foram impactados com os acontecimentos nos anos finais do século XVIII, em Paris, sobretudo porque ficou patente aos historiadores que o abalo do Antigo Regime, o soçobrar do edifício social e político que vinha regendo as relações sociais na França (ainda em parte herdeira do rígido sistema de classes que vigorou durante o feudalismo), implicou pensar a escrita da história não mais como suave correr 51 A afirmação foi extraída de recorte de jornal que integra o espólio de Raul Brandão, aparentemente registrado sob a cota D2/39. É preciso sublinhar que não foi possível a leitura precisa do código referente ao espólio. 90 do fio dos acontecimentos, mas como série de abalos, desordens e transformações que, embaraçando o novelo da duração,52 demonstram que o homem não possui poder sobre a história, não a domina e não a sujeita, daí que ganhe força a ideia de uma histórianatureza.53 Em 1789 não é um trono que cai, não é só o mundo exterior que desaba – é o mundo interior que rui para sempre. Até Goethe, o frio Goethe, se comove; Klopstock reza, e Kant, o de ferro, di-lo Michelet, sai do seu caminho (toda a vida, às mesmas horas, como um pêndulo, passeia absorto no mesmo sítio) sai do seu caminho e do seu sistema e interroga, pergunta, quer saber. (BRANDÃO, 1982, p. 31). A imagem que Raul Brandão dá a conhecer, na esteira de sua obsessão pela ruína, põe em relevo os rumos que a historiografia, sobretudo a de origem francesa, seguiu nos anos seguintes aos da revolução burguesa. Se, de um lado, havia os historiadores apocalípticos, por outro recrudesceu a compreensão de que era preciso defender a idéia de progresso, divergindo, inclusive, da abordagem histórica no texto brandoniano, para quem a matéria não pode ser abordada sob o partidarismo do positivismo:54 “A defesa do progresso após a Revolução Francesa tinha de resultar necessariamente em uma concepção que demonstrasse a necessidade histórica da Revolução Francesa” 52 Para não alongar na discussão do conceito, importa explicitar que o utilizo de acordo com as proposições de Marc Bloch (2001, p. 60), nas quais se permite depreender que o tempo é apenas a percepção que o ser humano tem do fenômeno da duração. 53 Sobre este conceito, a presente investigação deter-se-á apenas no terceiro capítulo desta investigação, quando da realização de um drama barroco alemão e da teoria benjaminiana da história. 54 Embora esta tese dialogue com as teorias e métodos da história, não é sobre os estudos históricos que assenta. Daí que se traga, neste espaço, o comentário de Georges Duby sobre a história e o positivismo: “Quando comecei meus estudos universitários, a história ainda não se desvinculara da missão messiânica que começara a assumir na Europa muito cedo, já no século XII, quando ainda estava a serviço de uma teologia, quando, impressionados com o permanente recuo das terras incultas, a extensão das aglomerações urbanas, o enriquecimento rápido dos negociantes e a audácia dos construtores de igrejas, os sábios que meditavam sobre o curso dos acontecimentos na clausura dos mosteiros convenceram-se pouco a pouco de que o mundo criado não é tão mau, de que se torna cada dia mais radioso, pelo esforço dos homens, e de que o gênero humano não é arrastado aos solavancos, em meio a suores e angústias, em direção às glórias e tormentos sobrenaturais, mas que vai em frente, num passo firme, pelos caminhos da Terra. Encontrava-se aí o gérmen de uma crença num progresso material que é necessário orientar, para que conduza à felicidade. Este gérmen, plantado durante a primeira fase do crescimento econômico da Europa, amadureceu, e ao ter início a segunda fase, na era das Luzes, esta crença desabrochou, impondose. Pois continuava de pé nos anos trinta.” (1993, p. 77-78). 91 (LUKÁCS, 2011, p. 43). Também Raul Brandão, na compreensão de que “a história passou a se interessar menos pelos fatos que pelas relações” (DUBY, 1993, p. 59), estabelece analogias entre as diversas nações europeias acometidas pelas invasões napoleônicas – ou, ainda, antes e depois do período revolucionário (1789-1798) –, quase que numa espécie de comparatismo entre os quadros históricos, fazendo ler nas páginas de seu livro retratos da resistência na Espanha e o apoio capital oferecido pela Inglaterra à coroa portuguesa, não sem interesses particulares. Em todo o caso, cumprindo momentaneamente uma historiografia dramática, em que a escrita da história não pode ser pontual por ser rede textual, o escritor oferece ao leitor passagens de significativo valor estético: Um velho barco de madeira largara das costas de Inglaterra no século dezassete. Aproa a América. Leva dentro um bando de perseguidos. São pobres mulheres, de mãos delicadas, fidalgos que vão arrotear a terra, abrir alicerces, construir casas, através duma existência incerta. Atravessam o mar. Que pesa na existência do mundo e na convenção das cortes o velho barco Mary Flower, perdido na escuridade da bruma, com um bando de heréticos a bordo? (BRANDÃO, 1982, p. 28). No seu ofício de narrador, resgatando o período da colonização da América pelos “peregrinos do Mayflower”55 (LOURENÇO, 2001, p. 47), rememorando a “grande vaga migratória do fim do século passado e do princípio do nosso século”, quando “o inglês vai para os Estados Unidos, como o português para o Brasil” (Ibidem, p. 50-51), Raul Brandão põe em relevo, outra vez, a figura dos proscritos, dos excluídos da história. A narrativa desses homens e mulheres, vítimas da intolerância religiosa dos séculos posteriores à Contrarreforma, só pode ser focalizada sob a influência de um escritor que 55 Ao utilizar-se do nome Mary Flower para nomear o navio que transportou os peregrinos da Inglaterra até a costa do que viria a ser os Estados Unidos em vez de Mayflower, Raul Brandão cai em erro, conforme evidencia a citação de Eduardo Lourenço, no ensaio “A nau de Ícaro ou o fim da emigração” (2001). 92 afastou o positivismo para abraçar as tendências finisseculares. Distingue-se o modo como o escritor apreendeu as angústias e as apreensões das populações do novo mundo, sobretudo por reforçar a dificuldade da navegação com o uso de substantivos, tais como “escuridade” e “bruma”. Nessa “existência incerta”, atravessando o mar para unir as duas margens do Atlântico, o autor de El-Rei Junot faz com que o leitor estabeleça laços de empatia com os peregrinos ingleses, que, tal como os portugueses nos séculos XV e XVI, viajaram “Por mares nunca de antes navegados” (CAMÕES, 2000, p. 1). A imagem dos desgraçados que deixaram a Inglaterra, país que, ao olhar de Raul Brandão, se esbate entre “o mar, as esquadras, os cofres abarrotados de oiro e um misto de ódio, de orgulho e de sonho” (BRANDÃO, 1982, p. 44), remete ao imaginário desse território-Ilha, condição geográfica que valeu à nação mais rica da Europa de então a proteção natural contra os ataques de Napoleão. Se, no século XVII, os ingleses aportavam de ilha em ilha, partindo de Londres em direção ao vasto oceano, também os portugueses, superado o período das navegações, viveram a sua nação prolongadamente em decadência, como navio à deriva. É indispensável lembrar, neste sentido, dos versos de Fernando Pessoa, quando diz na Mensagem: Nem rei nem lei, nem paz nem guerra Define com perfil e ser Este fulgor baço da terra Que é Portugal a entristecer – Brilho sem luz e sem arder, Como que o fogo-fatuo encerra. Ninguém sabe que coisa quer. Ninguém conhece que alma tem. Nem o que é mal nem o que é bem. (Que ancia distante perto chora?) Tudo é incerto e derradeiro. Tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro. 93 É a Hora!56 (2008, p. 126) O sentimento que se desprende do poema aponta para uma nova oportunidade que se abre com o prenúncio do Estado Novo, ao mesmo tempo em que pode ser interpretado como desejo de redenção messiânica do passado português por meio da instauração de um governo de características sebásticas (“Quando termina Mensagem, glosando pela última vez a litania da nossa imemorial inconsciência, Pessoa julgava ainda que chegara a Hora, o momento da vinda do novo rei Sebastião de que ele fora o João Baptista moderno”; LOURENÇO, 1988, p. 116), que seria concretizável apenas com a improvável restauração de uma história aurática de um passado dinástico glorioso – talvez o de Avis, casa que conduziu a nação pelos caminhos nevoentos do mar –, ou ainda como insinuação de “que a nossa história literária nos últimos cento e cinquenta anos [...] foi orientada ou subdeterminada [...] pela preocupação obsessiva de descobrir quem somos e o que somos” (Ibidem, p. 83). Se a Inglaterra assume a imagem da nação mercante, desse novo porto que liga a Europa à América, ilha também é o país disposto na costa ocidental da Península. A ilha portuguesa engendra a percepção de cerceamento, de isolamento, e é ilha em que pulula o imaginário lusitano: Portugal como território místico, refúgio do rei encoberto. Quanto mais acuada pelas guerras napoleônicas, mas se recorre ao metafísico. No momento crucial do processo histórico português, em que o príncipe D. João e a corte estão ausentes e o general Junot assume, improvisadamente, as funções de rei, recrudesce o sentimento nacional, rememoram-se as incertezas do passado, incita-se o povo à resistência e a acreditar na providência messiânica de um rei encoberto57: “Na 56 A grafia e a fixação do texto estão de acordo com a edição crítica organizada por Cleonice Berardinelli e Mauricio Matos (PESSOA, 2008). 57 Sobre a presença do sebastianismo neste livro de Raul Brandão, deter-se-á mais adiante, ainda que não de modo específico ou com o detalhamento que a matéria poderia exigir, caso se tratasse de uma investigação sobre o imaginário português. 94 alma desta gente há pingos de cera, [...] e não sei que estranhos restos de sonho extinto, que por vezes remexe, [...], cisma sem tom nem som, na ilha encoberta, em D. Sebastião, numa claridade vaga e imensa” (BRANDÃO, 1982, p. 127). No intuito claramente dramático de Raul Brandão, quando se propõe a expor a história dos humildes e dos vencidos, nada parece ficar solto no conjunto de sua obra, não há espaço para aleatoriedades. A despeito de a matéria histórica ocupar um espaço desprivilegiado por parte da crítica brandoniana especializada, como se reiterou ao longo do primeiro capítulo desta investigação, o percurso historiográfico do autor engendra uma unidade poucas vezes verificável, quando se trata de sua escritura. Se em El-Rei Junot, pode-se ler que “A pior revolução está ainda por fazer – é a dos desgraçados” (BRANDÃO, 1982, p. 24), é nas Memórias que essa revolução por-se-á nas ruas, seja na forma das personagens que experimentam os anos finais da monarquia portuguesa e saem às ruas para tornar possível a proclamação da República a 5 de outubro de 1910, seja na forma com que o escritor também modifica o tratamento até aqui dispensado ao conteúdo histórico no âmbito da literatura portuguesa. Parece ter sido Jacinto do Prado Coelho o pioneiro a estabelecer uma intrínseca relação entre o que se pode designar por levante dos vencidos e o tempo histórico em que o escritor de Guimarães escreveu parte significativa de sua produção literária, mirando sempre o antes, o durante ou depois da catástrofe da Primeira Guerra mundial, da qual Portugal tomou parte: “Na primeira edição, a obra [Húmus] termina pela descrição duma insurreição universal dos oprimidos, de proporções épicas, finalmente esmagada pelas classes dirigentes, que instauram a ditadura” (1996, p. 299). Da mesma forma que no livro de 1917, em El-Rei Junot o levante dos vencidos, desses seres esfarrapados, não chega a concretizar-se, mas lança o gérmen da revolução silenciosa que os pobres, na escritura brandoniana, almejam alcançar. 95 Claro deve ser que não proponho que o escritor de El-Rei Junot seja alçado à categoria de melhor ou mais bem lapidado detentor de uma concepção da história, em substituição a Alexandre Herculano ou Oliveira Martins, mas que, diferentemente desses, Raul Brandão já sinaliza o benefício de uma série de pensamentos críticos e teóricos sobre uma história que relativiza, a partir de então, a sintaxe linear do processo histórico e a tendência pujante do progresso. Esses posicionamentos sobre uma história em franca renovação entranham-se, sobretudo, no meio universitário, com destaque para o francês, e a partir deste para o restante da Europa pós-Revolução de 1789. Se, como permite a leitura do conto “O Bispo Negro”, Herculano põe em relevo a personalidade individual de Afonso Henriques58, para quem o príncipe é vulto maior da nação, o autor de El-Rei Junot retira das mãos da coroa ou da Igreja a capacidade de conduzir o país para colocá-la nas mãos do próprio povo português, a quem em sublevações por todo o território nacional, cumpre levar Portugal ao êxito na resistência às invasões napoleônicas. Tampouco a figura de Napoleão ou de seus generais de primeira linha ocupam em plenitude as páginas desse livro, que ironicamente carrega o nome de um militar ensandecido. Em seu delírio e arrogância, Junot presume ser possível que o soberano francês o proclame rei de Portugal: “Cada um, mesmo as figuras subalternas, segue entre as galas e a ópera, a sua própria ambição. Junot cisma em ser rei, Ega em ser ministro, Loison no oiro, Delaborde nos quadros...” (BRANDÃO, 1982, p. 154). No entanto, são poucos os momentos em que é dada a palavra ao general Junot, figurando, quase sempre, a sua presença no texto de forma indireta, por meio de relatos dos populares, homens do povo: “Está doido. Em 1792 acertou-lhe uma bala na cabeça; outra em 1796. Daí em diante sofreu sempre. As 58 Assim registra o texto de Alexandre Herculano: “Aproxima-se o meado do duodécimo século. O príncipe de Portugal Afonso Henriques, depois de uma revolução feliz, tinha arrancado o poder das mãos de sua mãe. Se a história se contenta com o triste espetáculo de um filho condenando ao exílio aquela que o gerou, a tradição carrega as tintas do quadro, pintando-nos a desditosa viúva do conde Henrique a arrastar grilhões no fundo de um calabouço.” (HERCULANO, 1998, p. 247-248). 96 primeiras excentricidades manifestaram-se quando governador de Paris. Tempo antes da invasão já Marbot lhe notara a alucinação do olhar...” (Ibidem, p. 203). No seu fazer literário, Raul Brandão desloca a imagem histórica inicial atribuída a Junot para reescrevê-la sob um olhar que, permeado por uma escrita irônica, se alicerça numa história ao mesmo tempo lírica e histriônica.59 Talvez seja por essa dupla peculiaridade que Guilherme de Castilho não corrobora a autonomia da produção de cunho histórico no todo da obra brandoniana, no que afirma: Assim, de certa maneira, a sua obra histórica é a continuação, o prolongamento, na dimensão histórica, da sua obra dita novelística. Se esta é uma tentativa de sondagem do humano no plano intemporal, aquela é um prolongamento dessa mesma sondagem com raízes no passado. (2006, p. 319). É difícil chegar a uma equação que permita estabelecer o equilíbrio entre a pesquisa histórica e o caráter essencialmente literário do texto de El-Rei Junot, assim como de outras produções do escritor, a exemplo do prefácio e notas de O Cerco do Porto – Pelo Coronel Owen, publicado na Renascença Portuguesa em 1915. De certa forma, a crítica literária reluta em admitir a feição híbrida de significativa porção da escritura brandoniana. A tentação histórica a que alude Maria de Fátima Marinho em sua análise do livro de 1912, em cotejo com Vida e Morte de Gomes Freire (“De 1912 a 1915, [...] deve ter sentido uma espécie de tentação histórica, que aliás se enquadrava perfeitamente no gosto e nas tendências da época”: MARINHO, 2005, p. 135), não se revela pontual no percurso literário de Raul Brandão e não me parece poder ser admitida pela crítica como extensão ou mero prolongamento de sua produção canônica, a exemplo do que ajuíza Guilherme de Castilho (2006). Essa latência histórica está presente desde os primeiros escritos e, se isso não for suficiente para uma defesa do 59 As evidências textuais que levam a pensar a história em Raul Brandão atrelada ao lírico e ao histriônico são empreendidos mais adiante desta leitura crítica. 97 lugar que a matéria histórica deve ocupar nos estudos brandonianos, os documentos encontrados no espólio depositado na Biblioteca Nacional, em Lisboa, permitem observar como o escritor relacionou-se com a matéria histórica. Em um manuscrito sem datação,60 o escritor deixa entrever o plano geral de sua obra, dividindo-a em partes de acordo com o gênero literário ou com o modo narrativo, atribuindo à “História da guerra peninsular” o projeto de 2 volumes, do qual o segundo certamente não se consumou.61 Importa ainda ressaltar que, da segunda parte do primeiro volume, cujo sumário está disposto no manuscrito, o autor atribui títulos provisórios às seções, arrematando o livro nas páginas sobre “O acordar dum povo” – título que por si valoriza o interesse brandoniano pelo processo histórico: “A revolução é sempre um desenlace: estava feita antes de começar.” (BRANDÃO, 1982, p. 28). A tentação histórica acompanhou Raul Brandão até o final da vida, como evidenciam cartas e documentos oficiais datados de 1930, ano em que o autor de El-Rei Junot foi encarregado pelo Ministério da Instrução Pública de escrever a história das províncias ultramarinas,62 em diversos volumes, com o fim de atender à demanda crescente na educação básica. O que chama a atenção são as feições de expedição que nortearam a demanda, interrompida apenas pelo agravamento da doença e consequente 60 Trata-se do documento registrado sob a cota D2/725, contendo 3 páginas inéditas do autor de Guimarães. O inventário do espólio de Raul Brandão organizado pela Biblioteca Nacional estima que o manuscrito autógrafo seja do ano de 1903. 61 Pouco se pode dizer de como o autor executou, no campo da expressão literária, os volumes planejados para sua “História da guerra peninsular”. O mais provável é que tenha atingido o objetivo condensando tudo num único volume, este que é peça desta análise. 62 Atente-se para o fato de que a ideologia do Estado Novo já se instalava na política de relações internacionais portuguesa. O documento inscrito sob a cota D2/668, de autoria de Armando Cortesão (n. 1891 – m. 1977), com esboço de documento a ser enviado ao Diretor da Agência Geral das Colônias em 19 de dezembro de 1929, confirma o interesse do escritor de Guimarães por escrever uma história da África com o projeto intitulado Portugal Maior. Diz o remetente: “Raul Brandão, que é capitão reformado da Infantaria, solicita o soldo e a gratificação da atividade e oficial em serviço (sic) nas colônias, durante o tempo da viagem; vinte mil escudos para despesas de representação que restituirá logo que os livros estejam feitos, dando metade dos lucros ao Estado até ao integral pagamento dessa quantia; e transporte de sua mulher, a que tem direito como oficial em serviço; todas as facilidades oficiais e garantias de alojamentos e transportes. Camara Reys um abono de quinze mil escudos, e a garantia de seus vencimentos habituais como professor[.] [...] A Edição destes livros será feitas (sic) pelos autores, ou na Imprensa Nacional pelo Estado, se este assim desejar.” Como se percebe, o interesse pela matéria histórica é comum aos colegas de Seara Nova/Renascença Portuguesa. 98 morte do escritor a 5 de dezembro de 1930. Raul Brandão lançar-se-ia definitivamente na seara do historiador, abarcando o ofício como profissão, tendo à disposição um navio que viajaria pela costa da África, permitindo a observação in loco e a recolha de fontes críticas, fossem elas de caráter documental ou testemunhal. Com efeito, entre os escritores da prosa portuguesa, é provável que tivesse sido o primeiro a lançar-se ao mar, no encalço de ver, de sentir, de observar os territórios de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e São Tomé e Príncipe; sentidos que, como bem observa Fátima Marinho (2005, p. 135), são obsessões do autor: romancista63 e historiador. Deve-se frisar que, mesmo incorporando a missão do historiador, o escritor de mantém firmes os traços de estilo que o caracterizam como expoente da geração dos nefelibatas e do círculo de autores portuenses que orbitaram em torno de periódicos como A Águia e Seara Nova. A sua escrita da história é prática de quem a concebe como “tecido esgarçado, cheio de buracos” (DUBY, 1993, p. 39), livre das pretensões de uma história positivista, que segue sereníssima sobre a bitola do progresso. Poder-seia, então, retrucar: em que perspectiva o texto de Raul Brandão é mais historiográfico que literário? Num século em que nem mais os historiadores professam a objetividade do ofício, parece despropositada a pergunta: “Seja como for, afirmo não menos claramente não acreditar na objetividade do historiador, ou que seja possível distinguir [...] o mais determinante dos fatores dos quais deriva a evolução das sociedades humanas.” (DUBY, 1993, p. 80)64. Ainda nesse sentido, é proveitoso o comentário que Georges Duby faz acerca da prática historiográfica de Lucien Febvre, a quem a escola dos Annales é notória devedora: “[...] de sua parte, extraindo as informações mais das 63 O uso do termo romancista aqui deve ser interpretado como sinônimo de autor de narrativas literárias. Ao corroborar o pensamento de Georges Duby não atesto que se desespecifiquem os estudos literários ou os estudos históricos. Ao contrário, é na busca pelas convergências e divergências entre os dois modos de narrar que deverão residir o interesse de parte significativa dos críticos das novas gerações. Permanece, no entanto, a indefinição esboçada por teóricos contemporâneos acerca de qual a peculiaridade que confere à história um estatuto próprio. 64 99 obras literárias que das cartas e muito mais que das suas estatísticas, sentia-se mais à vontade neste terreno que em qualquer outro.” (p. 87). O texto de Raul Brandão, repleto de citações e transcrições de documentos de interesse público, cartas íntimas, recortes de jornais e quadras populares desafia o leitor a prosseguir na leitura do volume: não se pode simplesmente pactuar como se estivéssemos diante de uma narrativa estritamente literária. É possível ler El-Rei Junot como proposta literária que abarca a história ou é preferível pensá-la como história que circunda e encharca o tecido literário? Quem pode hoje – ou quem pôde à época da publicação – ler o livro de Raul Brandão de uma única vez?65 Não é porque nele não estejam presentes o valor estético e a sutileza da linguagem literária, mas porque me parece que, à semelhança do texto épico (cuja legibilidade é abalada, sendo substituído pelo romance, que se populariza em meio à burguesia emergente), o livro de Raul Brandão rompe um padrão de narrativa, no caso o romance histórico e mesmo o drama histórico, formas com as quais o século XIX frequentemente trabalhou. El-Rei Junot instaura, definitivamente, a tentação historiográfica (a necessidade de escrever/pensar a história) no cerne da escritura brandoniana e propõe uma estrutura moderna para um drama histórico, apontando que a história resulta de um único drama – o do homem: “O formidável drama desenrola-se perante a Europa atónita.” (BRANDÃO, 1982, p. 30). Daí que a obra tenha sido pouco compreendida e não tenha despertado críticos atentos, e quando o fez – saliente-se que de modo passageiro – estes buscaram enquadrar o texto de Raul Brandão no clássico padrão do romance histórico romântico português ou refutaram-lhe a qualidade de narrativa histórica. 65 Carta inédita enviada a 23 de junho de 1914 por Antero de Figueiredo (n. 1866 – m. 1953) a Raul Brandão afirma: “Li o seu El-Rei Junot, aos poucos, que este não é livro que se leia a correr, tanto a sua agitação e tumulto fatigam. Todo ele é vibração. Mais: - vertigem. Tem páginas fulgurantes, período em que o talento chispa como línguas de fogo!”. Cota D2/229 – Biblioteca Nacional. 100 Se, como dito anteriormente, Alexandre Herculano e Oliveira Martins são os mais notáveis autores de prosa historiográfica no Portugal do século XIX, o autor dessa antiepopeia66 em que se constitui El-Rei Junot põe em discussão – inclusive no nível da teoria e dos métodos da história – os modelos até aqui adotados na literatura portuguesa. Na sua história como drama,67 o escritor de Guimarães abre definitivamente um ciclo e um modo de escrita que consumará nas Memórias, cuja matéria, disposta em cadernos de anotações, escreve paralelamente ao período de escrita de El-Rei Junot e do Húmus, com o olhar atento de quem observa o momento lusitano. Afirmou-se que a história engendrada no livro de 1912 é dotada de qualidades líricas e histriônicas que, juntas, conferem a El-Rei Junot o estatuto de uma escrita heterodoxa da história,68 que foge ao padrão a que o leitor está acostumado. De certa forma, ao distanciar-se da história canônica, contemplativa em vez de analítica e reflexiva, a narrativa de Raul Brandão orienta-se na mesma direção que a ficção de José Saramago, nas décadas finais do século XX, também seguirá, porque ambas aproveitam-se dos interstícios de uma suposta verdade sobre o passado para rasurar a 66 Referi-me à qualidade de anti-epopeia que assume o livro em estudo nesse capítulo. Talvez mais algumas reflexões sejam necessárias, embora se frise que não é este o foco da investigação proposta. Ao conceber El-Rei Junot como narração anti-épica, entendo que, diferentemente d’Os Lusíadas, Raul Brandão privilegia, sobretudo, o registro de momentos trágicos da história portuguesa, em que o próprio conceito de nação é abalado e a soberania usurpada pelos invasores franceses, ao passo que o vate português, embora apresente significativos momentos difíceis e trágicos da história de Portugal, busca evidenciar a construção da nação a partir da superação dos obstáculos. As glórias anteriormente cantadas por Camões são substituídas pela angústia e pela humilhação do povo, numa espécie de réquiem que se consuma, embora Portugal se liberte das tropas de França; e se consuma porque, de fato, ao depender da Espanha e, sobretudo, da Inglaterra, para existir, a nação portuguesa se aniquila por dentro. 67 Para uma melhor observação do uso do termo “narrativa histórica” nesta investigação, voltar ao subcapítulo anterior (III – A TENTAÇÃO HISTÓRICA: 3.2 Intermezzo), no qual é trazida à baila a discussão das fronteiras entre literatura e história, vislumbrando-se, portanto, que há uma forma narrativa literária e uma forma narrativa história. Por conseguinte, narrativa histórica não deve ser interpretada como romance histórico ou narrativa literária que abarca o conteúdo histórico em seu interior, mas tão somente na própria escrita da história, que se assenta sobre as bases da técnica da narração. 68 Com efeito, se se pode perceber o heterodoxo como aquele que busca a ruptura com os padrões anteriores em vigência, Raul Brandão pode, então, ser considerado um autor em cuja escritura a história se avoluma como matéria privilegiada entre as representações. O modo de articular literatura e história é, portanto, necessariamente distinto de como o século XIX registrou. Por outro lado, não se deve se preocupar em atribuir a Raul Brandão o epíteto de narrador da história (que é diferente, como se sabe, de dizê-lo historiador), pois dois dos melhores narradores portugueses do oitocentos acumulam a qualidade de distintos escritores. No seu moderno drama histórico, a história se realiza, ela própria, enquanto categoria dramática. 101 história, reescrevendo-a em prol dos homens – de todos os homens. Teresa Cristina Cerdeira (2000) pondera que “o passado, mais propriamente, não se recupera, não se resgata, mas representa-se – naquele sentido mesmo do jogo teatral – isto é, tornar-se outra vez presente pelo gozo da re-presentação” (p. 199). O pensamento da ensaísta encontra analogia nas ideias de Georges Duby, que compara o ofício do historiador ao do encenador, também aqui no sentido teatral do termo: Construído o palco, plantado o cenário, composto o libreto, trata-se de montar o espetáculo, de comunicar o texto, de dar-lhe vida, e é isto o que importa: é precisamente do que nos convencemos quando, depois de ler uma tragédia, podemos ouvi-la e vê-la representada. Cabe ao historiador esta mesma função mediadora: comunicar pelo texto escrito o ‘calor’, restituir ‘a própria vida. Mas não nos devemos iludir: esta vida que ele tem por missão instilar é a sua própria vida. E nisto ele tem tanto mais êxito quanto mais sensível se mostra. (1993, p. 61). Claro está que Duby (1993) e Cerdeira (2000) não se referem à encenação como faculdade historiográfica. Embora a narrativa histórica, tal como a matéria literária, possa adaptar-se ao teatro, não reside nessa especificidade a relação que os ensaístas estabelecem na dialética que se constrói entre tensão histórica e expressão literária: a encenação da linguagem. Sendo a linguagem o meio pelo qual o homem re(a)presenta a realidade, cujas peculiaridades estendem-se às narrativas, sejam de ordem histórica ou literária, pode-se conceber o texto histórico nas mesmas qualidades do jogo e da encenação da linguagem literária. No entanto, El-Rei Junot enfrenta duplamente a faculdade da representação: porque linguagem e porque escritura em que elementos lírico-dramático e irônicocômicos assomam, conferindo-lhe nuances teatrais. Raul Brandão apresenta ao leitor o teatro do mundo europeu em um de seus momentos mais agudos, e, para tal, lança mão de elementos próprios à ficção, sem as quais a sua prosa historiográfica seria apenas uma entre tantas outras: “O dramático e o grotesco são dois sentimentos que estão na 102 base de El-Rei Junot, livro em que alternam o tom de epopeia e da farsa trágica, ou antes uma epopeia que não chegou a sê-lo” (CASTILHO, 1982, p. 13). É salutar cotejar o comentário de leitura de Guilherme de Castilho com as argumentações de Maria de Fátima Marinho, num ensaio em que, embora comungue de alguns posicionamentos de seu antecessor, a mais das vezes aguça o olhar crítico e embasa de forma mais sólida os posicionamentos que defende: Esta forma de fazer História, conciliando o dramático e o grotesco, humaniza os personagens e acontecimentos, empresta-lhes sentimentos, desvenda os meandros mais remotos da psicologia e das motivações e deixa ao autor a liberdade de ironizar (tal como fará o narrador da metaficção historiográfica pós-moderna, de que Raul ainda está longe). (2005, p. 142).69 Na chave para a diferença entre a escrita da prosa historiográfica empreendida pelo escritor de Guimarães e seus predecessores está a forma que concede ao tratamento das personagens de seus relatos. Sabe-se que as narrativas históricas ou as literárias dedicam especial atenção a esse que é um dos pilares fundamentais entre as categorias da narração, daí que Mario Cesar Lugarinho afirme que, na narrativa histórica, os “elementos estruturais são encontrados dispostos como nas narrativas literárias: personagens, espaço, tempo, narrador, narratário” (1997, p. 60). O texto de Raul Brandão, ao ferir a monumentalidade e o caráter épico das figuras históricas que traz para dentro do tecido textual, coloca-as no mesmo patamar perante o intrincado e complexo sistema de representações da escrita da história. Em outras palavras: em ElRei Junot não se distingue entre os grandes e os pequenos nomes, porque há a compreensão de que todas as personagens se encaixam como parte de um todo, em que 69 Não sendo objeto de estudo desta pesquisa, entre as relações possíveis de serem estabelecidas cotejando os textos de Raul Brandão e José Saramago, pode-se pensar que o primeiro escreve uma história infiltrada de literatura, ao passo que o segundo, na consciência metalinguística própria aos escritores dos anos finais do século XIX, escreve uma literatura infiltrada de história. 103 nada pode ficar perdido, recolhido ao limbo do esquecimento.70 Há na estrutura do texto brandoniano a imanente percepção de que tudo o que “Pronunciam[...] num canto do globo, v[ai] repercurtir[...] no globo” (BRANDÃO, 1982, p. 28), numa espécie de visão histórica em que, como salientado anteriormente, tudo se relaciona, tudo está ligado por força desta concepção a que se pode definir como imaterial, porque se qualifica como história das consciências – história que privilegia o homem no seu percurso de autoconhecimento, de si e da sociedade. Portanto, é o tratamento dedicado às personagens que agora importa para observar o rumo dado à re(a)presentação da história em El-Rei Junot: Fealdade e volúpia com magníficos cabelos. Quer sorrir, cheia de jóias e plumas, mostra os dentes podres. Mais diamantes – um deslumbramento – carrega-se de diamantes como uma rainha de lenda: veste-se de sedas e fica pior, com um ombro mais baixo que o outro, o nariz vermelho e coxa ainda por cima. Laura Junot afirma que lhe viu os braços sujos: felizmente esse grave ponto da história está hoje elucidado: era pêlo. (BRANDÃO,1982, p. 68) A descrição de Carlota Joaquina opõe-se ao preceito de monumentalidade inseparável de uma história positivista. Com efeito, o narrador da prosa historiográfica dá vazão ao dito popular, que institui uma imagem negativa da princesa do Brasil, antipatia construída não apenas por Raul Brandão, mas também pela escrita frequente de uma historiografia que, nos anos subsequentes ao da Independência, convergiu para essa figura feminina na manifestação de uma lusofobia, quando por parte de historiadores brasileiros, ou materializou-se num sentimento xenófobo, quando atestado por intelectuais portugueses. No interior do próprio texto, Raul Brandão torna evidente que se apoia em fontes textuais para compor a caracterização, apontando o diário de Laura Junot, esposa do 70 Para um melhor aprofundamento dos conceitos lembrar e esquecer, consultar o estudo de Jeanne Marie Gagnebin (2009), o qual será referencial na argumentação teórica do quarto e último capítulo desta tese. 104 general que comandou as tropas invasoras de Napoleão, como documento prévio. E o faz não sem lançar mão do artifício da ironia, indo às raias de um histrionismo que também será o alicerce para que na sua re(a)presentação da história, como faz José Saramago no Memorial do Convento71, os grandes nomes da história cedem lugar aos homens comuns, a personagens de segundo escalão social, à “arraia miúda” que desde o texto de Fernão Lopes (embora neste não se possa, a rigor, falar de luta de classes porquanto inexista ainda uma sociedade baseada numa divisão em classes sociais) teimam em pairar, silenciosa e obediente, mas já relutam a espreitar incólumes a história ser escrita pelos vencedores. Não apenas Carlota Joaquina é objeto do olhar histriônico do narrador da história. O escritor rompe com a sisudez da historiografia convencional para desarticular o discurso das classes dominantes, a exemplo de como representa o príncipe D. João, antes de a personagem histórica sair de cena, quando de sua viagem ao Brasil por ocasião da invasão das hostes de Junot: “O Príncipe geme. Na véspera tinha-lhe dado, mais violento um ataque de hemorroidal. “(BRANDÃO, 1982, p. 98)72. Deve se perguntar se processo semelhante não adota José Saramago quando, ao configurar a corte de D. João V, escreve sobre D. Maria Ana, rainha de Portugal: “D. João V não passa toda a noite com a rainha, ao princípio sim, por ainda superar a novidade ao 71 Teresa Cristina Cerdeira afirma, a respeito da concepção de história que guia a escrita de José Saramago: “Os romances de José Saramago parecem indicar, como Paul Veyne, que a história é uma espécie de palácio labiríntico onde nunca nos entediamos justamente porque nunca somos capazes de conhecê-lo inteiramente; por isso indaga sempre os documentos e os faz falar de modo diverso. Desfaz algumas vezes a sua monumentalidade quando destitui o poder instituído em nome das falas emudecidas.” (CERDEIRA, 2000, p. 212). 72 Reforçando o conceito de história histriônica, que ultrapassa o mero casualismo da ironia, diz Maria de Fátima Marinho: “A ironia também poderá estar subjacente na pormenorização de certas características, como, em El-Rei Junot, à alusão às hemorróides do príncipe, ou ao conteúdo dos caixotes, prontos a embarcar com a família real. Estes detalhes particulares, têm uma função semelhante, a nível da estrutura narrativa, à referência aos preços ou ao número de batalhões e sua marcha. Se os segundos pretendem aproximar o relato do convencionalmente histórico, os primeiros visam introduzir a contra-história, tão cara aos romancistas.” (MARINHO, 2005, p. 143). De opinião divergente ao que propõe a ensaísta, apenas o entendimento de que Raul Brandão não faz contra-história, mas rasura a história convencional, reescreve-a na forma de uma prosa historiográfica heterodoxa daquela vigente na segunda metade do século XIX, cujos modelos de escrita residem nas produções de Alexandre Herculano e, sobretudo, de Oliveira Martins. 105 incómodo, que não era pequeno sentir-se banhado em suores próprios e alheios, com uma rainha tapada por cima da cabeça, recozendo cheiros e secreções.” (SARAMAGO, 1989, p. 15). Herdeiro das narrativas históricas legadas pelo século XIX, notadamente as escritas por Oliveira Martins (uma vez que a obra de Alexandre Herculano se utiliza do histórico mais como pano de fundo de sua produção literária que na forma da epistemologia), a prosa historiográfica de Raul Brandão ainda tem sido eclipsada pela do historiador do realismo português, cuja “posição típica é [a] dos intelectuais do final do século XIX, quando a ideia de progresso se tornou quase um artigo de fé”, e esta tem “suas raízes na concepção oitocentista da história como progresso da raça humana para uma cada vez mais elevada nacionalidade” (PONTE, 1998, p. 42). Com efeito, a produção de Oliveira Martins engendra intimamente o conceito de nacionalidade portuguesa (“Estas já longas explicações bastarão, parece-nos, expôr (sic) claramente o nosso pensamento. Há ou não há uma nacionalidade portuguesa?”; MARTINS, 1987, p. 27), concebendo que as nações existem de forma semelhante aos organismos vivos, que estão, portanto, inseridas num ciclo vital, ao qual não podem escapar. Vislumbrando que Portugal se encontra na fase da decadência, o historiador da segunda metade do oitocentos busca na duração histórica as causas e as conseqüências do desgaste nacional, não se distanciando muito dos ideais apregoados por Antero de Quental:73 “um [...] laboratório onde o historiador podia detectar relações constantes 73 Sobre a qualidade notadamente historicista – característica própria à história positivista - dessas produções, bem como a preocupação com o institucional na forma de narração da nação portuguesa e seu ideal de grandeza, Mário César Lugarinho diz: “Se, especialmente, Alexandre Herculano e Oliveira Martins podem ser apontados, como posteriormente, António Sérgio e António José Saraiva, entre outros, por realizarem uma outra História de Portugal que não levasse em conta as obsessivas relações que o tempo tradicionalmente sofria nas interpretações míticas e religiosas (que, no fundo, se convertiam em proposições poéticas), é porque, rasurando a tradição nacionalista, acabavam por inserir interlocutores universais, isto é, elementos que possibilitavam uma relativização da História nacional ao perceberem Portugal numa perspectiva historicista ou materialista. Importa perceber aqueles intelectuais numa tentativa de descobrir o tamanho de Portugal no concerto universal, em que forças além das profetizadas e divinas atuavam por sobre a História. O Portugal que surge destas páginas é outro; se apequenado no 106 entre os fenómenos e a permitir, por um lado a sua explicação mediante conceitos naturalistas [...] e, por outro, a indução de leis do desenvolvimento humano” (MAURÍCIO, 2005, p. 55). O fulcral para a prosa historiográfica de Oliveira Martins é retratar o movimento das instituições, mais especificamente ainda da nação portuguesa,74 desfavorecendo os indivíduos: privilegia-se o nacional em detrimento dos nacionais.75 Na narração cuidadosa e pessimista que faz do período compreendido entre a Revolução de 1789 e as invasões francesas,76 o historiador silencia quanto ao sofrimento dos soldados, as humilhações de um povo vilipendiado pelos estrangeiros que lhes ocupam a terra; importa-lhe é narrar os grandes “indivíduos históricomundia[is]” (LUKÁCS, 2011, p. 65) tornando-os, muitas vezes, caricaturas. Interessa ainda relatar os acontecimentos privilegiando uma história política, viés que marcará, quando do aperfeiçoamento dos estudos históricos no século XX, a concepção tradicional da história. Isto posto, é preciso dizer que em nada diminui a qualidade da escrita de Oliveira Martins e o vigor de suas análises: panorama econômico e social, entretanto, é agigantado, ao se debater com todo o peso da sua História.” (1997, p. 117). Afastando-se, portanto, do paradigma do oitocentos, é que Raul Brandão alicerça sua prosa historiográfica. 74 Ajuíza-se que o crítico português António Sergio, contemporâneo de Raul Brandão, herda de Oliveira Martins a sua concepção de história, esta também de caráter nacionalista, institucionalizante, em que a história de Portugal sobrepõe-se à história dos portugueses. O ensaísta, ao retratar o período das invasões francesas, assevera: “A 20 de março de 16 morreu a rainha, e o regente foi proclamado rei. Este continuava no Brasil. Haviam-se invertido os papéis da metrópole e da colónia. A ida da corte, acompanhada[, como fora,] de uma elite de portugueses, dera ao Brasil um grande impulso, encaminhando-o para a independência. O acto que para esta mais concorreu foi a abertura dos portos aos estrangeiros.” (SERGIO, 1976, p. 129). Saliente-se a busca por uma relação de causa e efeito (historicista) entre os acontecimentos, premissa em voga na história positivista. 75 Segundo informa Teresa Cristina Cerdeira da Silva (1989, p. 21), nas páginas pré-textuais de sua tese de doutoramento, José Saramago, em visita à Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1984, disse: “É preciso deixar de fazer a História de Portugal para se começar a fazer a história dos portugueses.” Em certa medida, o pronunciamento do Saramago deixa implícita a divergência fundamental entre as escritas de Oliveira Martins, que escreve a história do Portugal e da península, e Raul Brandão, que se preocupa com a história dos portugueses. 76 Também Oliveira Martins encarregou-se de historiar as invasões napoleônicas, inscrevendo o período na análise que faz da História de Portugal (1987), das origens à revolução liberal. Observa-se na obra o caráter progressista da concepção dessa história, a serviço de um pessimismo entranhado na Geração de 70, mas ainda assim de feições notadamente positivistas. 107 Como havia de o príncipe anuir a isto, se por seu lado o inglês, para o proteger, guardava a sua costa como uma esquadra? Mas, como podia lançar-se-lhe nos braços, se a Inglaterra declarara que à invasão de Portugal pela França, responderia a ocupação do Brasil pelas forças liberais? Quando o seu defensor afirmava que o saquearia para o defender, como havia de o príncipe-regente aceitar o auxílio oferecido? (MARTINS, 1987, p. 398). Na história sem diálogos e sem documentos de Oliveira Martins, Raul Brandão encontra na experiência de leitura o empreendimento de que se ocupará logo nos primeiros anos do século XX. No entanto, se se pode argumentar que o historiador compõe sua narração na forma da tragédia (PONTE, 1998), isto se faz porque a derrocada portuguesa é, aos olhos do autor oitocentista, inevitável: improcrastinável decadência há muito anunciada. Por seu turno, Raul Brandão elabora uma prosa historiográfica77 mais próxima à expressão dramática, naquilo que tem de teatral, extraindo de um mesmo momento histórico o escopo de suas análises assolapadas por um lirismo pungente. Tudo isto demonstra a qualidade e a acuidade com que o escritor, num procedimento plenamente consciente de escrita – seja ela da história ou da literatura78 –, apregoa. Maria de Fátima Marinho diz que em El-Rei Junot “Quase não há uma personagem (figura histórica) ou um fenómeno que sejam referidos sem uma apreciação, uma leitura interpretativa do autor.” (2005, p. 141). No entanto, pelo caráter da composição subjetiva da sua prosa historiográfica esta não se compromete com um rigor sobre a matéria histórica, uma vez que, ao abandonar o olhar micro em função de uma leitura macro-analítica e comparada, Raul Brandão põe em xeque as escritas 77 Em linhas gerais, pode se dizer que Oliveira Martins assume a posição de historiador, de profissional da escrita da história, ao passo que Raul Brandão encampa o ofício do historiógrafo, ou seja, que produz uma narração da história impregnada de expressão literária, sobretudo na forma do elemento dramático. 78 Dever-se-ia neste passo da investigação ainda continuar a pensar a escrita da história como procedimento distinto da escrita da literatura? Não seria mais prudente pensar a primeira como forma particular de gênero literário, adotando a história, nas suas acepções de historiografia e de prosa historiográfica (ambas distintas mais pelo modo da subjetividade do avaliador que pela concretude do texto)? Por outro lado, como não distinguir res factae e res fictae? Se a problemática é interessante e, de todo modo, atual em seus objetivos, não é, todavia, o fito desta investigação. 108 anteriores, planta a dúvida no coração do leitor, questiona o porquê do silêncio dos vencidos, faz falar os que emudeceram. O autor de Guimarães sabe escavar o “lugar onde se inscreve a História dos vencidos, a História dos silenciados, a História não contada, a História dos oprimidos que contestaram o poder” (LUGARINHO, 1997, p. 95). Se a prosa historiográfica brandoniana emproa o debate imanente à história, tal fato apresenta-se em perfeita consonância com a intencionalidade do historiador, cujo cerne do ofício consiste justamente em problematizar literariamente a história: A única modificação – umas das mais importantes, reconheço – dizia respeito à forma. Eu estava voltando sem rodeios à narrativa. Contava uma história, seguindo o fio de um destino pessoal. Mas continuava atendo-me à história-problema, à história-questão. (DUBY, 1993, p. 138). Contudo, não é apenas com a desmonumentalizaçao desses “indivíduos históricomundia[is]” (LUKÁCS, 2011, p. 65) que o escritor de Guimarães se preocupa no seu fazer simultaneamente historiográfico e literário. O verdadeiro drama da história, isto é, o percurso daqueles que efetivamente a fizeram e suportaram a sucessão de catástrofes que compõe a duração humana, é alvo das atenções do autor. Oscilando entre o discurso irônico e uma dicção pautada na gravidade, o autor reitera a dramaticidade que imprime ao texto: A febre pútrida mata mais soldados depois da batalha de Austerlitz que a própria batalha – 16 mil homens. Ainda hoje é ignorado o número de mortos, de abandonados ou esquecidos da campanha de Itália. Os regimentos ficam muitas vezes reduzidos a (sic) metade. Os dias de batalha são horríveis; nem médicos suficientes, nem maneira de tratar os que caem das fileiras. 270 feridos são esquecidos em qualquer aldeola: quando por acaso se lembram deles, agonizam na podridão. Depois do combate arrastam-se de cidade em cidade, sem haver hospital que os recolha. Está tudo cheio. Um granadeiro implora: – Cortem-me a perna. Estou comido de gangrena, quer ver? Bem sei que ninguém se importa com os feridos, sem embaraço. Então acabem-me de uma vez! Antes morrer. (BRANDÃO, 1982, p. 53) 109 Aos olhos da prosa historiográfica de El-Rei Junot, o soldado português é o principal ator desse teatro de uma história como drama. A performance esboçada é pungente no efeito de despertar a atenção do leitor para atuação no decurso da história. Invertendo os preceitos da escrita positivista, Raul Brandão põe os desgraçados, sujeitos ativos dessa história de catástrofes, no papel de protagonista: é no soldado que se centra o foco narrativo e, no seu desempenho, eleva-se o sofrimento e a dor, eixos intransponíveis de uma temática própria à novelística brandoniana. É preciso sublinhar que mesmo os historiadores acadêmicos reconhecem o valor do componente dramático no âmbito da estruturação de suas escritas da história. Não seria diferente, portanto, o entendimento de Raul Brandão, para quem o drama é já uma obsessão da forma e do estilo. As imagens que figuram na história convencional ocupam um lugar a custo do drama de seus percursos ou da altivez de sua representação. A personagem mediana, como lembra Lukács (“Aparece aqui a importância composicional do herói mediano”; 2011, p. 53), é mais usual no romance histórico que na prosa historiográfica, sobretudo numa história compreendida como intrinsecamente dramática, tal como é orientada a produção de El-Rei Junot. Por conseguinte, se a escrita brandoniana da história pode eleger um herói, no sentido que o termo ocupa quando se trata das narrativas ocidentais, certamente o faz investindo na representação dos soldados portugueses ou estrangeiros que resistiram às hostes invasoras na península ibérica: o herói se, por um lado, engendra a coletividade há muito cantada no épico nacional, por outro vê-se participante ativo da catástrofe humana, assolapando os preceitos da épica clássica. A fala com que o escritor conclui a encenação dramática da história é lapidar e caminha justamente para conferir ao livro de 1912 a configuração anti-épica, como se 110 depreende do fragmento abaixo, um dos quais, certamente, contribuiu para que Guilherme de Castilho79 pensasse a perspectiva de história, em sua posição secundária em relação ao conjunto da narrativa, como uma narrativa histórica de pendores metafísicos: Fujam! Fujam! Canhões, homens, Bonaparte, a guerra, tudo isto é frenético e imenso. Foi grito, é agora vagalhão colérico, diante da qual reis, ministros, corte, cada vez se sentem mais pequenos e grotescos. É a Vida. É um século de discussão, de análise, de balbúrdia, de mixórida, de cóleras, em marcha sobre a Ideia, que os apavora, que fogem, como diante dum jacto de luz. Por trás do pequeno exército que avança, há os mortos, há os milhares de milhares infindáveis, há uma Sombra desmedida que encobre o céu... (BRANDÃO, 1982, p. 85) A história que se desenrola aos olhos do leitor está comprometida com uma visão pessimista não apenas da matéria histórica como também da expressão literária. É certo que a tensão entre pessimismo e sonho compõe uma das bases da produção estética de Raul Brandão. Ao referir-se aos mortos, ao enaltecê-los, ao ressaltá-los como horda incontável que se acumula incessantemente como ruínas e como sujeitos arruinados, o escritor, numa escrita que se anuncia e se antecipa à grande guerra mundial (19141918), prenuncia o surgimento dessa “Sombra”, que é o recrudescimento das ideologias fascistas por toda Europa. A história histriônica de Junot, títere de Napoleão Bonaparte, não é reflexo da suavização de uma escrita que pressente o emergir de uma outra matéria histórica, uma história que, por estar excessivamente próxima e por compor-se em meio à guerra, consubstanciar-se-á em ditaduras e em barbáries que o século XX, essa era dos extremos (HOBSBAWN, 2008), conheceu? 79 Maria de Fátima Marinho segue os argumentos de Guilherme de Castilho (2006, p. 317), ao afirmar: “Possuindo assim uma visão metafísica da História [...], Raul Brandão apresenta, em El-Rei Junot, uma interpretação do papel que a Igreja e algumas figuras emblemáticas, como Rousseau ou Voltaire, desempenharam no lento transformar da Humanidade” (MARINHO, 2005, p. 138). De certa forma, ao associar interpretação à metafísica, os estudiosos fecham as portas para conceber a história como uma forma de interpretar o passado, tal qual pontuou Hayden White (2001), posto que mesmo a historiografia como gênero singularizado não prescinde da interpretação como método analítico. 111 No quarto capítulo, que é intitulado “A Fuga”, é proveitoso destacar que há uma divisão em duas partes, a primeira em que o autor adensa o medo de que as tropas napoleônicas cheguem a Lisboa; a segunda, em que o Príncipe Regente, numa tomada que pode ser interpretada tanto como estratégia política como desespero militar (e sobre isso, Raul Brandão não emite juízo conclusivo, deixando ao leitor a tarefa de fazê-lo), parte com sua corte rumo ao Brasil, deixando às portas da cidade o general Junot e o exército enviado por Napoleão Bonaparte para subjugar Portugal. Em ambas as partes como em todo o livro, acentua-se o caráter de pesquisa histórica, patente nas volumosas e úteis notas e na transcrição de tratados, cartas e traduções feitas a partir desses documentos. Em muitas passagens, as notas de rodapé, no caso uma farta documentação que revela a busca das fontes históricas a fim de embasar a narrativa, rivaliza com o corpo do texto, não sendo poucas as vezes em que os subterrâneos da investigação projetam-se como objeto central da escrita de Raul Brandão, e rompem a superfície do espelho literário dotando-o do valor híbrido antes referido. Ao inserir em sua prosa historiográfica a crítica dos documentos, o escritor comunica que “A história só é feita recorrendo-se a uma multiplicidade de documentos e, por conseguinte, de técnicas” (LE GOFF, 2001, p. 27), e torna a rede textual de El-Rei Junot ainda mais densa e complexa. A diegese do livro é lenta e demorada (incrustada de detalhes e informações oriundas de documentos a que Raul Brandão teve acesso durante a produção do livro), analítica ao mesmo tempo em que descritiva; sucede-se o enredo, mas oscilam as personagens, que se precipitam ao longo da narrativa, ao passo que as figuras historicamente reconhecidas, tais como o general Junot, Napoleão Bonaparte, o príncipe D. João, Pina Manique ou Carlota Joaquina entram e saem do foco dessa narrativa histórica, fazendo crer ao leitor que a prosa escrita pelo autor de El-Rei Junot, essa história literária de Portugal e da Europa no período que se segue à Revolução Francesa, 112 desprivilegia os acontecimentos em detrimento de uma leitura do processo histórico. Leva-se a cabo a massa anônima – e anômala – do povo português, acompanhada dos insurrectos espanhóis e da soldadesca inglesa. Divergindo da escola positivista, Raul Brandão enfrenta o desafio histórico a partir de diversos enfoques, agregando à história política a história econômica, a história militar, a história do cotidiano, a história das mentalidades, a história das cidades portuguesas com seus desenvolvimentos urbanísticos e de arquitetura. É, por assim dizer, uma idéia da história que já não se concebe como mera descrição da sucessão de fatos, dos acontecimentos políticos de determinada nação, mas que entende que, para compreender o processo histórico, é imperativo olhá-lo a partir de diversas faces e perspectivas: o texto brandoniano se propõe a ser uma narrativa híbrida, em que avultam os valores estético-literários sem abrir mão da preocupação com a história, cuja tentação está instaurada no coração de sua escritura. Talvez, por isso, tão singular seja o ato de analisá-lo. Por interessar-se pela história das mentalidades, não seria de estranhar que o escritor de Guimarães amalgamasse em sua escrita da história as qualidades messiânicas da nação portuguesa, sobretudo num momento em que a existência do país está seriamente abalada. O período do início do século XX aprofunda silenciosamente a dependência entre a identidade portuguesa e seus mitos culturais.80 Daí que Raul Brandão, nos passos do saudosismo e do projeto histórico-nacional de Teixeira de Pascoaes, registre em El-Rei Junot, em diversas passagens, a perseverança do referido 80 Com efeito, a história portuguesa foi, desde o século XVI – quando se estabelecem os preceitos da história moderna em contraposição à crônica medieval –, um discurso mítico construído a partir dos vultos eleitos do passado, tal como aponta Lugarinho (1997, p. 230): “Recorde-se que a História de Portugal dominante no imaginário português era a de caráter mítico que tornava o povo português em eleito de Deus - esta História mítica, alegoria da decadência histórica de Portugal, no desenvolvimento da modernidade, garantia a manutenção da identidade portuguesa.”. Entre as imagens que sustentam a qualidade mítica da história portuguesa está, justamente, a emblemática figura de D. Sebastião, reconfigurado na forma que uma escrita messiânica privilegia. 113 imaginário cultural, alinhavando o recrudescimento do mito de D. Sebastião ao delicado momento histórico das invasões napoleônicas: [...] e ainda Lisboa espera por D. Sebastião...Tinham reaparecido as profecias. Um homem encontrara no quintal um ovo de galinha com estas letras em relevo D.S.R.P., D. Sebastião Rei de Portugal, e o bairro alvoroçou-se. Foi gente dos confins de Lisboa examinar o ovo, que andou pelas casas “em uma salva de prata para se ver”, e o velho passou à categoria de profeta. São chegados os tempos. Napoleão vem aí com seus exércitos e então sairá de entre dois montes um homem de avultada estatura e matá-lo-á. Os sebastianistas exultam com a notícia do morticínios: “é o signal de que o dia está próximo”. Reaparecem as trovas do preto do Japão, o atestado dos religiosos de Santa António dos Capuchos (sic) sobre a ilha encoberta; as profecias do Canada do Algarve, as do mouro de Granada, e andam em todas as bocas os versos de Bandarra: Desamparar o cortiço Uma abelha-mestra vejo, As outras com muito pejo Não têm asas para isso. Este sonho que sonhei É verdade muito certa, Pois lá da Ilha encoberta, Vos há-de vir este Rei. (BRANDÃO, 1982, p.163-164) Eduardo Lourenço destaca que o “sebastianismo é a manifestação histórica, ao mesmo tempo positiva e negativa, da ruptura entre a vida real e a imaginária, sintoma da desordem causada pela nostalgia da ordem” (1999, p. 50). Essa fissura possível, sublimação do real levada a cabo pelos homens e mulheres portugueses, é registrada pelas lentes de Oliveira Martins não só como fenômeno histórico, mas também sociológico. Recolhendo toda a sorte de fontes, documentais ou testemunhais, que possam evidenciar a ascensão do mito sebástico em Portugal justamente quando a metrópole perde seu rei para a colônia, Raul Brandão dá a dimensão de como os homens e mulheres do povo, oprimidos pelas hostes de Junot, apegam-se aos fios tênues dos mitos do passado, ainda plenamente vivos, a fim de resistir, não no aspecto militar mas 114 identitário, às invasões. Nem por isso, o escritor deixa de ter um olhar crítico e irônico sobre o fenômeno. As trovas populares cuidadosamente inseridas no corpo do livro fazem falar o sentimento que se alastra no momento de agonia nacional. As fontes apontadas pelo autor, em consonância com o que Marc Bloch denomina de crítica das fontes, advertem aos leitores incrédulos que “seria uma grande ilusão imaginar que a cada problema histórico corresponde um único tipo de documento” (BLOCH, 2001, p. 80) Assim, a utilização de uma pluralidade de fontes, sejam elas documentais ou testemunhais, insere El-Rei Junot na perspectiva de uma prosa historiográfica do método crítico, que busca não apenas descrever mas, sobretudo, analisar e elucidar um problema que se apresenta ao narrador: “Não há como as cartas, os papéis íntimos, para nos dar a psicologia duma época...” (BRANDÃO, 1982, p. 208). Por ser obra que contempla sua parcela da análise das mentalidades, é sobretudo o aspecto nacional dessa mentalidade que se destaca na narrativa brandoniana. As cidades portuguesas – sobretudo a cidade do Porto (“O Porto (70 mil habitantes) é também uma cidade feia e espessa, com o rio na alma – o Porto é granito e sonho”; BRANDÃO, 1982, p. 220) – são figuradas como berço da resistência, espaço para onde aportam os insurgentes. Não é o apoio político ou a frágil campanha militar inglesa em Portugal, com seus navios fundeados ao largo do Tejo, que tornam possível a resistência e a vitória portuguesa sobre as hostes napoleônicas. O êxito heroico, empreendido pelos heróis da nação (é o povo em detrimento dos seus governantes), desnuda uma narrativa que rompe com os padrões da historiografia tradicional, para quem um reino depende fundamentalmente de seu rei. Mas a plena vitória nas guerras napoleônicas não é possível e a Portugal resta o direito de sobreviver como nação sob a tutela de Inglaterra. 115 Raul Brandão atendeu à tentação histórica. A intelectualidade portuguesa desejou em El-Rei Junot a presença de um texto plenamente historiográfico, da mesma forma que a sociedade lusitana assim havia recebido a produção de Oliveira Martins: narrador de uma outra história. Contudo, na sua história como representação dramática lateja a expressão literária de quem não abre mão de ser romancista. Se essa hibridez de caráter levou a crítica literária brandoniana a desconsiderar o livro de 1912, por seu turno, os que leram El-Rei Junot pelo viés da mera pesquisa historiográfica ficaram desconcertados: Penso que o historiador precisa de ser crítico, e quem diz crítica diz serenidade. Felizmente que nesta obra a sua subjetividade tem a contêla os aros em que a história se enquadra. Pobre de uma obra histórica, eu temo que o seu talento vá até às visualidades que vivem paredes meias com a morbidez. [...] Carlyle, o seu mestre muito amado (vê-se) sabe conter-se e dizer o que quer dizer; conhece a arte de moldar as suas exaltações geniais em geniais plasticidades. Mas isto não quer dizer que o seu El-Rei Junot não seja interessantíssimo, superior, notável, cheio de violência, de topo [torpor?], de vida e extraordinárias evocações.81 Passado um século da publicação original, o livro em que Raul Brandão expôs, de forma imanente, a sua concepção da história, ainda intimida a crítica, emudecida senão pelas considerações de Guilherme de Castilho e de Maria de Fátima Marinho, o primeiro há muito excedido pela ensaísta, nesses dois textos solitários82 que indisfarçavelmente denunciam uma ferida aberta no coração dos estudos brandonianos. El-Rei Junot não é pobre de matéria histórica nem é excessivo em expressão literária – é que sua ideia da história, essa duração em fragmentos, atônita, só pode ser apreendida 81 Cota D2/229, Biblioteca Nacional. A missiva é de Antero de Figueiredo a Raul Brandão e data de 23 de junho de 1914 (Foz do Douro). 82 Para restituir plenamente a verdade, pode-se encontrar outra análise de El-Rei Junot, desta feita para apresentação em um congresso no Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro que tinha por tema os duzentos anos de chegada da família real ao Brasil (RIOS, 2008b). A comunicação (“A ficção faz a história: Raul Brandão (re)escreve o percurso de D. João VI”) apresentada era, no entanto, precipitada, embora tenha me permitido iniciar as reflexões em torno do livro de 1912. Fica devidamente substituída e alargada por esta que ora se apresenta. 116 quando concebida como drama, daí que seja impossível conceber o texto apenas como literatura ou apenas como história – a interdisciplinaridade é inolvidável. Ver nas páginas desse livro tão diverso o protagonismo dos silenciados pela história positivista inquieta-nos porque ainda estamos acostumados a pensar a história como matéria estática, imutável. Raul Brandão abala a fixidez das figurações históricas para construir na sua prosa historiográfica um paradigma narrativo para a literatura portuguesa no século XX, embebendo El-Rei Junot com seu projeto de modernidade: “Prá frente! – Prá frente! – Prá frente – e há desgraçados que para fugirem à dor metem a espingarda à boca e fazem saltar os miolos! (BRANDÃO, 1982, p. 57). Saltemos, então, ao próximo texto literário objeto desta investigação. 117 Capítulo III DE TRAPOS E TRAPEIROS Gargalha, ri, num riso de tormenta, como um palhaço, que desengonçado, nervoso, ri, num riso absurdo, inflado de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos, e convulsionado salta, gavroche, salta clown, varado pelo estertor dessa agonia lenta ... Pedem-se bis e um bis não se despreza! Vamos! retesa os músculos, retesa nessas macabras piruetas d'aço. . . E embora caias sobre o chão, fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri! Coração, tristíssimo palhaço. [CRUZ E SOUZA, João da. Poesia completa, 1993.] 118 Este capítulo tem por objeto de investigação a narrativa História dum Palhaço, publicada por Raul Brandão no ano de 1896. A partir da análise do texto literário observa-se que a imagem do palhaço, esse trapeiro do fim-de-século, sofre o deslocamento de seu significado inicial para remeter à morte e à ruína, obsessões da cena finissecular. Nesse contexto torna-se necessário o estudo da alegoria, especialmente a alegoria barroca ou moderna, porque é o olhar alegórico o procedimento estético que permite a ressignificação da imagem em tela. O conceito de barroco elucida, portanto, o modo de construção alegórico do texto e ainda as concepções de literaturas e de história que se articulam no interior da narrativa brandoniana. 3.1. O procedimento alegórico Debruçar-se sobre História dum Palhaço é tão mais instigante quanto mais se pensa que a crítica contemporânea83 tem deixado no limbo do esquecimento esse livro de Raul Brandão, escrito ainda no fenecer do século XIX, obra que pode se apresentar – e que é a justificativa para este capítulo – como chave para uma leitura alegórica da literatura brandoniana. A visão do escritor de Guimarães está alicerçada em um procedimento alegórico de configurar a própria escritura, para o qual a ruína, efeito estético da catástrofe, é a imagem que resulta da elaboração de sua arte literária. Com efeito, se se pode compreender a escritura de Raul Brandão inequivocamente ligada à modernidade que o século XIX inaugura e o século XX aprofunda, parece-me indispensável deter-me na observação do livro publicado em 1896 que, tal qual a maior parte dos livros do escritor, foi refundido nos anos seguintes. Em se tratando de como o escritor da Foz do Douro distingue-se por sua peculiar concepção de narrativa – uma estética do trapo –, importa-me ainda mais pensar a partir de um texto que é duplamente 83 Consultar as fases da crítica brandoniana, segundo a divisão proposta no primeiro capítulo desta pesquisa. Os três estudos críticos que perpassam a narrativa de História dum Palhaço (resultados ainda da crítica de reabilitação do escritor) serão retomados quando se julgar necessário, ressalvando-se que as propostas das investigações divergem das aqui apresentadas. 119 tocado pela História: história que obriga a pensar a História; texto que reflete e é refletido no contexto finissecular. História dum Palhaço, cujo subtítulo é “A vida e o Diário de K. Maurício”, é, muito provavelmente, a obra em que Brandão permite que melhor se observe sua visão barroca e messiânica de uma perspectiva literária da história, que já se distancia do positivismo oitocentista. Barroca, porque não há como dissociar o conceito de história em Raul Brandão da ideia de ruína e de catástrofe, o que faz pensá-lo ao largo de Nietzsche e, sobretudo, de Walter Benjamin; messiânica, porque quanto mais desesperadoras se mostram as perspectivas de futuro no interior do texto em análise, mais resiste a esperança e mais se solidifica a alegoria da Árvore.84 A propósito, embora esta leitura se detenha tão somente na alegoria do palhaço, o próprio autor, ao refundir o texto e republicá-lo em 1926, deu-lhe outro título,85 deixando à mostra uma dualidade que se constrói a partir do par Palhaço/Árvore: o homem enquanto resultado de suas experiências vividas pelo choque86 à beira do fim-de-século, e a necessária comunhão com o cosmos, o desejo da metafísica. Helena Carvalhão Buescu sublinha que o “o tempo oitocentista se figura doente de uma violência para o qual já não há antídoto” (2005, p. 112), associando, na sequência, o conceito de mal-do-século ao de fim-de-século. O palhaço de Raul Brandão permite amalgamar, numa única imagem, as figuras tutelares de um Baudelaire que pensa a modernidade e o espaço da cidade como local privilegiado de sua 84 Vergílio Ferreira, no ensaio “Raul Brandão e a novelística contemporânea”, corrobora o caráter messiânico da escritura do autor português, ao afirmar que sua obra é atravessada por uma “missão messiânica” (1995, p. 273). 85 A Morte do Palhaço e o Mistério da Árvore: nesta versão, a reestruturação da narrativa original se torna patente ao se observar não apenas a disposição dos capítulos/opúsculos ao longo da obra, mas também a busca por um equilíbrio entre as imagens alegóricas do Palhaço e da Árvore. Na primeira versão do texto, “O Mistério da Árvore” está circunscrito a pouco menos de quatro páginas, em que a Árvore viabiliza-se como a leitura possível de um paraíso edênico impossível, porque desgraçado desde o princípio dos tempos, embora nele residam a esperança e o sonho. 86 Para uma melhor definição do conceito de experiência e seus desdobramentos (a autêntica e a vivida pelo choque), consultar o ensaio “Experiência e pobreza” (BENJAMIN, 1994, p. 114-119). 120 manifestação: o dândi, o flâneur e o trapeiro. Recolhendo os despojos da violência do tempo, os cacos de uma história necessariamente fragmentada e arruinada, o palhaço brandoniano emerge como arauto do crepúsculo, não apenas porque a escritura do livro marca de forma decisiva o projeto estético de uma geração, a dos Nephelibatas, situada a meio caminho entre naturalismo e decadentismo, mas também por incitar o leitor à leitura revigorada do anjo benjaminiano, o qual é descrito na tese IX de “Sobre o conceito da história”: Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia única de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechálas. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso. (1994, p. 226). O anjo retratado por Paul Klee e apreendido por Walter Benjamin leva a pensar numa imagem grotesca e trágica, de feições disformes, que luta contra a violência do tempo, ao passo que também se sente atraído por ele, e é impelido a colar os fragmentos na tentativa de resgatar os cacos perdidos da história. Como o anjo benjaminiano, o trapeiro de Baudelaire, esse herói87 que mira a catástrofe, incumbe-se de recolher os trapos que ficaram dispersos pela Paris da segunda metade do século XIX, colecionando toda a ordem de “enxurro”, para lançar mão de uma palavra tão ao gosto de Raul Brandão. Benjamin ainda adverte de que 87 Entende-se por herói o conceito explicitado por Walter Benjamin em sua interpretação da escritura baudelairiana: o “herói é o verdadeiro objeto da modernidade” (1997, p. 73), encena-a, representa o próprio papel, cola a máscara à face e não a deixa despregar. 121 Trapeiro ou poeta – a escória diz respeito a ambos; solitários, ambos realizam seu negócio nas horas em que os burgueses se entregam ao sono; o próprio gesto é o mesmo de ambos. Nadar fala do andar abrupto de Baudelaire; é o passo do poeta que erra pela cidade, à cata de rimas; deve ser também o passo do trapeiro que, a todo instante, se detém no caminho para recolher o lixo em que tropeça. (BENJAMIN, 1997, p. 78-79). A figura trágica do trapeiro, envolto em trapos e colecionando trapos, confunde-se com a imagem que se constrói do pobre, do desgraçado que, na narrativa brandoniana, adquire certo status de artista e torna-se peça fulcral no desenvolvimento do conjunto de sua obra88. Em História dum Palhaço, o escritor de Guimarães já se distancia de uma história hegeliana, que prioriza o fatum e nele vê o motor do sentido histórico, mas se aproxima do pensamento de Nietzsche, não apenas por compreender com este último que o “fatum não é outra coisa senão uma concatenação de acontecimentos, que o homem determina o seu próprio fatum tão logo ele venha a agir e a criar” (NIETZSCHE, 2005, p. 64), mas também por colocar em dúvida a existência de Deus, nem sempre por uma percepção teológica, antes por uma intuição histórica que aponta para um total desamparo do sujeito homem – o homem entregue à própria sorte. Neste sentido, é proveitosa a compreensão que Noéli Sobrinho faz do pensamento histórico de Nietzsche ao afirmar, por contraponto, que “a visão hegeliana [...] afirma que a história sempre foi escrita pelos vencedores, pelos que obtiveram sucesso” (2005, p. 34). É neste passo que o pensamento anti-historicista de Walter Benjamin encontra as bases da filosofia nietzschiana, porque o primeiro ensina que é preciso “escovar a história a contrapelo” (BENJAMIN, 1994, p. 225) e, ainda, que é necessário “preencher o tempo homogêneo e vazio” (Ibidem, p. 231), ao passo que o segundo assevera que estamos “corroídos por uma febre historicista” (NIETZSCHE, 2005, p. 69), para depois 88 Utilizar-me-ei da primeira versão autoral (1896) por entender que o texto do final do século XIX é o que melhor permite apreender de que forma a ideia de ruína começa a se delinear e a manifestar-se na escritura do autor. 122 ponderar sobre os enganos de se deixar levar por uma história monumental e, portanto, “acreditar que os grandes momentos da luta dos indivíduos formam uma cadeira contínua” (Ibidem, p. 84). Nietzsche e Benjamin tornam possível, portanto, a escrita de uma história dos vencidos, dos pobres, dos operários, dos trapeiros que espreitam à espera de seu lugar na história. Daí que História dum Palhaço permita chancelar uma leitura crepuscular da história, porque inserido na esquina do século sob os auspícios do decadentismo ou ainda porque estritamente apocalíptico, uma história que, anunciada por seu arauto, se desfaz em ruínas. A alegoria do palhaço em Raul Brandão conduz à compreensão de que nele residem, ao mesmo tempo, as figuras do flâneur e do trapeiro, sendo possível ir além e sugerir que, se é o palhaço um artista de circo, também o é poeta decadente que perdeu a aura da sagrada arte de fazer rir. Fusão de imagens, o palhaço ganha corpo como arauto do fim-de-século, seja numa concepção da estética finissecular, seja na perspectiva de que não é possível a escrita de uma narrativa que não se debruce sobre a ótica dos vencidos, cuja preocupação ocupou significativa parte da obra brandoniana: “Ai dos vencidos! pobre dos que hesitam um instante só![...] pra a frente! pra a frente!... (BRANDÃO, 2005, p. 34). Sob essa perspectiva, a literatura de Raul Brandão sinaliza um novo modo de apreender a história, que não seja o de apagar o rastro dos vencedores, mas de resgatar o papel daqueles que experimentaram e vivenciaram uma sucessão de descalabros. Nessa esteira, observando que a “atitude revolucionária fundamental consiste em tomar o partido dos vencidos” (ROUANET, 1990, p. 20), sublinhando que “cada momento revolucionário impõe a tarefa de transgredir a história dos vencedores, de desarticulá-la, de imobilizar seu fluxo, [...], de despertar de suas sepulturas os mortos” (Ibidem, p. 20- 123 21), o pensamento anti-histórico89 apontado por Walter Benjamin aproxima-se da visão brandoniana, e ambos vislumbram uma história que “é objeto de uma construção” (BENJAMIN, 1994, p. 229) da esfera do texto narrativo. Na óptica da construção literária, História dum Palhaço tem a peculiaridade de apresentar mais uma tentativa heteronímica ainda no século XIX: depois de Eça e antes de Pessoa, é Raul Brandão que se empenha na criação de uma alteridade, fazendo-nos ler, às primeiras páginas do livro: Foi numa noite dessas que eu conheci K. Maurício. A sua Vida, a sua Alma, ele a estatela no livro que se segue, e que deixou escrito. É um romance incompleto e fácil é de ver que é quase uma autobiografia: por isso lhe publico, juntando-lhe o que nos seus papéis encontrei com o título de Diário. Esta história dum palhaço desgraçado e abatido e sempre agarrado à sua quimera não é bem a sua história?... [...] Eis aqui a história da sua morte[.] [...] K. Maurício estoirou a cabeça com um tiro de pistola, e era na verdade o que ele tinha a fazer de melhor. (BRANDÃO, 2005, p. 3335). Observa-se que Raul Brandão rejeita, ao assinar essa espécie de apresentação (parte fundamental da obra), o papel de narrador-autor, desvelando um processo de ficcionalização da escrita quando confere ao alter-ego K. Maurício a construção primeira dos textos que se seguem no volume, ao passo que o escritor, sujeito empírico, é apontado como editor ou narrador-comentador dessas páginas plenas de densidade psicológica e elevada carga dramática. História dum Palhaço acentua, assim, a marca de falso diário, reforçado nas páginas subsequentes, em que se lê: “Decerto que ele nem sempre foi sincero, mas [...] 89 Observe-se que na teoria da imanência da história de Walter Benjamin, a história natural deve ser encarada como “uma história cega e sem fins” (ROUANET, 1984, p. 35), ao passo que a anti-história é o contra-movimento empreendido pelo tirano a fim de naturalizar a história, domesticá-la, mesmo sabendo que a história é sempre indomável. Na seção destinada ao estudo do barroco, e, por conseguinte, da visão barroca da história, deter-me-ei um pouco mais nestes conceitos. 124 raro pensou que teria leitores, assim como em todas as páginas que eu a seguir transcrevo, e em muitos pedaços escritos como sentidos e atirados para o papel numa sofreguidão de se contar” (Ibidem, p. 56, grifo meu), pelo que justifica, em termos de coerência textual, o narrador-comentador adjetivar o livro de “mal escrito, áspero, com frases inacabadas” (Ibidem, p. 55). Essa aguda consciência crítica do texto e essa busca por artifícios que o tornem mais elaborado do ponto de vista da diegese ficam ainda mais perceptíveis quando, ao transformar o circo em teatro (e nesse processo o artistaespontâneo perde espaço para o autor-arquiteto), o filósofo Pita dispara: “- Fora o autor! fora o autor!” (Ibidem, p.133). Importa pensar a escrita brandoniana não somente como escrita literária que permite apreender uma ideia de história, que ganha corpo no interior da prosa em questão, desvelando a imagem da ruína como princípio estético da escritura de Raul Brandão. É preciso entendê-la como literatura que se autorreferencializa, seja porque revela a percepção do autor no que tange a não posicionar a fronteira entre narrativas literária e histórica de forma estanque – e nem mesmo os limites entre os gêneros literários –, como se viu na leitura crítica de El-Rei Junot, seja porque constitui o próprio marco estético, na esteira de uma obsessão pela ruína, pelo trapo, pelo fragmento. Se esses (des)contornos – o desajuste milimétrico da narrativa – não estão ainda plenamente sedimentados em História dum Palhaço, completar-se-ão quando o fio narrativo não puder mais ser desfeito, porque já não se encontra a sua ponta e, desse modo, não conduz o leitor a lugar algum, mas apenas o submete ao angustiante labirinto do sujeito, este um narrador que experimenta o abalo do tempo como categoria formal da narrativa, um tempo paralítico fugidio e prolongado (“O que sobressai [...] é a paralisia do tempo, perdido nas ninharias do quotidiano, na insignificância das coisas” e mais adiante: “o tempo, numa lentidão angustiante, corrói, como o caruncho que 125 atinge a madeira, todas as coisas e pessoas, eternamente”; RUAS, 2001, p. 3).90 Esse livro, como reitera a crítica, é Húmus: “As velhas, por exemplo, não são más, mas teem atraz de si seculos de ruina e de destroços. [...] Vae remexer no que estava sepultado ha dois mil annos, no bolor e no bafio, nas paredes compactadas da Sé, nos santos immoveis nos seus nichos, na inutilidade e no habito”. (BRANDÃO, 2000b, p. 64-65).91 O escritor dá a entender que o texto que se apresenta em História dum Palhaço resulta de documentos diversos, papéis deixados por K. Mauricio, entre os quais um romance autobiográfico. Essa trapaça ao leitor, posto que a narrativa se estrutura em uma série de encaixes de níveis diegéticos distintos, leva à observação de que o atormentado K. Maurício multiplica-se em avatares, desdobra-se em outros sujeitos, no que se pode denominar uma orquestra de contradições: o Pita, o Anarquista, o Doido e o Palhaço são máscaras de uma mesma personagem-hidra, sujeito oculto de mil faces, que, por meio de diálogos essencialmente burlescos, fazem do livro em questão uma obra cuja convergência crepuscular incita a pensá-lo como monólogo de múltiplas vozes.92 A invocação catártica do sonho passa a fazer frente à inevitabilidade da morte: “Deixa-me explicar-te isto melhor: é como se eu fosse composto de diferentes seres, cada um com as suas ideias, os seus sonhos e as suas ilusões” (BRANDÃO, 2005, p. 72). Vergílio Ferreira já observara que a multiplicação desses vultos, faces de uma mesma personagem fundamental, contribuiu sobremaneira para a percepção de que a estrutura da narrativa em questão anuncia um novo mundo narrativo (“Ora Raul 90 Embora a ensaísta aponte para a problemática do tempo especificamente em Húmus, é possível identificar que o escritor de Guimarães opera na História dum Palhaço um processo semelhante quando se debruça sobre a categoria temporal. 91 A ortografia foi mantida conforme a edição consultada (1ª edição fac-similada, sob organização de Maria João Reynaud). 92 Se a ideia do “monólogo de múltiplas vozes” pode, em princípio, parecer contraditória, sustenta-se na paradoxalidade da escritura de Raul Brandão. No interior do texto, não há propriamente diálogos, mas monólogos distintos que ecoam pelo texto, numa ressonância de vozes que, além de não permitirem a identificação individual na narrativa, contribuem para a acentuação do viés dramático. 126 Brandão surge quando todas as estruturas do realismo-naturalismo são postas em causa e um novo mundo se anuncia”; 1995, p. 272), de viés flutuante, instável como só o abalo provocado pelos efeitos do sentimento finissecular pôde suscitar. Esse artifício estético é sentido também quando os textos brandonianos comunicam-se deliberadamente ao fomentar expressiva partilha de personagens, como se cada uma dessas faces significasse uma máscara, máscaras que também o homem é impelido a assumir. A repetição,93 como recurso estilístico e mnemônico, de que Raul Brandão lança mão exaustivamente, entra em ação para dotar o livro de 1896 de uma forma labiríntica, assumindo quase a forma de litania baudelairiana94 à qual o leitor é exposto: “A flutuação da organização interna de seus livros – escrevi algures – sentimo-la em A Morte do Palhaço, em que há a repetição ipsi verbis de um largo trecho” (FERREIRA, 1995, p. 277). No texto brandoniano, considerando, portanto, o Palhaço como a compósita face finissecular da narrativa em estudo, o desgraçado artista de circo é tomado de amores por Camélia, uma comediante ambulante, com quem trabalha. Ao gosto da estética de Raul Brandão, a narrativa prioriza sua tensão psicológica, entremeando o drama do amor e o desejo incontido de morte. Desde o princípio da narração, sabe-se que o Palhaço/K. Maurício encontrará seu fim no suicídio (“Trinta anos, um feitio encolhido, velho, e nem frescura de alma ao menos. Para que é que eu vivo?”; Ibidem, p. 63) e que 93 Jacinto do Prado Coelho, sublinhando a força dos mecanismos de repetição para uma configuração estilística na obra de Raul Brandão, diz que “No Húmus, a reiteração é um dos princípios dominantes quer da composição quer do estilo.” (1996, p. 295). 94 O poema “As litanias de Satã”, publicado em As Flores do Mal, traz à baila o recurso anafórico por meio do qual Baudelaire opta por exaltar o lado satânico do ser. Por meio do processo alegórico, o poeta rompe a imagem inicial do anjo, levando-a a um novo patamar de sentido, qual seja: aquele que se desabriga de uma estrutura moral judaico-cristã para abraçar o mal como estética cimeira da arte do século XIX. É possível reconhecer no processo de configuração alegórica do palhaço, na obra de Raul Brandão, os passos sequenciados de uma estética finissecular, que reiteradamente apela ao desajuste, ao desconcerto, ao mal como organização interna manifestada na forma da desordem. Assim expressa o poema de Charles Baudelaire: Ó tu, o anjo mais belo e sábio entre teus pares, / Deus que a sorte traiu e expulsou dos altares. // Tem piedade, ó Satã, de minha atroz miséria!// Ó Príncipe do exílio, a quem fizeram mal / E que, vencido, sempre te ergues mais triunfal, // Tem piedade, ó Satã, de minha atroz miséria! // Tu que vês tudo, ó rei das trevas soberanas, / Charlatão familiar das angústias humanas, // Tem piedade, ó Satã, de minha atroz miséria! [...] (BAUDELAIRE, 2002, p. 207) 127 é por saber-se desgraçado que anuncia uma história em que o triunfo não é possível, uma história para a qual o progresso nada mais é do que a ilusão que as filosofias do século XIX assimilaram. Em História dum Palhaço, Raul Brandão prenuncia o trabalho detido com a categoria temporal, que será marca indelével de sua narrativa, quando suspende a exterioridade temporal da ação95 e, em efeito de adensamento, permite ao leitor debruçar-se sobre a singularidade de cada personagem. O efeito estético obtido resulta na potencialização da cena dramática, o que parece antecipar o próprio teatro do escritor e permite pensar a literatura brandoniana como, muito provavelmente, a mais expressiva cena dramática do teatro do fim-de-século, sem ainda ser teatro propriamente dito. A morte de Gregório, personagem que se manifesta como umas das faces do alterego K. Maurício, é trazida ao texto como se fosse encenada no centro do palco. Cercada de palhaços, a multidão anônima observa o falecimento: “E todos se curvaram em volta do catre, os palhaços mascarados, roxos, púrpuras, a Dona Felicidade, para verem o último esgar do Gregório, enquanto o Pita berrava: – Pode cair o pano!” (Ibidem, p. 124). A similaridade com a técnica teatral não é apenas insinuada, textualmente referenciada, torna-se presente em muitos fragmentos do texto, contribuindo para conferir-lhe o tom moderno de sua elaboração, em especial neste em que se pode presenciar o conceito de morte como espetáculo ou ainda a morte como rito encenável. 95 Quando digo que o livro de 1896 prenuncia o desmonte do tempo, enquanto categoria do romance, é porque é no Húmus, vindo a lume quase duas décadas após, que a opção pela suspensão temporal na constituição do tempo é consolidada, sublinhando o que o escritor de Guimarães apela à paralisia do tempo. Vergílio Ferreira assinala que “Húmus passa-se num instante que se prolonga. Há a mecânica dos gestos, ou seja, um gesto único. Um instantâneo fotográfico fixá-lo-ia num ápice da sua realização” (1995, p. 280). E ainda: “Porque em Húmus não há tempo. É a luz da eternidade que a multiplicidade da vida aí se nos revela e a eternidade é imóvel.” (Ibidem, p. 279). Entre os colaboradores da crítica contemporânea que se debruçaram sobre a problemática do tempo na novelística brandoniana, consultar o ensaio “Húmus, um romance em deriva: notas sobre a problemática do tempo” (RIOS, 2008a), publicado na revista Diadorim, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Entre os renomados críticos portugueses, consultar os ensaios de Jacinto do Prado Coelho (1976: “Da vivência do tempo em Raul Brandão”) e de Maria Alzira Seixo (1987). 128 Se, como dito, a percepção brandoniana da história é, simultaneamente, barroca e messiânica, é certo que a afirmação carece de maior explicação e uma passagem pelo conceito de barroco é necessária para sustentá-la de modo satisfatório. É preciso antes, no entanto, recuperar o uso benjaminiano da alegoria. Se o símbolo carrega consigo a perenidade de seu significado, mostrando-se como síntese da imagem que transmite, a alegoria96 resulta de um processo histórico, envelhece e ressignifica-se com o passar do tempo, devendo, portanto, ser analisada como produto de uma dada interpretação crítica que tem, em seu princípio, a arbitrariedade da escolha: Enquanto o símbolo, como seu nome indica, tende à unidade do ser e da palavra, a alegoria insiste na sua não-identidade essencial, porque a linguagem sempre diz outra coisa (allo-agorein) que aquilo que visava, porque ela nasce e renasce somente dessa fuga perpétua de um sentido último. (GAGNEBIN, 2004, p. 38). Há de se destacar que, diferentemente do símbolo, cuja significação guarda relação de motivação com a imagem que representa, a alegoria, por sua singularidade na significação não pode ser tomada no sentido globalizante, como ajuíza Maurice Blanchot: “É claro que o símbolo não é alegoria, isto é, não tem como meta significar uma ideia particular por uma ficção determinada: o sentido simbólico só pode ser um sentido global, que não é o sentido deste objeto ou desta conduta separadamente” (2011, p. 87). Embora se aponte especificamente para o uso da alegoria na expressão literária, a significação que determinadas imagens adquirem em diferentes culturas pode auxiliar 96 Charles Baudelaire (2002, p. 200-201), assim escreve sobre a alegoria em célebre poema: “É uma bela mulher, de aparência altaneira, / Que deixa mergulhar no vinho a cabeleira. / As tenazes do amor, os venenos da intriga,/ Nada a epiderme de granito lhe fustiga. / Da Morte ela se ri e escarnece da Orgia, / Espectros cuja mão, que ceifa e suplicia, / Respeitaram, contudo, em seus jogos de horror, / Neste corpo elegante o rústico esplendor. / Caminha como deusa e dorme qual sultana, / E mantém no prazer uma fé maometana. / Braços em cruz, inflando os seios soberanos, / Com seu olhar convoca a raça dos humanos. / Ela sabe, ela crê, em seu ventre infecundo, / E no entanto essencial ao avanço do mundo, / Que a beleza do corpo é sempre um dom sublime / Que perdoa a sorrir qualquer infâmia ou crime. / O Inferno desconhece e o Purgatório ignora, / E quando a negra Noite anunciar sua hora, / Da Morte ela há de olhar o rosto apodrecido / – Sem remorso ou rancor, como um recém-nascido.” 129 no esclarecimento do conceito. Na maior parte das culturas ditas ocidentais, a caveira ou ainda o esqueleto humanos provocam sentimentos negativos no espectador, que as associam à morte, à dor e à inexorável fatalidade humana. No entanto, se se observar o modo pelo qual a mesma constituinte opera na cultura mexicana, verifica-se que a caveira ou o esqueleto, cujo valor intrinsecamente alegórico para a cultura do ocidente se constituiu a partir da Idade Média, adquire outra significação, divergente da primeira anteriormente apontada. É corriqueiro visualizar crianças brincando com esqueletos, confeccionados em materiais coloridos, pelos espaços urbanos da capital mexicana, numa comprovação de que o significado ao qual associamos a imagem não é intrinsecamente ligado a ela, mas produto de uma construção histórica e cultural, variável de cultura para cultura e com o passar das épocas. Contudo, o que importa para a leitura do livro de Raul Brandão é como a alegoria opera no texto literário e na própria crítica literária. Em essência, toda crítica literária é alegórica, porque o olhar alegórico implica a destruição do objeto, a sua desmontagem, para que das partes se possa compreender o todo. A obra literária, ao ser analisada, é abalada enquanto tecido textual que funcione per si e para si e renasce “instaurando o saber sobre esse desmembramento” (CANTINHO, 2002, p. 61). A crítica benjaminiana, por sua vez, ensina que o ato alegórico não prescinde da violência, é destrutivo, pois arranca a imagem de seu significado inicial para reposicioná-la de acordo com as intenções do alegorista, uma vez que “a alegoria despedaça todas as coisas em partes e atribui a cada parte um outro significado. É como se o objeto tivesse que morrer e ser retirado de seu contexto original, para que uma nova significação fosse possível.” (MACHADO, 2004, p. 39). A alegoria constitui-se, portanto, transitória em sua natureza, porém carregada de uma significação construída, que não aceita a mera identificação entre significante e 130 significado. Na sua base de sustentação, encontram-se a ruína e o fragmento, daí que “o sentido literal não [...] [seja] o sentido verdadeiro” (GAGNEBIN, 2004, p. 32), e que a imagem alegórica seja “a única forma possível de expressão da modernidade” (Ibidem, p. 35); daí que o poeta da modernidade assim interprete a construção alegórica, ressignificando-a no seio de sua escritura, para qual a imagem do cadáver não é objeto de repulsa, mas antes de desejo. Enquanto processo de interpretação, a alegoria diz sempre algo diferente, distorce a simbologia primitiva para se fazer a partir de nova tecelagem de conceitos. Como constructo teórico que importa a esta investigação, a alegoria é a melhor expressão do drama barroco enquanto gênero literário autônomo, o Trauerspiel – que Benjamin (1984) reporta em sua Tese de Doutorado, e que é objeto de considerações ao longo deste capítulo –; e este é, por excelência, a materialização textual do barroco, que se faz “acompanhar sempre pela figura da morte, como uma sombra pairante, a prova extrema do desamparo e fragilidade da criatura que se encontra em queda” (CANTINHO, 2002, p. 55). O sentimento que perpassa o Trauerspiel é o da melancolia e o gênero, que irrompeu na região da Alemanha durante o século XVI, é marcado por exprimir “a dramática e dialética condição do homem barroco e, portanto, isso, ele encontra a sua explicação pela incrustação profunda na ordem da história-natureza” (Ibidem, p. 59). Sergio Paulo Rouanet (1984, p. 9-10), em nota que faz à edição brasileira do estudo de Walter Benjamin, chama a atenção para o fato de não encontrar vocábulo completamente apropriado para traduzir o Trauerspiel alemão do século XVII, uma vez que ao uso do termo “tragédia” somar-se-ia a interpretação como tragédia grega. Como literalmente o termo original significa espetáculo lutuoso, o estudioso receou traduzir Trauerspiel como tragédia, desta feita em sua acepção moderna ou barroca, optando, dessa forma, pela expressão “drama barroco”, reservando o termo tragédia tão somente 131 ao gênero específico que encontra suas raízes na antiguidade97. Na esteira de sua explicação quanto à estrutura do Trauerspiel, Rouanet lembra que o texto original de Walter Benjamin não aborda o drama barroco sob a perspectiva da estrutura (“Essa análise não foi feita por Benjamin”, 1984, p. 29),98 sendo essa, portanto, uma interpretação do tradutor para o texto do filósofo alemão. Entre as principais questões que diferenciam o Trauerspiel da tragédia grega,99 observa-se que “o registro da tragédia é o diurno, ao passo que o do drama barroco é o noturno, pois à meia-noite o tempo pára, voltando ao ponto de partida” (Ibidem). Verifica-se ainda que o gênero alemão se identifica por “recorrer a todos os recursos cênicos: pantominas, coros, grandes massas humanas, telas com pintura perspectivística e máquinas teatrais que permitiam representar, por exemplo, batalhas aladas entre anjos e demônios” (Idem, p. 23). O Trauerspiel encontra no Príncipe, portador de uma visão melancólica, o agente do procedimento alegórico, porque o olhar do monarca transfigura tudo em ruína, tornando possível a leitura dos cacos, dos fragmentos, dos destroços que se perderam no decurso da história, encenando um “espetáculo lutuoso, destinado a homens enlutados” (ROUANET, 1984, p. 29), portador de um olhar entristecido, que arranca o objeto de seu lugar no tempo e o transforma em alegoria: “sob o olhar alegórico, as fachadas 97 Faço opção metodológica por não aprofundar no estudo da tragédia, por não residir no gênero da antiguidade o objeto de investigação. Todavia, para maiores esclarecimentos, consultar o compêndio de Albin Lesky (1996). No entanto, sublinho que Francisco Machado (2004) assim delineia a diferença fundamental, do ponto de vista do argumento ou fundamento histórico-filosófico: “Originando-se o drama barroco da concepção barroca de história, de sua revigorada imanência, a sua origem consiste numa outra do que aquela da tragédia grega, a qual se enraíza no solo do mito.” (p. 36-37). 98 Francisco Machado sublinha alguns aspectos fundamentais do Trauerspiel enquanto gênero autônomo e distinto da tragédia grega, a saber: “herói-príncipe (como tirano e mártir), local (corte como paraíso e inferno), tempo (como catástrofe e salvação). Dessa análise, Benjamin chega à conclusão de que a estrutura do drama barroco fundamenta-se numa concepção imanente do mundo. A história corre nele não mais como na Idade Média, como história da salvação, mas sim como história natural não teleológica, que tem duas faces: por um lado, ela significa destino cego e morte, por outro, ela é organizada e estabilizada através do poder secular do soberano.” (2004, p. 35-36). 99 À semelhança do trabalho empreendido por Sergio Paulo Rouanet (1984), sempre que se utilizar, nesta investigação, o termo tragédia referir-se-á ao gênero grego, em contraposição a Trauerspiel como drama barroco alemão. 132 desabam” (ROUANET, 1990, p. 24). É esta alegoria barroca100 que importa para pensar o texto brandoniano, porque é com a “(des)focagem decadentista do real” (PEREIRA, 1998, p. 9) que se desaba o edifício literário do realismo-naturalismo. Se o Palhaço é, como tenho dito, o arauto do fim-de-século, interessa sublinhar a forma como Raul Brandão o constrói: de hábitos noturnos, eternamente melancólico e atormentado, flâneur que se sente só em meio a multidão que o aplaude, máscara de sonho e dor101 (para o escritor sonho e dor são faces de uma mesma expressão), portador de um olhar que em tudo vê apenas o defeituoso e o degenerado. Eis a caracterização da personagem: A esse tempo o Palhaço, tendo acabado de riscar a boca de vermelhão e de empoar toda a calva, luzidia como uma bola de bilhar, espreitou de cima, do corrimão. O circo visto do alto alucinava: batido da claridade, como gás a esfuziar raivoso, parecia mover-se, rodopiar, afundar-se, com a maré de cabeças da multidão a ferver, o galope do cavalo, que agora recomeçava, a música que enervava, ventania de raiva a soprar. (BRANDÃO, 2005, p. 107) Dos muitos aspectos que uma leitura detida na imagem do Palhaço permite abordar, é forçoso destacar a presença constante da música, 102 transformando o palco do circo em palco de ópera, numa aproximação com Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, ópera em dois atos apresentada pela primeira vez no ano de 1892, no Teatro dal Verme, em Milão. O próprio texto brandoniano oferece indícios para que a comparação texto literário/ópera se sustente, pois, se por um lado Pagliacci é uma obra de fundo 100 Para um aprofundamento do estudo da alegoria, em especial a distinção entre a alegoria medieval e a alegoria barroca (alegoria moderna), consultar Walter Benjamin (1984), em Origem do drama barroco alemão. 101 Esta ideia já se encontra apresentada em alguns títulos da fortuna crítica brandoniana, dentre os quais José Carlos Seabra Pereira (1995) e Vitor Viçoso (1999), apenas para citar os mais representativos. 102 A relação entre o texto brandoniano e a música pode ser construída não apenas se utilizando do argumento de que há um espelhamento possível entre a ópera de Ruggero Leoncavallo e o romance de Raul Brandão, mas, sobretudo, pelo lirismo característico de sua escrita, cuja construção da frase, alicerçada em mecanismos prosódicos e de repetição, permite colocar em evidência tal aproximação. Não raras vezes ainda, o escritor de Guimarães pontua no seu texto a descrição de cenas com uma espécie de musica ambiente, asseverando o caráter crepuscular de sua arte. Todavia, se essa relação da obra de Brandão com a música está aqui sugerida, não será objeto de maiores reflexões no decorrer da presente tese. Fica, portanto, como sugestão a trabalhos vindouros. 133 passional, que tem por personagens principais os artistas de um circo em temporada de apresentação numa vila da Calábria (região do sul da Itália), por outro, o K. Maurício da História dum Palhaço, também artista circense, sofre de amores por Camélia, o que o leva ao suicídio, tendo sido bandido na mesma região italiana em que se passa a ópera de Leoncavallo. Ao triângulo Canio (Arlequim), Nedda (Colombina) e Silvio (amante), Raul Brandão aprofunda a relação agônica que envolve K. Maurício, Camélia e um terceiro comediante, Lídio, a quem a amada do Palhaço dedica o amor. Uma divergência entre os desfechos das duas obras deve ser pontuada. Enquanto na ópera, Canio assassina Nedda e Silvio, na História dum Palhaço é K. Maurício quem se mata com um tiro de pistola, resultando numa epifania do trágico, para a qual a única expressão possível é a máscara da dor, uma grave silhueta que permite pensar o quadro de Edvard Munch, O Grito. A letra e a música de Pagliacci são de autoria de Leoncavallo, cuja composição sob o signo do verismo exigia uma precedência de inspiração em fato real, conforme Lauro Machado Coelho: Corria o ano de 1890 e toda a Europa só falava do sucesso retumbante da Cavalleria e do que ela significa para a ópera italiana em termos de renovação. Leoncavallo dispôs-se então a seguir o exemplo de Mascagni compondo uma ópera curta, mais fácil de montar e que, obedecendo ao recém-estabelecido códice verista, se baseasse num fato real. Inspirou-se num crime passional ocorrido em Montalvo, na Calábria, no feriado da Assunção, dia 15 de agosto de 1865. (2002, p. 139). É certo que a imagem do palhaço, o “bufão que deve rir e fazer rir mesmo com coração partido” (KOBBÉ, 1994, p. 376), “lugar comum da arte deste meio século” (FERREIRA, 1991, p. 179), não é novidade numa Europa que há muito se deleitava com a música cênica e mesmo com o tema privilegiado do Trauerspiel barroco (cf. CANTINHO, 2002, p. 71). A originalidade da obra de Leoncavallo, quase sempre montada em conjunto com Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, reside em 134 exacerbar o verismo ao limite, fazendo-se com que o fato real de sua suposta inspiração passe a ser encenado no palco, diante dos olhos dos espectadores. Na ópera de 1892, Canio, o palhaço traído, assassina Nedda e o amante Silvio, fazendo revelar que, à encenação baseada no crime passional de 1865, se justapõe a complicação da frágil relação entre os próprios artistas do circo envolvidos que, deixando de encenar, atuam como se estivessem numa situação de homens reais: “A peça que eles apresentam ecoa a situação que estão vivendo na vida real” (COELHO, 2002, p. 140). A astuciosa composição de Pagliacci, num sofisticado mise-en-abîme que, mais que funcionar como eco e ressonância do que se desenrola no palco, problematiza as fronteiras entre a música cênica e o teatro, também está presente no texto de Raul Brandão que, numa poética delirante, onde o jogo das máscaras impede que o leitor identifique individualmente as vozes que narram o texto (por isto mesmo, prefiro tratálas todas como múltiplas vozes periféricas de um supranarrador ficcionalizado em seus duplos: o narrador-comentador e, ao mesmo tempo, o narrador-autor, sendo este o próprio palhaço que tem sua história contada no texto de 1896), escreve: “Nunca como diante deste trapo de enforcado eu compreendi melhor a minha alma [...]. Eu riome...Mas vamos lá a contar a história do velho clown” (BRANDÃO, 2005, p. 67), para a seguir acrescentar: “Muitas vezes me contou com redondos olhares de inveja as suas noites no Circo” (Ibidem). Um ponto que merece considerações é a forma como Raul Brandão travou contato com Pagliacci, ópera que correu o mundo em montagens diversas, de Milão a Nova York, passando por Londres, Paris e Rio de Janeiro103, entre outras cidades importantes no circuito musical. A hipótese mais plausível parece ser a de que, quase sempre 103 De acordo com Gustave Kobbé, a trajetória de estreias da ópera seguiu o roteiro: “Estréia: Teatro dal Verme, Milão, 21 de maio de 1892 [...]. Londres, Convent Garden, maio de 1893 [...]; Rio de Janeiro, Teatro São Paulo, julho de 1893 [...]; Nova York, Grand Opera House, junho de 1893 [...]; Paris, Cercle de l’Union Artistique, 1899 [...].” (1994, p. 375). 135 encenada em programa duplo com Cavalleria Rusticana, desde que um “espetáculo do Metropolitan House de Nova York as reuniu em dezembro de 1893”, quando “raramente se separaram” (COELHO, 2002, p. 133), o acesso a Pagliacci tenha se dado via Cavalleria Rusticana, obra que, desde a temporada 1894/1895 no Teatro São Carlos, em Lisboa, vinha logrando êxito de público, conforme evidenciam os dados tabulados por Mário Vieira de Carvalho (1993, p 362). Na temporada de 1894/1895, provavelmente encenada conjuntamente com a ópera de Mascagni, Pagliacci pode ter sido vista em três representações, pelo que se observa o mesmo número de apresentações na temporada Teatro São Carlos 1895/1896. Por seu turno, na temporada 1896/1897 verifica-se que a ópera de Leoncavallo ocupou o palco lisboeta em quatroze apresentações solo, desbancando compositores como Puccini, Verdi, Bizet e o próprio Mascagni. O sucesso de Pagliacci far-se-á sentir nos anos subsequentes, notadamente até a temporada 1899/1900, quando, a partir de então, os registros esboçados por Carvalho (1993, p. 363) passam a apresentar exclusivamente Cavalleria Rusticana. Isto não quer dizer, na mesma lógica do proposto para a temporada 1894/1895, que o público tenha ficado sem as encenações da ópera de Leoncavallo. No entanto, mais do que elucidar uma questão de fonte e influência, importa destacar como Raul Brandão apossou-se da imagem do palhaço, transformando-o de simbologia reiteradamente explorada no imaginário europeu desde a Idade Média em alegoria do crepúsculo, esse arauto do fimde-século, a que importa para esta leitura de uma outra concepção de história na escritura do autor. No texto de Leoncavallo (2011), o Palhaço (representado pela personagem Canio) lamenta-se de sua condição miserável de, mesmo imerso em profunda melancolia, ser 136 obrigado a representar e fazer o público sorrir,104 acentuando ainda mais a própria desgraça, como é possível ler no libreto da ópera. Essa postura estritamente barroca também está presente no texto de Raul Brandão, indo além dos sentimentos expressados pela personagem e atingindo a caracterização do Palhaço, este alter-ego de K. Maurício: Que se sabia da vida do Palhaço? Apenas terminado o seu trabalho desaparecia mudo, sem um sorriso, e toda a noite ou todo o dia o passava no covil da casa de hóspedes, a tecer ideias e a sonhar... O bico aguçara-se-lhe, mais salientes os maxilares, mais funda a ruga que lhe cortava a face, e, duas ou três mechas de cabelo no crânio davam-lhe como nunca uma expressão pícara e sinistra. A sua figura ossuda tomara maiores angulosidades, feitios desengonçados e torcidos. (BRANDÃO, 2005, p. 110-111) Entre as passagens autobiográficas de K. Maurício, o trapeiro que enseja a alegoria do fim-de-século, Raul Brandão pontua o texto com a presença de um narrador que ora se confunde com o próprio protagonista, ora atua de forma a comentar heterodiegeticamente sobre os acontecimentos passados numa cidade hipotética, em que o Palhaço, pondo-se a clownear – e friso que o termo é do escritor –, registra com o olhar adoecido a vida em tons claro-escuro, anunciando não apenas o triste desfecho que o aguarda, mas a própria concepção que lateja no texto brandoniano: “Nesta hora aflitiva do crepúsculo, quantas criaturas, transidas pela vida, se põem a tecer quimeras, sonhos fugidios, nuvens!... Da terra começa a sair o hálito violeta da sua evaporação” 104 Recitar! Mentre presso dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio! Eppur è d'uopo... sforzati! Bah! sei tu forse un uom? Tu se' Pagliaccio! Vesti la giubba e la faccia infarina. La gente paga e rider vuole qua. E se Arlecchin t'invola Colombina, ridi, Pagliaccio... e ognun applaudirà! Tramuta in lazzi lo spasmo ed il pianto; in una smorfia il singhiozzo e 'l dolor... Ridi, Pagliaccio, sul tuo amore infranto! Ridi del duol che t'avvelena il cor! Recitar! Enquanto tomado pelo delírio Não sei mais o que digo e o que faço! No entanto é necessário... esforça-te! Ah! Se tu talvez fosses um homem? Tu és Palhaço! Veste o casaco e a face enfarinha! A gente paga e quer rir aqui! E se Arlequim te rouba Colombina, ri, Palhaço… e cada um aplaudirá! Transformando em piadas o espasmo e o choro; em uma careta o soluço e a dor... Ri, Palhaço, sobre o teu amor despedaçado! Ri da dor que te envenena o coração! Tradução: Alfredo Sorrini e Marcela Magalhães de Paula 137 (Ibidem, p. 141). E logo mais adiante: “Aí vem, aí vem a desesperada hora do crepúsculo...” (Ibidem, p. 149). Talvez se pudesse dizer, na esteira de Walter Benjamin (1994, p. 228) nas suas teses “Sobre o conceito da história”, que a classe oprimida, justamente aquela a que Raul Brandão dá voz ao subverter a história positivista, ensaia no alvorecer do século a luta de classes, o levante dos vencidos sobre os vencedores. Por outro lado, a leitura do texto brandoniano põe-nos a ver uma classe operária que não se subleva, embora se reconheça vítima de um processo truculento de exploração e de apagamento de sua história. Ao anunciar a aurora da catástrofe, História dum Palhaço oscila do picaresco ao sinistro, imergindo, outra vez, na alienação histórica, ou seja, permitindo que o cortejo triunfal dos que escreveram a história siga seu percurso sem maiores percalços. O Palhaço é desprovido da ação, não toma parte no processo de construção de uma outra história, não reivindica um lugar na narrativa da humanidade – apenas lhe cabe a função de contemplar impotente a violência do tempo. 3.2. Ressonâncias e desconcertos ou “Triunfo do barroco”105 A opção de conferir ao barroco um estudo mais aprofundado deve-se, naturalmente, à tentativa de conferir ao texto brandoniano, notadamente a narrativa de História dum Palhaço, o estatuto de estética barroca lida pela modernidade que o século XIX precipita. O viés barroco de narrativas que estreiam em épocas posteriores ao barroco histórico tem ocupado sistematicamente um maior número de especialistas em estudos literários, com especial atenção àqueles que se debruçam sobre a contemporaneidade. 105 O título desta seção é justa referência ao ensaio de Maria Theresa Abelha Alves (1994), que trata de como o barroco tem sido relido por nossa modernidade. 138 Os elementos localizados no interior da narrativa de 1896, fazendo coincidir significativa parte de sua estruturação interna com a construção do Trauerspiel, aproximam-na do drama barroco alemão, parecendo configurar-se numa espécie de drama neobarroco, talvez único na literatura portuguesa no que tange à originalidade e ineditismo da proposta estética, como um gênero parente próximo daquele com que Walter Benjamin se ocupou. A percepção estética torna-se ainda mais pungente quando se tomam as palavras de Sergio Paulo Rouanet, ao afirmar que o “Barroco é habitado pela antecipação da catástrofe, que destruirá o homem e o mundo, mas não é uma catástrofe messiânica, que consuma a história, e sim a do destino, que aniquila” (1984, p. 35). Com efeito, se se pensa que o Trauerspiel não tem por força consolar o enlutado, representado na figura do Príncipe, “paradigma do melancólico” (BENJAMIN, 1984, p. 165), mas encenar o luto, espetacularizar a imanência de uma história que é sempre apocalíptica, torna-se patente que o teatro barroco toma a caveira e o fragmento como alegorias de suma importância: “a alegoria significa a morte, e se organiza através da morte” (ROUANET, 1984, p. 38). Por seu turno, o texto de Raul Brandão insiste nas mesmas imagens a que o Trauerspiel se dedica, e da História dum Palhaço emergem também aquela melancolia e aquele luto que se constituem na base do monarca barroco, absoluto por excelência, que tenta, em vão, controlar a violência da história, a violência do tempo. A narrativa brandoniana, assim, à semelhança do Trauerspiel, não possui personagens em sentido estrito, mas investe no “aspecto de fantoches” (ROUANET, 1984, p. 34). E este é uma das “variedades mais típicas do teatro barroco – porque são efetivamente fantoches, manipulados pela história-natureza” (Ibidem), como pode ser observado no próprio Raul Brandão: “Vejo a desgraça em tudo” (BRANDÃO, 2005, p. 61), ou ainda: “Fechei-me no quarto transido, a imaginação a tecer-me pavores e 139 catástrofes” (Idem, p, 88). O texto brandoniano, assim como a narrativa de feições barrocas, espreita incessantemente a catástrofe. Como se depreende das passagens, o texto do escritor, a todo o momento, antevê o apocalipse. Poder-se-ia considerar, por conseguinte, o decadentismo finissecular de Raul Brandão, especialmente a sua face crepuscular, como o substrato de uma tendência neobarroca106 nos fins do século XIX e primeiros anos do século XX? Em As 5 faces da modernidade, Matei Calinescu mostra que a ideia de barroco (e, portanto, de neobarroco) na segunda metade do oitocentos está, de algum modo, ligada ao conceito de decadentismo: “Como o barroco, como o qual ele tem numerosos pontos em comum, o decadentismo é para Croce uma forma historicamente concreta da eterna maldade” (1999, p. 191). Por conseguinte, ao exercício estético do autor, soma-se a idéia de ruína, que vai permitindo articular expressão literária e matéria histórica; imagem que é, em linhas gerais, a que me norteia na função de perscrutar a sua literatura finissecular. Conceber a escritura brandoniana como um exercício neobarroco107 é possível porque o próprio barroco tem sido reabilitado enquanto estética literária plena, como ajuíza Arnold Hauser: 106 O crítico Omar Calabrese ajuíza que o barroco, entendido na forma de conceito estético, pode se manifestar em qualquer época da civilização. Diz-no que o termo deve ser lido como “categoria do espírito, oposta à de ‘clássico” (1987, p. 27). Para o estudioso italiano, ao se admitir a existência de uma arte neobarroca, não significa um retorno ao barroco tal qual ele tenha se manifestado no período histórico: “Mas preciso desde já que a etiqueta [de neobarroco] não significa que tenhamos ‘retornado’ ao barroco, nem que o que eu defino por ‘neobarroco’ seja a totalidade das manifestações estéticas desta sociedade, ou o seu âmbito dominante, ou o mais positivo.”. Mais adiante acrescenta, ao definir neobarroco como a “procura de formas – e na sua valorização – em que assistimos à perda da integridade, da globalidade, da sistematicidade ordenada, em troca da instabilidade, da polidimensionalidade, da mutabilidade.” (Ibidem, p. 10). Por seu turno, João Adolfo Hansen explicita a relação entre a informalidade do neobarroco e a vaga expressionista do fim-de-século: “É útil lembrar que, na morfologia de Wölfflin, ‘clássico’ é definido como ‘formal’. Logo, ‘barroco’ implica ‘informalidade’. A suposta ‘informalidade’, no sentido dedutivo da categoria, foi programaticamente apropriada na vanguarda expressionista alemã, no começo do século XX” (2006, p. 234-235). A presente investigação não prescinde da relação entre estética expressionista e o conceito de neobarroco, daí se poder julgar a literatura de Raul Brandão como representativa do que Omar Calabrese (1987) concebe por idade neobarroca. 107 A observação sobre a existência de um contínuo estético que oriente a literatura de Raul Brandão em direção a uma expressão de matizes neobarrocos, é ratificada por Joaquim Carlos Araújo, que diz: existir de uma “constante tematização do locus horrendus da existência num universo não menos cinzento” (1998, p. 23). 140 Só recentemente a arte do século XVII, no seu conjunto, tem sido classificada com o nome de ‘barroco’. Quando surgiu, no século XVIII, o conceito era ainda aplicado exclusivamente àqueles fenômenos de arte que sentia, de acordo com a estética classicista dominante, serem extravagantes, confusos e bizarros. (1997, p. 29). Em todo o caso, já faz algum tempo que a estética barroca não tem se caracterizado como degeneração da estética renascentista que a precedeu na maior parte das literaturas em que se fez presente. A compreensão do barroco como forma não prescinde de um novo trabalho com o olhar e no saber olhar, porque, como sugere Ferreira Gullar, o barroco atualiza o olhar renascentista equilibrado e racional para estabelecer um novo padrão entre observador e o referencial retratado. Segundo Gullar, “No Barroco você tem a impressão de que o mundo está fora do quadro e o pintor apreendeu um pedaço desse espaço, mas o mundo está lá fora. Esta é uma característica [...] ao contrário da visão clássica, da visão renascentista” (2003, p. 220). Logo, é forçoso pensar que considerar o barroco uma estética que age fundamentalmente sobre e a partir do olhar, significa, talvez, pensá-lo como efeito que surge primeiramente nas artes plásticas e na escultura, para somente depois ser instaurado no seio da literatura. Helmut Hatzfeld (1988, p. 11-51) aponta como os críticos literários aproveitaram os estudos sobre o barroco, elaborados pelos historiadores da arte, para, de modo peculiar, estabelecer o parâmetro dessa estética na arte literária que, a par de se concretizar sob formas diversas, consoante o país em que se manifesta, é um estilo de época inicialmente europeu que, no bojo das expansões e dos períodos colonizadores que a seguem, transplanta-se para onde a presença colonizadora europeia se fez mais forte: a América (hispânica e portuguesa). Hatzfeld elege o método comparativo como o que melhor permite um estudo do barroco, lembrando que 141 o termo [...] deve ser usado [...] sem levar em conta o orgulho de espanhóis e alemães, que se orgulham de possuir uma literatura barroca plenamente realizada, nem o medo que sentem ainda os italianos e franceses de terem sido atingidos por um estilo que consideram [...] desgraça” (1988, p. 41). É justamente o período que compreende o final do século XIX e o início do século XX, que coincide com o momento em que Walter Benjamin escreve sua tese sobre o drama barroco alemão, e que Wölfflin “desenvolve o seu sistema assentado em cinco pares de conceitos, em cada um dos quais se opõe uma característica da Renascença a uma qualidade do Barroco” (HAUSER, 1997, p. 31), concebendo a estética do século XVII a partir de uma “visão pictórica da realidade em contraste com a visão linear” (HATZFELD, 1988, p. 15-16) dos períodos anteriores. Ferreira Gullar, por sua vez, revela a sensibilidade de artista ao refletir que o barroco divide a história da arte em duas linhas fundamentais. Uma que ele [Wölfflin] chama de expressão ‘linear’, em que predomina o contorno, a linha, a precisão, a definição dos planos, e outra, que ele chama de ‘pictórica’, em que predomina o claro-escuro, o meio-tom, a mancha, que é basicamente a linguagem do Impressionismo108 e é também a linguagem do Barroco. (2003, p. 222). 108 Posto que Ferreira Gullar, bem como críticos de arte renomados, a exemplo de Arnold Hauser (1982, p. 1047-1112), situa o impressionismo na confluência dos preceitos do decadentismo, e observando, como ver-se-á adiante ainda nesta seção sobre o barroco, que o expressionismo é vinculado a uma forma de estética neobarroca, julgo por bem esclarecer os termos expressionismo/impressionismo lançando mão do Dicionário de termos de arte, de Edward Lucie-Smith (1990), que estabelece: a) para o expressionismo: “1. Primeiramente, um termo popularizado pelo crítico de arte alemão Herwarth Walden, editor da revista AVANT-GARDE de Berlim ‘Der Sturm’(1910-32), para caracterizar toda a arte moderna oposta ao impressionismo. 2. Mais tarde arte na qual a forma nasce, não directamente da realidade observada, mas de reações subjectivas à realidade. 3. Hoje, qualquer arte na qual ideias convencionais de REALISMO e PROPORÇÃO parecem ter sido destruídas pela emoção do artista, com distorções resultantes na forma e cor.” (1990, 86); b) para o impressionismo: “Movimento artístico francês do séc. XIX, o qual tentou utilizar a pesquisa científica contemporânea realizada acerca da física da cor (incluindo o trabalho levado a cabo por Eugène Chevreul) para conseguir uma representação mais exacta da cor e TOM. A maior parte dos impressionistas aplicaram a tinta em pequenos toques de cor pura, em vez de pinceladas fortes, fazendo assim as pinturas parecer [sic] mais brilhantes do que as realizadas pelos artistas de SALON contemporâneos. [...] Os pintores ligados a este movimento agruparam-se pouco antes da Guerra FrancoPrussiana de 1870-71. A primeira exposição impressionista realizou-se em 1874 e inclui trabalhos de Monet, Renoir, Sisley, Pissaro, Cézanne, Dégas, Guillaumin, Boudin e Berthe Morisot.” (Ibidem, p. 108). O primeiro capítulo desta Tese fez considerações sobre o expressionismo em Raul Brandão, sobretudo quando se estabeleceu o elo entre o escritor e o pintor Columbano Bordalo Pinheiro – elo já apontado por diversos pesquisadores, entre os quais, pela atualidade e profundidade da abordagem, recomenda-se os estudos de José Carlos Seabra Pereira (1995) e de Jorge Valentim (2004). Pelo exposto, e ainda por ser o 142 Também Maria Theresa Abelha Alves percebe a linguagem do barroco como essencialmente pictórica, na qual a visão se destaca em meio a essa poética dos cinco sentidos, em que se constitui o estilo do século XVII, e ainda transforma cada observador da arte numa espécie de voyeur que espreita a vertigem e a miragem: “A emergência do flagelo, insistentemente, fere os olhos do visitante que se transforma em voyeur da desgraça, através das imagens que, em progressiva repetição, dão conta das ruínas em que se metamorfoseiam a triunfal Lisboa” (ALVES, 1994, p. 4). Mudando absolutamente o modo de ver o mundo, o barroco, de origem europeia, entranha-se na América e perpetua-se na Europa. Para alguns críticos, inclusive, não nos separamos dele, o barroco permanece: “O Barroco está em nós, e nós nele. Temos de salvá-lo, salvando-nos.” (ROUANET, 1984, p. 47). Walter Benjamin, por sua vez, assinala a atualidade do barroco ao aproximá-lo das tendências expressionistas do fimde-século, compreendendo-o mais como intuição e estética do que escola de arte: “Como o expressionismo, o Barroco é menos a era de um fazer artístico, que de um inflexível querer artístico” (BENJAMIN, 1984, p. 77) e, a seguir, arremata: “É nesse querer que se funda a atualidade do Barroco, depois do colapso da cultura clássica alemã.” (Ibidem). Embora a Espanha se considere como berço estético do barroco, um país barroco por predestinação (HATZFELD, 1988, p. 18), é na Península Itálica, especificamente nas cidades de Nápoles e Roma, que o estilo encontra sua origem, porque essa poética do século XVII funda-se a partir do substrato renascentista: “O princípio fundamental se mantém: posto que o Barroco nasce com o Maneirismo, e o Maneirismo é uma primeira expressionismo a tendência estética que mais se familiariza com o Trauerspiel, segundo Walter Benjamin (1984, p. 76-79), infere-se que o uso do impressionismo, por parte de Ferreira Gullar para qualificar a linguagem barroca, parece menos apropriado que o uso do termo expressionismo, se se opta por uma leitura do barroco pelo viés da modernidade. Dessa forma, parece que, em contraponto ao que aborda Hauser (1982), no estudo referido nesta mesma nota, o decadentismo brandoniano difere do que o crítico de arte aponta como tendência decadentista – ou ainda talvez seja o fato de se considerar que, tal como o barroco, que o conceito de decadentismo é amplo, difuso, e a arte decadentista materializa-se em formas diversas. 143 alteração das formas do Renascimento Italiano” (Ibidem, p. 44). Por esse princípio, e sublinhando a informação de que as regiões germânicas não conheceram o renascimento em sua acepção italiana, sendo mesmo a chegada da referida estética bastante retardada em comparação à chegada a outros países europeus, tornar-se-ia problemático considerá-los todos como uma mesma estética, o barroco histórico. A crítica especializada tem insistido em afirmar que “o barroco abraça tantas ramificações de caráter artístico, [que] aparece em tão diversas formas, nos diferentes países e esferas da cultura, que parece duvidoso, à primeira vista, ser possível reduzi-las a um denominador comum” (HAUSER, 1997, p. 27). Pelo exposto, deve-se tomar o barroco como a estética que convida para um retorno ao gótico, esse estilo genuinamente europeu, “uma tentativa de voltar a unir o que o Renascimento havia desfeito”, isto é, a era gótica. Os ideais de Hatzfeld (1988, p. 26-27) referendam, assim, o pensamento de Arnold Hauser, quando este afirma que “toda a arte do barroco está cheia deste horror, cheia de eco dos espaços infinitos e da inter-relação de todo o ser.” (1997, p. 39). Críticos e historiadores da literatura, à imitação dos historiadores da arte, têm considerado distintos os períodos do maneirismo, do barroco e do rococó,109 quando se observa todo o período do barroco histórico,110 o que vai, tomando-se por modelo a manifestação em território espanhol, dos finais do século XVI e se prolonga por todo o século XVII. Se, conforme ensinou Hatzfeld, o barroco genético111 é aquele que decorre de um aprofundamento do maneirismo, compreende-se que há uma notável diferença entre as manifestações barrocas da Europa do Sul (católica) e da Europa do Norte 109 O conceito pode ser interpretado como sinônimo de barroquismo, conforme deixa depreender Hatzfeld (1988, p. 40). 110 Aqui inferido como sinônimo de Era Barroca. 111 Utilizo-me da expressão para referir ao barroco que se origina nos países em que o renascimento em sua expressão italiana se fez sentir, conferindo aos demais barrocos a condição de estéticas transplantadas que, ao alojar-se nos países de destino, adquirem novos contornos e formas de expressão. Este é o caso, por exemplo, do barroco alemão. Quando lanço mão do adjetivo “transplantadas” não o faço de forma depreciativa. 144 (protestante), o que redunda em formas diversas, e ainda na dificuldade que os estudiosos experimentam ao contextualizar a estética. A presente investigação elege a divisão esboçada por Hatzfeld (1988, p.40) em três gerações, substituindo a que se delineou no parágrafo anterior, considerando: maneirismo (ou renascimento barroco), barroco (ou barroco clássico) e rococó, destacando de todo o período do barroco histórico apenas o que compreende o barroco clássico, tido ainda como barroco perfeito.112 No entanto, a classificação sugerida pelo crítico de arte não se estende uniformemente a toda a Europa, centrando-se, sobretudo, na Europa do Sul; e nem mesmo todas as nações aceitam plenamente a existência do barroco clássico em seu percurso estético, a exemplo da França, que partilha a opinião dos que defendem a ideia de um Classicismo barroco, mas não de um Barroco clássico, isto é, a literatura francesa não aceita pacificamente a presença de uma era barroca, mas a presença de traços barrocos em seu período clássico. Em todo o caso, o que importa não são as inúmeras divergências que incidem sobre o estudo do barroco, enquanto manifestação estética europeia, mas as suas convergências que permitem tomá-lo enquanto conceito artístico. Ferreira Gullar afirmou sabiamente que há “uma variedade enorme de barrocos”, mas ressaltou as qualidades perenes, ao caracterizá-lo como estilo da “irregularidade, [d]assimetria, [d]a paixão em lugar da racionalidade” (2003, p. 219). Nessas linhas gerais, a pintura barroca, que se pode considerar como arte-parâmetro do barroco, porque é dotada dessa essencialidade visual, “trabalha a ilusão no espaço [...], criando perspectivas falsas dentro da perspectiva real, escadarias que não existem, reentrâncias 112 Sobre a não concordância entre os críticos no uso do termo barroco clássico ou perfeito, Hatzfeld ajuíza: “Do nosso esquema geracional constituído pelo Maneirismo, pelo Barroco e pelo Barroquismo, que passam de um país a outro, e emitem, no que poderia chamar-se uma “fuga”musical, o cantus firmus do puro Barroco clássico, sempre a uma geração de distância entre um e outro país, surge a questão, hoje tão debatida, em especial no que se refere à França: existe contradição ou, ao contrário, analogia ou inclusive identidade entre o Barroco e Classicismo.” (1988, p. 46). 145 de vazios e cheios que não existem, mas que a pintura finge nos muros do templo e especialmente no teto que tem” (Ibidem, p. 221). Parte do desprestígio que o barroco sofreu nos século XVIII, XIX, e mesmo ainda no século XX, deve-se ao fato de que a crítica classicista parece ter levado a sério a própria imagem que o barroco fez de si, num processo de afirmação de uma estética que tinha por objetivo afastar-se do ideal renascentista. Em última instância, a edificação de uma crítica baseada na depreciação do barroco implicou uma recepção pouco generosa de textos que desafiavam o leitor quanto à linearidade de sua delimitação e estruturação e, sobretudo, as ideias contidas em seu interior. Poderia ser este o motivo por que a crítica pouco compreendeu a poética de Raul Brandão? Não seria este ideal de dissolução, 113 a base de um dos mais prestigiados gêneros do século XX, o nouveau roman?114 É necessário resgatar o prestígio do barroco e, mais que isso, elucidá-lo enquanto proposta estética autoconsciente nas suas manifestações da modernidade (cf. GUIMARÃES, 1994, p. 22): Por ignorar o drama barroco como idéia, a crítica clássica acabou aceitando a visão que o Barroco tinha de si mesmo, levando a sério sua poética, que era pseudo-aristotélica. Em conseqüência, o drama barroco passou a ser visto pelos críticos posteriores como tragédia e medidas por esse padrão suas obras não podiam deixar de ser consideradas distorções grosseiras da tragédia grega. (ROUANET, 1984, p. 27). Em sua concepção de entrâncias e reentrâncias, na sua construção que exige uma perspectiva vertical do observador, o barroco parece constituir a estética ideal para a 113 Sergio Paulo Rouanet assevera: “O drama barroco, como forma, se aproxima da dissolução” (1984, p. 25). É Vergílio Ferreira dos primeiros críticos da reabilitação brandoniana a marcar a aproximação entre a escritura de Raul Brandão e o nouveau roman francês, ao distinguir que o escritor de Guimarães “se antecipou, em larga medida, ao que veio a realizar o chamado ‘novo romance”(1995, p. 265-276). A seguir, credita o mérito da observação a outro renomado crítico português, ao pontuar “que se deve a David Mourão-Ferreira, e a despeito das objeções que se lhe queiram opor, a melhor aproximação feita até hoje entre Raul Brandão e esse ‘novo romance” (Ibidem, p. 276). 114 146 arte da ilusão, manifestada no tecido literário na forma do mise-en-abîme, técnica que também se faz explicitada na narrativa de História dum Palhaço, em que o texto dramático – tomando aqui drama em sentido lato – permite a encenação de outro drama, isto é, as apresentações do circo, núcleo fundamental da narrativa e habitat desses estranhos trapeiros brandonianos, os palhaços: “Assim, o artifício [...] do espetáculo dentro do espetáculo introduz na cena uma instância que à primeira vista remete a outra realidade, não-ilusória, mas essa segunda realidade é apenas uma cena atrás da cena, e portanto uma duplicação ilusória da primeira ilusão” (ROUANET, 1984, p. 32-33). Embora seja ainda possível reconhecer uma trama preenchida, sobretudo, pela angústia de um palhaço absorto pelo caráter fatídico e atávico de um pessimismo finissecular e que, por conseguinte, encontra no suicídio a única saída possível para os males da existência humana, a constituição da narrativa brandoniana – ainda que descosida, como sublinho – aproxima-se, portanto, do ideal estético do barroco, justamente por ser um texto cuja legibilidade pressupõe a vertigem do olhar, o jogo de luzes e sombras, a profundidade da cena – quase sempre extravasada porque o autor suprime a moldura que enquadra os limites da imagem –, uma acentuada assimetria das formas, a presença de entes que assumem a forma de fantoches, a insistência na repetição como recurso estilístico e mnemônico que “intensifica aquilo que se quer transmitir sem nada de [novo] acrescentar ao conteúdo” (BARATA, 2008, p. 92), os laivos de uma melancolia finissecular, a ilusão do espaço dramático, os ecos de uma estética que, beirando o horror, antecipa a catástrofe. Diante do rol de qualidades que caracterizaram as tendências neobarrocas em História dum Palhaço, é pertinente observar o que diz Vítor Manuel de Aguiar e Silva sobre o conceito de fusionismo na estética do século XVII: 147 Helmut Hatzfeld, autor a quem se devem importantes estudos sobre o período que nos ocupa, apontou como traço importante da literatura barroca o fusionismo, ou seja, a tendência para unificar num todo múltiplos pormenores e para associar e mesclar numa unidade orgânica elementos contraditórios. O escritor barroco não procura a expressão de significado directo e linear, mas a expressão que encerra uma multivalência significativa que traduz valores contrastantes. Por detrás desta tendência fusionista, está a visão da unidade como dualidade, a visão do real como conflito – aspecto importante da mundividência barroca. (AGUIAR e SILVA, 1993, p. 497). O crítico português, na esteira dos estudos empreendidos por Helmut Hatzfeld, e comungando o juízo de que a estética do século XVII desloca a linguagem do nível da linearidade para o do pictórico, assinala que o barroco, qualquer que seja sua modalidade ou manifestação literária, tende à fusão de imagens e conceitos. Isto explica, em parte, certa paradoxalidade que preside ao barroco enquanto forma artística, dando conta, inclusive, dos valores espirituais que o período evoca, numa oscilação que leva o homem do carnal pagão ao sagrado cristão, juntando os dois polos da espiritualidade européia num mesmo ponto de sublimação a que os obriga a Contrarreforma, conforme sublinha Maria Theresa Abelha Alves, em seu deambular essencialmente pictórico pelo barroco em Portugal:115 “O visitante, a cada passo, esbarra na antítese fulcral do Barroco: espírito/matéria” (1994, p. 2). Deve-se observar que a narrativa brandoniana pode ser lida também como materialização textual desse ponto de aglutinação: Pita, a essa hora da noite, tinha espirros de gênio pela caveira, numa excitação contra a Vida e contra a Dor. Pelo começo da Noite é que Pita principiava a ser amargo, com um grande desprezo pelo triunfo, pelo Oiro, pela Sociedade. Pita também a essa hora estava algo na mentira: embebedava-se com as decorações sobre a Miséria e sobre o Coração Humano e a fantasia fazia-o perder-se, fazer grande, como um pintor que na febre atirasse brochadas de gênio para a tela. Pita 115 O ensaio “Trunfo do Barroco”, publicado no Boletim do Centro de Estudos Portugueses da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é resultado da experiência da pesquisadora de uma visita à exposição de mesmo nome, que teve lugar no recém-inaugurado “Centro Cultural de Belém”, em Lisboa. O referido texto foi consultado em sua versão eletrônica (cf. Referências). 148 parecia uma evocação de Poe. Pita sentia, depois da bebida, o frio dos desgraçados, a febre dos noctâmbulos: sabia a enxurro: e tinha na fantasia toda a púrpura e toda a lama que as borboletas têm nas asas, e que ele apanhara ao roçar-se pelos bueiros imundos da Cidade. (BRANDÃO, 2005, p. 102, grifo meu). O fusionismo apontado por Aguiar e Silva (1993) elucida o conceito de Wölfflin, para quem o barroco decorre, dentre outros, da passagem de uma forma de expressão da multiplicidade à unidade, ou seja, ao passo que no Renascimento a imagem é apresentada numa perspectiva racional, com múltiplos pontos de forma, cor e tom, no Barroco, dissolve-se essa estrutura geometricamente organizada para apostar na condensação estética, essa espécie de anarquia visual a qual o homem do século XVII impôs, inicialmente, alguma resistência, resultando no efeito trompe-l’oeil a que faz referência Ferreira Gullar: “Então ele usa aí o trompe-l’oeil para acentuar o fator de realidade que ele quer imprimir ao que pintou. O Barroco faz o contrário, ele usa o trompe-l’oeil para imprimir o fator de irrealidade, de delírio, de vertigem, de desequilíbrio”116 (2003, p. 221). Com efeito, no texto de Raul Brandão, percebe-se não apenas a propensão ao mórbido, à obscuridade e às alegorias barrocas da ruína, tais como “os espirros de gênio pela caveira” a que refere a passagem do texto – lembrando que o procedimento alegórico tem por ideal construir uma imagem da morte ao mesmo tempo em que parte de um processo que mata o signo em sua acepção inicial –, mas a evidência do fusionismo, tal como apontam os estudiosos, quando o escritor funde a cor púrpura ao escuro da lama nas asas do inseto; ou, ainda, na construção de pares opositores (às vezes oposição de uma forma concreta a um conceito abstrato), tais como Vida/Dor, 116 O Dicionário de termos de arte (LUCIEN-SMITH, 1990, p. 200) registra como definição de trompel’oeil: “(Fr. ‘engana olho’) Um tipo de pintura que por meio de vários efeitos ILUSIONISTAS, persuade o espectador, de forma a olhar para os objectos representados como se fossem reais. O ‘trompe-l’oeil’ consegue, com sucesso, projectar os objectos representados para além da superfície pintada. (QUADRATURA).”. 149 Noite/Oiro, pintor/desgraçados, fantasias/bueiros imundos, borboleta/enxurro. A disformidade de uma imagem, que foge à moldura do quadro, manifestada na cena, e a evocação a Edgar Allan Poe, escritor e cultor de literatura fantástica com tendências ao gótico, contribuem para delinear uma cena essencialmente dramática em que as qualidades do barroco presentificam-se. A referência ao pintor que imprime, com violência, sua tinta no quadro parece-me ser mais do que a alusão sem propósito a essa outra forma de arte, mas uma consciência de que, por meio do fusionismo, o texto extravasa a moldura do quadro, esparge e borra a imagem, porque Raul Brandão também é pintor de cenas barrocas filtradas pelo olhar da modernidade,117 o que corrobora esta leitura de História dum Palhaço como uma narrativa de filigranas neobarrocas. Os posicionamentos dos teóricos levam, deste modo, a pensar que a expressão literária de Raul Brandão desafia o cânone realista, estabelecido como arte hegemônica na segunda metade do século XIX, põe em xeque a supremacia queirosiana para, ao final do século, triunfar, ainda que momentaneamente. Mesmo tendo sido pouco lembrado pela crítica literária, História dum Palhaço, essa ressonância neobarroca, configura-se não apenas como texto literário, mas também como o testamento de uma estética, que incessantemente busca a ruína, o caco, a morte. O escritor de Guimarães cria, assim, um genuíno Trauerspiel lusófono. 3.3. No bojo da tradição Dotada de musicalidade marcante, essa narrativa de Raul Brandão, publicada em 1896, está em consonância com os preceitos estéticos da última década do oitocentos, 117 Nunca é demais relembrar que Vergílio Ferreira (1991) já apontava a produção literária de Raul Brandão como texto fundamentalmente moderno. É justamente essa percepção que revigorará a crítica na década de 1960, abrindo espaço para a crítica de reabilitação fundar-se, juntamente com a crítica contemporânea, que toma por pressuposto a modernidade da escritura brandoniana. 150 quando a vaga do simbolismo imprime certos traços líricos a escritores que, mesmo se afirmando como artistas da ruptura, trazem consigo o esteticismo, a tensão nevrótica e satânica, o culto à arte, a perseguição de um Ideal. Como se, ao rejeitarem o modo como o realismo discute e apresenta a literatura, pudessem fazê-la diferente. Refiro-me outra vez aos Nephelibatas e à definição que se pode ler no interior do opúsculo: “é pois um nome ad hoc, mas que não reproduz de certo a ideia geral que dão a esse vocabulo (sic), duma bizarria e d’um alcoolismo cantarolante: eram novos que alli se reuniam, amando e resando à Arte, ao Amor, ao fugidio Ideal...”118 (BORJA, 1992, p. 9). Importa salientar que o texto de Os Nephelibatas, da juventude do escritor, já apresenta os traços definidos de uma técnica literária que se desloca paulatinamente da seara do realismo-naturalismo às raias do decadentismo finissecular, notadamente de uma tendência expressionista, na qual K. Mauricio é apresentado como personagem nefelibata, reaparecendo em História dum Palhaço.119 Na sequência de sua carreira literária, em Impressões e Paisagens, Raul Brandão dedica alguns de seus contos a Ramalho Ortigão, Eça de Queiroz e Fialho de Almeida, assinalando a intenção de prestar homenagem aos seus modelos literários, para deles descolar-se rumo a uma poética de características próprias, em que o anarquismo é a força pungente, materializando-a na forma da dispersão do texto, que o escritor levará a cabo ao longo de sua trajetória. Sobre a escrita de História dum Palhaço e sua importância na história da literatura portuguesa finissecular, destacam-se as opiniões esboçadas por Guilherme de Castilho (2006) e Vítor Viçoso (1999). O primeiro lê no livro de 1896 o claro projeto de uma escrita em transição, pelo que qualifica História dum Palhaço como um “falhanço”. Isto se deve ao fato de que Castilho não vislumbra no palhaço brandoniano as marcas de 118 A ortografia original foi mantida. Para maiores informações sobre as relações entre o nefelibatismo e a estética decadentista, consultar outra vez José Carlos Seabra Pereira (1995). 119 151 uma alegoria finissecular, mas tão somente o desejo de “agradar ao público da época [com a] [...] história clássica do palhaço, história velha e revelha que dera já à Europa, provocando a piedade sentimental de várias gerações pelo pobre clown grotesco e delicado, desgraçado e sonhador.” (CASTILHO, 2006, p. 134-135). Com efeito, a imagem do palhaço decadente é recorrente numa Europa que se vê, ela própria, no espelho de Veneza: melancólica e crepuscular. No entanto, não me parece que o mérito do texto de Raul Brandão resida numa propositura de originalidade, mas em trazer à construção de Historia dum Palhaço o procedimento alegórico que transformará a imagem do bufão em alegoria finissecular, qual seja, no arauto do crepúsculo, um novo anjo da história lido pelo olhar brandoniano. Desse ponto de vista, conforme já reiterado, a narrativa aproximar-se-á do Trauerspiel barroco, notadamente quando assimila a figura do Príncipe, encarnado como o Rei, personagem no opúsculo “O Mistério da Árvore”, que surge em meio às inquietações do palhaço: Que doença estranha, vagarosa mas tenaz, matava o Rei?... Só amava os crepúsculos, agonias de luz, o Passado e a Multidão silenciosa vinha vê-lo, ao findar da tarde, de cabeça a escaldar encostada aos vidros das janelas, sem desejos, o olhar perdido em quimeras, imaginários países, onde tudo são agonias, águas quietas, espectros de árvores esgalhadas. (BRANDÃO, 2005, p. 145). Sob o signo de Saturno, a personagem descrita por Raul Brandão assume matizes crepusculares. A partir de seu trono, vislumbra toda a extensão do reino maldito, banindo a vida e a felicidade de seus domínios para aceitar apenas a dor, a morte e a melancolia. Interessa assinalar o modo como o escritor lança mão dos contrastes claroescuro para borrar a imagem que tenta delinear, dotando, de certo pendor estético que tanto o barroco quanto o expressionismo assimilaram, a exemplo de artistas plásticos como Rembrandt e Columbano Bordalo Pinheiro. O olhar do Rei é o do desmonte; 152 como o Príncipe do Trauerspiel alemão, o monarca vê o mundo a partir do prisma da morte e da catástrofe: “Noite negra e o Rei subiu sozinho ao terraço. Restos de nuvens, restos de mantos enlameados, arrastavam-se pelo céu. A árvore estarrecida e hirta, onde os dois mendigos haviam sido enforcados” (Ibidem, p. 147). No que diz respeito aos juízos esboçados pela crítica brandoniana, chama a atenção o fato de que também Vítor Viçoso detém-se na narrativa em questão para pensá-la como livro de passagem para aqueles que se interessam pela narrativa brandoniana, asseverando que a obra é uma “hipérbole ao nefelibatismo” (VIÇOSO, 1999, p. 163). Não teria, portanto, a crítica lido o palhaço brandoniano tão somente como imagem do artista desgraçado que deve fazer rir ao seu público, mesmo quando experimenta um profundo estado de melancolia e tristeza? Raras vezes abordado pela crítica, História dum Palhaço ainda padece da ausência de olhares que lhe assegurem o lugar privilegiado que deve ocupar na galeria das obras de Raul Brandão. A tradição literária da segunda metade do século XIX é, ao mesmo tempo, o ponto de ruptura e de partida para que Raul Brandão alicerce sua estética. Dois escritores oitocentistas – Cesário Verde e Fialho de Almeida – parecem emergir como referências intransponíveis da narrativa em análise neste capítulo: o deambular pela cidade, viciosa e doentia, é experimentado pelos múltiplos narradores do texto, numa espécie de flânerie às avessas, perscrutando a doença instalada no espaço urbano, inalando o mesmo gás expelido na atmosfera, que se torna cada vez mais densa e carregada, tingindo o céu de cor de chumbo, numa encruzilhada literária da qual partilham, além de Cesário e Fialho, o Baudelaire de “Spleen – LXXVIII”120: “Quando o céu plúmbeo e baixo pesa como tampa / [...] / Um dia mais escuro e triste do que as noites;” (BAUDELAIRE, 2002, p. 162). Por sua vez, escreve Raul Brandão: 120 A aproximação entre as estéticas de Cesário Verde e Charles Baudelaire foi objeto de reflexão de David Mourão-Ferreira, conforme se observa neste fragmento de Hospital das Letras: “[...] Cesário isola – invejando-a – apenas uma faculdade sensorial de Baudelaire: a da visão” (1981, p. 92). 153 Andando, passam ruas, monstros de feições carcomidas que sustentam pedras – e há tempos que eu noto a contração dolorosa duma cariátide, só ela fixa imóvel, fixa na Noite, angustiosa e eterna, como aquele latido de cão que lá no fundo, no risco negro das terras, uiva. (BRANDÃO, 2005, p. 114). Insinuando-se a partir de um esteticismo delirante, o narrador-autor vagueia pela cidade, como se esperasse que a metrópole – neste caso particular amorfa e desértica – retribua-lhe o sentimento trágico de que é portador: “A cidade trágica faz-lhe decoro sábio, com a noite em que a escumalha vem à tona, a miséria, as casas de hóspedes, as ruas esganadas e o vício”. (Ibidem, p. 83). Poder-se-ia afirmar que a cidade de Raul Brandão é retratada mais próxima à tonalidade do cinza baudelariano – e, portanto, do autor de “O sentimento dum Ocidental” – que do claro-escuro fialhesco, mas em todas as imagens da velha urbe europeia é a melancolia que se textualiza enquanto metáfora. “De que cor é o céu dessa Lisboa de Cesário? Ele é um lento escurecer melancólico que se vai fundando em metáfora do que há de nódoa negra numa civilização em que se ausentaram os heróis do passado” (CERDEIRA, 2009, p. 22), afirma Teresa Cristina Cerdeira, para mais adiante completar: “de onde se ausentaram também as naus épicas [...], a configurarem a desmonumentalização da história nacional” (Ibidem). Como a urbe de Cesário, a cidade de Raul Brandão, metáfora de uma “geografia de contradições” (SANTOS & SILVA, 2000, p. 541), fervilha num subterrâneo e plástico vaivém de tipos desgraçados, como aqueles trapeiros de uma certa cidade ao gosto baudelairiano: “O tecto fundo de oxigênio, de ar, / Estende-se ao comprido, ao meio das trapeiras, /Vêm lágrimas de luz dos astros com olheiras, / Enleva-se a quimera azul de transmigrar.” (VERDE, 1988, p. 148). E se, no texto de Cesário, o poetanarrador é um astuto observador dos movimentos dessa cidade estuporada, também em Raul Brandão, o narrador-comentador aponta para a vertigem dos becos e vielas da 154 cidade habitada por clowns, uma imensa trâperie, porque nela só aos trapeiros é permitido o contrassenso da miragem: Tudo o que de dia é anguloso e duro, logo que noite se dilui, e a meia tinta, onde as figuras aparecem, dá toques de sonho à cidade lôbrega e tortuosa. Os becos que surgem súbito, como bueiros rasgados para o interior dos bairros viciosos, as covas das escadas, cheias de mistério e onde se não entra sem terror, os tipos que só de noite aparecem, rentes às muralhas, envoltos nas sombras, tímidos ou doidos, a esconder vícios, lágrimas, crimes e canduras de alma, encantavam-no e davamlhe, nas noites febris e de insônia, a sensação dum golpe através dum sonho. As figuras não se fixavam bem e toda a multidão se escoava do seu crânio [...]. (BRANDÃO, 2005, p. 95). Cesário Verde narra em seu poema a travessia do poeta em meio à cidade que experimenta, mesmo que assimetricamente, a urbanização do século XIX. Fialho de Almeida, por outro lado, dá-nos a dimensão histórica, social e biológica de como a vida se processa em meio à cidade dos mortos, quando apresenta ao leitor o fatídico cotidiano de Carolina, protagonista de A Ruiva. Habitando um cemitério e plantando em seu interior as couves de que extrai o sustento da família, Carolina deambula no seio da cidade repleta de becos e corredores povoada de trapeiros que recolhem não apenas os restos deixados ao acaso por um transeunte displicente, mas também os despojos das vidas alheias e – por que não dizer? – das vidas das personagens que se apresentam. À cidade repleta de tipos, pintada por Cesário, uma urbe frenética, embora não fosse ainda uma urbe cosmopolita, em que “batem os carros de aluguer, ao fundo / Levando à via férrea os que se vão” (VERDE, 1988, p. 143), justapõe-se a cidade fialhesca, fantasmagórica como um castelo de cartas vazio, frágil em sua construção e, ao mesmo tempo, plena de sentidos. A presença de Fialho de Almeida na literatura de 155 Raul Brandão pode ser, portanto, apontada, a partir de uma aproximação entre A Ruiva e História dum Palhaço.121 Na novela de 1878, escreve o autor: Na esplanada que vai terminar à porta dos Prazeres, as pequenas barracas de lona enchiam-se de grupos; filhas de saias engomadas, olheira fundas, com fadistas de calças esticadas sobre alpargatas de linho. As mulheres gordas, lenço vermelho, os grossos braços nus, refogavam mexilhão, vermelhas do calor; em torno os soldados passavam, de chibata, rostos vulgares e bestiais, dilatados em risos enormes; e, meneando-se, diziam brutezas às pequenas ovarinas sujas. (ALMEIDA, 2005, p. 29). A multidão anônima que se move entre as sombras do cemitério, o riso deslocado que ecoa por entre as muralhas, as trapeiras de Fialho de Almeida descritas em formas de caricaturas, isso tudo para compor uma ambientação que, mais do que reafirmar os preceitos estéticos do naturalismo, sugere um prenúncio, em sua vaga expressionista, do decadentismo de Raul Brandão. Pictórica ao limite, a narrativa fialhesca avulta pela qualidade das descrições desta “vida que tem atrás de si uma outra vida” – para usar uma expressão de que Raul Brandão lançaria mão – e por enaltecer a hora do crepúsculo, a esperada hora em que os desgraçados encontram a redenção. Ler o texto brandoniano ao lado do poema de Cesário Verde e da novela de Fialho de Almeida permite pensar em como as cidades tracejadas nas escrituras dialogam e, por conseguinte, apresentam-se num contínuo que vai do progresso (embora a ideia de progresso, em Cesário Verde, já implique a da marginalização social) ao crepúsculo, enquanto os mortos aguardam o momento do juízo final e da redenção. O texto de História dum Palhaço situa-se esteticamente entre Cesário e Fialho, embora cronologicamente seja posterior a ambos, porque a cidade do primeiro é ainda imagem (mesmo que fugaz) daquela Paris capital do século XIX – e nela é possível cultivar a 121 Sobre o diálogo entre os dois autores finisseculares, consultar o ensaio de Isabel Cristina Pinto Mateus (2008). 156 flânerie; ao passo que a cidade do segundo em tudo perdeu o referencial da metrópole e do cosmopolitismo para se tornar estática, fotograficamente uma paisagem de fim de século. Venho apontando a aproximação estética entre Fialho e Brandão, seja no modo da construção descritivista do texto, seja na formulação de uma literatura a cuja plasticidade não se pode ficar alheio. Entre essas imagens que despertam a atenção do leitor, por ligarem inevitavelmente a escrita desses dois homens da segunda metade do século XIX, uma carece de atenção detida: a figura do coveiro, trágica e doentia, que ambos os escritores cinzelam. O autor de A Ruiva apresenta: “Era coveiro e o mais asqueroso – o da vala; aspecto repelente, perfil áspero e cortante, descarnadas as faces, as mãos aduncas e gastas, cheias de terra e de cabelos. Sobre a testa duma polegada de largo, caíam grenhas fermentadas [...]” (ALMEIDA, 2005, p. 17), pelo que se observa não apenas o coveiro como mais um dos perfis que se sucedem na galerias de retratos desgraçados de uma trâperie finissecular, mas ainda como imagem, próxima àquela já apresentada nesta pesquisa, que se deslinda em formas angulosas, macilentas e grotescas, como o próprio palhaço brandoniano: “As figuras não se fixavam bem e toda a multidão se escoava no seu crânio com um ruído de Mar” (BRANDÃO, 2005, p. 97). Também o escritor se detém, em História dum Palhaço, a cinzelar o seu coveiro, ambiguamente macabro e filosófico, e é nesta reflexão exasperada sobre a vida que talvez se diferenciem as duas imagens, a de Fialho e a de Brandão: “No cemitério dois coveiros abrem um fosso. É um sítio triste, sem um cipreste, desolado e que irrita como uma alma seca. Um dos coveiros é enorme, ossudo, ressequido, de barba dura e rara e grandes mãos” (Ibidem, p. 29). A personagem do coveiro, que abre a passagem para o mundo dos mortos ao escavar a terra, ao passo que prepara o repouso dos que chegam ao cemitério, vindos de muitos lugares e todos por uma mesma razão – a morte –, 157 também se encerra ele próprio no mundo dos mortos, transformando-se numa espécie de Perséfone às avessas, porque masculina e, sobretudo, porque não se situa sazonalmente entre a vida ou a morte. O coveiro de Raul Brandão está concomitantemente ligando a morte à vida e a vida à morte: “Cava o coveiro e a sua sombra esguia vai entrando na cova, à medida que ele a profunda... (sic)” (Ibidem), chamando-a para junto de si. No contexto dessa relação entre as duas narrativas crepusculares, algo que se deve destacar é a capacidade de as personagens brandonianas refletirem sobre suas próprias condições e formularem pensamentos complexos a partir de suas inquietações, revelando, portanto, uma espécie de consciência a que as personagens fialhescas ainda não experimentam, tomadas que são de certo torpor. Se, no cemitério de A Ruiva, a terra não é capaz de produzir senão couves, frágeis hortaliças que alimentarão os vivos, o cemitério de História dum Palhaço é espaço em que a vida lateja em maior profusão: ao lado das hortaliças, árvores crescem alimentadas por esse húmus, mistura de alma e de lama, a que Raul Brandão continuará a fazer referência até ao fim de sua carreira literária. O trabalho com a terra na narrativa fialhesca é menos fértil; e daí se pode depreender que, se o homem é produto do meio, também o meio é produto do homem, já que um cemitério sem húmus não poderá oferecer mais que hortaliças: “eram [...] plantadas no cemitério, para lá da vala e longe das vistas [...], hortaliças que com o tempo e o belo tempero da terra adquiriam grande desenvolvimento”. (ALMEIDA, 2005, p. 21). Outra passagem de História dum Palhaço remete à narrativa fialhesca quando o coveiro cultiva hortaliças no terreno de seu metafórico cemitério: Fico horas estendido na terra a ver crescer as couves e no meu crânio vai-se um ruído de fermentação, como se eu próprio me diluísse na matéria. Imagino a Morte e a Vida. Toda a Terra ferve em decomposição de cadáver: brotam as árvores, que por seu turno se enchem de floração e mais tarde morrem: ela própria é um cemitério, regado a lágrimas e a amargura e donde a fecundidade, a emoção e a vida renascem. (BRANDÃO, 2005, p. 52). 158 Ao ter a sensação de se diluir na matéria, é como se o coveiro brandoniano assinalasse mais do que a sutil consciência de que é instrumento para que os vivos repousem no mundo dos mortos, mas ainda que ele próprio seja o fermento e a matéria de que a vida se utilizará para ressurgir. Dissolvendo-se na terra – ou ainda “entrando na cova” (Ibidem, p. 29) – transforma-se em húmus, essa espécie de quarto estado da matéria na narrativa brandoniana, matéria transida de sonho, matéria que é produto da morte e semente da vida. É certo que, n’A Ruiva, a ambientação do cemitério ocupa a quase totalidade da narrativa, ao passo que, em História dum Palhaço, se concentra em momentos-chave, até porque o coveiro, apresentado ainda na primeira página do texto literário, transfigura-se em outras imagens trágicas da galeria brandoniana, avatares desse palhaço-trapeiro a que fiz referência ao início destas reflexões. Encaminho esta relação entre as duas narrativas, apontando a figura da ruiva, degenerada desde a genética dos cabelos, descrita no texto de Fialho: Carolina nasceu no dia da morte da mãe. Até ali, o coveiro vivera sem misérias, mas, morta a mulher, descobriu-se donde vinham as couves e ninguém mas lhas comprou. Não se sabe como a pequena se criara, mas aos doze anos era bonita, franzininha, o nariz arrebitado, descalça e cheia de remendos. (ALMEIDA, 2005, p. 21). Colombina remendada, pintura doentia de Rembrandt (BARROS, 2007), mendiga ruiva de Baudelaire (2002, p. 170),122 trapeira até a medula, em qualquer que seja a imagem em que a encaixe, a ruiva eleva-se à condição de figura crepuscular no texto fialhesco, emerge como incipiente arauto do fim-de-século a que o palhaço brandoniano será a imagem lapidar – e menos óbvia. Residindo no interior do cemitério e fugindo 122 Assim expressa o poema de Charles Baudelaire: “Moça de ruivo cabelo, / Cuja roupa em desmazelo / Deixa ver tanto a pobreza / Quanto a beleza, // Para mim, poeta sem viço, / Teu jovem corpo enfermiço, / Cheio de sardas e agruras, / Tem só doçuras.”. 159 eventualmente para além dos domínios (quando se aventura em raros momentos de uma melancólica felicidade ao lado de João, namorado com quem partilha certa bestialidade; cf. FRANCO, 2005), Carolina convive com a morte desde o nascimento, experimentando a sexualidade com cadáveres ou ainda dormindo entre os túmulos. De uma ingenuidade quase infantil, a colombina de Fialho de Almeida está no limiar entre a consciência e a inconsciência; encena reiteradamente a própria vida cotidiana – a que parece alheia. Enquanto Carolina é descrita heterodiegeticamente, as personagens de História dum Palhaço (justificadas pelas particularidades da narrativa) trazem em si o gérmen da inconformidade, como se em todas habitasse o filósofo Pita, ou ainda o Gabiru, esta espécie de alter ego de Raul Brandão, a que tantas vezes a crítica fez juízo quando se debruçou sobre Húmus.123 Observem-se as palavras do narrador-autor, desta feita representando as múltiplas vozes perifericas (porque instáveis e pouco nítidas no decurso da narrativa), vozes que se harmonizam num concerto de catástrofes: O que me custa, afinal, é a perda da minha personalidade: habitueime, de tal maneira, ao sofrimento, que me custa a deixá-lo e a ser feliz. E vale realmente a pena? Vejamos: o que faz a minha desgraça, e a nossa desgraça, é a consciência e o raciocínio. (BRANDÃO, 2005, p. 51). Aqui se apresenta uma das mais significativas tensões da narrativa brandoniana, seja na História dum Palhaço, seja n’A Farsa, seja ainda em Húmus ou nas Memórias: a dualidade consciência/inconsciência, a que o escritor, antes mesmo da popularização do conhecimento do inconsciente humano, desvela. Trata-se de uma tensão que caminha rente ao par morte/vida, quase como se um fosse desdobramento do outro, porque o desejo incontido da morte é, em última instância, a vontade de tornar-se inconsciente 123 Sobre esta leitura da personagem Gabiru, como uma espécie de alter ego de Raul Brandão, consulte-se Óscar Lopes (1969), José Manuel de Vasconcelos (1991), Vitor Viçoso (1999) e Jorge Valentim (2004). 160 das catástrofes. Claro está por que o texto brandoniano é povoado de filósofos, porque esses são as vozes críticas de uma massa de desesperados, homens despertados do torpor da morte, homens que perderam a inocência: “O que faz a minha desgraça é a consciência e a razão. Por lógica sou levado a concluir pela felicidade do não-ser [...]” (Ibidem, p. 52). Se, na escritura de Raul Brandão, o estado de inconsciência está para a morte, por seu turno o estado de consciência, isto é, perceber crítica e historicamente a catástrofe para qual caminha a humanidade, é retratado como a vida verdadeira, plena de saberes. O palhaço brandoniano, tocado pela consciência e imbuído de um cérebro filosófico, à semelhança do eu-lírico presente no poema de Fernando Pessoa (1998, p. 144)124, inveja aqueles que estão protegidos sob o manto do desconhecimento. Porém, como não é possível retornar do estado de consciência (vida) ao de inconsciência (morte), sofre as angústias do crepúsculo, duvida da existência de Deus. Por não poder ser ceifeira, imagem da camponesa – outra trapeira na esquina dos séculos –, o palhaço da narrativa de Raul Brandão, arauto do crepúsculo, decide extirpar a própria vida, porque já não há um Deus para fazer justiça aos homens: “Que é Deus? É esta força inconsciente, cega, fecunda, que rebenta na matéria, enche de flores as árvores, de emoção os poetas, e cega como o destino, forte [...], tudo transforma [...]” (BRANDÃO, 2005, p. 50). Também essa concepção de Deus como força da natureza, capaz de se revelar não na exceção miraculosa, mas em mirabilia cotidiana, estará presente na poética de Alberto Caeiro, esse heterônimo tão próximo à imagem do filósofo em Raul Brandão, ao dizer, panteisticamente: “Mas se Deus é as árvores e as flores / E os montes e o luar e 124 Expressa o poema: “Ela canta, pobre ceifeira, / Julgando-se feliz talvez; / Canta, e ceifa, e a sua voz, cheia / De alegre e anônima viuvez, // [...] // Ah, poder ser tu, sendo eu! / Ter a tua alegre inconsciência, / E a consciência disso! Ó céu! / Ó campo! Ó canção! A ciência // Pesa tanto e a vida é tão breve! / Entrai por mim a dentro! Tornai / Minha alma a vossa sombra leve! / Depois, levando-me, passai!” (PESSOA, 1998, p. 144). 161 o sol, / Para que lhe chamo eu Deus? / Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar [...]” (PESSOA, 1998, p. 208). Um aspecto da estética finissecular que merece destaque diz respeito à fragmentação e dispersão do sujeito, já sugerido nesta investigação quando se tratou das múltiplas vozes periféricas que ecoam em História dum Palhaço – ou ainda enquanto tema da pesquisa de Pedro Eiras (2005) ao se debruçar pela escritura brandoniana. Importa agora lembrar como Walter Benjamin recupera o contexto do suicídio na sociedade francesa de meados do século XIX, fazendo ler, na esteira da lírica de Charles Baudelaire, que “A modernidade deve estar sob o signo do suicídio” (BENJAMIN, 1997, p. 74), para completar adiante: “O suicídio podia parecer aos olhos de um Baudelaire o único ato heróico que restara às ‘populações doentias’ das cidades naqueles tempos reacionários” (Ibidem, p. 75). Concebendo-se o decadentismo finissecular como um dos desdobramentos da modernidade apontada pelo poeta francês, a prática do suicídio liga-se, de modo recorrente, à literatura das últimas décadas do século XIX e primeiros anos do século XX. Teresa Cristina Cerdeira, por exemplo, assevera que, na heteronímia pessoana, O eu múltiplo é, paradoxalmente, o eu dilacerado, numa inesperada matemática em que multiplicar é dividir. Ser muitos é exacerbar a consciência do nada, é perscrutar por muitas vias o vazio do ser, é experimentar a sensação dolorosa de partir-se em cacos, sem a proposta de vir, um dia, a recompor o vaso [...]. (2000, p. 68). Se a estética de Orpheu (incluindo-se nesta, naturalmente, a fragmentação e dispersão do sujeito a que alude o célebre poema de Mário de Sá-Carneiro: “Eu não sou eu nem sou o outro, / Sou qualquer coisa de intermédio: / Pilar da ponte de tédio / Que vai de mim para o Outro.”; 2005, p. 82) é, por excelência, uma estética do suicídio ou ainda uma “aventura suicida da modernidade” (CERDEIRA, 2000, p. 78), não é 162 diferente o que se encontra nas páginas da narrativa brandoniana em análise neste capítulo. O suicídio do homem, implicando um resultado que é estritamente de ordem artística, traz em si a própria morte de Deus (sendo o homem construído à imagem e semelhança divina, anular um é, em outra instância, destruir o corpo fluido do outro) ou, ainda, o seu apagamento. A morte, concebida em si como fim último da existência do artista – corroborando Alvarez, ao afirmar que “Sem Deus, a morte transforma-se simplesmente no fim: breve, categórica, final” (1999, p. 220) –, está presente na História dum Palhaço, para quem, ao contrário dos preceitos positivistas, a história chegará ao final, um final em que se celebrará o coroamento da catástrofe. Talvez por isso mesmo, desde o livro de 1896, percebe-se na escritura brandoniana a presença do suicídio como estratégia narrativa que permite uma correlação entre os campos da vida enquanto ficção e da vida enquanto realidade, como se ao desejar a morte o narrador-autor desse falso diário pudesse se transformar em herói de sua própria arte, que se constrói a partir de uma recusa ao pensamento ainda hegemônico da filosofia positivista e do próprio conceito de história que se delineou a partir dos postulados de Ranke, qual seja, uma história sem saída, em que o início implica necessariamente um fim progressista, à revelia das vontades de Deus e do homem. Escreve Raul Brandão: Ó Morte libertadora, tu que acalmas todos os desesperos e resolves todas as dúvidas, aperta-me enfim nos teus férreos braços, Morte! Estou cansado. Tenho de há muito uma ferida no cérebro e o coração estoira-me de bater. Advinho em ti a paz absoluta. Tudo o que me pode acontecer de pior é procurar o Desconhecido e encontrar o Nada. Mas isso mesmo vale mais do que o tédio e a aborrecida, a nula vida. Virei já do avesso todos os Sonhos, esgotei-os, fui tudo em imaginação e não fui na prática falho de energia. Imaginei ser Deus e imaginei ser Árvore. Estou farto de ver o Sol e assisti já a várias primaveras. Conheci Homens e Países. Faço trinta anos e a vida vai para mim – se não tenho a coragem de procurar-te [...]. Perder o que em mim resta, como num lar que não tarda a apagar-se, de todo. (2005, p.161). 163 O que pode significar a história de um velho Palhaço suicida? Em que perspectiva o ato de prenunciar e agir em prol da própria morte corrobora para transformar a cena final da narrativa em síntese de um novo olhar sobre a história, priorizando os vencidos em detrimentos dos vencedores, escrevendo, assim, a história de um sem-história? É certo que, ao trapeiro brandoniano, muitas outras personagens somam-se à galeria dos excluídos: a Joana, do Húmus, e a Candidinha, d’A Farsa, isto para ficar somente nos textos mais conhecidos do escritor. Povoando sua literatura de pobres, dando voz aos operários silenciados no cânone literário do século XIX da produção lusitana, Raul Brandão aceita tacitamente que toda história tem, ao menos, duas faces: a verdade dos que escreveram a história e nela guardaram para si lugares de honra e destaque; a verdade dos que foram “espezinhados”. Eis o desenlace anunciado desde o princípio de História dum Palhaço: Ali está sobre a mesa a pistola aperrada. É melhor morrer, estoirar o cérebro, onde resta ainda um vestígio de sonho, do que acabar daqui a anos, esvaziado e grotesco como uma bexiga rota... [...] Por duas vezes senti já o anel de ferro da pistola no crânio; por duas vezes o braço caiu cansado e inerte. Espera... (Ibidem, p. 163). Desta forma, a interrupção da própria história que se processa na narrativa implica três axiomas: 1) que o presente existe em função de que houve um passado (o passado dos outros foi o presente de muitos), mas o futuro é incerto e o mito do progresso está seriamente abalado; 2) que toda história tem um fim, desafiando a concepção de que pensar em história (e, também, pensar a narrativa literária) é pensar em contínuo, em linearidade, num caminho infinito em direção ao progresso; 3) que é preciso narrar a experiência dos que soçobraram, pois apenas deste modo se torna evidente a violência que abala o tempo. 164 Referi anteriormente que a construção de História dum Palhaço alicerça-se num jogo entre as instâncias da narrativa, numa espécie de multiplicidade de vozes que ecoam desde a presença do duplo no interior do enredo até a relação especular entre personagens/narrador, tornando possível a manifestação de uma consciência niilista e existencialista, cujas matrizes de pensamento podem ser encontradas nas leituras de Nietzsche: “Procurei com fúria nas palavras e nas teorias encontrar o Nada desolador.” (Ibidem, p. 154). Sem, no entanto, evocar um super-homem nietzschiano, a humanidade que Raul Brandão retrata, toda ela encenando a própria vida nos palcos do circo a que alude na obra em análise, encontra-se invariavelmente ao rés-do-chão. As auréolas dos homens e das mulheres, dos poetas e dos palhaços, por fim, caíram na lama trágica da vida e dela não foram resgatadas: fomos privados da auréola, igualamo-nos todos por sermos apenas sujeitos ocasionais de uma micro-história (BURKE, 1992), uma história de catástrofes. Se há algo de salutarmente perverso no texto brandoniano, pode-se afirmar que é o efeito de colocar o leitor a espreitar a aura de uma história composta por personagens sem aura, vultos que o autor recupera e com eles faz explodir o historicismo, chamando ao texto toda a plêiade de sujeitos que um dia foram considerados “o lixo da história” (BRANDÃO, 1998, p. 38), para com eles compor a sua literatura. 165 Capítulo IV QUANDO OS VENCIDOS SAEM ÀS RUAS O que você disser, não diga duas vezes. Encontrando seu pensamento em outra pessoa: negue-o. Quem não escreveu sua assinatura, quem não deixou retrato Quem não estava presente, quem nada falou Como poderão apanhá-lo? Apague os rastros! Cuide, quando pensar em morrer Para que não haja sepultura revelando onde jaz Com uma clara inscrição a lhe denunciar E o ano de sua morte a lhe entregar Mais uma vez: Apague os rastros! (Assim me foi ensinado.) [BERTOLD BRECHT. Poemas e canções, 1966]. 166 Este capítulo encerra o percurso investigativo até aqui empreendido, elegendo os três volumes das Memórias para o foco da análise. Dada a complexidade dos livros125, que se inserem na confluência entre a narrativa histórica, o discurso memorialístico e a autobiografia, alguns conceitos são debatidos com o fito de sustentar a leitura crítica da obra. Sublinhe-se que o valor estético e o estatuto literário são resguardados e articulados com os preceitos da preocupação histórica impressos na escritura de Raul Brandão. 4.1. Por que ler as Memórias de Raul Brandão? A leitura das Memórias, de Raul Brandão, leva a pensar que há algo de ontológico que impele o escritor português à prática da escrita. Com efeito, o texto literário pode ser interpretado como “derradeiro abrigo contra o esquecimento e o silêncio, contra a indiferença da morte” (GAGNEBIN, 2009, p. 112). O fato de aparentemente lutar contra a morte, repeli-la, pode parecer contraditório quando se observa que a escrita brandoniana tem por um de seus mais destacados pilares a tensão morte/vida, ao abrigo de narradores que, incessantemente, chamam-na para perto de si: Aqui cumpriu a condenação perpétua de escrever, de escrever sempre [...]. Estou a vê-lo a entrar por aquela porta a dentro – tenho medo desta grande figura dolorida. Mete-me medo desde depois de morto. Vejo diante dos meus olhos o fantasma quase cego, com a boca amarga, só ossos e pele, só osso e desespero. (BRANDÃO, 1998, p. 164). No fluir da escritura, o autor de Guimarães luta contra a morte porque a compreende na forma da derrota final, porque “o esquecimento é a morte definitiva” (VIÇOSO, 1994, p. 177) dos homens. Raul Brandão encarna o narrador-sucateiro,126 aquele que recolhe os destroços do passado no intuito de não permitir que nada se perca. 125 É preciso advertir o leitor de que, como se trata de obra em três volumes publicados em anos distintos, as datas de referência correspondem a tomos específicos: 1998 (tomo I), 1999 (tomo II) e 2000 (tomo III). O mesmo acontece com as introduções de José Carlos Seabra Pereira apostas aos volumes. 126 A expressão é de Jeanne Marie Gagnebin (2009, p. 54), que a utiliza para reelaborar o ideal de narrador benjaminiano, que, consciente do abalo sofrido pelas grandes narrativas, se ocupa em recolher os detritos de uma história esfacelada. 167 Esse narrador-sucateiro, que também poderia ser o historiador, “não tem por alvo recolher os grandes feitos. Deve muito mais apanhar tudo aquilo que é deixado de lado como algo que não tem significação, [...] algo com que a história oficial não sabe o que fazer” (GAGNEBIN, 2009, p. 54). É somente na encruzilhada da escrita, seja ela de cariz literário, histórico, memorialístico e ainda (auto)biográfico, que o desejo benjaminiano de apokatastasis, isto é de “recolecção de todas as almas no Paraíso” (Ibidem) pode se tornar viável. Pensar esse resgate das almas dos que soçobraram no decurso da história é, em última análise, mirar a redenção dos vencidos, a que o filósofo alemão faz alusão nas suas teses “Sobre o conceito da história”. Posto isto, torna-se possível vislumbrar a escritura memorialística de Raul Brandão na forma de contributo original para o resgate dos portugueses que fizeram e fizeram-se nas primeiras décadas do século XX. Original não apenas porque põe em foco o levante dos vencidos, mas ainda porque se constitui de forma singular ou, como pontua Álvaro Manuel Machado, uma “poética de memória que [...] revoluciona as memórias como género instituído.” (1996, p. 135). O escritor da Foz do Douro, como bem sublinha Clara Rocha, produz seu relato como “diálogo de instâncias várias” (1992, p. 49), no qual revela “suas ambigüidades, sua contradições, a natureza híbrida de sua composição” (MOLLOY, 2003, p. 15). As inquietações sentidas pelos críticos literários quando se debruçam sobre o texto brandoniano apontam para o mesmo sentido daquelas que são acalentadas pelos teóricos dos escritos intimistas,127 porque residem nesse tipo de texto agudas polêmicas, 127 Como o fito desta investigação é o de discutir a questão das memórias enquanto gênero literário e, na sequência, analisar o texto de Raul Brandão, optou-se por não problematizar o termo escritos intimistas, adotando-se como válidas as considerações formuladas por Paula Morão, na forma de pressupostos da discussão: “os escritos intimistas propriamente ditos, autobiografia e diário íntimo, que se estruturam (embora com graus diferentes) em torno do eu é mais fortemente temperada pela pregnância do interlocutor e daquilo a que chamo mundo, como é o caso das memórias ou do epistolário.” (1994, p. 25). A partir de agora, quando o termo escrito intimista aparecer no corpo desta escrita, não se utilizará a marcação de grafia porque se julga que o conceito foi introduzido. 168 entre as quais a problemática do estatuto literário128. Por isso, faz-se preciso abrir caminhos teóricos que dêem conta da diversidade dos escritos intimistas, assim como dos pontos que os definem como textos literários, que é, por conseguinte, a qualidade que mais interessa a esta investigação. 4.2. O estatuto literário da escrita memorialística O sentido da memória está atrelado ao desempenho de atividades cotidianas, ao funcionamento tanto do indivíduo quanto da sociedade a que pertence. Desde a Antiguidade, problematizar e definir o conceito de memória tem ocupado pensadores de épocas distintas no Egito, na Grécia e em Roma, que remetem seja à função social exercida pelo Poeta, isto é, a de ser “voz representativa da memória comum” (BUESCU, 2001, p. 102), seja à função dos arquivos de pedra, sobre os quais expõe Jacques Le Goff: “No Egito antigo, as estelas desempenharam múltiplas funções de perpetuação de uma memória: estelas funerárias comemorando, como em Abidos, uma peregrinação a um túmulo familiar; narrando a vida do morto” (2003, p. 428). Se o ato de assinalar pode ser interpretado como um ato de memória, esse valor é reforçado porquanto se distingue que a língua grega, em sua forma antiga, partilha com túmulo e signo a mesma palavra: sèma (“Túmulo e palavra se revezam nesse trabalho de memória que, justamente por se fundar na luta contra o esquecimento, é também o reconhecimento implícito da força deste último: o reconhecimento do poder da morte”; GAGNEBIN, 2009, p, 45). A escrita, metáfora da memória porque transporta para o cerne da palavra a alegoria imagética que primeiro significa, é o rastro de uma memória 128 Para um estudo do estatuto literário em escritos intimistas caracterizados como diários, textos que são marcados pelo correr do tempo e, por isso, fragmentados por natureza, é salutar a leitura do ensaio de Abel Barros Baptista (“O espelho perguntador: sobre diários”) publicado na revista Colóquio/Letras, na qual questiona: “O que ficou escrito, no segredo de um caderno ou nas páginas de um jornal, pode ou merece relançar-se e, se sim, com que estatuto?” (1997, p. 67). 169 que se funda modernamente pela materialidade do traço, pela inscrição na pedra, pelo rabisco no papel, pela capacidade de armazenamento no ambiente virtual do microcomputador. A memória está atrelada ao ato de registro, tal como o de legar o código genético à perpetuação das espécies ou ainda o de perpetuar a suave prática de deixar rastros culturais, da qual o homem não pode prescindir: “Não se pode nem afirmar que as pessoas morreram, já que elas desapareceram sem deixar rastros, sem deixar também a possibilidade de um trabalho de homenagem e de luto por parte dos seus próximos” (Ibidem, p. 116). A memória, portanto, não está intimamente ligada a uma área específica do conhecimento humano, não se reporta a um método restrito ou se articula diretamente a determinado tipo de estudo crítico ou teórico; tampouco se pode afirmar peremptoriamente que é exclusividade dos seres vivos: os microcomputadores também salvam arquivos129 de texto ou apagam fotos e músicas, lembram e esquecem ao nosso comando. Com o advento da era digital, o homem aprendeu a delegar à máquina parte de sua faculdade memorialística, talvez porque nunca houve tanto trabalho para a memória, nesses tempos em que a barbárie e os períodos de paz sucederam-se e mesclaram-se. A memória, que preside ao corpo e antecede à matéria, também pode ser gravada nas peles dos corpos, a tatuagem assinala uma informação, marca um afeto, deixa um rastro de um tempo que não se quer esquecer. No campo da literatura, é preciso recordar que a memória, enquanto processo mnemônico, é base de sustentação e existência das narrativas orais e, no âmbito da língua portuguesa e de sua imediata antecessora – a língua galego-portuguesa –, a lírica trovadoresca é devedora da memória, pois é com sua ativação que se pode resguardar 129 A percepção de que a era digital dotou as máquinas de um tipo particular de estrutura de memória foi observada por Jeanne Marie Gagnebin que, em Lembrar escrever esquecer, afirma: “De Mnemosyne à tecla save do computador, Assman desenrola essa pluralidade de figuras que nos obriga a matizar nossas oposições básicas entre memória coletiva e memória individual, entre memória e história, entre memória e esquecimento.” (2009, p. 110). 170 uma tradição que é anterior ao registro escrito, mesmo quando a escrita era já uma conhecida do homem desde há, pelo menos, três milhares de anos. O sinal gráfico configurou-se, portanto, como segunda memória, ampliou o potencial humano de lidar com a faculdade memorialística, considerada pelos gregos, como a mãe (Mnemosine) das nove musas, filhas de Zeus: Durante muito tempo, no domínio literário, a oralidade continua ao lado da escrita, e a memória é um dos elementos constitutivos da literatura medieval. Isso é particularmente verdadeiro para os séculos XI e XII e para a canção de gesta, que não só faz apelo a processos de memorização por parte do trovador (troubadour) e do jogral como por parte dos ouvintes, mas que se integra na memória coletiva, como bem o viu Paul Zumthor a propósito do ‘herói’ épico. (LE GOFF, 2003, p. 445 – 446). Se desde a Idade Média podem ser encontrados escritos intimistas, na forma de registros autobiográficos, como é o caso das Confissões de Santo Agostinho, apontado como precursor do gênero, é, sobretudo, na contemporaneidade que esses escritos experimentaram um salto qualitativo e quantitativo de produção. Reconhece-se nas Confissões, de Jean-Jacques Rousseau, e ainda em Minha Vida. Poesia e verdade, de Johann Wolfgang Goethe, formas exemplares desse tipo de produção que, embora fortalecida “com a publicação de diários e memórias de vários escritores e homens públicos” (MORÃO, 1994, p. 29), ainda padece de dúvidas quanto ao próprio estatuto, constituem-se em “formas de escrita que o cânone mais tradicional não consideraria literatura ou a que, pelo menos, confere um lugar marginal” (Ibidem, p. 22),130 um arsenal de textos que ainda permanecem “menosprezados nos estudos literários em português” (Ibidem, p. 30). 130 Ainda sobre a problemática do estatuto literário de textos memorialísticos, Filipa Mendes Barata afirma: “Até sensivelmente ao princípio do século XX, as memórias foram muitas vezes vistas como textos de teor historiográfico, onde se contavam os feitos de certas personalidades ilustres, daí que não representassem grande interesse nem para os críticos da literatura, nem, ainda assim, para os historiadores que viam nelas um género incompleto e subjectivo que em nada ajudava ao estudo do fenómeno literário.” (2008, p. 9). 171 Galle & Olmos (2009, p. 9) apontam a íntima relação entre a ascensão da classe burguesa, e, por conseguinte, do romance enquanto gênero literário privilegiado no decurso do século XIX, e a profusão dos escritos intimistas, cujo aspecto distintivo, no horizonte teórico de Philippe Lejeune, é o fato de ser um gênero contratual por excelência (“todas essas expressões remetem à ideia de que o gênero autobiográfico é um gênero contratual”; 2008, p. 45). No entendimento do crítico francês, os escritos intimistas não diferem dos demais por uma questão estrutural, mas por estabelecerem com o leitor um pacto de interpretação, que Lejeune define como pacto autobiográfico: As formas do pacto autobiográfico são muito diversas, mas todas elas manifestam a intenção de honrar a sua assinatura. O leitor pode levantar questões quanto à semelhança, mas nunca quanto à identidade. Sabe-se muito bem o quanto cada um de nós preza seu próprio nome. (Ibidem, p. 26). O pacto autobiográfico permite a distinção entre gêneros literários próximos, a exemplo do romance autobiográfico e da autobiografia. Na formulação do quadro referencial teórico, Philippe Lejeune assinala que, na autobiografia, deve haver coincidência total entre a pessoa gramatical que emite o discurso e a identidade do narrador, todavia não se limitando o gênero a formulações exclusivamente em primeira pessoa do singular (cf. 2008, p. 18). Embora a autobiografia clássica seja redigida a partir da enunciação em primeira pessoa (eu), há exemplos de autobiografias em segundo e em terceira pessoas, fato que ratifica o pressuposto do pacto autobiográfico, que centra a problemática na questão do nome próprio, na assinatura do texto: “a autobiografia não comporta graus: é tudo ou nada.” (Ibidem, p. 25). Por oposição, o pacto romanesco detalhado por Philippe Lejeune assenta-se a partir de uma “prática patente de não identidade (o autor e o personagem não têm o mesmo nome), atestado 172 de ficcionalidade [, que é] [...] em geral, o subtítulo romance, na capa ou na folha de rosto” (Ibidem, p. 27). Na distinção que propõe entre autobiografia e romance autobiográfico, Lejeune destaca o fato de que, no segundo, o “leitor pode ter razões para suspeitar, a partir de semelhanças que acredita ver, que haja identidade entre autor e personagem, mas que o autor escolheu negar essa identidade ou, pelo menos, não afirmá-la” (Ibidem, p. 25). Isto se potencializa quando os nomes da personagem e do autor estão ausentes, gerando, segundo o diagrama esboçado pelo ensaísta, uma zona indeterminada, que parece, em todo o caso, improvável de se materializar textualmente como autobiografia, uma vez que “o autor de uma autobiografia não pode ser anônimo” (Ibidem, p. 32). É preciso destacar que essa primeira versão do pacto autobiográfico sofreu revisões posteriores,131 o que não invalidou as formulações iniciais. A teoria do pacto autobiográfico está na base dos estudos sobre escritos intimistas e autobiografias, embora Helmut Galle & Ana Cecilia Olmos observem que “o teórico Paul de Man (1979) desconstrói, de forma radical, a distinção entre ficção e autobiografia” (GALLE & OLMOS, 2009, p. 14), porque não reconhece nesta “uma especificidade em termos de gênero literário” (Ibidem),132 o que a caracterizaria somente na qualidade de “figura retórica que diz respeito não apenas às particularidades da configuração textual, mas também ao ato de leitura que – virtualmente – pode reconhecer essa figura retórica em qualquer (ou nenhum) texto literário” (Ibidem). Se as concepções de Philippe Lejeune e Paul de Man são divergentes no que concerne às idiossincrasias do relato autobiográfico, isto se deve, em parte, ao fato de que o primeiro alicerça sua formulação teórica colocando-se na posição do leitor e o segundo sustenta 131 A exemplo dos ensaios “O pacto autobiográfico (bis)” ou “O pacto autobiográfico, 25 anos depois”, que podem ser consultados no mesmo compêndio que reúne a obra ensaística de Philippe Lejeune (2008). 132 Importa destacar o pensamento de Jeanne Marie Gagnebin (2004) sobre a oposição autobiografia e ficção, quando assinala que “qualquer narração de si também [é] [...] uma ficção de si mesmo” (2004, p. 89). 173 suas reflexões focalizando na própria estrutura textual, na qual não se vê diferença relevante em relação aos demais tipos de textos e gêneros literários: “A história da autobiografia seria [...] a história de seu modo de leitura: história comparativa na qual poderíamos fazer dialogar os contratos de leitura propostos pelos diferentes tipos de texto [...] e os diferentes tipos de leitura a que esses textos são [...] submetidos.” (LEJEUNE, 2008, p. 46). Como não há a intenção de problematizar os muitos gêneros que se espraiam sob o manto da autobiografia, embora se reconheça que se materializam na forma de diários, memórias, e, com o advento da rede mundial de computadores, de blogs e páginas pessoais que arvoram para si valores de ordem estética (ou que permitem, ao menos, um debate nesse sentido), considera-se apenas o gênero autobiográfico ligado à faculdade da memória, configurando-a na forma de memória literária,133 sobre o qual Helena Carvalhão Buescu pondera: É precisamente devido a este conjunto de elementos que designei esta forma de memória como ‘literária’: porque está enraizada no acto (ou na acção) literário(a), por um lado; mas também, e de uma outra perspectiva, porque é também aquilo a que poderíamos chamar uma “memória intertextual”, ou seja, uma forma particular de encarar o texto como local de manifestação e portanto memória de outros textos[.] (2001, p. 89). Em projeções de ordem teórica sobre a memória, enquanto gênero literário autônomo e de larga manifestação na literatura portuguesa, pelo que se pode lembrar que o memorialismo gozou de horizonte privilegiado na primeira metade e no meio do século XX, com destaque para as obras de Raul Brandão, Teixeira de Pascoaes, Miguel Torga e, ainda que um pouco mais tarde, os diários de Vergílio Ferreira, a ensaísta Clara 133 Walter Benjamin, no 13º fragmento de “O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”, sublinha que “A memória é a mais épica das faculdades. Somente uma memória abrangente permite à poesia épica apropriar-se do curso das coisas, por um lado, e resignar-se, por outro lado, com o desaparecimento dessas coisas, com o poder da morte.” (1994, p. 210). 174 Rocha lança mão da imagem do labirinto para tecer considerações de cunho estéticoliterário, sublinhando que, “no plano gramatical o eu diz-se em várias pessoas” (1992, p. 50). Com efeito, pode-se pensar a autobiografia, e, por conseguinte, as memórias literárias, como gênero “que questiona a idéia de um todo orgânico e valoriza, por sua vez, o fragmento” (MOLLOY, 2003, p. 23), assentando-se sobre uma base de cunho polifônico, diversa, em que o percurso da escrita pode ser comparado às veredas do labirinto: [...] o eu move-se tacteante nos corredores da sua intimidade, do seu psiquismo ou da sua vida, avança e volta atrás e procura na escrita o fio de Ariadne da salvação. Escrever sobre si é procurar reencontrar-se dentro do seu próprio labirinto, ou situar-se no labirinto do mundo. (ROCHA, 1992, p. 54). Não apenas por evocar a fragmentação do eu, a que o homem ficou sujeito após o desenvolvimento da psicanálise ao longo do século XX, a escrita memorialística encarna a forma de exemplar tecido textual. O memorialismo literário constitui-se vitrine de uma plêiade de citações, seja de um eu que concede a voz a um outro, seja de um eu que dialoga com o seu outro eu, um sujeito divido pelo fluir do tempo. Quando o memorialista diz: “Como em ti, há em mim várias camadas de mortos não sei até que profundidade” (BRANDÃO, 1998, p. 36), há de se considerar que o “eu é afectado pelo outro de muitas maneiras” (ROCHA, 1992, p. 50). É nesses interstícios da memória, que Raul Brandão edifica o “verdadeiro abrigo contra o esquecimento e o silêncio, contra a indiferença da morte” (GAGNEBIN, 2009, p. 112): a escrita. 175 4.3. Memórias, histórias, testemunhos: uma poética em farrapos Entre as poucas manifestações da crítica que se debruçam sobre as memórias brandonianas, há de se destacar, por força da cronológica de publicação, o estudo de Guilherme de Castilho. Com efeito, o ensaísta português dedicou-se, ainda que sob outro viés, à análise das Memórias, constituídas por três volumes publicados, respectivamente, nos anos de 1919, 1925 e 1933. No cerne da leitura crítica de Castilho, reside a intuição de que o memorialismo brandoniano interessa apenas como expressão literária, reservando à matéria histórica uma posição secundária na diegese narrativa: “Sublinhe-se, entretanto que, ao incluir esta obra no capítulo dedicado à História, o fazemos tendo apenas em vista a razão formal, de obediência a sistematização dos gêneros” (CASTILHO, 2006, p. 362). Por se imbuir da análise de obras que, em quase tudo, fogem aos preceitos do cânone literário, pode parecer frágil a alegação de um estudo das Memórias que busque encaixá-las no molde das formas que o século XIX concebeu. No entanto, o esforço de Guilherme de Castilho, se se destaca por valorizar de que forma o texto de Raul Brandão agrega a matéria histórica à expressão literária, por outro lado peca por conceber essa presença da história como ocasional ou fruto de uma inadequação do autor aos gêneros pré-estabelecidos. Por outro lado, Vitor Viçoso é mais incisivo ao registrar e valorizar a presença da história – ou o real – na constituição da escrita literária de Raul Brandão: “Poderíamos talvez dizer que a ‘memória’ é, nele, um discurso sobre o real carregado de ficção.” (1994, p. 179). E não é a história justamente um discurso sobre o real em que as lacunas devem ser preenchidas pela capacidade de efabulação do narrador? Com efeito, em muitos escritos memorialísticos, a matéria histórica se destaca por ser mais do que certo resíduo laboral do autor, que deixa fortuitamente passar pelo filtro narrativo aspectos do momento histórico e mesmo a forma com que uma época se vê no 176 espelho do tempo: “os memorialistas têm muitas vezes preocupação testemunhal e manifestam consciência de estarem paredes meias com a História, mas também com a sua história pessoal” (MORÃO, 1994, p. 25). O próprio escritor de Guimarães deixa transparecer que seu interesse pela história, ao formular a estruturação de sua obra, é mais do que a dotar de uma expressão literária de aspecto exclusivamente lírico: Os acontecimentos dos últimos reinados afiguram-se-me sempre faltos de lógica e de nexo. Estão talvez muito perto de nós ainda: precisam de perspectiva que os coloque nos seus devidos lugares. Só o historiador poderá criar mais tarde, com documentos e memórias, e certa aparência de verdade, o romance da nossa vida. (BRANDÃO, 1998, p. 233). O escritor pontua ao menos dois temas recorrentes sobre os quais se debruçam os críticos literários e os historiadores da contemporaneidade: (1) a necessidade do distanciamento temporal a fim de que se possa analisar de forma coerente a matéria histórica; (2) e a perspectiva de que a história, vista essencialmente como produto da faculdade do narrador de se debruçar sobre o passado, aproxima-se do gênero romanesco – porque ambos se ocupam fundamentalmente da vida dos homens e da sua relação com a sociedade. Raul Brandão é detentor de uma singular preocupação histórica, porquanto põe em questão se é a narrativa histórica o discurso da verdade ou se a verdade só se pode realizar quando “O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os pequenos, leva[r] em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história” (BENJAMIN, 1994, p. 223). Embora se possa argumentar que o memorialista deve se ocupar prioritariamente das experiências individuais, esses momentos do eu, a atitude esboçada pelo escritor da Foz do Douro justifica-se pela compreensão de que é preciso “Tornar-se senhores da [faculdade da] memória e do esquecimento” (LE GOFF, 2003, p. 422) porque, apenas 177 desse modo, é possível evitar que a história seja controlada em nome dos vencedores: “Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores destes mecanismos de manipulação da memória coletiva” (Ibidem, p. 422). Walter Benjamin ilumina a metáfora do autômato, que narra mecanicamente a história em desfavor dos vencidos: Conhecemos a história de um autômato construído de tal modo que podia responder a cada lance de um jogador de xadrez com um contralance, que lhe assegurava a vitória. Um fantoche vestido à turca, com um narguilé na boca, sentava-se diante do tabuleiro, colocado numa grande mesa. Um sistema de espelhos criava a ilusão de que a mesa era totalmente visível, em todos os seus pormenores. Na realidade, um anão corcunda se escondia nela, um mestre do xadrez, que dirigia com cordéis a mão do fantoche. Podemos imaginar uma contrapartida filosófica desse mecanismo. O fantoche chamado “materialismo histórico” ganhará sempre. Ele pode enfrentar qualquer desafio, desde que tome a seu serviço a teologia. Hoje, ela é reconhecidamente pequena e feia e não ousa mostrar-se. (BENJAMIN, 1994, p. 222). Em sua tese I, o anão com narguilé na boca representado como imagem do historicismo ou de uma concepção positivista da história é o mecânico capaz de manter a narrativa dos vencedores no seu trilho progressista, garantindo, dessa forma, a hegemonia sobre o relato. É sobre essa prática que Raul Brandão se posiciona, duvida da veracidade e, por isso, preocupa-se em registrar literariamente aquilo que o historiador positivista deixa para trás: “Sei perfeitamente que a história viva tanto se faz com a verdade como com a mentira – se não se faz mais com mentira do que com a verdade.” (BRANDÃO, 1998, p. 38). Sobre esse registro da história, Vítor Viçoso sublinha que o escritor faz, sobretudo, “Nas suas micro-biografias dos políticos, dos artistas ou dos jornalistas, [em que se] revela[...] sempre essa luta oculta entre cada homem e os seus fantasmas” (1994, p. 178). Raul Brandão registra como poucos a essência de sua época. Não raro o seu relato memorialístico é base para que historiadores portugueses documentem, “por exemplo, 178 como a corrupção que minou o aparelho político monárquico criou as condições para a irrupção da República, sem grandes confrontos.” (VIÇOSO, 1994, p. 181). Por seu turno, embora a crítica contemporânea possa argumentar que está “consolidado o valor historiográfico da obra, justificando mesmo a subida da cota de citações nos estudos recentes sobre o período em causa (entre o regicídio e os primeiros tempos do regime republicano em Portugal” (PEREIRA,1999, p. 9), a eleição é por estudar as Memórias como expressão híbrida de uma pulsão literária que “Longe de ser ‘desperdício’, [...] quer ser útil e empenhada.” (ROCHA, 1992, p. 145). Walter Benjamin entende que não é possível recuperar o passado tal como ele foi, mas redimi-lo, de forma a torná-lo “citável [...] em cada um dos seus momentos” (1994, p. 223). Na forma de uma reapresentação do passado, a memória é, em última instância, uma espécie de restauração, cujo sentido é esclarecido pelo crítico Francisco Machado: “Restauração significa que algo foi perdido e que pode ser resgatado pela lembrança ou memória desse algo”. (2004, p. 105). Essa restauração é possível por meio da escrita, que registra a memória na alegoria da palavra, tal como lembra Jeanne Marie Gagnebin, à introdução ao primeiro volume das obras escolhidas do pensador alemão, a qual sabiamente intitula de “Walter Benjamin ou a história aberta”: “a questão da escrita da história remete às questões mais amplas da prática política e da atividade da narração. É esta última que eu gostaria de analisar: o que é contar uma história, histórias, História?” (1994, p. 7). A história re(a)presentada no memorialismo de Raul Brandão está impregnada do sentimento crepuscular, porquanto partilhe com Walter Benjamin a intuição de que “A história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de ‘agoras” (1994, p. 229), que se funda “Contra a visão evolucionista da história como acumulação ou civilização” (LÖWY, 2005, p. 60) que a 179 “percebe ‘de baixo’, do lado dos vencidos, como uma série de vitórias de classes reinantes” (Ibidem). Essa história, barroca134 ao mesmo tempo que messiânica, porque, aguarda o dia do Juízo Final como momento definitivo da redenção dos mortos, clama-a o escritor, numa elucidação de que é preciso abandonar a sintaxe linear da narrativa para que os mortos possam emergir em meio ao silenciamento imposto pelos que escreveram a história e apagaram “os buracos da narrativa que indicam tantas brechas possíveis no continuum da dominação” (GAGNEBIN, 2004, p. 100): Eu pobre, tu rico, caminhamos para o mesmo fim, como bonecos na mão dum autor escondido que puxa pelos cordéis. Mas as classes superiores? A justiça? Conheço dez, vinte casos cuja fortuna assenta numa primitiva infâmia. Conheço mil pobres com uma vida digna de quem ninguém fez caso. O rico explora o desgraçado, já não há homem nenhum que não se sinta afrontado e que no íntimo não deseje que isto desabe... [...] Sim, os pobres têm razão. É por isso que eu, e todos, sentimos a necessidade da catástrofe. Tenho uma certa pena, uma certa saudade do passado, mas caminho com decisão para o futuro. Tu e eu, leitor, reclamamos a hora tremenda do juízo final. (BRANDÃO, 2000, p. 98). Se a reflexão de Raul Brandão impressiona pela sintonia com os preceitos de uma filosofia benjaminiana da história, pode-se ilustrar uma aproximação entre o excerto e a tese I do filósofo alemão, para quem o maquinista da história positivista, no uso tirânico de uma sintaxe de causa e consequência lineares, impede qualquer tentativa de apreender o passado pelo viés dos que pereceram – aqueles que foram esquecidos no processo histórico. Nas mãos de um “autor escondido que puxa pelos cordéis” (Ibidem), os vencidos, figurados na narrativa brandoniana na alegórica imagem do pobre, mas também na do artista e, sobretudo, na dos mortos, não são capazes de provocar fraturas, 134 Embora se tenha tratado da temática do barroco e da história sob a perspectiva barroca em outro capítulo desta investigação, julgo necessário relembrar, lançando mão do que diz Francisco Machado, em síntese à concepção de história que norteia a escrita de Walter Benjamin: “A teoria barroca da história não se entende mais, como na Idade Média, como história da salvação, mas como natureza nos dois sentidos opostos apontados anteriormente: como catástrofe e destino e como ordem pelo poder absoluto e secular do príncipe.” (2004, p. 101). 180 de interromper o discurso monolítico dos dominadores. Daí a importância de que o escritor se preocupe em registrar aquilo que “não cabe na história com H grande, [mas que] tem o seu lugar num livro de memórias despretensiosas. Eis uma razão” (1998, p. 39) e que acrescente: “Tenho outra ainda: torno a ver e a ouvir alguns mortos.” (Ibidem). As Memórias de Raul Brandão cumprem a função de recolecionar (no termo benjaminiano de apokatastasis) as almas – ou, neste caso, as essências dos vencidos – na metáfora alegórica que a palavra escrita representa. A estrutura do texto não poderia ser, por conseguinte, a forma habitual do diário ou ainda outra que assumisse a posição de uma novelística linear, livre de lacunas, silêncios. Para poder resgatar o passado, fixá-lo momentaneamente na escrita memorialística, o escritor da Foz do Douro tem que “contar com uma tradição esburacada, [tem que] dizer a ruptura” (GAGNEBIN, 2004, p. 99), precisa “Acolher o descontínuo da história, proceder à interrupção desse tempo cronológico sem asperezas” (Ibidem, p. 99). Esta é, por conseguinte, a divergência entre a leitura de Guilherme de Castilho e esta que ora se apresenta, porque o ensaísta compreende que “Fixando-nos no plano propriamente literário, teremos de lançar em saldo negativo a caótica anotação de quase duzentas páginas do Pó da Estrada deste primeiro volume” (2006, p. 365), juízo que fica comprometido quanto mais se delineia que a estética do autor de Guimarães é suportada por uma série de figurações de cunho visionário, de incontornável pendor filosófico, a quem o memorialista dirige a palavra: “Uma palavra me detém. Tenho passado o tempo a comentar-me e poucas almas me interessam como a minha. O que eu amo é sobretudo o diálogo com esse ser esfarrapado.” (BRANDÃO, 1999, p. 40). Quem é este ser esfarrapado, trapeiro de uma existência agônica, que povoa não apenas as Memórias, mas também inúmeros outros livros do autor? Há na escritura 181 brandoniana extensa linhagem de almas perdidas, sujeitos que assomam como registro espiritual e ainda como imagem alegórica do trapeiro. Aos farrapos, “sem tecto, entre ruínas” (BRANDÃO, 1998, p. 36), esses sujeitos, cacos do homem condenado à modernidade, multiplicam-se na narrativa de Raul Brandão, porque é somente no espaço literário que se torna possível construir um outro paraíso, um paraíso erigido pela memória. O ser esfarrapado é, ao mesmo tempo, o eu e o outro; o Gabiru (Húmus), O Gebo (O Gebo e a Sombra), o Pita (Os pobres) – e também o Palhaço (História dum Palhaço), cuja tragicidade da vida o leva ao suicídio. É com o ser esfarrapado que o escritor mais se importa, com quem dialoga (ou monologa?). Esses diálogos assumem, por vezes, a forma de citações do autor das Memórias, registrando-se em comentários de pessoas de seu convívio sobre situações específicas, ou ainda do discurso indireto (e discurso indireto livre), tornando o fio da escrita ainda mais intricado de desvelar, palimpsesto que entretece a história pessoal do sujeito (biografia) e a história coletiva e social (história). Clara Rocha lembra que as Memórias de Raul Brandão são, em grande parte, preenchidas pelo universo dos outros. Mas, em dois ou três momentos, o universo pessoal aflora à superfície do texto, e então as memórias cedem espaço ao balanço autobiográfico. Esses momentos são, aliás, do melhor que há nas Memórias de Raul Brandão. (1992, p. 152). Os balanços autobiográficos a que a ensaísta faz referência podem ser encontrados em diversos pontos da escrita memorialística de Raul Brandão, embora a crítica tenha se concentrado em ratificar o valor dos prefácios. Guilherme de Castilho chama-os de “três pequenas obras-primas literárias, três trechos de antologia” (2006, p. 374), cuja existência, mesmo apartada artificialmente do corpo de uma escrita memorialística cuja forma em fragmentos a memória costura, confere a esses excertos um estatuto literário que “justificariam a publicação [...] [do] livro” (Ibidem). Filipa Mendes Barata dedica 182 um capítulo ao estudo dos prefácios das Memórias, porém ressalta que “se compreende que nem a autobiografia despreze em absoluto a sua relação com o mundo exterior, nem as memórias, na tentativa de construção de um quadro da época, se coíbam de aduzir ao discurso um ponto de vista subjectivo.” (2008, p. 23-24). A leitura atenta dos prefácios permite identificar três veios principais, que preenchem os volumes das Memórias de Raul Brandão, o que não quer dizer que o crítico que sobre eles se debruce possa isolar um único aspecto da escrita memorialística do escritor e associá-lo diretamente a um volume especificamente correspondente. No compêndio vindo a lume em 1919, destaca-se o apelo a uma concepção da história que justificasse o motivo pelo qual a autobiografia e o relato historiográfico viessem a partilhar do mesmo tecido literário. É, então, que anuncia ao leitor sua escritura, revertida de uma (des)estruturação imanente, porque assentada numa estética de trapos: Isso que aí fica não são memórias alinhadas. Não têm essa pretensão. São notas, conversas colhidas a esmo, dois traços sobre um acontecimento – e mais nada. Diante da fita que a meus olhos absortos se desenrolou, interessou-me a cor, um aspecto, uma linha, um quadro, uma figura, e fixei-os logo no canhedo que sempre me acompanha. Sou um mero espectador da vida, que não tenta explicála. Não afirmo nem nego. (BRANDÃO, I, 1998, p. 37). É provável que o excerto, em caráter de advertência ao leitor – recebe o título de “Prefácio” –, buscasse uma escrita memorialística clássica e tivesse por intenção a de eximir o escritor das passagens polêmicas a que lança mão, evitando um comprometimento, justamente porque essas memórias devem ser lidas, ambiguamente, como autobiografia e como registro histórico. Não definindo, portanto, o liame entre as duas tensões que atuam no seu relato, o escritor fica livre para emitir, ao contrário do que diz, explicações e mesmo juízos de valor sobre os homens portugueses e a conturbada época em que viveram. Entretanto, não apenas de reflexões sobre a matéria 183 histórica está repleto o prefácio do primeiro volume. O fragmento acima permite observar a preocupação do autor com as qualidades efabulatórias de seu texto, como se vislumbra nos grifos. Do traço ao quadro, do pontual à cena, Raul Brandão sublinha a própria vocação para a caricatura, desvelando a tênue fronteira que sua arte expressa entre distintas linguagens artísticas. O signo literário projeta-se rumo ao colorido suave e fractal do impressionismo e, ainda, em direção ao borrão claro-escuro do expressionismo. O segundo tomo das Memórias traz um prefácio intitulado “O silêncio e o lume”, que privilegia o resgate da memória, concebida na forma de uma memória afetiva, muitas vezes fictícia, a fim de que o narrador reconstitua um tempo idílico, possível de ser acessada apenas por meio da exegese literária. Concentrando-se, sobretudo, no tempo da infância e da juventude, Raul Brandão evoca com expressiva ternura os seus mortos e o núcleo familiar (“as figuras cada vez mais diluídas da mãe ou da velha criada continuam a agarrá-lo afectivamente com as suas mãos espirituais”; VIÇOSO, 1994, p. 183), que, via de regra, sobrepõem-se: Querida: estamos sozinhos à mesa nesta noite infinita em que a chuva infinita cai lá fora com um ruído monótono de choro. Estamos sós nesta noite de saudade e nunca foi maior a nossa companhia, porque cada vez me sinto mais perto dos mortos. Rodeiam-nos, chegam-se para mim e sentam-se ao nosso lume. São legião... Mais perto, que eu faço uma labareda que nos aqueça a todos! A velha mesa da consoada foi-se despovoando com o tempo, mas hoje estão aqui sentadas todas as figuras que conheço desde que me conheço...Tu, toda branca, e que mesmo através do túmulo me transmites sonhos; tu, mais longe, mais apagada e sumida; e tu, que vens de volta e encostas os teus cabelos brancos aos meus cabelos brancos, para me dizeres baixinho: − Menino! (BRANDÃO, 1999, p. 39). Ao evocar um passado já esmaecido, o memorialista abre mão de uma preocupação ordenadora do tempo para permitir que o fluir da memória seja marcado 184 pelo compasso da água que salta e percorre caminhos aleatórios.135 Despindo-se de qualquer estruturação formal pré-concebida, como os líquidos que assumem a forma do recipiente nos quais está contido, o tempo da memória é a metáfora da infância e da juventude, é clepsidra que o início do século desvela. A atração pela água é, aliás, reiteradamente chamada a compor as páginas do livro (“Tu, primeiro, de quem herdei a sensibilidade e esta paixão pelas árvores e pela água, e de quem sinto as mãos pousadas sobre a cabeça, trespassando-me de ternura”; Ibidem, p. 42), dotando-o de uma “circularidade subjectiva que faz vir à superfície eventos, figuras ou frases que, deste modo, parecem libertar-se da ordem temporal” (VIÇOSO, 1994, p. 181). Água e memória conjuram-se num tempo que implica a fratura e jamais se cristaliza.136 Assumindo uma forma inorgânica, Raul Brandão suspende o tempo cronológico para fundear a sua casa-corpo no cais da memória líquida, disforme: “O tempo – não sei se o tempo existe... Pelo menos não decorre com regularidade.” (BRANDÃO, 1999, p. 43). Sobre a percepção brandoniana do tempo, é possível dizer que os relógios do seu memorialismo estão abalados, como nas representações vanguardistas do surrealismo de 135 É quase forçoso evocar Clepsidra, de Camilo Pessanha, em que o amolecimento das estruturas, representada pela versatilidade da água, que incessantemente jorra, remete à circularidade de um tempo que não permite a definição de um princípio e um fim: “Imagens que passais pela retina / Dos meus olhos, porque não vos fixais? / Que passais como a água cristalina / Por uma fonte para nunca mais!... // Ou para o lado escuro onde termina / Vosso curso, silente de juncais, / E o vago mêdo angustioso domina, / – Porque ides sem mim, não me levais? // Sem vós o que são os meus olhos abertos? / – O espelho inútil, meus olhos pagãos! / Aridez de sucessivos desertos... // Fica sequer, sombra das minhas mãos, / Flexão casual de meus dedos incertos, / – Estranha sombra em movimentos vãos.” (PESSANHA, 1969, p. 207-208). Nunca é demais lembrar que o autor das Memórias e Camilo Pessanha foram contemporâneos, tendo este último vivido entre 1867, mesmo ano de nascimento de Raul Brandão, e 1926, quatro anos antes da morte do escritor de Guimarães. Coetâneo dos dois escritores é António Nobre (1867-1900), cuja figura é retratada no 3º volume das Memórias. 136 Para uma melhor apreensão da idéia de interrupção e de cesura, tal como formulados pelo filósofo alemão Walter Benjamin, observar o que diz Jeanne Marie Gagnebin: “A idéia de interrupção e, de maneira mais específica, o conceito de cesura preenchem assim na reflexão historiográfica de Benjamin uma dupla função: em primeiro lugar, criticam uma concepção trivial da relação histórica, em particular uma relação de causalidade determinista, tão fácil de estabelecer a posteriori; a essa causalidade achatada apõe a intensidade de um encontro súbito entre dois (ou mais) acontecimentos que, de repente, são (com)preendidos pela interrupção da narração e se cristalizam numa significação inédita” (2004, p. 105106). Mais adiante acrescenta: “Em segundo lugar, a cesura opera uma ruptura no desenvolvimento falsamente ‘épico’ da narrativa; contra a ilusão tentadora que queria ver no fluxo de nossas palavras a abundância da natureza, ela lembra que nossa narração (em particular nossa ‘história’!) não segue por si mesma, que ela é o resultado de decisões singulares, até arbitrárias, e não o fruto de um processo universal e orgânico.” (Ibidem, p. 106). 185 Salvador Dalí 137 – e um estudo que se preocupasse em observar o funcionamento da categoria do tempo no memorialismo do escritor de Guimarães traria valorosa contribuição ao aclaramento da crítica atual: “Nunca fui homem de acção e ainda bem para mim: tive mais horas perdidas.” (BRANDÃO, 1998, p. 31). O terceiro volume das Memórias apresenta um prefácio em que o forte apelo telúrico138 se faz patente, “em que emerge uma sacralidade telúrica enquanto contraponto da dessacralização urbana” (VIÇOSO, 1994, p. 178). A aldeia portuguesa é exaltada na forma de rincão em que o pobre pode conviver em frágil harmonia com o senhorio: “A aldeia cheira a terra e a esterco.” (BRANDÃO, 2000, p. 40). Celebrando o espaço rural em detrimento do urbano, a paisagem transfigurada pela escrita memorialística do escritor de Guimarães se sobressai, e a simplicidade das imagens fixa-se na retina do narrador e do leitor como força apaziguadora.139 Aliás, pelo caráter essencialmente plástico que a poética brandoniana assume, antecipando uma estética da paisagem na qual a natureza é humanizada e da qual a obra de Miguel Torga, sobretudo os Contos da Montanha,140 é exemplar nessa primeira metade do século XX, tem-se a perspectiva de uma iminente “fusão entre o sujeito e a natureza, que faz de ambos uma e a mesma coisa” (BARATA, 2008, p. 33). 137 Ao traçar um paralelo entre a escrita brandoniana e obra plástica de Salvador Dalí, faço tendo em mente a tela “A persistência da Memória”, concluída em 1931. 138 Alexandre Babo, a respeito de um estudo sobre a dramaturgia de Raul Brandão, salienta o pendor telúrico de parte de sua obra, ao registrar que o olhar brandoniano é “O debruçar do intelectual burguês sobre as misérias, as ansiedade, as dores, as torturas e as esperanças duma classe, que não é a sua, feita de vitalidade telúrica” (s.d, p. 420). 139 Sobre o efeito psicológico do confronto entre o espaço citadino e o espaço rural no memorialismo de Raul Brandão, diz Clara Rocha: “A cidade dos homens dá-lhe a imagem do caos e do vazio; a Natureza, pelo contrário, oferece bálsamo da autenticidade e totalidade – é um cosmos e é plena de sentido.” (1992, p. 152) 140 Para fins de cotejo entre os textos, e como refiro aqui à escritura de Miguel Torga como prática notável de um telurismo da primeira metade do século, parece necessário destacar uma passagem do conto “A Maria Lionça”, em que o escritor retrata não apenas o camponês como também a pequena aldeia portuguesa: “A Maria Lionça, essa, ficou. Como todas as mulheres da montanha, que no meio do gosto do amor enviúvam com os homens vivos do outro lado do mar, também ela teria de sofrer a mesma separação expiatória, a pagar os juros da passagem anos a fio, numa esperança continuamente renovada e desiludida da loja da Purificação, que distribuía o correio com a inconsciente arbitrariedade dum jogador a repartir as cartas dum baralho.” (TORGA, 1982, p. 18-19). No conto, a personagem e a paisagem formam uma unidade. 186 É preciso ressaltar que, até o presente, poucos são os estudos que optaram por analisar a obra de Raul Brandão sob a perspectiva da paisagem, a exemplo de José Manuel de Vasconcelos (1991), Jacinto do Prado Coelho (1996), Florence Levi (1997) e Teresa Motta-Demarcy (1997), Albano Martins (2000), que se detêm, a maior parte das vezes, na imagem da vila como espaço metafórico do simulacro da existência no Húmus: “E, o que é mais, esta vila submersa, onde às vezes tudo se afigura flutuante e esverdeado, como debaixo de água, constitui uma abreviatura do mundo, os seus habitantes representam a humanidade inteira.” (COELHO, 1996, p. 296). Mais do que a mera categoria formal do espaço, o escritor de Guimarães situa o ambiente que envolve o sujeito enunciador das suas memórias no limite entre o etéreo e o concreto. Não se pode, portanto, identificar geograficamente o espaço, mas é possível retê-lo como paisagem, figurada apenas pelo trabalho da memória. A terra, como signo essencialmente religioso na escritura brandoniana, é evocada sob a perspectiva da comunhão com o cosmos, em que o sujeito que enuncia, os sujeitos que o rodeiam e a sutil paisagem ilustrada acessam uma religiosidade que se funda não numa ordem teológica, mas moral e ética, em que a dignidade humana fala mais alto: Considero os meses mais felizes da minha vida aqueles em que eu e minha mulher fomos viver para uma aldeia remota. Ainda hoje me penetra a solidão perfumada dos montes. A casa não tinha vidros e à noite o silêncio doirado de estrelas entrava pelas janelas e desabava sobre nós... Há horas em que as coisas nos contemplam, e estão por um fio a comunicar connosco. (BRANDÃO, 2000, p. 35). O ato de se isolar para sentir a terra, para partilhar de uma espécie de união cósmica, é reforçado pela descrição da casa, de estrutura singela e permanentemente aberta, propiciando o contato com a natureza. O telurismo atinge em Raul Brandão uma característica de matiz psicológico, porque o leitor não se põe diante de narração que detalha e exalta apologeticamente a terra natal, o autor não sublinha dificuldades de 187 extrair o sustento por questões de ordem natural – a terra é sempre bendita; é à diferença de classes sociais que se impura o sofrimento dos homens do campo (“Levam horas a comer. Comer para o lavrador, que sabe o que lhe custa o pão, é um acto religioso. Moem e remoem devagar o caldo e a broa, com o respeito de nossos pais diante da mesa posta.”; Ibidem, p. 37). Ao contrário, os laços que ligam o memorialista à terra são inteiramente subjetivos, distintos daquele telurismo que veio a nortear a escrita de certa parcela do neorrealismo português, por exemplo. Na escritura brandoniana, o narrador e a terra tornam-se um só pelos artifícios da memória, que instala no coração do memorialista o afeto despertado por um passado difuso. Envolto em brumas, o narrador torna-se a própria terra, a espreitar todos os seus filhos; e a terra transfigura-se em narrador, numa visão de mão dupla: “A aldeia é uma coisa séria, a terra é uma coisa séria! ...Lá vai pela estrada um caseiro despedido, apegado a um pau, sem poder tirar os olhos do campo a que moeu o granito.” (Ibidem, p. 44). Quem observa o caseiro, mais um proletário da galeria brandoniana de trapeiros, porta o olhar visceral de uma paisagem que também “nos contempla” (Ibidem, p. 35). A categoria narrativa do espaço ganha, assim, novo estatuto141 na escritura de Raul Brandão. O leitor mais renitente desconfia dessa narração memorialística, que parece tão distante do real universo pessoal do escritor de Guimarães desvelado nas biografias, sobretudo aquela levada a cabo por João Pedro de Andrade (2002). Sem uma cronologia definida, essa memória, mais espiritual que temporal, permite, por momentos, a instauração da dúvida no pacto de leitura, porque o leitor oscila entre apostar no 141 Esse estatuto na obra de Raul Brandão não foi investigado sistematicamente até o presente momento. As leituras exercitadas são mais da ordem de comentários inseridos em artigos/ensaios, como salientado anteriormente, e se preocuparam sobremaneira com a vila do Húmus, metáfora da vida. Sobre o primeiro livro, Impressões e Paisagens (princeps em 1890), não há significativa produção bibliográfica, a exceção de dissertação de mestrado defendida, no Brasil, por Francine Camelin (2008), cujo título é Impressões e Paisagens: na fronteira entre o Naturalismo, o Simbolismo e o Impressionismo. 188 memorialismo como resgate verdadeiro do passado ou como efabulação de um passado que Raul Brandão se autoconcede. Essa dúvida, no entanto, é logo afastada porque a “ficção, por vezes, torna-se realidade, e estas correntes subterrâneas parecem ter tanta força como a verdade factual” (VIÇOSO, 1994, p. 181). O microcosmo pincelado por Raul Brandão é mais de caráter simbólico que concreto; o passado é reapresentado sob a perspectiva do homem de meia idade que se esforça para (re)construir memórias de um tempo psicológico, cujo acesso se dá pela via do afeto e da estrutura gnosiológica: “Lá está a velha casa abandonada, e as árvores que minha me, por sua mão, dispôs: a bica deita a mesma água indiferente, o mesmo barco arcaico sobre o rio [...]. Só os mortos não voltam.” (BRANDÃO, 1998, p. 32). É evidente que a identificação de cada um dos volumes das Memórias com uma qualidade estético-temática específica é efeito mais de uma opção metodológica do que, efetivamente, uma aposta declarada do autor. O que importa sublinhar é o modo pelo qual a memória, compreendida inicialmente como textos que mantêm uma proximidade com o conceito de verdade, permite ser preenchida pela ficção, daí que a divisão proposta por Guilherme de Castilho (2006, p. 362) em quatro partes (introduções de cada volume; notas jornalísticas do dia-a-dia da política portuguesa; trechos vários, espalhados pelos três volumes, em que o autor se detém em retratar personagens da época; e trechos de natureza autobiográfica) seja de difícil sistematização, ainda mais quando opera a partir de indicadores temáticos frágeis e que se sobrepõem e/ou anulam. A paisagem rural e a paisagem urbana, via de regra a baixa pombalina e os bairros Alto e do Chiado da capital portuguesa, desdobram-se na figuração de dois espaços sociais, um em que os pobres avultam como protagonistas (“Os homens só ossatura e pele [...] têm erguido as cabanas de todos estes arredores.”; BRANDÃO, 1998, p. 45) e outro em que a pequena burguesia, composta de comerciantes, profissionais liberais, 189 funcionários públicos, com destaque para soldados e outros militares de baixa patente, e artistas (sobretudo escritores), ganha relevo. Entretanto, nem o campo nem a cidade estão em posição de isolamento. Os pobres que povoam o campo também deslizam pelas ruas e vielas da cidade, o que leva a pensar que, diferentemente de livros como A Farsa e Húmus, as Memórias retratam uma trapêrie em que esses esfarrapados assumem a posição de legítimos protagonistas da escritura memorialística de Raul Brandão. Entretanto, projeta-os, torna-os sujeitos da própria existência: “Os cabaneiros vivem pior que lavradores, vivem do jornal; e com a chuva e os dias pequenos ninguém os chama. Aparecem na manhã nublada e fria, para rachar a lenha ou para cavar a vinha!” (Ibidem, 2000, p. 44). O que o escritor conjura como “pobres” não se restringe aos menos abastados social e economicamente. É frequente o uso do termo para qualificar uma plêiade de sujeitos cujo sofrimento – nas diversas ordens possíveis – atinge níveis elevados. Ainda assim, esses sujeitos retratados pelo memorialista destacam-se pela forma como os descreve, partindo, quase sempre, de um detalhe físico para, na sequência, concentrar-se numa descrição psicológica e do comportamento, que reforça uma vocação expressionista plasmada pelo pictórico, conforme explica Filipa Mendes Barata: “Os tons da paleta expressionista de Raul Brandão ajudam a moldar um universo de fantasia onde se configura a reinvenção de um outro mundo, o mundo do sonho” (2008, p. 46): Essas figuras, só osso e só pele, descarnadas, que partem de manhã com sequitel e boroa, que só pronunciam palavras graves, e ao dar do meio-dia se descobrem e mastigam o pedaço seco de pão com um ar solene – acabaram, enfim, por encontrar um descendente austero e grave, capaz de exprimir o universo – o que sentiram, o que sofreram e o que sonharam – e de edificar com alicerces para séculos. (BRANDÃO, 1998, p. 204). 190 O escritor confere às figuras expressionistas que cria o tom dramático, ao destacar o “ar solene” com que se apresentam. Interessa sobremaneira como o texto preocupa-se em destacar as características físicas desses pobres, não sem arrematar o texto com uma reflexão metafísica, sublinhando o espaço arruinado que cerca esses esfarrapados. O memorialismo de Raul Brandão registra a dependência que as classes abastadas têm desses homens e mulheres silenciados (“Espero pelo dia – mesmo na cova o espero – em que acabará a exploração do homem pelo homem.”; Ibidem, 2000, p. 46), estabelecendo uma relação de empatia e ternura entre o narrador das Memórias e os vencidos: “E é da gente ignorada que levo as maiores impressões da existência. Foram os pobres que me obrigaram a pensar [...]. Ainda hoje desfilam diante de mim os mortos e os vivos... Não posso esquecê-los: parece que todos eles esperam alguma coisa de mim.” (Ibidem, p. 36). O esquecimento a qual alude o escritor de Guimarães não é o “esquecer natural, feliz, necessário à vida” (GAGNEBIN, 2009, p. 101), mas antes uma forma tirânica de assolapar a memória, na qual brota a história, e, dessa forma, almeja permitir que o “historicista apresent[e] a imagem ‘eterna do passado”, do qual fez “uma experiência única” (BENJAMIN, 1994, p. 230-231). Essa experiência, a qual se refere Walter Benjamin em suas teses, não é aquele saber (Erfahrung) do qual partilha “um velho que no momento da sua morte revela a seus filhos a existência de um tesouro enterrado em seus vinhedos” (Ibidem, p. 114). Trata-se, portanto, de engessar a história, de tornar o ancião moribundo em velho cujo discurso é desnecessário, e de permitir que a história, cuja escrita “cai sempre para o lado dos vencedores" (BRANDÃO, 2000, p. 57), sujeitese ainda mais “às classes dominantes, como seu instrumento. “(BENJAMIN, 1994, p. 224). Aí reside o perigo, porque aparelhando uma história monolítica o “inimigo não tem cessado de vencer.” (Ibidem, p. 225). 191 No memorialismo de Raul Brandão, o tom confessional, o uso de cores crepusculares, as repetições próprias de quem sussurra ao pé do ouvido e a particularidade de uma adjetivação que se estabelece como marca estilística do escritor colaboram para a figuração de “vultos individualizados” (ROCHA, 1992, p. 149), seja de imagens que povoam a memória da infância e da adolescência, seja de personagens com as quais conviveu nos anos da maturidade. Segundo Filipa M. Barata, “A maioria dos retratos de Brandão é assim que se constrói: linhas simples, por vezes rudes, mas que depois o narrador enche com pormenores, à primeira vista, desnecessários, cujo objectivo é explicar a grandeza da figura.” (2008, p. 80). É como se, partilhando da intimidade de leitura que apenas a autobiografia concede, estivesse o leitor ao pé do memorialista, acompanhando-lhe os movimentos, acompanhando os flashes dispostos pelo narrador. O efeito quase cinematográfico, de imagens em preto e branco que passam pela retina, expressando-se dramaticamente a fim de pactuar com o expectador o roteiro e, sobretudo, a psicologia das personagens que se apresentam, vê-se não apenas na escrita memorialística do escritor de Guimarães, mas no conjunto de sua obra. É salutar sublinhar que o surgimento do cinema em Portugal é contemporâneo de Raul Brandão, como ressalta Roberto Nobre: “O primeiro português que empunhou a manivela da, então, bem recente maquineta de filmar, surpreende. Fê-lo logo, como sabemos, em 1896, apenas escassos meses após a apresentação do espetáculo dos Lumière no Grand Cafè.” (s.d, p. 25). A primeira película, que guarda intrínseca relação com a técnica do documentário, é exibida em 1896, pelos esforços do pioneiro Aurélio Paz dos Reis, empresário do Porto. Trata-se de cópia do filme rodado pelos irmãos Lumière, Saída do Pessoal Operário da Fábrica Confiança. 192 O cinema em Portugal ganhou impulso com a produção de Manuel de Oliveira, outro portuense ilustre. Observa-se, portanto, que a história do cinema em Portugal guarda íntima relação com a Cidade Invicta, o que ajuda a reforçar a hipótese de que Raul Brandão, cuja preocupação com a atividade jornalística e documentarística é evidente, outra vez num entrecruzar de linguagens artísticas, lançou mão de efeitos da linguagem do cinema para reformular a própria expressão literária. A presença do cinema como equipamento urbano registra-se nas Memórias: “Andam soldados, em bandos, armados pelas ruas quase desertas. Mas logo depois dos tiros, Lisboa, já habituada, sai para a rua. À noite enchem-se os animatógrafos142 e os teatros.” (BRANDÃO, 2000, p. 85). Dessa forma, a arte brandoniana ganha contornos de uma abordagem intersemiótica, técnica que Filipa Mendes Barata ratifica em comentário de leitura: “Dir-se-ia que há uma espécie de técnica cinematográfica que permite a aproximação à personagem que se quer tratar” (2008, p. 84), técnica que pode ser comprovada no texto literário, quando o escritor de Guimarães, carrega de dramaticidade a descrição de seus retratados, fazendo-os assomar como se diante de um cinema mudo estivéssemos: “Embrulhando-se num velho gabão, mandou fechar as portas e não quis receber ninguém, não quis falar a ninguém. Desesperado e mudo esperou a morte numa imobilidade de estátua. [...] extinguiu-se num silêncio trágico” (BRANDÃO, 1999, p. 177). Ao descrever a empregada da família, por exemplo, o escritor a constrói como personagem de um drama semiestático, personagem pintada aos moldes da caricatura, plasmando em cada cena uma epifania da dor e da catástrofe. José Carlos Seabra Pereira vê, na Mari'Emília, “a matriz da Joana d'A Farsa ou da mulher da esfrega em O Pobre 142 Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, animatógrafo significa cinematógrafo. A primeira forma surge como “alternativa para o t. cinematograph, em ing. ambos datam do início de 1896” (2001, p. 222). 193 de Pedir” (PEREIRA, 1999, p. 12), isto se se não argumentar que, em última instância, a Joana, a mulher da esfrega e tantas outras mulheres que aparecem na obra brandoniana, incluindo aí Húmus e os textos de teatro, são a cristalização e a transfiguração da mulher pobre, vencida por um sistema de exploração capitalista de seu trabalho e por uma distribuição desigual da riqueza: A Mari'Emília foi, até morrer, nossa criada. Era um tipo popular, de energia admirável. Estou a vê-la [...], olhos despertos dum azul já pouco desbotado pela velhice, mas teimando em exprimir ternura até à morte. Vejo-lhe a boca desdentada a sorrir e sinto nas minhas mãos o calor da suas mãos. [...]. Atravessou toda a vida a mancar e a sorrir. Porque essa é que era a expressão mais íntima e mais bela da sua alma: a alegria na desgraça. Infatigável e risonha – o riso sempre pronto no trabalho e na dor. Só a conheci alegre e morreu com um sorriso e um dente depois de nos servir a vida inteira. (BRANDÃO, 2000, p. 117). Essa dramaticidade que também acompanha o memorialismo brandoniano, assinala-a Vitor Viçoso ao afirmar que, “neste teatro de bonifrates, com as suas misérias, grotescos e, também, grandezas, detectamos, em parte, o sub-texto socioideológico da ficção e do teatro de R. Brandão” (1994, p. 178). A imagem que extravasa da memória do escritor é a que se fixa na forma da mulher transida pela dor e pelo sonho – e que serviu à família do escritor a vida inteira.143 Embora chame para si a responsabilidade de narrar a história dos vencidos, Raul Brandão não rompe de todo com certo conservadorismo social, que lhe permite a perpetuação de práticas que continuam a demarcar a diferença entre classes sociais. Não é, portanto, sem lastro que Filipa Mendes Barata afirma que “a perspectiva moralreligiosa do autor não é tanto burguesa, mas sobretudo conservadora – no sentido mais 143 Embora o escritor pareça ter a consciência de uma exploração do pobre pelas classes menos abastadas, nem por isso, em sua experiência pessoal, o autor deixa de manter uma relação de exploração com a empregada da família. É possível que a crítica veja aí um fato que possa comprometer o senso de justiça de Raul Brandão. 194 aristocratizante do termo.” (2008, p. 38). Há de se sublinhar, em todo o caso, que o escritor não é uma personagem,144 no sentido em que é, na recriação que o memorialismo permite, uma personagem inventada, que constantemente intervém ou participa dos acontecimentos que narra nas páginas de suas Memórias; o seu olhar é mais distanciado, desvelado por um “nauseado desencanto de repórter” (ROCHA, 1992, p. 147). A posição do autor é, por conseguinte, mais de contemplação e reflexão do que a de levar-se às raias da ação. O posicionamento talvez encontre uma justificativa no fato de ser o memorialista afetado pelo tempo em que vive, época devedora do século XIX, ao mesmo tempo em que intenta suplantar as práticas e concepção um tanto quanto ultrapassadas. O memorialismo brandoniano insinua-se na construção de um drama semiestático, em que os elementos do drama não chegam, efetivamente, a concretizar-se, mas permanecem insinuando-se enquanto estrutura de texto, no qual, lentamente, emergem caricaturas plenas de ternura e de dor, destacadas por spotlights em tons de cinza e em cores pastéis. A imagem do clown é das mais aperfeiçoadas máscaras a que o retratista se dedica, porque na forma do trapeiro do fim-de-século, fundem-se os sentimentos que presidem ao teatro clássico: a tragédia e a comédia. O clown é preenchido por uma dualidade sensória e sentimental, uma tensão que o situa a meio caminho entre a felicidade da vida e a quietude da morte: No esforço para não ir ao fundo, no gesto de náufrago que se apega com desespero, quando a dor estala por todas as costuras, há um ricto de clown. Olha lá: o pior é tu ousares tocar no que há em mim de mais sagrado, o pior é tu transformares-me o sonho numa notícia do Século, o pior de tudo é tu atreveres-te a tocar neste jardim da vida – e, pior ainda, é que eu continuo a sorrir como se possuísse o antigo tesouro de Ali-Babá. Mais um momento, outro passo e reduz-me à condição de trapo. [...] Desde então perco o fio da peça, não sigo mais os bonecos 144 É preciso aqui relembrar os preceitos de Philippe Lejeune (2008), para quem o pacto autobiográfico implica uma identificação entre personagem, narrador e autor. 195 que se agitam no tablado, só ouço o meu próprio monólogo, e quedome de olhos atónitos noutro espetáculo atroz. Tenho a certeza absoluta de que não há forças humanas que lhe detenham a marcha. Começa então a tragédia. (BRANDÃO, 1998, p. 83-84). Numa encenação em que o trapeiro é responsável por (quase) anular os demais elementos constitutivos da narrativa, salta a figuração dessa máscara, capaz de transformar o narrador em “alegorista [que] detém um saber múltiplo, pois só com a ajuda deste pode-se metamorfosear à vontade o significado das coisas através do olhar melancólico” (MACHADO, 2004, p. 40). Ao encarnar o clown, o memorialista torna-se íntimo da morte, extrai, por meio da violência inerente ao procedimento alegórico, as imagens de seus lugares iniciais. Daí que o narrador das Memórias trave uma disputa ontológica com o eu e seus duplos/múltiplos145 – esses sujeitos esfarrapados –, isto é, com o eu e os outros, e que encontre no modo de ser fragmentado a dicotomia mais expressiva da obra de Raul Brandão: “a noção de que o objecto [assim] como o indivíduo têm sempre duas faces e a que está por detrás (escondida) é que comanda a outra, que é visível” (BARATA, 2008, p. 105). No memorialismo brandoniano, cada personagem, histórico ou fictício, afivela uma máscara à face: “Nem todos os homens dão por isso, mas todos os homens representam, todos afivelam a máscara da mentira.” (BRANDÃO, 2000, p. 99). É, por conseguinte, a representação literária de sujeitos historicamente expostos à hegemonia narrativa dos vencedores que importa à crítica que ora se estabelece. O clown a que se refere o escritor de Guimarães, disforme, de cabelos desgrenhados, magro e de roupas em farrapos, assume muitas faces no decorrer dos três volumes em que Raul Brandão apresenta, por meio desse recurso, personalidades literárias e políticas de um momento histórico em que insiste na linguagem do palco, 145 Embora não seja o cerne desta análise, julgo relevante observar, na esteira de Filipa Mendes Barata, que, “na obra de Raul Brandão, o outro, enquanto duplo do eu, é normalmente identificado como ‘fantasma’, o ser ‘esfarrapado’, o ‘pobre”. (2008, p. 26). 196 como se toda a história de Portugal não fosse além de uma encenação teatral, e se tornassem, eles próprios (povo, dirigentes corruptos, monárquicos, republicanos, escritores, soldados, prostitutas, donas de casa), personagens afônicos de uma tragédia muda, bonecos de pano dos quais emana uma desilusão desconcertante típica do fim-deséculo, tempos de crise de um Portugal que já não sabe encontrar o caminho, tempos de personagens sem aura. O clown e o palhaço são variantes de uma mesma imagem precursora, e ambas são faces possíveis para esse trapeiro – herói coletivo da narrativa de Raul Brandão. A teatralização percorre a obra brandoniana, encontrando nessas passagens de tom caricatural-dramático os pontos-de-apoio necessários à construção de uma narratividade mínima: Fialho era outro estranho tipo, intratável e pobre, com o pêlo ralo e a boca enorme cheia de sarcasmo. Um príncipe de gabinardo, que fazia cair as peças do alto do galinheiro, a um gesto seu irrespeituoso. Seguia-o a malta atónita de matulas suspeitos e jornalistas de ocasião, que deslumbrou de sonho e tascou de sonho. – Fialho! Fialho! [...] Vio exasperado, vi-o atordoado de frases, como quem quer fugir ao próprio fantasma. (Ibidem, 1998, p. 66-67). Se a crítica contemporânea continua a apontar a escrita de Fialho de Almeida como decisiva para que autor das Memórias pudesse delinear a sua própria estética finissecular146 (“A obra de Fialho não podia ser senão esta, aos arrancos e enorme. Fialho via os pormenores através duma lente, e deturpava tudo, deformava tudo, dando génio à própria obscenidade”; Ibidem, p. 67-68), não é de se estranhar que o escritor de Guimarães dedique numerosas páginas à descrição do autor de A Ruiva: “é 146 Para uma melhor apreensão da estética de Fialho de Almeida, consultar o artigo de Luci Ruas (2002), que integra coletânea de textos que tem por escopo as expressões crepusculares do fim-de-século, e ainda o ensaio de Isabel Cristina Pinto Mateus (2008). Embora não aponte os críticos que sublinham a relação entre as escritas de Fialho de Almeida e Raul Brandão, Filipa Mendes Barata não deixa de registrar: “Fialho de Almeida é, de acordo com alguns críticos, um dos autores que mais influenciou a escrita de Brandão, sobretudo no que toca à utilização do traço expressionista transfigurador da realidade, dando dela a sua perspectiva mais negra e miserável, onde (sic) abundam tipos humanos marginais como as prostitutas, os bêbados e até alguns artistas falhados.” (2008, p. 90). 197 pronunciando-se sobre Fialho que Raul Brandão parece dar senhas ao leitor para que este o saiba apreciar” (PEREIRA, 1998, p. 24). Fialho de Almeida também cultivou o gênero autobiográfico, aproveitando-se da escritura para distorcer a própria imagem, cinzelando-a como de um sujeito “misantropo e revoltado que explica a disposição do seu espírito em função das agruras por que passou na infância e na juventude” (ROCHA, 1992, p. 134). Sobre a expressão do retrato do autor de Os Gatos, ainda Filipa Mendes Barata sublinha que “a noção de que [...] é uma personagem contraditória é constante ao longo de todo o retrato” (2008, p. 94), pelo que se pode apreender em outro fragmento das Memórias: “Fialho, se o virassem do avesso, escorria ternura... É também um tímido capaz de todas as audácias [...] [.] Ainda hoje ninguém o entende.” (BRANDÃO, 1998, p. 68). Na sua evocação ao amigo contemporâneo, o autor do Húmus não abre mão de inscrevê-lo definitivamente na história – da vida e da literatura –, registrando-lhe a morte, fazendo da escrita memorialística o epitáfio da existência. Se, por um lado, a “distância, por vezes, reduz os seres e os factos, condensa-os e o que fica deles não é a sua essência, mas uma mera fórmula, etiqueta ou epitáfio (VIÇOSO, 1994, p. 177), por outro é, justamente essa inscrição epitáfica147 que registra o fato na memória antes que dele se apodere “a erudição vazia do historicismo” (GAGNEBIN, 2009, p. 98), cuja missão é apagar o rastro que se assinala como cicatriz da memória: “Morreu anteontem em Cuba o Fialho de Almeida. Diz-se por aí que se suicidou. [...] Apressaram-lhe a morte?” (BRANDÃO, II, 1999, p. 102-103)148. Outros escritores e artistas 147 Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra epitáfio pode significar: “1 inscrição sobre lápides tumulares ou monumentos funerários [...] 3 enaltecimento, elogio breve a um morto 4 LIT tipo de poesia, nem sempre de inscrição tumular, que encerra o lamento pela morte de outrem” (2001, p. 1181). 148 Filipa Mendes Barata, no estudo que faz dos retratos de escritores, tais como Columbano, Fialho de Almeida e Guerra Junqueiro, presentes no memorialismo brandoniano, acrescenta: “No volume III das Memórias surge ainda uma secção de texto dedicada a Fialho, e cujo título é ‘Fialho de Almeida’. Nela se registram pequenos apontamentos sobre a figura que resultam da apreciação de terceiros” (2008, p. 96). 198 contemporâneos de Raul Brandão são objeto de epitáfios por parte do memorialista, cuja sensação provocada no leitor é que “Cada vez que morre um homem, parece morrer com ele o mundo.” (VIÇOSO, 1994, p. 182). Numerosas também são as passagens em que o memorialista apenas exalta ou macula a imagem de outros escritores e artistas. Vale a pena salientar, neste sentido, o modo como descreve Columbano Bordalo Pinheiro, com quem, conforme visto anteriormente, o escritor da Foz do Douro manteve amizade próxima e relações estéticas que o possibilitaram incursionar pelas raias das artes plásticas, experiência que, somando-se à influência de Fialho de Almeida, parece ter contribuído decisivamente para que Raul Brandão se definisse como escritor. Filipa Mendes Barata salienta que, na esteira da representação que faz do autor de A Ruiva, o memorialista estabelece uma relação de empatia com o pintor, sobretudo quando o descreve na condição de proletário a serviço do ideal estético (“O desapego ao dinheiro traduz, ao mesmo tempo, o despojamento pelo poder que este dá e que só busca de um ideal superior transmite”; BARATA, 2008, p. 89): Não sei o que descrever, porque está fora do mundo e do seu tempo – fora da realidade. Sentimento da natureza não tem nenhum: pinta o céu como a terra: da mesma cor. – Dizem que o céu é azul. O que me importa que o céu seja azul; a gente não foi que o fez! Fomos uma tarde a um largo passeio no Tejo: aquele deslumbramento de luz aborreceu-o. No Norte levei-o um dia a ver o mar. Voltou-se as costas, desesperado. – É muito grande. As figuras dolorosas dos seus retratos, ao mesmo tempo dolorosas e escuras, onde há um silêncio de morte, arranca-as ao sonho interior, que tem sido o de toda a sua vida. (BRANDÃO, 2000, p. 197). Inquieta a forma como a narrativa memorialística é engendrada. Por vezes, tem-se a impressão de que o sujeito a quem o texto se refere não é o consagrado pintor Sublinhe-se que a presença do autor de A Ruiva trespassa todos os volumes das memórias literárias de Raul Brandão. 199 português, mas ao próprio autor das Memórias, numa autorreflexão sobre a própria estética. O efeito é conseguido porquanto o leitor possa aglutinar na pessoa de Raul Brandão as imagens do escritor e do artista plástico, porque, nesta última condição, também o escritor de Guimarães foi inserido pela crítica de formação,149 experimentador de outras linguagens artísticas, bem como se exercitou na pintura sob a tutela artística de Columbano. Costumeiramente chamado de Mestre, sabe-se que Raul Brandão lhe dedicou o Húmus. Se exaltou os mortos no primeiro volume das Memórias, dedicando, portanto, a produção memorialística aos que emudeceram, fez dupla homenagem ao amigo quando, na forma de poema-epitáfio, registrou: “Columbano, toda a vida viveu pobre – e pobre morreu. Mataram-no, no que em que lhe tiraram o Museu [...]. Passava as noites agitado, sem apagar a luz, nem pregar olho – e anteontem, 6 de Novembro, o coração parou-lhe, não podendo dominar a bronquite. A bronquite e a tristeza.” (Ibidem, 2000, p. 201). A representação que faz do amigo é expressamente dramática – porque deliberadamente pictórica –, o que contribui para conferir ao registro memorialístico a impressão de que o sujeito que enuncia é o mesmo que é foco da enunciação. Mais uma vez, é o afeto o ponto de partida para a escritura e também parece ter sido o afeto que impeliu Columbano a representar Antero de Quental em consagrada tela. Por seu turno, agora é Raul Brandão que lança mão da palavra para dotar o velho mestre de função retratista; e é o pintor o sujeito objeto da representação. Entretanto, o próprio escritor de Guimarães foi pintado por Columbano. Essa relação especular (Antero-ColumbanoBrandão) permite que se levante a ideia de um elaborado percurso criativo, em que criador e criatura têm a necessidade de representar e fazer representar-se. Nessa embaralhada troca de papéis quem ganha é o público – leitor e espectador – porque 149 Para retomar as três fases da crítica brandoniana, voltar ao primeiro capítulo. 200 sente que a arte do fim-de-século e do novo século é um entrecruzamento de estéticas que não podem ser negligenciadas. Poder-se-ia questionar se não é a representação de Columbano por Raul Brandão uma forma de, literariamente, permitir que o próprio pintor retrate a si e fale por si. Está o memorialista abrindo espaço (literário) para que os seus outros eus se manifestem? Até que ponto a imagem de Columbano por Raul Brandão é fruto apenas da efabulação do escritor? Essas perguntas ficam sem respostas, porque abrem para um intrincado labirinto estético em que a fragmentação do sujeito e o espelhamento atravessam a criação artística. Nas Memórias brandonianas, o eu assume, também, a função de ser outro. Entre tantos fragmentos que não se referem a escritores portugueses um chama atenção porque é emblemático de um tempo de transformações aceleradas, como o foram as primeiras décadas do século passado. Ao sabor de uma descrição minuciosa, Raul Brandão retrata encontro que teve (o eu ou o seu outro?) com o aviador Santos Dumont, em Paris: Eu olhava de longe para ele, e nessa mesma tarde fui visitar, nos arredores, Santos Dumont e sua máquina de voar. Trigueiro e magro, de figura insignificante, ele fez sair do hangar uma coisa que me pareceu infantil: canas e farrapos recortados sobre uma bicicleta, uma espécie de papagaio gigantesco, ridículo. Bem ou mal, a coisa fez pff! pff! e levantou um voo atarantado para logo cair por terra. Falei-lhe em português - respondeu-me em francês: - Teimo até à morte! Mas nem ele nesse momento teria visão exacta do que essa máquina, com o automóvel e o cinema, viria a produzir no mundo. Tanto como a guerra, mais talvez que a guerra, foram as máquinas que transformaram a nossa vida... (Ibidem, p. 100). Está posta a questão fundamental do memorialismo brandoniano: quem escreve? Se, necessariamente, o pacto autobiográfico identifica as categorias de autor, narrador e protagonista, com os seus volumes Raul Brandão põe-se no limite entre a memória e a ficção. A crítica literária tem sido levada a perguntar se o escritor de Guimarães edifica 201 as suas memórias a partir de uma efabulação ficcional ou se é a aparente efabulação ficcional que se faz como representação dos despojos da memória. Em todo o caso, os preceitos de verossimilhança e verdade não se ajustam à produção, que se constitui, sobretudo, a partir de um exercício intertextual, na forma a que se refere Helena Carvalhão Buescu (2001, p. 89 – loc. cit) em seu estudo. O Santos Dumont apresentado por Brandão não é mera releitura de um Jacinto150 – e me parece possível trazer a literatura de Eça às Memórias, porque assim o fez o escritor de Guimarães em diversas passagens, seja para relatar a devoção quase pueril que o grupo de autores a que pertencia, devotava ao já renomado romancista, seja para colocar em evidência as excentricidades do autor de A Cidade e as Serras: “Na correspondência aparece-nos outro Eça. [...] Raro saía de casa. Levantava-se ao meiodia, vestindo-se meticulosamente, como se tivesse de fazer visitas.” (BRANDÃO, 2000, p. 189). O inventor brasileiro é mostrado como sujeito predestinado a colaborar na revolução tecnológica em que consistiu o final do século XIX e primeiros anos do século XX, sem, por outro lado, deixar de dar destaque como sonhador. Dessa preocupação em retratar a modernidade151 (da maquinaria industrial, das invenções, da arte e do homem) partilham Eça de Queiroz e Raul Brandão. A representação de personagens históricos, na forma em que podem ser situados historicamente no tempo, porque existiram para além da escrita literária, levanta a 150 Como se identifica da leitura do romance de Eça de Queiroz, fruto de sua última fase literária, a personagem Jacinto é descrita na forma do dândi misantropo radicado na cosmopolita Paris do final do século XIX. De gosto refinado, a obsessão pelas máquinas e a relação que permeou com a modernidade são pontos de partida para que se trace um paralelo com o Santos Dumont, agora mais um personagem da galeria de Raul Brandão. 151 Para fins de ilustrar melhor o exemplo, observem-se as palavras de Eça de Queiroz, ao retratar Jacinto como personagem finissecular obcecada pela modernidade, cujo epicentro é a Paris metropolitana: “Mas eu preferi inventariar o gabinete, que dava à minha profanidade serrana todos os gostos de uma iniciação. Aos lados da cadeira de Jacinto pendiam gordos tubos acústicos, por onde ele decerto soprava as suas ordens através do 202. Dos pés da mesa cordões túmidos e moles, coleando sobre o tapete, corriam para os recantos de sombra à maneira de cobras assustadas. Sobre uma banquinha, e reflectida no seu verniz como na água de um poço, pousava a Máquina de Escrever: e adiante era uma imensa Máquina de Calcular, com fileiras de buracos onde espreitavam, esperando, números rígidos e de ferro.” (QUEIROZ, 1999, p. 28-29). 202 hipótese de que seja o memorialismo de Raul Brandão apenas “tangencialmente autobiográfico” (MOLLOY, 2003, p. 16). Entretanto, a alternância entre os planos de representação do real e de representação literária sucedem-se no corpo das memórias do escritor de Guimarães, o que dota a elaboração memorialística em questão de um “diferente estatuto comunicacional” (PEREIRA, 1998, p. 17). Não se pode inquirir o texto na espera de se obter as respostas habituais. O memorialismo brandoniano toma por alicerce fundamental a ultrapassagem do conceito de memória, este reservatório da história e espaço sobre o qual age permanentemente a imaginação literária: “Todavia, algo ultrapassa (e ao mesmo tempo envolve) estes condicionalismos históricos e, consequentemente, o próprio condicionalismo do género memorialístico: o vaivém da memória como obsessão criadora” (MACHADO, 1996, p. 135). O texto de Raul Brandão, para além de se poder dizer que representa a verdade ou a mentira (posto que esses conceitos parecem, de todo, bastante limitados para se ajustarem à escritura brandoniana – e não apenas a esta), desvela ao leitor “instantes que para sempre tatuaram a sua alma” (VIÇOSO, 1994, p. 183), momentos em o escritor de Guimarães “ressuscita poeticamente os seres humanos que viveram [...] [a] experiência” (WEINHARDT, 2011, p. 27) de ser português “num processo histórico ainda em curso” (PEREIRA, 2000, p. 9), do qual foi dupla e ambiguamente testemunha152 singular. 152 É preciso observar o conceito de testemunha esboçado por Jeanne Marie Gagnebin: “Nesse sentido, uma ampliação do conceito de testemunha se torna necessária; testemunha não seria somente aquele que viu com seus próprios olhos, o histor de Heródoto, a testemunha direta. Testemunha também seria aquele que não vai embora, que consegue ouvir a narração insuportável do outro e que aceita que suas palavras levem adiante, como num revezamento, a história do outro” (2009, p. 57). Nesse sentido, Raul Brandão é testemunha, porque foi contemporâneo dessa atmosfera brumosa que registra, com especial atenção à decadência da Monarquia e instauração da República, e porque levou adiante, deu voz aos que soçobraram pelo caminho. A próxima seção deste capítulo, retornando à primeira acepção do conceito, debruça-se sobre a escrita memorialística que se faz escrita da história. 203 4.4. Erosão e ruína: o levante dos vencidos Para uma leitura da matéria histórica stricto sensu na escritura memorialística de Raul Brandão, é preciso inicialmente sublinhar o percurso histórico do próprio livro em questão. É de se esperar que a publicação de um texto que, com freqüência, cede a voz narrativa ao outro, suscite discussões em torno da veracidade dos acontecimentos narrados e, ainda, da pertinência das falas atribuídas. Com efeito, o artifício da autoria anônima é explorado pelo autor das Memórias,153 que justifica o uso porque, de toda a forma, contribui para reconstituir o passado: Sucede sempre que, passados meses sobre o que escrevo – eu próprio duvido e hesito. Sinto que não me pertenço...[...] Por isso repito, muitas folhas destes canhedos serão mal interpretadas, talvez alguns tipos falsos. Só vemos máscaras, só lidamos com fantasmas, e ninguém, por mais que queira, se livra das paixões. No que o leitor deve acreditar é na sinceridade com que na ocasião as escrevi. Poderão objectar-me: – Então com que destino publico tantas páginas desalinhadas, de que eu próprio sou o primeiro a duvidar? É que elas ajudam a reconstituir a atmosfera duma época; são, como dizia um grande espírito, o lixo da história. (BRANDÃO, 1998, p. 37-38). É possível interpretar o reconstituir brandoniano como um reapresentar, na forma que um texto de pretensões literárias ou históricas, por mais que se tente esquivar, é sempre fruto do posicionamento subjetivo do autor perante o próprio eu, o ser humano e a sociedade em que vive, posto que Raul Brandão “ao procurar o eu no passado [...] [ou no presente] quer reorientar o porvir” (MORÃO, 1994, p. 28). Se o memorialismo do escritor de Guimarães afasta-se, por vezes, do distanciamento temporal que se deseja 153 Sobre essa questão de ordem documental e/ou testemunhal, necessária numa primeira análise àquele que se propõe a estabelecer um elo narrativo entre o passado e o presente, Vitor Viçoso sublinha: “A voz enunciadora [nas Memórias] tanto pode ser a do autor como a de um comparsa que, em discurso directo, introduz uma figura, conta uma ‘boutade’ ou narra factos obscuros dos bastidores da vida política, mundana ou artística. Outras vezes, o emissor é anónimo (‘Diz-se’, ‘conta-se’, ‘propala-se de ouvido para ouvido’; ‘corre com insistência que’; ‘espalha-se que’; ‘consta que’, etc.)” (1994, p. 181). 204 àqueles que se empenham em narrar a história ou reelaborar a matéria histórica enquanto discurso integrante do corpo literário, parece fazê-lo na consciência de que é preciso deixar rastros, mesmo ciente de que “agora a escrita não é mais um rastro privilegiado, mais duradouro do que as outras marcas da existência humana.” (GAGNEBIN, 2009, p. 113). Daí que a preocupação do autor das Memórias seja com o leitor, e que justifique o uso de fontes heterodoxas, não canônicas elas próprias. A “atmosfera duma época” a que se refere o memorialista é compreendida por Filipa Mendes Barata como produto de um “colecionador de fragmentos” (2008, p. 115), pelo que julga que os volumes são “parte dela [a época], mas [que] sua obra não é de perto nem de longe uma obra de teor histórico na acepção mais científica do termo.” (Ibidem, p. 115). É preciso corroborar o pensamento da investigadora quando afirma que as memórias brandonianas não se enquadram como obra de conteúdo histórico numa acepção restrita do termo, científica como a concebeu o positivismo oitocentista. Também não é o foco desta análise sublinhar que Raul Brandão faz historiografia nas Memórias. O ideal que nessas se move é distinto daquele que impeliu o autor a escrever El-Rei Junot. Neste sentido, defendo que o aspecto a ser sublinhado é que, embora não seja narrativa histórica, a matéria histórica está no memorialismo, assim como a expressão lírica está na prosa historiográfica do livro de 1912. Em todo o caso, narrador que é – e esta, como se sublinhou, é condição sine qua non para existência do texto memorialístico –, Raul Brandão oferta ao público leitor um retrato – com tudo que este tem de subjetivo – repleto do preceito de exemplaridade: os acontecimentos, as caricaturas, as digressões. Tudo tem por intuito servir a que o passado oriente positivamente o presente e o futuro. 205 No que diz respeito à história da obra em estudo, o impacto da publicação é significativo, contradizendo a tese de que Raul Brandão não gozava de repercussão e popularidade editorial, conforme informa Guilherme de Castilho: “O aparecimento das Memórias (excluindo o terceiro volume, póstumo) causou alguma celeuma no meio lisboeta” (2006, p. 363). O sucesso editorial das Memórias não ficou restrito às terras portuguesas. Enviaram-se exemplares para divulgação e comercialização no Brasil (“Remeto-lhe hoje mais 30 exemplares das Memórias 2º volume porque não deve ter em seu poder exemplares suficientes para o Brasil.”),154 sem falar que os escritos memorialísticos repercutiram na Espanha, a exemplo do interesse do editor e lusofonista catalão Ignazi de Ribera y Rovira.155 A consulta ao arquivo de Raul Brandão permite, assim, o mapeamento de cartas recebidas pelo escritor em que os interlocutores reclamam do envolvimento de seus nomes em passagens polêmicas ou, muitas vezes, que pessoas referidas no corpo dos livros pedem que, em caso de nova edição, o escritor faça retificações: Meu caro Raul Brandão Acabo de ler o primeiro volume das suas Memórias, onde aparecem frases a mim atribuídas. Algumas, se foram rigorosamente reproduzidas, não abarcam a minha técnica financeira, o que pouco importa; mas, como lá diz no seu prefácio que “muitas folhas d’estes canhedos serão mal interpretados”, e não hesito, para restabelecer a boa interpretação peço-lhe que na próxima edição do seu livro me faça o favor de retificar (pág. 120) uma frase que me parece não ter dito, porque afirma o contrário do que sempre pensei, tenho adquirido e tive ensejo de verificar no contexto de longos quarenta anos. [...] Se lhe contei a historieta por aquela forma ou outra parecida, foi sem dúvida para lhe provar pelo contraste a exceção. Lembro-me de lhe ter falado na viciosa prática do presente após o favor recebido, o que é em aparte vulgar, cá na terra, da nossa visão moral ou da nossa 154 Este registro e outros, sobretudo relacionados à boa vendagem das Memórias nas livrarias lisboetas, podem ser consultados neste autógrafo inédito, inscrito no arquivo de Raul Brandão sob a cota D2/222, escrito por João de Eça (n. 1901 – m . 19--) ao escritor de Guimarães e enviado em 24 de setembro de 1925, a partir de Lisboa. 155 Em A Experiência estética de Raul Brandão (RIOS, 2007), faz-se o mapeamento do interesse de Ribera y Rovira (n. 1880 e m. 1942) pelas obras do escritor português. O autógrafo em questão está inscrito no arquivo depositado na Biblioteca Nacional Portuguesa, sob a cota D2/535, e escrita pelo editor catalão a Raul Brandão, com data de 15 [setembro?] de [de] 1925 (Barcelona). 206 gratidão. Por isso muito o devolvem para não poder ter má interpretação. O costume é bem conhecido e praticado. Creia-me, meu caro Raul, com estima156 Também Guerra Junqueiro, a quem o escritor dedica extensa reflexão e exaltação em sua escrita memorialística, escreve a Raul Brandão solicitando que o memorialista não inclua algumas notas sobre o rei D. Carlos, assassinado no episódio de 1908: “Ontem fui ao Porto, chamado por Junqueiro. Conheci o grande poeta em diferentes épocas da vida, mas nunca me fez tanta impressão como agora [...]. Pediu-me para rasgar algumas notas sobre D. Carlos que me tinha ditado há anos” (BRANDÃO, 1999, p. 204). A questão que envolve o pedido de silêncio sobre o depoimento anteriormente prestado justifica-se porque a tensão entre monarquistas e republicanos ainda estava recente na memória coletiva lusitana. Com efeito, sobre o mérito histórico das Memórias, importa sublinhar que “é na História, enquanto vivência pessoal do tempo e percepção desse mesmo tempo, que se recolhe a matéria-prima para a escrita.” (BARATA, 2008, p. 111), fazendo “desfilar diante dos nossos olhos, com seu visionarismo peculiar, um período político social extremamente agitado da História, aquele que decorre dos últimos anos da monarquia constitucional e o golpe de Estado de 28 de maio de 1912.” (VIÇOSO, 1994, p. 177). Há de se destacar que somente a crítica contemporânea abordou com interesse o estudo dos escritos memorialísticos de Raul Brandão, provavelmente porque aquela não estava ainda preparada para ler um texto elaborado ambiguamente nas malhas da efabulação literária e da matéria histórica, sem ser, todavia, uma ficção historiográfica. O ensaio de Guilherme de Castilho (2006) é o primeiro de fôlego a lançar-se nessa demanda, que experimentou uma longa interrupção até a publicação do ensaio de Vitor 156 Carta inédita correspondente à cota D2/552 do arquivo depositado na Biblioteca Nacional, em Lisboa. A correspondência é de autoria de Adrião de Seixas (n. 18--, m. 19??) e remetida a 4 de março de 1919, em papel timbrado do Banco de Portugal – Gabinete do Secretário Geral. 207 Viçoso (1994), e agora encontra repercussão na investigação de Filipa Mendes Barata (2008). Por seu turno, o breve artigo de Álvaro Manuel Machado (1996) parece ir na contramão da presente crítica, conflitando ainda com a leitura acurada que Vitor Viçoso exercita, sobretudo porque se fundamenta numa interpretação do escritor presa a uma ideal romântico, na qual Machado observa que, em sua forma escrita, as Memórias “tendem para uma monotonia temática essencial” (MACHADO, 1996, p. 135), monotonia não vislumbrada quanto mais lembro a existência de um bulício inquietante de seres esfarrapados à espreita de um levante que tenha por protagonistas os vencidos, ação que, por mais que o próprio memorialista negue ao dizer “Nunca fui um homem de acção e ainda bem para mim” (BRANDÃO, 1998, p. 31), está presente nos volumes na forma de uma “insurreição universal dos oprimidos” (COELHO, 1996, p. 299), ensaiada desde História dum Palhaço e aprofundada em El-Rei Junot e no Húmus. No corpo das Memórias, ganham forma os acontecimentos que definiram todo o século XX português, não sendo demasiado dizer que o assassínio do rei D. Carlos157 e do Príncipe herdeiro D. Luis Filipe, em pleno Terreiro do Paço, figura como tema histórico nuclear do primeiro volume, ao passo que a revolução de 5 de outubro de 1910, feita mais por desgaste do sistema monárquico do que por um ideal republicano que atingisse a população lisboeta (“É que o país não é monárquico. Há uma minoria monárquica, capaz de sofrer e de morrer, como há gente de Lisboa e Porto republicana, disposta a todos os sacrifícios. A grande massa inerte adapta-se a todos os regimes”; BRANDÃO, 2000, p. 57), ocupa o primeiro plano nas páginas do segundo e terceiro volumes. No entanto, Raul Brandão não se limita à descrição factual, mas intervém 157 Uma das cenas mais instigantes das Memórias é a descrição do momento do assassinato do rei D. Carlos, no despertar de uma estética em que a paralisia do tempo se faz fundamental para lhe conceder toda a carga dramática necessária: “Eu estava a quatro passos - confirma o pintor Melo. - Um homem subiu às traseiras do carro, olhou o rei cara a cara e deu-lhe um tiro de revólver. Vi um fumozinho branco sair-lhe do pescoço. O rei voltou-se, e, cem anos que eu viva, nunca mais me esquece a expressão de espanto daquela máscara. [...] O Buíça, que tirara a carabina debaixo do gabão, apontava e descarregava. O príncipe real ergueu-se - caiu varado. A rainha, louca de dor, sacudia o Alfredo Costa com um ramo de flores. - Então não acodem?! Não há quem me acuda?!” (BRANDÃO, 1998, p. 148). 208 como analista da história ao emitir opiniões – diz-se desiludido, tal qual um Guerra Junqueiro – e costurar conjunturas, buscando, muitas vezes, os motivos que teriam levado Buíça e seus colaboradores, possivelmente instruídos e acobertados pela Carbonária, a darem o último golpe na Casa de Bragança, dinastia que as Memórias registram, um a um, apontando para um sentimento de fraqueza e corrupção quase que genética a que os últimos representantes da monarquia não podiam fugir. Sobre a Carbonária, trata-se de associação secreta que tinha íntimas relações com a maçonaria, embora com esta não se confundisse. Esteve presente em Portugal desde os finais do século XIX, provavelmente no ano de 1896, até ao início dos anos 1920, quando as tentativas republicanas deram lugar ao terror do fascismo corporificado na ditadura salazarista. Brandão dispõe em seus volumes de indícios da presença da associação em Lisboa e Porto, chegando a fazer imprimir o selo da Carbonária portuguesa (cf. BRANDÃO, 2000, p. 90). Qual terá sido a relação do escritor com a obscura instituição? Pouco se pode dizer, e desse pouco há suspeitas suscitadas por documento inédito integrante do arquivo de Raul Brandão, depositado na Biblioteca Nacional, qual seja: uma carta-relatório datada de 12 de outubro de 1911158 dando conta dos acontecimentos da noite do dia 4 [de outubro de 1910?] e enviada por J. Magalhães sem, no entanto, discriminar o destinatário. Em todo o caso, o fato de o documento em questão pertencer ao espólio do escritor de Guimarães demonstra o interesse do memorialista pelo tema. A Carbonária estava infiltrada entre os militares portugueses e teve influência decisiva na queda do edifício monárquico: Foi um bambúrrio, diz-se. Mas não se esqueçam de que tudo estava preparado por dentro para esse bambúrrio. Convicções monárquicas não existiam, e a obra de demolição era extraordinária. Até no presente Dia, num gabinete e quase nas barbas do Moreira de 158 O documento está registrado no arquivo brandoniano depositado na BNP sob a cota D2/907, de autoria de J. Magalhães. O intervalo de tempo em que viveu o missivista não foi identificado. 209 Almeida, se iniciava gente na Carbonária. [...] O trabalho da Carbonária entre os soldados tinha sido persistente e oculto. Havia muito que a marinha era inteiramente republicana. [...] Juntem a isto as causas fortuitas: a fuga do rei – e a intervenção do ministro da Alemanha com o seu automóvel de bandeira branca no mais aceso da luta, acudindo logo o povo ao Rossio aos gritos de viva a República – e a bomba, a dinamite, o fantasma da revolução. (BRANDÃO, 1999, p. 65). No seu testemunho, Raul Brandão parece ter, com efeito, transmitido, na forma benjaminiana do termo, ao leitor a sua experiência de homem que viveu esses momentos decisivos para a nação portuguesa. Como um jornalista, interessado sobremaneira pela matéria história que sabia estar registrando, o escritor de Guimarães descreve, supõe e analisa a conjuntura histórica que envolve o levante republicano e seu êxito: “Sucedem-se as greves e os atentados, e o povo que lutara heroicamente, na Rotunda, por um ideal republicano, quando da Revolução, será o mesmo que, mais tarde, se entregará aos saques das lojas.” (VIÇOSO, 1994, p. 182). Segundo o memorialista, a causa da extinção da Dinastia de Bragança não se dá essencialmente pela crença na República como regime de governo, mas, justamente pelo oposto. Os portugueses, os vencidos que povoam sua escritura, perderam a crença na monarquia, que se esfacela perante os homens que se aglomeram pela cidade: Toda a noite ouço o estampido brutal do canhão, que por vezes chega ao auge, para depois cair sobre a cidade um silêncio mortal, um silêncio pior. Que se passa? Distingo o assobio das granadas, e de quando em quando um despedaçar beiral que cai à rua. E isto dura até à madrugada. De manhã as tropas do Rossio rendem-se e os marinheiros desembarcam na Alfândega. Às oito e meia está proclamada a república. Passa aqui na Rua de S. Mamede um resto de Caçadores 5, soldados exaustos, entre populares que os aclamam. O rei fugiu. (BRANDÃO, 1999, p. 51). É difícil ler o registro historiográfico de Raul Brandão sem traçar paralelo com as invasões napoleônicas, retratadas em El-Rei Junot. No livro de 1912, assim como nas 210 suas Memórias, o escritor lança um olhar preocupado em perscrutar o papel das massas em processos que traumatizaram a nação portuguesa e que se tornaram peças fulcrais na definição de uma identidade lusitana. Há o estabelecimento de uma relação de empatia com as classes trabalhadoras, resultando numa narrativa em que a história é desmonumentalizada para dar lugar a uma narração do processo, em que a história seja vista pelo viés do drama e em que os vencidos sejam elevados à condição de heróis nacionais. A matéria histórica que avulta do memorialismo brandoniano resulta em narrativa sobre os esfarrapados – farrapo e trapo podem significar o mesmo – e feita de farrapos. Entretanto, há de se sublinhar que a matéria história não está desligada de uma intenção poética, o que se pode vislumbrar quando o escritor de Guimarães se detém em retratar os soldados portugueses, levantando-os do anonimato a que foram obrigados por uma história escrita pelos dominadores: Desconfio que essas figuras de opereta desapareceram para sempre do universo. [...] Meu pobre soldado português, às vezes abatido, às vezes tratado de alto por bonifrates que nem sempre mereciam comandar-te – e tu pronto a obedecer. Nunca faltaste nas horas em que te exigiram a vida. Bem sei que, onde a onde, foi preciso pôr-te à frente oficiais estrangeiros para dares a medida do teu valor. Mas a culpa não foi tua. Quem te procurou encontrou-te, e é de ti, meu amigo, que por fim de contas me restam ainda saudades. (BRANDÃO, 2000, p. 112-113). Singularmente expressiva, a presença desses trapeiros e vencidos, sujeitos “esfarrapados”, nas Memórias de Raul Brandão, evidenciam que se pode conjugar a matéria histórica e a expressão literária. A representação da história não tem um fim em si mesma, está a serviço da escritura, esta prática capaz de registrar “instantes que tatuaram para sempre a sua alma” (VIÇOSO, 1994, p. 183). Se se pode inquirir os motivos que levam o escritor de Guimarães a essa crescente preocupação histórica, talvez se possa lançar como resposta à essa inquietação brandoniana as palavras de 211 Vitor Viçoso, que sublinha o contraste entre “a simplicidade do homem do campo (cavadores, caseiros, pedreiros) com os actores da pícara tragédia urbana” (Ibidem, p. 183). Tanto homens da cidade quanto homens do campo participam, portanto, ativamente do levante contra os vencedores. O fantoche do materialismo histórico, o anão “vestido à turca” (BENJAMIN, 1994, p. 222) que deixou “aos outros a tarefa de se esgotar no bordel do historicismo” (Ibidem, p. 231) foi combatido. Os operários sentiram “a oportunidade de lutar por um passado oprimido” (Ibidem, p. 231). Raul Brandão encarregou-se de “escovar a história a contrapelo.” (Ibidem, p. 225) e fez-nos ouvir a voz dos que foram obrigados a emudecer, escrevendo, desse modo, a derradeira celebração à antiepopeia dos vivos e dos mortos: “Passou depois por mim o tropel da vida e da morte, assisti a muitos factos históricos, e essas impressões vão-se desvanecidas. [...] Todos os dias morre.” (BRANDÃO, 1998, p. 32). O autor das Memórias pretende salvar-nos, salvando-os. Devemos ser todos agentes dessa rememoração. 212 CONSIDERAÇÕES FINAIS Mas o tempo já avançou sobre o do romance de Raul Brandão. O terremoto veio, abalando a terra da nossa condição. Os edifícios fundados por um princípio ordenador são apenas ruínas. A escola, a igreja, o padre, o professor, representantes das instituições, bem como os discursos que anunciam a loucura, os vícios, a moda, as perversões, tudo se transforma num amontoado de escombros. (RUAS, 2001, p. 5). Hoje, muito se deve o resgate da obra de Raul Brandão a Vergílio Ferreira159. A partir do ensaio “No limiar de um mundo, Raul Brandão”, proferido por ocasião das comemorações em torno do centenário do escritor de Guimarães, marcou-se uma nova fase nos estudos brandonianos, notadamente a que designei por crítica de reabilitação. Como escritor-crítico, atento não apenas ao cenário literário português, mas também ao panorama internacional, o autor de Espaço do Invisível procurou equilibrar uma aproximação à estética brandoniana, com quem estabeleceu afinidades estéticas, como apontam J. Cândido Martins (2000) e Maria das Graças Moreira de Sá (2004), e uma produção reflexiva que tivesse por escopo a obra do escritor de Guimarães. Antes mesmo de os dois críticos portugueses explicitarem a íntima relação que se pode estabelecer entre as escritas de Raul Brandão e Vergílio Ferreira, Luci Ruas (2001), nos passos de um Eduardo Lourenço no ensaio “Vergílio Ferreira, do alarme à jubilação”, havia se debruçado sobre o tema, efetivamente relacionando os dois romancistas por meio da análise da metáfora da ruína, que atravessa Húmus e Signo sinal. Embora o ensaio “Húmus e Signo sinal ou O diálogo possível entre romances de um tempo de crise” tenha sido escrito para ser apresentado no Congresso Internacional 159 É claro que esse resgate tem sido empreendido, também, por outros pesquisadores. Ao assinalar a presença de Vergílio Ferreira no conjunto da crítica e seu papel primordial, faço por considerar o ensaísta o marco referencial, conforme apontado no primeiro capítulo desta investigação. 213 da Associação Internacional de Lusitanistas (AIL, 1999), registram-se, desde meados da década de 1990, cursos de pós-graduação ministrados pela investigadora na Faculdade de Letras que, aproximando Vergílio Ferreira, da qual é especialista, e Raul Brandão, apresentaram aos jovens investigadores as páginas do fim-de-século. Em Portugal, é pacífico que a sinalização para uma retomada nos estudos sobre o escritor de Guimarães, objetivando-o reavaliá-lo criticamente à luz de uma moderna concepção de romance, encontra no autor de “Raul Brandão e a novelística contemporânea” o principal motivador. Entre os méritos da ensaística de Vergílio Ferreira (1990), desta feita em “Situação actual do romance”, é o de expor e problematizar o conceito de romance-ensaio, resultado do afastamento – ou do questionamento – dos preceitos estéticos que presidiram ao romance realista. Com efeito, a escritura de Raul Brandão parece ser o mais bem talhado caso desse desmonte do edifício tradicional, em que pese o fato de que, no período finissecular, a “função primacial do romance deixou de ser a de narrar a diegese bem ordenada, mas antes a de equacionar determinada mundividência ou problematização do mundo e da condição humana, muitas vezes através da própria suspensão da história.” (MARTINS, 2000, p. 461). Se, portanto, o romance-problema, precursor e antecessor de toda uma série de romances ditos modernos, é uma escrita própria da modernidade que o decadentismo inaugura, parece justo, por conseguinte, reconhecer no texto brandoniano as bases desse novo romance que Vergílio Ferreira expôs – um romance cujos alicerces e paredes foram abalados. E o foram porque, na esteira de um arsenal estético-filosófico que sofreu sucessivas alterações ao longo do século XIX, o final do século pôs em xeque os valores positivistas que nortearam não apenas a escrita literária, mas o contexto geral da arte. No início do oitocentos, esse limiar da era da reprodutibilidade técnica da obra de 214 arte em larga escala, a estrutura tradicional da narrativa estava em alta na bolsa de apostas da prática literária e, por conseguinte, da própria crítica. No entanto, com o aprofundamento de uma era industrial – que se não se fazia sentir em plenitude em terras portuguesas ao menos chegava ao país como forma derivada de um capitalismo, cujo centro era a França, e, sobretudo, Paris –, a segunda metade do século XIX vivenciou uma revolução na forma de se conceber a arte, porque esta passou a ser oferecida ao público não mais como resultado singular da criação humana, objeto de apreciação estética e de contemplação, mas como produto de uma sociedade fundada no capital. A obra de arte torna-se comprável, consumível em série. É nesse processo que assistimos à destruição da aura que emanava da obra de arte. De todas as formas artísticas, é o cinema, por ser objeto que “não é produzido de um só jato, e sim montado a partir de inúmeras imagens isoladas e de sequências de imagens entre as quais o montador exerce o seu direito de escolha” (BENJAMIN, 1994, p. 175), o mais exemplar caso de arte desauratizada. Não à toa, o pensador alemão qualifica o manipulador dos filmes cinematográficos de “montador” em detrimento de considerá-lo um artista. Posto isto, é possível compreender que o decadentismo finissecular situa-se no interior de uma “era da obra de arte montável” (Ibidem, 176), porque esse tipo de obra de arte também se permite ao abalo. Ao desmontar a obra de arte para torná-la suscetível a uma nova ordem de estruturas, para subtrair-lhe a singularidade – ou ainda unicidade –, lançando-a nos espaços de uma sociedade de consumo, o artista do fim-de-século opera a desauratização da obra de arte. Não apenas à indústria se deve a destruição da aura, mas também ao próprio artista que, muitas vezes conscientemente, joga com a violência desse procedimento. O extravio definitivo do que Walter Benjamin designou por autenticidade da obra de arte pressupunha a perda definitiva do “aqui e agora do original” (Ibidem, p. 167), 215 porque nele “se enraíza uma tradição que identifica esse objeto, até os nossos dias, como sendo aquele objeto, sempre igual e idêntico a si mesmo.” (Ibidem). Logo, a arte cinematográfica é, por definição, o melhor exemplo concreto de uma arte que, por ser essencialmente reproduzível – no sentido que um filme é feito para ser exibido simultaneamente em muitos espaços distintos – em larga escala, tem em sua origem o princípio de servir às massas modernas: “O filme é uma criação da coletividade.” (Ibidem, p. 172). Desse modo, a obra de arte no final do século XIX e primeiras décadas do século XX já vinha experimentando o expediente da reprodutibilidade técnica e, por conseguinte, encontrava-se em franco processo de dessacralização, posto que, encontrava na litografia, na imprensa, na fotografia e no cinema os modelos artísticos de uma cultura de massas, para quem o objeto de arte perdeu a sua aura: O conceito de aura permite resumir essas características: o que atrofia na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua aura. Esse processo é sintomático, e sua significação vai muito além da esfera da arte. Generalizando, podemos dizer que a técnica da reprodução destaca do domínio da tradição o objeto reproduzido. Na medida em que ela multiplica a reprodução, substitui a existência única da obra da arte por uma existência serial. E, na medida em que essa técnica permite à reprodução vir ao encontro do espectador, em todas as situações, ela atualiza o objeto reproduzido. Esses dois processos resultam num violento abalo da tradição.” (Ibidem, p. 168-169). A percepção de que a modernidade – e, em especial, a segunda metade do século XIX – é um período da história da humanidade em que se pode sentir a perda da aura em seus mais diversos aspectos, foi observada não apenas pelo filósofo alemão. Também Charles Baudelaire, como registrado no decorrer desta pesquisa, sublinhou a perda da aura do próprio artista. Daí que “A perda da auréola” adquira um sentido muito próximo ao que propôs Walter Benjamin no ensaio “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, ainda mais quando se destaca que essa dessacralização da 216 obra de arte e do agente da arte – o autor – está intimamente ligada à cidade, espaço, por excelência, da modernidade. − Mas o quê? você por aqui, meu caro? Você em tão mau lugar! Você, o bebedor de quintessências! você, o comedor de ambrosia! Francamente, é de surpreender. − Meu caro, você bem conhece o meu pavor dos cavalos e das carruagens. Ainda há pouco, quando atravessava a toda pressa o bulevar, saltitando na lama a um só tempo, a minha auréola, num movimento precipitado, escorregou-me da cabeça e caiu no lodo do macadame. Não tive coragem de apanhá-la. Julguei menos desagradável perder as minhas insígnias que ter os ossos arrebentados. De resto, disse com os meus botões, há males que vêm para o bem. Agora posso passear incógnito, praticar ações vis e entregar-me à crápula, como os simples mortais. E aqui estou, igualzinho a você, como está vendo! − Você deveria ao menos pôr um anúncio, ou comunicar a perda ao comissário. − Ah! não. Estou bem assim. Só você me reconheceu. Aliás, a dignidade me entedia. Depois, alegra-me pensar que talvez algum mau poeta encontre a auréola e com ela impudentemente se adorne. Fazer alguém feliz, que prazer! e sobretudo um feliz que me fará rir! Pense no X., ou no Z.! hein! como será engraçado! (BAUDELAIRE, 2002, p. 333) De “bebedor de quintessências” e “comedor de ambrosia”, portanto, sujeito aurático, o autor que perambula pela Paris da segunda metade do oitocentos é, ele próprio, fruto que a modernidade impõe. A emblemática imagem do escritor que perde as suas insígnias – e que não se importa que elas tenham caído no “lodo do macadame”, tornando-o mais um entre uma seara de escritores agora dessacralizados – serve bem como exemplo do que se pode vislumbrar como função autoral no contexto da obra de Raul Brandão. Se, por um lado, o escritor de Guimarães é sujeito textual que abdica dos privilégios da auréola ao romper com a estrutura do texto canônico e tornar-se um autor à margem desse mesmo cânone – realista –, por outro, se beneficia justamente de ser também um sem auréola e, por isso mesmo, é que pôde construir uma literatura a partir dos preceitos de uma arte desauratizada. É, ainda, aos sem auréola, que ele destinou o 217 seu olhar, buscando na sua literatura privilegiar os trapeiros e vencidos, personagem sem aura que, conforme explicitado, povoam a obra brandoniana. Esta investigação salientou, no bojo do segundo capítulo, que a problemática das fronteiras entre a escrita literária e a escrita da história tem ocupado não apenas os críticos e teóricos da literatura, mas também os estudiosos da história. Esse amolecimento das estruturas – ou ainda essa relativização de res factae e res fictae – pode ter contribuído para o fato de os historiadores contemporâneos, a exemplo de Georges Duby, exercitarem uma aproximação da escrita da história face aos textos literários, sobretudo no que diz respeito ao caráter artístico que circunscreve esses últimos. Em certa medida, outras formas de representação, tais como a pintura e a fotografia, também foram questionadas, no decorrer do oitocentos, acerca dos valores intrinsecamente artísticos; daí que esse questionamento, hoje, possa vir a ser superado no futuro, porque talvez se venha a considerar – ou definitivamente desconsiderar – a escrita da história como um tipo particular de arte narrativa : “A controvérsia travada no século XIX entre a pintura e a fotografia quanto ao valor artístico de suas respectivas produções parece-nos hoje irrelevante e confusa.” (BENJAMIN, 1994, p. 176). Também parece pouco produtivo problematizar se a história é ou não um tipo especial de arte da narração, porque, tal como a literatura, a pintura, a escultura e o cinema, escrever a história é uma forma de representar o mundo, com as peculiaridades que a linguagem verbal permite. O que importa destacar é que, à semelhança da obra de arte, as formas de representar a história por meio da escrita de narrativas experimentaram um declínio da aura. A escrita da história caminha paralelamente à obra de arte no processo de desauratização ao longo do século XIX. É, portanto, na forma de uma história também sem aura que se alicerça o olhar de Raul Brandão sobre o mundo, quando importa ao autor representá-lo. 218 Se esta investigação procurou entrelaçar os temas da expressão literária e da matéria histórica, é preciso ressaltar que o conceito de história que se desprende da escritura de Raul Brandão, ou seja, uma história que perdeu a aura, é apreensível somente a partir de um olhar crítico sobre o texto literário, sobretudo porque apenas um texto que propositadamente abjurou a aura pode compreender que a história seja uma sucessão de ruínas e catástrofes, que, como na tese IX de Benjamin, “ cresce até o céu” (1994, p. 226). Todavia, a forma como foi abordada a existência de uma percepção da história na obra do escritor variou consoante o livro em análise. Se no capítulo “A tentação histórica” busquei mostrar que o tema da história não era casual e desvinculado de um projeto artístico maior, no capítulo seguinte – ou seja: “ De trapos e trapeiros” –, foi sublinhada a interpretação de que o palhaço descrito no livro de 1896 assume a forma de arauto do crepúsculo, mensageiro de um tempo de crise, apóstolo do apocalipse, porque tudo destrói a partir de seu olhar alegórico, um olhar que privilegia a erosão da forma para abraçar outro paradigma de arte. É nesse passo que o expressionismo brandoniano e o barroco do Trauerspiel alemão convergem para um mesmo ponto: uma escrita pautada na tradição barroca da anamorfose160 (aqui compreendida como erosão da forma) e baseada numa estética do trapo, do fragmento, do sincopado. O desfecho desta pesquisa advém com a leitura crítica das Memórias, quando ponho em destaque os vencidos que povoam o memorialismo de Raul Brandão. O escritor ao representar esses sujeitos esfarrapados como protagonistas de uma história sem aura, que se desenrola nas ruas da capital portuguesa, salva-os dessa “morte definitiva dos mortos” (VIÇOSO, 1994, p. 177). Talvez uma última consideração seja ainda necessária: a de voltar ao ponto de partida, a de pedir que o leitor retorne ao título desta pesquisa. Nele encontramos quatro 160 Cf. Benjamin, 1984. 219 substantivos, cujos significados acompanham do início ao fim a presente investigação: trapeiros, vencidos, efabulação e história. Só à primeira vista se pode sucumbir à tentação de organizá-los em pares, posto que esses sujeitos esfarrapados saltam da literatura à história – e vice-versa –, numa trapêrie frenética que só se concretiza no espaço literário. O título sintetiza o desejo de ler o escritor de Guimarães por outro viés e a partir de outros teóricos; ele também sinaliza a vontade de que autor tenha o seu lugar reavaliado na história da literatura. Espero que se possa compreender Raul Brandão definitivamente como escritor do século XX. Esta crítica intenta ser mais um tijolo nessa incessante construção. 220 6. BIBLIOGRAFIA161 6.1. De Raul Brandão BRANDÃO, Raul. As Ilhas Desconhecidas: notas e paisagem. Lisboa: Perspectivas e Realidades, s.d. _________. A Farsa. Edição: José Carlos Seabra Pereira. Lisboa: Relógio D’Água, 2001. _________. El-Rei Junot. Nota introdutória de Guilherme de Castilho. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1982. ________. História dum Palhaço (A vida e o diário de K. Maurício)/A Morte do Palhaço e o Mistério da Árvore. Lisboa: Relógio D’Água: 2005. ________. Húmus. 1ª e 2ª edições fac-similadas e 3ª edição com aparato teórico-crítico de Maria João Reynaud. Porto: Campo das Letras, 2000b. 3v. ________. Impressões e Paisagem. Lisboa: Vega, 1980. ________. Memórias. Edição de José Carlos Seabra Pereira. Lisboa: Relógio D’Água, 1998. v. I. ________. Memórias. Edição de José Carlos Seabra Pereira. Lisboa: Relógio D’Água, 1999. v.II. ________. Memórias. Edição de José Carlos Seabra Pereira. Lisboa: Relógio D’Água, 2000. V. III. ________. Os pescadores. Porto: Porto Editora, 2010. ________. Os pobres. Lisboa: Círculo de Leitores, 1990. _________. O pobre de pedir. Apresentação por Guilherme de Castilho e estudo introdutório por Vitor Viçoso. Lisboa: Editorial Comunicação: 1984. ________. Teatro. Coimbra: Atlântida: 1970. ________. Vida e Morte de Gomes Freire. Edição: Maria de Fátima Marinho. Lisboa: Relógio D’Água, 2007. 161 A relação de manuscritos e documentos disponibilizados pela Biblioteca Nacional Portuguesa e efetivamente citados/referidos encontra-se nos anexos, com indicação de autoria, destinatário e cota. 221 BRANDÃO, Raul & PASCOAES, Teixeira de. Correspondência. Recolha, transcrição, actualização do texto, introdução e notas de António Mateus Vilhena e Maria Emília Marques Mano. Lisboa: Quetzal Editores, 1994. p. 11-41. ________. Jesus Cristo em Lisboa: tragicomédia em sete actos. Lisboa: Assírio & Alvim, 2007. 6.2. Sobre Raul Brandão162 Actas do Colóquio Ao Encontro de Raul Brandão. Organização: Maria João Reynaud. Porto: Lello Editores/Universidade Católica Portuguesa, 2000. ANDRADE, João Pedro de. Raul Brandão. A Obra e o Homem. Introdução de Vitor Pena Viçoso. 2 ed. Lisboa: Acontecimento, 2002. ANGELINA BRANDÃO, Maria. Entrevista. In: MARQUES, João. Ao encontro de Raul Brandão. Coimbra: Imprensa de Coimbra, 1952. p. 3-16. ARAÚJO, Joaquim Carlos. A filosofia trágica da vida: ensaios sobre a obra de Raul Brandão. Algés: Difel, 1998. BABO, Alexandre. A dramaturgia em Raul Brandão. In: BARRETO, Costa (org.). Estrada larga: antologia dos números especiais, relativos a um lustro, do Suplemento “Cultura e Arte”e “O Comércio do Porto”. Orientação e organização: Costa Barreto. Porto: Porto Editora, s/d. p. 420-423. BARATA, Felipa Mendes. O lugar do eu e do(s) outro(s) nas Memórias, de Raul Brandão (Dissertação de Mestrado em Literatura Portuguesa). Orientadora: Maria das Graças Moreira de Sá. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2008. CABRAL, Maria Wellitania de Oliveira. Realidade e criação artística em Os pobres de Raul Brandão. In: MARTINS, Elizabeth Dias; PONTES, Roberto; BARROS, Patricia Elainny Lima (orgs.). Falas & Textos: escritos de literatura portuguesa. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2010. p. 307-315. CAMELIN, Francine. Impressões e Paisagens: na fronteira entre o Naturalismo, o Simbolismo e o Impressionismo (Dissertação de Mestrado em Estudos Literários). Orientadora: Renata Soares Junqueira. Araraquara, SP: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 2008. CASTILHO, Guilherme de Castilho. Nota introdutória. In: BRANDÃO, Raul. El-Rei Junot. Nota introdutória de Guilherme de Castilho. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1982. p. 9-15. 162 A seção “Sobre Raul Brandão” inclui as obras diretamente citadas ou referidas no corpo desta investigação, bem como aquelas manuseadas no decurso da realização da pesquisa. Privilegiou-se a crítica contemporânea. 222 _________. Vida e Obra de Raul Brandão. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2006. CHAVES, Castelo Branco. Raul Brandão. In: Cadernos da Seara Nova. Estudos Literários. Lisboa: Seara Nova, 1934. COELHO, Eduardo Prado. Um novo paradigma ficcional – Raul Brandão. In: A escala do olhar. Lisboa: Texto Editora, 2003. p. 24-27. COELHO, Jacinto do Prado. Da vivência do tempo em Raul Brandão; Raul Brandão: a consciência burguesa. In: Ao contrário de Penélope. Amadora: Bertrand, 1976. p. 221233. ________. O Húmus de Raul Brandão: uma obra de hoje. In: A letra e o leitor. Porto: Lello & Irmão Editores, 1996. p. 295-301. EIRAS, Pedro. Esquecer Fausto. A fragmentação do sujeito em Raul Brandão, Fernando Pessoa, Herberto Helder e Maria Gabriela Llansol. Porto: Campo das Letras, 2005. _________. Tentações. Ensaio sobre Sade e Raul Brandão. Porto: Deriva, 2010. FERREIRA, José Gomes. Breve apresentação da sombra do meu mestre secreto (e tão público!): Raul Brandão. In: Relatório de sombras ou A Memória das palavras II. Lisboa: Moraes Editores, 1980. p. 13-17. FERREIRA, Vergílio. No limiar de um mundo, Raul Brandão. In: Espaço do invisível: ensaios. 3 ed. Lisboa: Bertrand, 1991. v. 2. p. 171-225. _________. Raul Brandão e a novelística contemporânea. In: Espaço do invisível: ensaios. 2 ed. Lisboa: Bertrand, 1995. v. 4. p. 271-280. FERRO, Túlio Ramires. Raul Brandão et le symbolisme portugais. Combra: Coimbra Editora, 1949. GUIMARÃES, Fernando. Raul Brandão e os poetas em prosa. In: Actas do Colóquio Ao Encontro de Raul Brandão. Organização: Maria João Reynaud. Porto: Lello Editores/Universidade Católica Portuguesa, 2000, p. 27-32. FRAGA, Maria do Céu. Da história à literatura – o poder demiúrgico do estilo brandoniano. In: Diacrítica, n. 6. Braga: Centro de Estudos Humanísticos do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho: 1991. p. 207-225. LEVI, Florence. Húmus de Raul Brandão, ou la ville transfigurée. In: Cahier de centre de recherche sur les pays lusophones, n. 4. Paris: Press de la Sorbonne Nouvelle, 1997. p. 99-106. LOPES, Óscar. Raul Brandão. In: 5 motivos de meditação: Luís de Camões, Eça de Queiroz, Raul Brandão, Aquilino Ribeiro e Fernando Pessoa. Porto: Campo das Letras, 1999. p. 177-221. 223 ________. Raul Brandão. In: Entre Fialho e Nemésio: estudos de literatura portuguesa contemporânea. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1987. v. 1. p. 343-368. _________. Raul Brandão: três aproximações. In: Ler e depois: crítica e interpretação literária/ 1. Porto: Editorial Inova, 1969. p. 173-193. MACHADO, Álvaro Manuel. Raul Brandão e a escrita memorialística pós-romântica. In: Do romantismo aos romantismos em Portugal: ensaios de tipologia comparativista. Lisboa: Editorial Presença, 1996. p. 135-139. ________. Raul Brandão: entre o romantismo e o modernismo. 2. ed. rev. e amp. Lisboa: Editorial Presença, 1999. p. 40-84. MARINHO, Maria de Fátima. El-Rei Junot e Vida e Morte de Gomes Freire de Raul Brandão. In: Um poço sem fundo: novas reflexões sobre Literatura e História. Porto: Campo das Letras, 2005. p. 135-150. MARTINS, Albano. O Porto de Raul Brandão. Porto: Campo das Letras, 2000. MARTINS, J. Cândido. A presença de Raul Brandão na concepção romanesca de Vergílio Ferreira. In: Actas do Colóquio Ao Encontro de Raul Brandão. Organização: Maria João Reynaud. Porto: Lello Editores/Universidade Católica Portuguesa, 2000. p. 455-468. MARTINS, Rita. Raul Brandão – do texto à cena. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2007. MELO, João de. Raul Brandão. In: Dicionário de Paixões. Lisboa: Dom Quixote, 1994. p. 189-191. MOTTA-DEMARCY, Teresa. La ville dans Húmus de Raul Brandão. In: Cahier de centre de recherche sur les pays lusophones, n. 4. Paris: Press de la Sorbonne Nouvelle, 1997. p. 107-116. MOURÃO, Luís. Genealogia imprópria. In: Sei que já não, e todavia ainda. Coimbra: Ângelus Novus, 2003. p. 11-36. ________. O Húmus de um certo limiar. In: Um romance de impoder. A paragem da história na ficção portuguesa contemporânea. Braga/Coimbra: Ângelus Novus, 1996. p. 25-96. PEREIRA, José Carlos Seabra. Introdução. In: BRANDÃO, Raul. Memórias. Edição: José Carlos Seabra Pereira. Lisboa: Relógio D'Água, 1998 (tomo I). p. 9-32. ________. Introdução. In: BRANDÃO, Raul. Memórias. Edição: José Carlos Seabra Pereira. Lisboa: Relógio D'Água, 1998 (tomo II). p. 9-24. ________. Introdução. In: BRANDÃO, Raul. Memórias. Edição: José Carlos Seabra Pereira. Lisboa: Relógio D'Água, 2000 (tomo III – Vale de Josafat). p. 9-27. 224 PIRES, José Cardoso. Literatura Portuguesa: ler o mar. In: Dispersos 1: literatura. Lisboa: Dom Quixote, 2005. p. 149-163. RÉGIO, José. Raul Brandão e o Húmus. In: Revista Ler, n. 8, Lisboa: nov. 1952. REYNAUD, Maria João. Metamorfoses da escrita: Húmus, de Raul Brandão. Porto: Campo das Letras, 2000. _________. Raul Brandão e o expressionismo literário. Notas para uma leitura de A Farsa. In: Sentido literal: ensaios de literatura portuguesa. Porto: Campo das Letras, 2004. p. 83-102. _________. Reflexões sobre uma carta inédita de Raul Brandão a Teixeira de Pascoaes. In: Colóquio/Letras, n. 129/130. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. p. 123-129. RIOS, Otávio. A experiência estética de Raul Brandão: variantes textuais e construção narrativa em Húmus (Dissertação de Mestrado em Literatura Portuguesa). Orientadora: Luci Ruas Pereira. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007. ________. A ficção faz a história: Raul Brandão (re)escreve o percurso de D. João VI. In: Atas do 4º Colóquio do Pólo de Pesquisas sobre Relações Luso-Brasileiras: D. João VI e o Oitocentismo. Rio de Janeiro: Rio de Janeiro: Real Gabinete Português de Leitura, 2008b. Disponível em: http://www.realgabinete.com.br/geadmedia/mediapackages/giadrgpl_rgpl/documentsma in/201109221233566769_otavioriosaficcaoriginal.pdf. Acesso em: 10 de setembro de 2011. ________. Húmus, um romance em deriva. Notas sobre a problemática do tempo. In: Diadorim, n. 3. Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2008a. p. 159-172. ________. No corpo da História, as marcas da escritura: Raul Brandão. In: RIOS, Otávio (org.). Arquipélago contínuo: literaturas plurais. Manaus: Editora da Universidade do Estado do Amazonas, 2011. p. 185-196. RUAS, Luci. Húmus e Signo Sinal ou o diálogo possível entre romances de um tempo de crise. In: Anais do 6º Congresso Internacional da Associação Internacional de Lusitanistas (AIL), 2001. Disponível em: http://www.geocities.ws/ail_br/humusesignosinal.html. Acesso em: 06 de julho de 2006. SÁ, Maria das Graças Moreira de. Vergílio Ferreira e a redescoberta de Raul Brandão. In: As duas faces de Jano. Estudos de cultura e literatura portuguesas. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2004. p. 165-175. SACRAMENTO, Mário. Chave para Raul Brandão. In: Ensaios de domingo. Coimbra: Coimbra, 1959. p. 163-169. 225 SALEMA, Álvaro. Raul Brandão: contrastes e interrogações. In: Tempo de leitura. Lisboa: Moraes Editores, 1982. p. 117-123. SANTOS, Maria do Rosário Girão Ribeiro dos & SILVA, Manuel José. Raul Brandão e o homem do violino. In: Actas do Colóquio Ao Encontro de Raul Brandão. Organização: Maria João Reynaud. Porto: Lello Editores/Universidade Católica Portuguesa, 2000, p. 536-548. SEIXO, Maria Alzira. Raul Brandão e os sentidos do modernismo português. In: Actas do Colóquio Ao Encontro de Raul Brandão. Organização: Maria João Reynaud. Porto: Lello Editores/Universidade Católica Portuguesa, 2000. p. 15-26 SIMÕES, João Gaspar. Raul Brandão, Poeta. In: O mistério da poesia. Ensaios de interpretação da gênese poética. Porto: Editorial Inova, 1971. p. 95-117. SIMÕES, João dos Santos. Era tempo de ser tempo de Raul Brandão. In: BORJA, Luís de (pseud.) Os Nephelibatas. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 1992. p. I-II. VALENTIM, Jorge. Imagens crepusculares: Columbano e Raul Brandão no Portugal finissecular oitocentista. In: Gragoatá, n. 16. Niterói, RJ: EdUFF, 2004. p. 33-49. ________. Raul Brandão e a herança lírica na narrativa ficcional e na poesia portuguesas contemporâneas. In: Itinerários, n. 24. Araraquara, SP: Unesp, 2006. p. 7594. VASCONCELOS, José Manuel de. Húmus de Raul Brandão: algumas notas de leitura. In: BRANDÃO, Raul. Húmus. 3. ed. Lisboa: Vega, 1991, p. 7-16. VERANI, Dalva Calvão. Sob o véu do silêncio: uma leitura de Húmus, de Raul Brandão. In: JORGE, Silvio Renato & ALVES, Ida Maria Santos Ferreira. A palavra silenciada: estudos de literatura portuguesa e africana. Rio de Janeiro: Vício de Leitura, 2001. p. 61-68. VIÇOSO, Vitor. A máscara e o sonho: vozes, imagens e símbolos na ficção de Raul Brandão. Lisboa: Edições Cosmos, 1999. ________. As Memórias, de Raul Brandão. In: Românica, n. 3. Lisboa: Edições Cosmos, 1994. p. 177-186. _________. Simbolismo e expressionismo na ficção brandoniana. In: Actas do Colóquio Ao Encontro de Raul Brandão. Organização: Maria João Reynaud. Porto: Lello Editores/Universidade Católica Portuguesa, 2000. p. 39-47. VILHENA, António Mateus & MANO, Maria Emília Marques. Introdução. In: BRANDÃO, Raul & PASCOAES, Teixeira de. Correspondência. Recolha, transcrição, actualização do texto, introdução e notas de António Mateus Vilhena e Maria Emília Marques Mano. Lisboa: Quetzal Editores, 1994. p. 11-41. 226 6.3. Obras Gerais ABBOTT. H. Porter. The Cambridge introduction to narrative. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. ADORNO, Theodor W. Notas de Literatura I. Trad. e apresentação: Jorge de Almeida. São Paulo: Editora 34/Duas Cidades, 2003. AGUIAR e SILVA, Vítor Manuel. Teoria da Literatura. 8 ed. Coimbra: Almedina, 1993. p. 437-502. ALMEIDA, Fialho de. A Ruiva. Lisboa: Assírio & Alvim, 2005. ALVAREZ, A. O Deus selvagem. Um estudo do suicídio. Trad.: Sonia Moreira. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. ALVES, Maria Theresa Abelha. Triunfo do Barroco. In: Boletim do Centro de Estudos Portugueses, n. 17. Belo Horizonte: UFMG, 1994. Disponível em: http://www.letras.ufmg.br/cesp/textos/(1994)triunfo.pdf. Acesso em 10 de outubro de 2011. ARISTÓTELES. Poética. Trad.: Eudoro de Souza. Edição bilíngüe grego-português. São Paulo: Ars Poetica, 1992. BAPTISTA, Abel Barros. O espelho perguntador: sobre diários. In: Colóquio/Letras, n. 143-144. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. p. 63-79. BARROS, Luiz Fernando de Moraes. Morte e decadência – Fialho de Almeida e Rembrandt. In: Artciencia, n. 6, Lisboa: Artciência, 2007. Disponível em: http://www.artciencia.com/Admin/Ficheiros/LUIZMORA352.pdf 6. Acesso em 02 de outubro de 2011. BARTHES, Roland. Aula: aula inaugural da cadeira de semiologia literária do Colégio de França / pronunciada dia 7 de janeiro de 1977. Trad. e prefácio: Leyla PerroneMoisés. 11 ed. São Paulo: Cultrix, 2004b. _________. O rumor da língua. Trad.: Mário Laranjeiras; préfacio Leyla PerroneMoisés. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004a. BAUDELAIRE, Charles. Poesia e Prosa: volume único. Edição organizada por Ivo Barroso. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2002. BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo. Trad.: José Martins Barbosa; Hemerson Alves Baptista. 3 ed. São Paulo: Brasiliense, 1997. _________. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura; trad.: Sergio Paulo Rouanet; prefácio de Jeanne Marie Gagnebin. 7 ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. v. 1 (Obras Escolhidas). 227 _________. Origem do drama barroco alemão. Tradução, apresentação e notas: Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1984. BLANCHOT, Maurice. A linguagem da ficção. Trad.: Ana Maria Scherer. In: A parte do fogo. Rio de Janeiro: Rocco, 2011. p. 82-93. BLOCH, Marc. Apologia da história ou O ofício do historiador. Prefácio: Jacques Le Goff; Apresentação à edição brasileira: Lilia Moritz Schwarcz; trad.: André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. BOSI, Alfredo. Debatedores: Alfredo Bosi e José Carlos Sebe Bom Meihy. In: MIGNOLO, Walter. Lógica das Diferenças e Política das Semelhanças. In: CHIAPPINI, Ligia & AGUIAR, Flávio Wolf (orgs.). Literatura e História na América Latina. São Paulo: EdUSP, 2001. p. 135-141. BRECHT, Bertold. Poemas e canções. Trad.: Geir Campos, ilustração: Aluísio Carvão. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966. BUESCU, Helena Carvalhão. Identidade e memória literária. In: Grande Angular: comparatismo e práticas de comparação. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2001. p. 85-104. ________. O último Fradique e o Angelus Novus: a violência do tempo. In: Cristalizações: fronteiras da modernidade. Lisboa: Relógio D’Água: 2005. p. 107-121. BORJA, Luís de (pseud.) Os Nephelibatas. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 1992. BURKE, Peter. Abertura: a nova história, seu passo e seu futuro.In: A escrita da história: novas perspectivas (org). Trad.: Magda Lopes, São Paulo: Unesp, 1992.p. 737. CALABRESE, Omar. A Idade Neobarroca. Trad.: Carmen de Carvalho e Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1987. CALINESCU, Matei. As 5 faces da modernidade: modernismo, vanguarda, decadência, kitsch e pós-modernismo. Trad.: Jorge Teles de Menzes. Lisboa: Veja, 1999. CAMÕES, Luís de. Os Lusíadas. Prefácio de Álvaro Júlio da Costa Pimpão; apresentação de Aníbal Pinto de Castro. 4 ed. Lisboa: Ministério dos Negócios Estrangeiros-Instituto Camões, 2000. CANTINHO, Maria João. Ensaio sobre o conceito de alegoria na obra de Walter Benjamin. Coimbra: Angelus Novus, 2002. CARDOSO, Marília Rothier. Arquivos em confronto. In: Gragoatá, n. 15, Niterói, RJ: EdUFF, 2003. p. 43-54. 228 ________. Reciclando o lixo literário: os arquivos de escritores. In: Palavra, v. 7. Rio de Janeiro, 2001. p. 68-75, 2001. CARVALHO, Mário Vieira de. Pensar é morrer ou O Teatro de São Carlos na mudança de sistemas sóciocomunicativos desde fins de séc. XVIII aos nossos dias. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1993. CASTRO, Ivo. Enquanto os escritores escreverem... (Situação da crítica textual moderna). Conferência plenária, IX Congresso da ALFAL. Campinas, Texto mimeografado, 65p. 1990. CERDEIRA, Teresa. Quando descrever é narrar: a história no céu de Lisboa. In: RIOS, Otávio (Org.). O Amazonas deságua no Tejo: ensaios literários. Manaus: Editora da Universidade do Estado do Amazonas, 2009. p. 20-36. CERDEIRA, Teresa Cristina. O avesso do bordado. Lisboa: Editorial Caminho, 2000. COELHO, Lauro Machado. A ópera italiana após 1870. São Paulo: Perspectiva, 2002. COMPANGON, Antoine. O trabalho da citação. Trad.: Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996. COSTA LIMA, Luiz. História. Ficção. Literatura. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2006. CRUZ E SOUZA, João da. Poesia completa. Organização, introdução e bibliografia por Zahidê Lupinacci Muzart. Florianópolis: Fundação Catarinense de Cultura, 1993. DICIONÁRIO HOUAISs DA LÍNGUA PORTUGUESA. Rio de Janeiro: Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia, 2001. DUBY, Georges. A história continua. Trad.: Clóvis Marques; revisão técnica: Ronaldo Vainfas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993. ECO, Umberto. Como se faz uma tese. Trad.: Gilson Cesar Cardoso de Souza. São Paulo: Perspectiva: 1988. ________. Pós-escrito a O nome da Rosa. As origens e o processo de criação do livro mais vendido em 1984. Trad.: Letizia Zini Antunes e Álvaro Lorencini. 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. FERREIRA, Vergílio. Situação actual do romance. In: Espaço do Invisível: ensaios. 3 ed. Lisboa: Bertrand, 1990. v. 1. p. 175-226. FRANCO, António Cândido. Nota. In: ALMEIDA, Fialho de. A Ruiva. Lisboa: Assírio & Alvim, 2005. p. 9-12. GAGNEBIN, Jeanne Marie. História e narração em Walter Benjamin. 2 ed. São Paulo: Perspectiva, 2004. 229 _________. Lembrar escrever esquecer. São Paulo: Ed. 34, 2009. _________. Walter Benjamin ou a história aberta. In: BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura; trad.: Sergio Paulo Rouanet; prefácio de Jeanne Marie Gagnebin. 7 ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. v. 1 (Obras Escolhidas). p. 7-19. GALLE, Helmut & OLMOS, Ana Cecilia. Apresentação. In: GALLE, Helmut et al (org.). Em primeira pessoa: abordagens de uma teoria da autobiografia. São Paulo: Annablume; Fapesp; FFLCH-USP, 2009. p. 9-18. GENETTE, Gérard. Paratextos Editoriais. Trad.: Álvaro Faleiros. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009. GUIMARÃES, Fernando. Introdução: simbolismo e decadentismo. In: Poética do simbolismo em Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1990. p. 7-14. _________. Simbolismo, modernismo e vanguarda. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2004. ________. Uma aproximação ao neo-barroco. In: Os problemas da modernidade. Lisboa: Editorial Presença, 1994. p. 17-24. GOULART, Rosa Maria. Da presença lírica finissecular ao romance lírico moderno. In: Diacrítica, n. 6. Braga: Centro de Estudos Humanísticos do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho: 1991. p. 61-69. _________. Literatura e Teoria da Literatura em tempos de crise. Coimbra: Ângelus Novus, 2001. GULLAR, Ferreira. Barroco, olhar e vertigem. In: NOAVES, Adauto. O Olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 217-224. HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. In: Floema. Caderno de Teoria e História Literária, ano II, n. 2A, Vitória da Conquista, BA: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 2006. p. 15-84. HAUSER, Arnold. História social da literatura e da arte. Trad.: Walter H. Geenen. 3 ed. São Paulo: Mestre Jou, 1982. Tomo 2. p. 1047-1112. _________. O conceito de barroco. Lisboa: Vega, 1997 HATZFELD, Helmut. Estudos sobre o barroco. Tradução feita a partir da 3ª edição aumentada da versão espanhola de Ângela Figueira. São Paulo: Perspectiva/ Editora da Universidade de São Paulo, 1988. HERCULANO, Alexandre. O Bispo Negro (1130). In: Lendas e narrativas. Selecção e introdução por Maria Ema Tarracha Ferreira. 2 ed. Lisboa: Ulisseia, 1998. p. 245-258. 230 HOBSBAWN, Eric. A era dos extremos: o breve século XX. Trad.: Marcos Santarrita. 10 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. KELLEY, Donald R. Modern Historiography. In: Faces of History. Historical Inquire from Herodotus to Herder. New Haven-London: Yale University Press, 1998. p. 250272. KOBBÉ, Gustave. Kobbé. O livro completo da ópera. Trad.: Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994. JAMESON, Fredric. O romance histórico ainda é possível? Trad.: Hugo Mader. In: Novos Estudos, n. 77. São Paulo: CEBRAP, 2007. p. 185-2003. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/nec/n77/a09n77.pdf . Acesso em 10 de novembro de 2011. LE GOFF, Jacques. A história nova. In: LE GOFF, Jacques (org.). A história nova. Trad.: Eduardo Brandão. 5 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 31-84. ________. Memória. In: História e Memória. Tradução Bernardo Leitão ...[et al]. 5 ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003. p. 419-476. ________. Prefácio. In: BLOCH, Marc. Apologia da história ou O ofício do historiador. Prefácio: Jacques Le Goff; Apresentação à edição brasileira: Lilia Moritz Schwarcz; trad.: André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. p. 15-34. LEJEUNE, Philippe. O pacto autobiográfico. In: O pacto autobiográfico: de Rousseau à Internet. Organização: Jovita Maria Gerheim Noronha; Trad.: Jovita Maria Gerheim Noronha e Maria Inês Coimbra Guedes. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. p. 1347. LEONCAVALLO, Ruggero. Pagliacci. Disponível em: http://www.librettidopera.it/pagliacci/pagliacci.html. Acesso em 05 de setembro de 2011. LESKY, Albin. A tragédia grega. Trad.: J. Guinsburg, Geraldo Gerson de Souza e Alberto Guzik. 3 ed. São Paulo: Perspectiva, 1996. LOURENÇO, Eduardo. A nau de Ícaro e Imagem e miragem da lusofonia. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. ________. O canto do signo. Existência e Literatura. Lisboa: Editorial Presença, 1993. ________. Da literatura como interpretação de Portugal (de Garrett a Fernando Pessoa). In: O labirinto da saudade. Lisboa: Dom Quixote, 1988. p. 79-118. ________. Sebastianismo: imagens e miragens. In: Mitologia da saudade: seguido de Portugal como destino. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 46-53. LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio: uma leitura das teses “sobre o conceito de história”. Trad.: Wanda Nogueira Caldeira Brant, [tradução das teses] Jeanne Marie Gagnebin e Marcos Lutiz Müller. São Paulo: Boitempo, 2005. 231 LUCIE-SMITH, Edward. Dicionário de termos de arte. Trad.: Ana Cristina Mântua. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1990. LUGARINHO, Mário César. Ortografia da História: mito, memória e utopia na obra poética de Manuel Alegre (Tese de Doutorado). Orientadora: Eliana Yunes. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 1997. LUKÁCS, György. O romance histórico. Trad.: Rubens Enderle; apresentação: Arlenice Almeida da Silva. São Paulo: Boitempo, 2011. MACHADO, Francisco de Ambrosis Pinheiro. Imanência e História : a crítica do conhecimento em Walter Benjamin. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004. MARINHO, Maria de Fátima. O romance histórico em Portugal. Porto: Campo das Letras, 1999. MARTINS, Oliveira. História de Portugal. Lisboa: Guimarães Editores, 1987. MATEUS, Isabel Cristina Pinto. ‘Kodakização’e despolarização do real: para uma poética do grotesco na obra de Fialho de Almeida. Lisboa: Caminho, 2008. MAURÍCIO, Carlos. A invenção de Oliveira Martins: política, historiografia e identidade nacional no Portugal Contemporâneo (1867-1960). Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2005. MIGNOLO, Walter. Lógica das Diferenças e Política das Semelhanças. In: CHIAPPINI, Ligia & AGUIAR, Flávio Wolf (orgs.). Literatura e História na América Latina. São Paulo: EdUSP, 2001. p. 115-135. MOLLOY, Sylvia. Vale o escrito: a escrita autobiográfica na América hispânica. Trad.: Antônio Carlos Santos. Chapecó: Argos, 2003. MORÃO, Paula. O secreto e o real – caminhos contemporâneos da autobiografia e dos escritos intimistas. In: Românica, n. 3. Lisboa: Edições Cosmos, 1994. p. 21-30. MOURÃO-FERREIRA, David. Cesário e Baudelaire. In: Hospital das Letras: ensaios. 2 ed. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1981, p. 91-95. __________. Tópicos recuperados: sobre a crítica e outros ensaios. Lisboa: Editorial Caminho, 1992. NIETZSCHE, Friedrich. Escritos sobre história. Tradução, apresentação e notas: Noéli Correia de Melo Sobrinho. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio; São Paulo: Edições Loyola, 2005. NOBRE, Roberto. Singularidades do cinema português. Lisboa: Portugália, s.d. 232 PASCOAES, Teixeira de. Ensaios de exegese literária e vária escrita: opúsculos e dispersos. Compilação, apresentação e notas: Pinharanda Gomes. Lisboa: Assírio & Alvim, 2005. PEREIRA, José Carlos Seabra. História crítica da literatura portuguesa: do fim-deséculo ao modernismo. Direção: Carlos Reis. Lisboa/São Paulo: Editorial Verbo, 1995. PESSANHA, Camilo. Clepsidra e outros poemas de Camilo Pessanha. Introdução crítico-bibliográfica por João de Castro Osório. Lisboa: Ática, 1969. PESSOA, Fernando. Mensagem. Apresentação: Cleonice Berardinelli; Organização: Cleonice Berardinelli e Mauricio Matos. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008. _________. Obra poética. Introdução, Organização e Notas de Maria Aliete Galhoz. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. PICCHIO, Luciana Stegagno. História do Teatro Português. Trad.: Manuel de Lucena. Lisboa: Portugália, 1969. PIRES, António Machado. O “excesso” de civilização e a neurose fim de século. In: A idéia de decadência na geração de 70. Lisboa: Vega, 1992. p. 117-127. PONTE, Carmo Salazar. Oliveira Martins, a História como tragédia. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1998. QUEIROZ, Eça de. A Cidade e as Serras. Lisboa: Livros do Brasil, 1999. ________. A decadência do riso. In: Notas Contemporâneas. Lisboa: Livros do Brasil, s.d. p. 162-167. REBELLO, Luiz Francisco. História do Teatro Português. 2 ed. Lisboa: EuropaAmérica, 1972. ________. Prefácio. In: Teatro romântico português: o drama histórico. Prefácio, selecção e notas de Luiz Francisco Rebello. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2007. p. 9-80. REIS, Carlos & LOPES, Ana Cristina M. Dicionário de narratologia. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2000. ROCHA, Clara. Máscaras de Narciso: estudos sobre a literatura autobiográfica em Portugal. Coimbra: Almedina, 1992. ROUANET, Sergio Paulo. Apresentação. In: BENJAMIN, Walter. Origem do drama barroco alemão. Tradução, apresentação e notas: Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1984. 1984. p. 11-47. ________. Édipo e o Anjo: itinerários freudianos em Walter Benjamin. 2 ed. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1990. 233 RUAS, Luci. A Lisboa finissecular de Fialho de Almeida. In: COUTINHO, Luiz Edmundo Bouças (org.). Arte e artifício: manobras do fim-de-século. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras da UFRJ, 2002. p. 129-136. SÁ-CARNEIRO, Mário de. Obra completa. Introdução e organização: Alexei Bueno. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2005. SANTIAGO, Silviano. Vale quanto pesa: ensaios sobre questões político-culturais. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. SARAIVA, António José. A tertúlia ocidental. Estudos sobre Antero de Quental, Oliveira Martins, Eça de Queiroz e outros. Lisboa: Gradiva, 1990. SARAMAGO, José. Memorial do Convento. 8 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. SEIXO, Maria Alzira. A palavra do romance: ensaios de genologia e análise. Lisboa: Horizonte, 1986. ________. Para um estudo da expressão do tempo no romance português contemporâneo. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1987. SENA, Jorge de. Do teatro em Portugal. Organização, prefácio e notas bibliográficas de Luiz Francisco Rebello. Lisboa: Edições 70: 1988. SÉRGIO, António. Advertência. In: Separata. Lisboa: Seara Nova, 1934. ________. Breve interpretação da História de Portugal. Edição crítica orientada por Castelo Branco Chaves, Vitorino Magalhães Godinho, Rui Grácio e Joel Serrão e organizada por Idalina Sá da Costa e Augusto Abelaira. 6 ed. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1976. SILVA, Edson Rosa da. Bibliothèque et musée: diffusion et métamorphose de la littérature et de l'art dans la réflexion d'André Malraux. In: Estudos Neolatinos, v. 2. Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas, 1998. p. 77-95 ________. Da impossibilidade de contar e de cantar: um olhar benjaminiano sobre a literatura. In: Semear, n. 10. Rio de Janeiro: Cátedra Padre António Vieira, 2004. p. 93106. SILVA, Teresa Cristina Cerdeira. da José Saramago entre a história e a ficção: uma saga de portugueses. Lisboa: Dom Quixote, 1989. SOBRINHO, Noéli. Apresentação e comentário. In: NIETZSCHE, Friedrich. Escritos sobre história. Tradução, apresentação e notas: Noéli Correia de Melo Sobrinho. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio; São Paulo: Edições Loyola, 2005. p. 11-65. TADIÉ, Jean-Yves. O romance no século XX. Trad.: de Miguel Serras Pereira. Lisboa: Dom Quixote, 1992. 234 TORGA, Miguel. Contos da montanha. 6 ed. Coimbra: Ed. Coimbra, 1982. VASCONCELOS, Ana Isabel P. Teixeira de. O drama histórico português do século XIX (1836-56). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2003. VERDE, Cesário. Obra completa de Cesário Verde. Estudo e organização de Joel Serrão. Lisboa: Livros Horizonte, 1988. VOVELLE, Michel. A história e a longa duração. In: LE GOFF, Jacques (org.). A história nova. Trad.: Eduardo Brandão. 5 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 85127. WEINHARDT, Marilene. Romance histórico: das origens escocesas ao Brasil finissecular. In: WEINHARDT, Marilene (org.). Ficção histórica: teoria e crítica. Ponta Grossa, PR: Editoria UEPG, 2011. p. 13-55. WHITE, Hayden. Trópicos do Discurso: ensaios sobre a crítica da cultura. Trad.: Alípio Correia de Franca Neto. 2 ed. São Paulo: Edusp, 2001. 235 ANEXOS 236 Lista de documentos (manuscritos e impressos)163 Arquivo Raul Brandão Biblioteca Nacional Portuguesa D2/27 D2/460 D2/469 D2/939 D2/18 D2/325 D2/391 D2/725 D2/668 D2/229 D2/222 D2/535 D2/552 D2/907 163 carta de Filinto de Almeida (n. 1857 – m. 1945) a Raul Brandão carta de Columbano Bordalo Pinheiro (n. 1857 – 1929) a Raul Brandão carta de Columbano Bordalo Pinheiro (n. 1857 – 1929) a Raul Brandão manuscrito de matéria jornalística que ressalta qualidades artísticas de Brandão carta de António José de Almeida (n. 1866 – m. 1929) a Raul Brandão carta de Justino de Montalvão (n. 1872 – m. 1949) a Raul Brandão resenha em forma de recorte de jornal (Livros Novos: EL-Rei Junot) manuscrito autógrafo de Raul Brandão carta de Armando Cortesão (n. 1891 – m. 1977) a Raul Brandão carta de Antero de Figueiredo (n. 1866 – m. 1953) a Raul Brandão carta de João de Eça (n. 1901 – m. 19--) carta de Ribera y Rovira (n. 1880 – m. 1942) a Raul Brandão carta de Adrião de Seixas (n. 18--, m. 19--) a Raul Brandão carta de J. Magalhães, cujo intervalo de vida não foi identificado, a Raul Brandão Figuram apenas os documentos efetivamente citados e/ou referidos no corpo desta investigação, na ordem em que são foram apresentados. Autorização formal para reprodução e publicação, quando o caso, consta ao final dos anexos. 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
Download