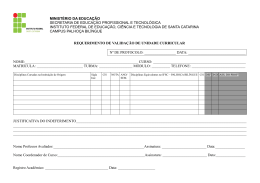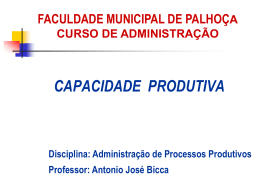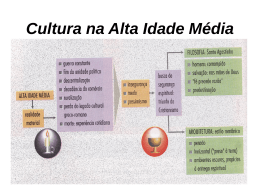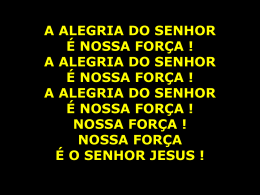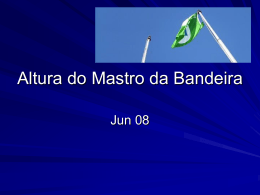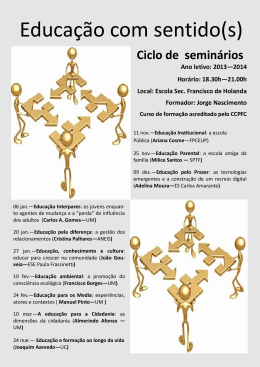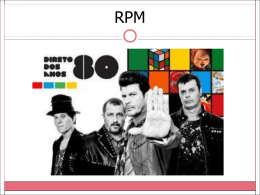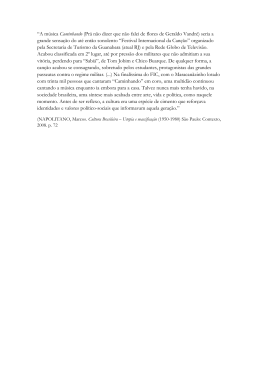ISSN 1980-6493 (eletrônica) Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem Universidade do Sul de Santa Catarina Tubarão Ŕ SC v. 9, n. 1, p. 1-168, jan./jun. 2014 Dados Postais/Mailing Address Revista Crítica Cultural Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) A/C Editores Av. Pedra Branca, 25 Ŕ Cidade Universitária Pedra Branca CEP: 88.132-000, Palhoça, Santa Catarina, Brasil [email protected] Ficha Catalográfica Crítica Cultural/Universidade do Sul de Santa Catarina. - v. 1, n. 1 (2006) - Palhoça: Ed. Unisul, 2006 Semestral ISSN 1980-6493 (eletrônica) 1. Linguagem - Periódicos. I. Universidade do Sul de Santa Catarina. CDD 405 Elaborada pela Biblioteca Universitária da Unisul Reitor Sebastião Salésio Herdt Vice-Reitor Mauri Luiz Heerdt Chefe de Gabinete Willian Corrêa Máximo Secretária Geral da Unisul Mirian Maria de Medeiros Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão Mauri Luiz Heerdt Pró-Reitor de Operações e Serviços Acadêmicos Valter Alves Schmitz Neto Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional Luciano Rodrigues Marcelino Assessor de Promoção e Inteligência Competitiva Ildo Silva Assessor Jurídico Lester Marcantonio Camargo Diretor do Campus Universitário de Tubarão Heitor Wensing Júnior Diretor do Campus Universitário da Grande Florianópolis Hércules Nunes de Araújo Diretor do Campus Universitário Unisul Virtual Fabiano Ceretta Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem Fábio José Rauen (Coordenador) Dilma Beatriz Rocha Juliano (Coordenadora Adjunta) Av. José Acácio Moreira, 787 88704-900 Ŕ Tubarão - SC Fone: (55) (48) 3621-3000 Ŕ Fax: (55) (48) 3621-3036 Sítio: www.unisul.br Equipe Editorial/Editorial Staff Editora-Chefe/Chief Editor Dilma Beatriz Rocha Juliano Editores/Editors Aldo Litaiff Alessandra Soares Brandão Antonio Carlos Santos Deisi Scunderlick Eloy de Farias Fernando Vugman Heloisa Juncklaus Preis Moraes Jussara Bittencourt de Sá Ramayana Lira de Sousa Secretária/Secretary Alexandra Filomena Espíndola Conselho editorial/Editorial board Ana Cecilia Olmos (Universidade de São Paulo) Ana Porrúa (Universidad Nacional de Mar del Plata) Anelise Corseuil (Universidade Federal de Santa Catarina) Carlos Eduardo Capela (Universidade Federal de Santa Catarina) Célia Pedrosa (Universidade Federal Fluminense) Cláudia Mesquita (Universidade Federal de Santa Catarina) Edgardo Berg (Universidad Nacional de Mar del Plata) Flávia Seligman (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) Florencia Garramuño (Universidad de Buenos Aires/Universidad de San Andrés) Idelber Avelar (Tulane University) Javier Krauel (University of Colorado at Boulder) João Luiz Vieira (Universidade Federal Fluminense) Jorge Wolff (Universidade Federal de Santa Catarina) José Gatti (Universidade Federal de São Carlos) José Roberto O‟Shea (Universidade Federal de Santa Catarina) Luiz Felipe Soares (Universidade Federal de Santa Catarina) Manoel Ricardo de Lima (Universidade Federal de Santa Catarina) Mario Cámara (Universidad de Buenos Aires/Universidad de San Andrés) Raúl Antelo (Universidade Federal de Santa Catarina) Sandro Ornellas (Universidade Federal da Bahia) Silviano Santiago (Universidade Federal Fluminense) Susana Scramim (Universidade Federal de Santa Catarina) Veronica Stigger (Universidade de São Paulo) Verónica Tell (Universidad de Buenos Aires) Equipe Técnica/Technical Team Fábio José Rauen (Diagramação) Suelen Francez Machado Luciano (Editoração) SUMÁRIO/CONTENTS Apresentação/Presentation 9 Dossiê: Música Popular Brasileira Dossier: Brazilian Pop Music Canção popular: notas sobre a revocalização do logos Popular song: notes on the revocalization of the logos Leonardo Davino de Oliveira 13 A alegoria tropicalista na avenida vazia do historicismo: o tropicalismo e o rock no Brasil The Tropicalist allegory on the avenue of historicism: Tropicalism and rock in Brazil Tiago Hermano Breunig Jair Tadeu da Fonseca 29 A redefinição continuada do lugar da canção popular na cultura brasileira contemporânea Redefining the place of MPB in contemporary Brazilian culture Sylvia H. Cyntrão 47 “Não posso mais: eu quero é viver na orgia”: malandragem feminina e rejeição do trabalho em sambas das décadas de 1930 e 40 “Não posso mais: eu quero é viver na orgia”: female trickery and work rejection in sambas from the 1930s and 40s Cilene Margarete Pereira 57 Artigos Articles „Human After All‟? Daft Punk e o culto à máquina Página 5 „Human After All‟? Daft Punk and the cult of the machine Marcelo Cizaurre Guirau Rafael Mantovani 71 Os animais performáticos de Beuys, Sherk, Berwick e Dion Performing animals of Beuys, Sherk, Berwick and Dion Ana Carolina Cernicchiaro 87 A guerrilha semântica de Honoré Daumier The semantics guerrilla of Honoré Daumier Marcos Fabris 97 “The Little Girl Lost” e “The Litle Girl Found”, de William Blake: Canções de Inocência ou de Experiência? William Blake‟s “The Little Girl Lost” and “The Litle Girl Found”: Songs of Innocence or of Experience? Enéias Farias Tavares Leandro Cardoso de Oliveira 105 O Édipo Romântico, da literatura ao cinema Romantic Oedipus from literature to cinema Fausto Calaça Célia Maria Domingues da Rocha Reis 119 Reprodutibilidade técnica, arte e política Technological reproducibility, art and politics Marcos Soares 131 Avatar as symptom: Hollywood mythological narrative and crisis Avatar como sintoma: a narrativa mitológica de Hollywood e crise Fernando Simão Vugman 137 Tradução Translation O conceito e a tragédia da cultura, de Georg Simmel Página 6 The concept and the tragedy of culture, by Georg Simmel Antonio Carlos Santos 145 Resenha Review Vida em potência: Nietzsche e Agamben sob a ótica de Assmann e Bazzanella Life in potency: Nietzsche e Agamben from the perspective of Assmann e Bazzanella Página 7 Alexandra Filomena Espindola 163 APRESENTAÇÃO/PRESENTATION Dossiê: Música Popular Brasileira Dossier: Brazilian Pop Music Organização: Dr. Antonio Carlos Santos Organization: Antonio Carlos Santos, PhD. Tradução: Maria Isabel de Castro Lima Página 9 Translation: Maria Isabel de Castro Lima, M.A. A música popular brasileira é o tema deste número da Crítica Cultural, que se pergunta sobre as mudanças na noção (na prática e no uso) da música do século XX, dessa prática que cresceu junto com os meios massivos de comunicação e que fez (e ainda faz no século XXI) parte da vida cotidiana e afetiva dos viventes contemporâneos. É possível falar em música (?), popular (?), brasileira (?), em que sentido? De que maneira se transformaram a cena, os gêneros, a ideia de MPB, a canção, as relações com o mercado e com as outras artes? Nesse sentido, Leonardo Davino de Oliveira parte da análise das fábulas dos “animais vocálicos”, as cigarras e as sereias, para pensar a relação entre palavra falada e palavra cantada, entre uma razão emudecida Ŕ “o logos desvocalizado e emudecido a serviço do gesto capital de expulsar o cantor da República platônica” Ŕ e a revocalização do logos, reivindicando para a América latina uma sustentação pela voz, uma condição de “homo ludens pulsante”. Já Tiago Hermano Breunig e Jair Tadeu da Fonseca trazem o conceito benjaminiano de alegoria para relocalizar o rock nacional como um gênero que produz um contradiscurso da identidade nacional. Se Brazilian popular music (MPB) is the topic of this issue of Critica Cultural, which discusses how the notion of music has changed (in practice and use) in the XX century; that very practice that grew together with the massive means of communication and was part (and still is, in the XXI century) of the daily and love routine of the contemporary beings. In which sense is it possible to speak of Brazilian (?), popular (?), music (?)? In which ways have the scenario, the genres, the conception of MPB, the songs, and the connection with the market and the other arts changed? So, Leonardo Davino de Oliveira starts with the analysis of the “vocalic animals”, the cicadas and the sirens, to think the relationship between the spoken and the sung word, between a muted reasoning Ŕ “the devocalized and muted logos at the service of the capital gesture of expelling the singer of the platonic Republic” Ŕ and the revocalization of the logos, claiming for Latin America a sustainability through the voice, a condition of “vibrant homo ludens”. Tiago Hermano Breunig and Jair Tadeu da Fonseca bring the Benjaminian concept of allegory to localize the national rock as a genre that produces a counter discourse of the national identity. If, AUTORIA. Título. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 1-10, jan./jun. 2014. a MPB, segundo os autores, articula uma oposição entre música nacional e música estrangeira, o rock potencializa ambas as polaridades preservando o conflito. Sylvia H. Cyntrão procura oferecer algumas pistas sobre o lugar social e existencial do cancionista no Brasil de hoje; e Cilene Margarete Pereira, através das letras de sambas dos anos 30 e 40, analisa a oposição entre o mundo regular e ordeiro e o mundo da malandragem para pensar o samba como “índice de uma resistência mínima ainda que pareça apontar para a mitificação da pobreza feliz”. according to the authors, MPB articulates an opposition between the national and foreign music, rock enhancements both polarities preserving the conflict. Sylvia H. Cyntrão seeks to offer some clues on the social and existential place of the musician in today‟s Brazil and Cilene Margarete Pereira, through the samba lyrics of the 1930s and 40s, analyzes the opposition between the neat and tidy world and the malandragem to think samba as “the demonstration of a minimum resistance, although it seems to point to the mythicizing of the happy poverty”. Tradução Translation Antonio Carlos Santos traz o crítico alemão Georg Simmel em um ensaio, publicado em 1911 em Philosophische Kultur. O ensaio privilegia a concepção de cultura como „processo dialético entre sujeito e objeto‟, naquilo que a objetivação e subjetivação transitam de um a outro, „como caminho da alma em direção a si mesma‟. In this section, Antonio Carlos Santos presents the German critic Georg Simmel through his essay published in 1911 in Philosophische Kultur. The essay privileges the conception of culture as a „dialetic process between the subject and the object‟ in which the objectivation and subjectivation travel from one to the other, „as the path from the soul towards itself‟. Artigos Página 10 Articles Nessa seção segue, no primeiro artigo, discutindo a música, embora não as populares brasileiras. Em “‟Human After All‟? Daft punk e o culto à máquina”, Marcelo Guirau e Rafael Mantovani debatem a música experimental e mecânica na perspectiva futurista do grupo musical. Em seguida, a seção publica “Os animais performáticos de Beuys, Sherk, Berwick e Dion”, de Ana The first article also discusses music, but not Brazilian pop music. In “Human After All”? Daft punk e o culto à máquina, Marcelo Guirau and Rafael Mantovani debate experimental and mechanical music in the futurist perspective of the musical band. Then, the section presents Os animais performáticos de Beuys, Sherk, Berwick e Dion, by Ana Carolina Cernicchiaro, who, as the title AUTORIA. Título. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 1-10, jan./jun. 2014. 11 Página Carolina Cernicchiaro, que, como explicita o título, cerca a produção de artistas performáticos que na abordagem da „animalidade‟ desestabilizam dicotomias como sujeito/objeto, humanidade/animalidade e mesmidade/alteridade. Marcos Fabris, em “A guerrilha semântica de Honoré Daumier”, põe em discussão a caricatura em relação a outras produções culturais do artista francês, no contexto do século XIX, problematizando as noções de „caricatura política‟ e „caricatura social/de costumes‟. Na sequência, Enéias Tavares e Leandro de Oliveira, em “‟The Little Girl Lost‟ e „The Litle Girl Found‟, de William Blake: Canções de Inocência ou de Experiência?”, buscam interpretar a composição entre gravura, poesia e pintura nos livros de William Blake, afirmando serem eles um desafio aos limites entre texto e imagem. No quinto artigo, “O Édipo romântico, da literatura ao cinema”, Fausto Calaça e Célia Maria Reis questionam as noções de desencantamento, nostalgia, romance de aprendizagem, Nouvelle vague e „Édipo romântico‟, de Pierre Laforgue, comparando os protagonistas na literatura de Honoré de Balzac e no cinema de François Truffaut. O artigo seguinte traz tema caro à discussão das artes “Reprodutibilidade técnica, arte e política”, de Marcos Soares. Aqui a aproximação com o tema se dá através da análise do uso (crítica e produção) do potencial político do texto benjaminiano para o desenvolvimento da linguagem cinematográfica, para tanto, é o teatro de Bertold Brecht que vem em apoio à proposição do artigo. Também do cinema vem o último artigo da seção, “Avatar como sintoma: a narrativa mitológica de Hollywood e crise”, de Fernando Vugman, com importante enfoque do depicts, surrounds the production of performatic artists who, approaching „animality‟, destabilize dicotomies as subject/object, humanity/animality and sameness/alterity. Marcos Fabris, in A guerrilha semântica de Honoré Daumier, discusses the caricature in relation to the other cultural productions of the French artist, in the context of the XIX century, problematizing the notions of „political caricature‟ and „social/customs caricature‟. Enéias Tavares and Leandro de Oliveira follow with their article “The Little Girl Lost” e “The Litle Girl Found”, de William Blake: Canções de Inocência ou de Experiência?, where the authors aim to interpret the composition between encarving, poetry and painting in William Blake‟s books, stating that they challenge the limits between text and image. The fifth article, O Édipo romântico, da literatura ao cinema, by Fausto Calaça and Célia Maria Reis, questions the notions of disenchantment, nostalgia, bildungsroman, Nouvelle vague and the „romantic Oedipus‟ - by Pierre Laforgue-, by comparing the protagonists in Honoré de Balzac‟s literature and François Truffaut‟s cinema. The following paper, Reprodutibilidade técnica, arte e política, by Marcos Soares, approaches that very relevant discussion for the Arts. Here the approach is through the analysis of the use (criticism and production) of the political potential of the Benjaminian text for the development of the cinematographic language. For that, Bertold Brecht‟s theater supports the thesis of the article. Also from the cinema comes the last article of the section, Avatar como sintoma: a narrativa mitológica de Hollywood e crise, by Fernando Vugman, with an important focus on James Cameron‟s movie. The article discusses the present „crisis‟ of the AUTORIA. Título. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 1-10, jan./jun. 2014. filme de James Cameron. Nele, estão em discussão a atual „crise‟ do cinema hollywoodiano e da sociedade norteamericana, que aparecem na quebra nas convenções mitológicas que sustentavam aquela produção cinematográfica. Isto, na visão do autor, faz do filme sintoma, apontando para a necessidade de reflexão sobre o presente e o futuro dos Estados Unidos. Hollywood cinema and of the North American society, which appear in the broken mythological conventions that supported that cinematographic production, This, from the author‟s perspective, makes the movie a symptom, pointing to the need to reflect about the present and future of the United States. Resenha Review Alexandra Filomena Espindola indica à leitura “A vida como potência a partir de Nietzsche e Agamben”, de autoria de Selvino Assmann e Sandro Bazzanella. No texto, somos apresentados à densa filosofia contemporânea, instados a seguir os autores que buscam a noção de potência em Nietzsche para aproximar à vida sempre como reflexão e na impossibilidade de sua definição. Alexandra Filomena Espindola reviews and recommends A vida como potência a partir de Nietzsche e Agamben, by Selvino Assmann and Sandro Bazzanella. In the note we are introduced to the dense contemporary philosophy, and summoned to follow the authors that seek Nietzsche‟s notion of power to get closer to life always as a reflection and in the impossibility of its definition. Boa e proveitosa leitura! We wish you all a pleasant and productive reading! Os Editores Página 12 The editors AUTORIA. Título. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 1-10, jan./jun. 2014. CANÇÃO POPULAR: NOTAS SOBRE A REVOCALIZAÇÃO DO LOGOS Leonardo Davino de Oliveira1 Resumo: Este trabalho tem o objetivo de debater o processo de emudecimento do logos poético ao longo do tempo, a partir da análise de algumas canções populares. Apoiados nas observações levadas a público por Adriana Cavarero no livro Vozes plurais: filosofia da expressão vocal (2011), investigamos a presença dos “animais vocálicos”, tomando como exemplo a conhecida fábula da formiga e da cigarra de La Fontaine, passamos pelas avaliação da lírica como “voz do coração” e audição das sereias “mulheres que cantam” como signos da ontologia da poesia e da canção popular, até a polifonia vocal da mitopoética de Macunaíma, como representante de um ensaio sobre o Brasil. Palavras-chave: Logos. Voz. Poesia. Canção. “As cigarras são guitarras trágicas. / plugam-se/se/se/se / nas árvores / em dós sustenidos. / kipling recitam a plenos pulmões. / gargarejam / vidros / moídos. / o cristal dos verões”, diz a poesia “As cigarras”, de Sergio de Castro Pinto. A mitologia está repleta de seres vocais. Dentre eles, e para aprofundar as questões a serem discutidas aqui, a cigarra e a formiga de Jean La Fontaine se destacam. A fábula é bastante conhecida. Resumidamente, enquanto a formiga passa o verão trabalhando e preparando-se para o tempo de estio gelado do inverno, a cigarra gargareja a plenos pulmões (um canto que é interpretado pela racional formiga como zombaria) e aproveita a luz e o calor do sol. O fato é que vira-e-mexe as fabulosas personagens reaparecem, seja em peças artísticas, seja como mote filosófico, para nos lembrar de certa dicotomia existencial: enquanto uma é “amor da cabeça aos pés”, a outra é pura razão. Consequentemente, esta é melhor aceita, em um mundo onde o logos foi emudecido, do que aquela. No poema de Alexandre O‟Neill, por exemplo, diante da “minuciosa formiga”, a cigarra canta: “Assim devera eu ser / e não esta cigarra / que se põe a cantar / e me deita a perder”. Importa lembrar que, musicado por Alain Oulman e gravado por Amália Rodrigues (1969), o poema de O‟Neill foi gravado por Adriana Partimpim, heterônimo de Adriana Calcanhotto, sob o título “Formiga bossa nova”. E há ainda que se citar “Esconjuro”, canção de Guinga e Aldir Blanc, cujas primeiras estrofes dizem: “A zonza da cigarra no oco do cajueiro, erê / Bota o bemol na clave do verão / Quem diz uma palavra com sentido verdadeiro, erê / Que traga um som paisagem pra canção // Falei alarido palavra de vidro / Quebrada na voz / Palavra raiada mais estilhaçada / Que o caso entre nós”. Página 13 A lógica dominante Ŕ o logos desvocalizado e emudecido a serviço do gesto capital de expulsar o cantor da República platônica Ŕ leva-nos a concluir que, caso trabalhasse, a cigarra não morreria. Caso não cantasse sua própria tragédia, ela (muda e Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). E-mail: [email protected]. Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=S773788 * OLIVEIRA, Leonardo Davino de. Canção popular: notas sobre a revocalização do logos. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 13-28, jan./jun. 2014. obediente) viveria mais e feliz, porque segura, como a formiga. Tal ideologia, em um mundo plenamente mapeado, vigiado, assegurado parece fazer sentido. Mas a vida será mesmo assim: tão preto, branco e muda? Por isso a importância do poema de Sergio de Castro Pinto: focando na cigarra, apagando a sua antagonista, o poema opera a valorização da vocalidade Ŕ da percepção da vida pelos pulmões, para além do cérebro. Dito de outro modo: o poema “As cigarras” sugere uma (re)vocalização do logos. Por isso também a importância, dentro de uma economia estética das vozes, a canção “Cigarra”, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Aqui se celebra a amizade entre o cantor e o trabalhador: “Porque a formiga é / A melhor amiga da cigarra / Raízes da mesma fábula”, diz o sujeito. Os versos da canção jogam com uma delicada permuta de vozes Ŕ ora tem-se a impressão de que quem fala é a formiga, ora é a cigarra Ŕ a fim de plasmar a tal amizade. Amigas e não antagonistas das mesmas luta e alegria que é viver. Afinal, o que seria da formiga trabalhadora sem seu duplo: a cigarra que lhe canta a vida: “enche de som o ar”? “Porque ainda é inverno / Em nosso coração /Essa canção é para cantar”, diz a formiga revelando a importância do outro e tecendo uma metacanção. Gravada algumas vezes pela cantora Simone, a canção ganha tons novos quando gravada por Milton Nascimento (a formiga: aquele que fez (trabalhou) a canção) e Simone (a cigarra: aquela que canta Ŕ e também faz Ŕ a canção), no disco Simone ao vivo. Porque ela pediu a ele uma canção para cantar (a primeira gravação é de 1978), a formiga fez uma canção que servisse à natureza da cigarra: arrebentar-se de tanta luz Ŕ e aqui entra em ação um providencial eco dos vocalizes zi, zi, zi, zi (ou si, si, si, simone) fragmentando, duplicando e expandindo a festa sonora: fazendo uma personagem na outra encher de som o ar. E eis que surge o punctum da canção: a formiga precisa do canto da cigarra. Ele lhe anuncia a vida, serve de trilha sonora à uma existência destinada ao trabalho. Ouvinte e cantora se confraternizam na aceitação de suas funções complementares. E como a voz mediatizada Ŕ mesmo plugada, manipulada, modificada, alterada pelos instrumentos e suportes técnicos Ŕ indicia (revela) a voz que sai de uma garganta, eis Simone e Milton Nascimento celebrando a amizade através de uma canção amiga. Ou seja, a voz (fenômeno) do sujeito da canção só existe porque há a voz de dois indivíduos de carne e osso dando-lhe vida. E “Essa canção é para cantar / Como a cigarra acende o verão / E ilumina o ar”. Eis a letra: Cigarra (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos) Página 14 Porque você pediu Uma canção para cantar Como a cigarra Arrebenta de tanta luz E enche de som o ar Porque a formiga é A melhor amiga da cigarra Raízes da mesma fábula OLIVEIRA, Leonardo Davino de. Canção popular: notas sobre a revocalização do logos. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 13-28, jan./jun. 2014. Que ela arranha, tece E espalha no ar Porque ainda é inverno Em nosso coração Essa canção é para cantar Como a cigarra acende o verão E ilumina o ar Zi zi zi zi zi zi *** Empunhando pente (domando os cabelos desgrenhados, animalizados, geniais) e espelho (vaidades, ilusão, ficção), as sereias se forjam sensuais. Com os signos do mito já deslocados por certa ideologia urdida na Idade Média, que tem a mulher como a portadora do dom de iludir, as iaras se distanciam das tenebrosas sereias homéricas. Ou melhor, agregam ao canto irresistível, a beleza física sedutora. Esse percurso traz consequências: a mais negativa é a desvocalização do logos Ŕ um processo amparado pela “surdez” da filosofia de matriz platônica que teme os efeitos da mistura da palavra enunciada com a voz inimitável. A sereia passa a ser sinônimo de mulher muito bonita, encantadora e fatal. Mas não perde sua ligação com mitos fundadores de criação e de proteção. É o caso de Iemanjá, Iara, Dona Janaína. Mas a sereia é, antes de tudo, a voz que relata aquilo que ouviu da musa. Para o cancionista (neo-sereia), a canção é a musa. Assim como a poesia é a musa do poeta. O cancionista é a sereia da sereia e, de viés, do ouvinte. Página 15 No disco Caravana sereia bloom, a cantora Céu reposiciona o mito: injeta no imaginário do ouvinte possibilidades de apreensão do significado do termo neo-sereia. Primeiro porque Céu é o nome sirênico (artístico, performático) de Maria Poças, um nome a serviço do cantar, uma persona cancional. Maria Poças é e não é Céu Ŕ preserva e revela intimidades de uma e da outra. Ela morre para viver com Iemanjá Ŕ arquétipo de anima. Segundo porque a cantora está atenta à itinerância das canções. Sabe que em tempos de mobilidade pode ter seu canto acessado ao prazer do desejo do ouvinte e quer ir indo: “O vento é um menino bulindo com a gente”, canta. E terceiro porque na canção “Sereia” o sujeito diz: “Sereia do mar / Me conta o teu segredo / Do teu canto tão bonito / Prometo não espalhar”. É na sereia do mar Ŕ na poesia, na canção Ŕ que Céu busca os elementos de seu canto. Ao evocar a musa-sereia, Céu é aedo de acontecimentos, é neosereia. É interessante notar que “Sereia” entra no disco como uma vinheta ligando canções e se revelando como o núcleo luminoso da proposta do disco. Tocado pela sereia do mar, por dona Janaína, pela poesia, pela canção, o sujeito canta: “Sereia do mar / Também sou fruto d‟água / Vim do rio doce aprender / O tal do canto que traz / Pra bem perto nosso bem-querer”. A sereia conta aquilo que a musa ouviu e lhe contou. Ela traduz a história para os ouvidos humanos. A musa guarda o segredo (do acontecimento) sussurrado apenas ao ouvido privilegiado do poeta (do cancionista, da OLIVEIRA, Leonardo Davino de. Canção popular: notas sobre a revocalização do logos. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 13-28, jan./jun. 2014. sereia), que compõe um canto sirênico audível ao ouvinte comum. E assim ouvimos o inaudível. Desse modo, nunca é demais distinguir Sereias e Musas. A fim de curiosidade, vale lembrar que, como está registrado em uma das versões do mito, ao se atreverem a competir com as Musas, as Sereias tiveram suas penas arrancadas e usadas como coroas. Filha de Mnemósine, a musa conserva o acontecimento que presenciou e que precisa ser traduzido em canção pelo poeta, cancionista. A sereia atua tanto na nossa incompetência humana no uso das palavras, quanto na nossa necessidade por canção: palavra cantada na voz de alguém. A sereia nos fornece verbo, melodia e voz. E, no caso da neo-sereia, sendo também humana, como seu ouvinte, exposta a semelhantes afetos (agrados e desagrados), é nossa cúmplice e nosso álibi. Iara irmã do indivíduo-ouvinte na existência. A canção “Sereia” tem letra e programação da própria cancionista. Os recursos técnicos auxiliam a cancionista no ato de entoar o canto sirênico. Ecos e reverberações melódicas e vocais criam o clima sedutor, embriagante e propício ao despertar do impulso lúdico. Estas elucubrações se adensam quando obtemos a informação de que “Sereia” é dedicada a Rosa Nena, filha de Maria Poças. Rosa é a musa (a canção) que canta Céu (a cancionista) que, por sua vez, canta a musa. E são as dobras desse canto que faz Céu ser ainda menina, aproximando-se do desejo do ouvinte. “Pro ser humano, viver é pouco”. Neo-sereia, Céu se enfeita com batom vermelho, porém, diferente da grande-sereia, não precisa “do espelho do retrovisor para não [se] borrar”, como canta noutra canção do mesmo disco. Errante, não-divina, ela canta adornada num vestido de paetês-escamas de muitos azuis suas memórias conservadas “no sal do [meu] mar”, trazendo para perto o [seu, o nosso] bem-querer. Eis a letra: Sereia (Céu) Sereia do mar Me conta o teu segredo Do teu canto tão bonito Prometo não espalhar Sereia do mar Também sou fruto d'água Vim do rio doce aprender O tal do canto que traz Pra bem perto nosso bem-querer Página 16 *** Ao que tudo indica, quando lemos um texto em voz alta estamos mais atentos ao conteúdo dele. Enquanto que quando cantamos o que importa é a expressão daquilo que é dito (cantado). Há uma vitalidade intrínseca que diferencia a palavra falada da palavra cantada. E essa vitalidade está manifesta na voz: é representada pelo sopro de ar que atravessa o corpo e se encorpa na garganta. Obviamente, os níveis de aproximação entre OLIVEIRA, Leonardo Davino de. Canção popular: notas sobre a revocalização do logos. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 13-28, jan./jun. 2014. um ponto e outro são tênues e frágeis. Há conteúdo no canto, assim como há expressão na leitura em voz alta. Nesta, por exemplo, o leitor, em geral, busca apresentar a trajetória do sujeito-lírico trabalhando a tessitura entoativa. E assim caímos no campo das paixões. É calcado na paixão que o leitor e/ou o cantor imprimem mais ou menos vitalidade à palavra que seus pulmões lançam no ar depois de tocar (e ser tocada por) sua garganta, úvula e impregnar-se de saliva, na boca. As canções, deste modo, são regidas pelo sensível, que, por sua vez, é base da cognição. Pensar tais coisas exige a vocalização do logos. Exige reconhecer que nem só de escrita vive o Homem, mas também daquilo que é dito, cantado. Seja como for, há um gradiente de possibilidades entre a intenção do autor e a intenção do leitor. Para nós, é impossível falar sem fazer uso da curva melódica. Por sua vez, um cantor trabalha a dicção de cada coisa que canta, faz escolhas e explora intensidades Ŕ acelerações, desacelerações. Como mensurar a importância da leitura em voz alta à cultura e à construção de conhecimento, quando o acesso ao mundo da escrita era mais restrito? E até que ponto o leitor (sua voz: escolhas entoativas) interferiu na transmissão? Quão fundamentais são as histórias lidas às crianças? Isso sem contar as decisivas canções de ninar. Ou seja, na canção (na materialidade da canção) o que determina sua eficácia é o modo de dizer da voz, mais do que o que é dito (o texto). É preciso analisar significantes e significados, a textura melódica, as pausas, a respiração. A vitalidade impressa na canção para chegar a alguma significação possível. E saber de onde vem a canção. Guardado no disco Chão, o sujeito da canção “De onde vem a canção”, de Lenine, age atravessado pela pergunta-título. Sem resposta definitiva, mas cheio de suspeitas e afetos, ele recolhe instantes Ŕ “Quando do céu despenca / quando já nasce pronta / quando o vento é quem venta / (...) / Quando se materializa / No instante que se encanta / Do nada se concretiza” Ŕ a fim de empreender sua busca. Colocar-se no meio. Página 17 Investigar de onde vem e para onde vai a canção Ŕ “Quando tudo silencia / Depois do som consumado” Ŕ é investigar a condição do Humano. O sujeito sugere, já que pergunta afetado pela canção, que ela vem e vai para dentro. Afinal, é quando finda que de fato a canção começa a ser processada em nós: entra para a nossa memória sonora Ŕ definidora daquilo que somos. Cantor, Lenine joga com a perspectiva de que a canção só é canção quando não é mais sua (do autor, leitor, cantor): “quando nasce pronta, quando se propaga, quando se irradia” é que ela é ela Ŕ faz o vento ventar, no instante que se encanta. Por outro lado, o sujeito criado por Lenine traz à tona a intuição como fator determinante para a definição da canção como linguagem. No Brasil, pelo menos. Nem músico, nem poeta de formação escolar: cancionista Ŕ agente da intuição vitalizada, da compatibilização intuitiva entre letra e melodia. Intuindo e cantando, o sujeito de “De onde vem a canção” questiona sua posição no mundo e averigua Ŕ trabalhando sobre uma linha melódica sem falso apogeu Ŕ os modos de proceder e ser da canção. Sem saber de onde ela vem, o sujeito a canta. Sem saber de onde veio e para onde vai, o homem vive. E canta para manter-se encantado. Vejamos a letra: OLIVEIRA, Leonardo Davino de. Canção popular: notas sobre a revocalização do logos. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 13-28, jan./jun. 2014. De onde vem a canção (Lenine) De onde De onde vem De onde vem a canção Quando do céu despenca Quando já nasce pronta Quando o vento é quem venta De onde vem a canção De onde De onde vem De onde vem a canção Quando se materializa No instante que se encanta Do nada se concretiza De onde vem a canção Pra onde vai a canção Quando finda a melodia Onde a onda se propaga Em que espectro irradia Pr‟onde ela vai Quando tudo silencia Depois do som consumado Onde ela existiria De onde De onde vem De onde vem a canção Página 18 *** No livro Vozes plurais – Filosofia da expressão vocal Adriana Cavarero investiga como a filosofia tem trabalhado na promoção da própria “surdez”, à deriva dos cancionistas, poetas e filósofos que investem no apuro do ouvido. Para a autora, agindo deste modo, a filosofia nega a unicidade de cada voz, negando por sua vez a especificidade de cada indivíduo. Cavarero anota que “a voz de quem fala é sempre diversa de todas as outras vozes, ainda que as palavras pronunciadas fossem sempre as mesmas, como acontece justamente no caso de uma canção” (2011, p. 18). Cantar apresenta a verdade de um vocálico Ŕ “é ter o coração daquilo” Ŕ e isso desestabiliza as formas generalizadoras Ŕ “universalidades abstratas e sem corpo” Ŕ do modo como temos desenvolvido o pensamento. No Brasil, não é à toa que “nossa gente era triste amargurada, inventou a batucada pra deixar de padecer”, como diz a canção de Assis Valente, dando uma amostra daquilo que uma cultura híbrida, mestiça e miscigenada OLIVEIRA, Leonardo Davino de. Canção popular: notas sobre a revocalização do logos. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 13-28, jan./jun. 2014. como a latino-americana pode oferecer ao mundo em contribuição ao pensamento. Talvez isso explique em parte não termos aqui uma escola filosófica forte frente às culturas hegemônicas e tenhamos desenvolvido o ensaio como espaço de reflexão daquilo que (possivelmente) somos. Cantando juntos mandamos a tristeza embora. Aquela tristeza que quer tomar conta do sujeito da canção “Filosofia”, de Noel Rosa Ŕ “O mundo me condena, e ninguém tem pena / Falando sempre mal do meu nome / Deixando de saber se eu vou morrer de sede / Ou se vou morrer de fome” Ŕ, e que logo cede lugar a outra afirmativa: “Não me incomodo que você me diga / Que a sociedade é minha inimiga / Pois cantando neste mundo / Vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo”. Movido por uma filosofia íntima, alicerçada no seu jeito de corpo, o sujeito vai da defesa autopiedosa ao ataque: “Quanto a você da aristocracia / Que tem dinheiro, mas não compra alegria / Há de viver eternamente sendo escrava dessa gente / Que cultiva hipocrisia”. “É, por assim dizer, a phoné que determina a fisiologia do pensamento” (idem, p. 37), como diria Cavarero. Pensar com o corpo inteiro, a plenos pulmões, não com o cérebro. Livre das amarras que o dinheiro impõe, artista, cantor, sambista, o sujeito da canção exalta a alegria, que, por sua vez, não denega a dor. Cantada por Mart‟nália no disco Pé do meu samba, “Filosofia” ganha valores novos. Afinal, quem melhor do que uma mulher que guarda em si Ŕ voz e corpo Ŕ os signos do malandro (fingidor, malabarista) para cantar os emblemas de uma nova filosofia? Aqui, corpo e palavra cantada mostram como o logos perdeu a voz, a escuta. E se empenham na vocalidade do sujeito afastado das ideias gerais, platônicas. Há, portanto, uma sabedoria singular na voz do sujeito de “Filosofia”: cantar é estar vivo, pensar a plenos pulmões. Lúcido de sua condição (humana) de escravo, através da voz o sujeito faz a sua escolha entre o samba e a hipocrisia: forja uma verdade. Como Adriana Cavarero atesta: “A voz, qualquer coisa que diga, comunica antes de tudo, e sempre, uma só coisa: a unicidade de quem a emite”. Filosofia (Noel Rosa) O mundo me condena, e ninguém tem pena Falando sempre mal do meu nome Deixando de saber se eu vou morrer de sede Ou se vou morrer de fome Página 19 Mas a filosofia hoje me auxilia A viver indiferente assim Nesta prontidão sem fim Vou fingindo que sou rico Pra ninguém zombar de mim OLIVEIRA, Leonardo Davino de. Canção popular: notas sobre a revocalização do logos. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 13-28, jan./jun. 2014. Não me incomodo que você me diga Que a sociedade é minha inimiga Pois cantando neste mundo Vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo Quanto a você da aristocracia Que tem dinheiro, mas não compra alegria Há de viver eternamente sendo escrava dessa gente Que cultiva hipocrisia *** Como sabemos, mitologicamente a poesia (o logos poético) está ontologicamente imbricada à musicalidade, ao ritmo da vocalização das palavras. Convenientemente, o corte acontece no Renascimento, momento de radicalização do longo processo filosófico de desvocalização do logos. Capturando a phoné no sistema da significação, a filosofia não só torna inconcebível um primado da voz sobre a palavra como também não concebe ao vocálico nenhum valor que seja independente do semântico. Reduzida a significante acústico, a voz depende do significado. Longe de ser óbvia, essa dependência é fundamental. Ela aprisiona a voz num sistema complexo que subordina a esfera acústica à visual. (CAVARERO: 2011, p. 52). É também Cavarero quem registra: Página 20 A matriz etimológica é conhecida. Logos deriva do verbo legein. Desde a Grécia arcaica, este verbo significa tanto „falar‟ quanto „recolher‟, „ligar‟, „conectar‟. Isso não é surpreendente, uma vez que quem fala liga as palavras umas às outras, uma após a outra, recolhendo-as em seu discurso. Tampouco é estranho que, exatamente por isso, legein signifique também „contar‟ e, ainda mais propriamente, „narrar‟. Na sua acepção comum, o logos se refere à atividade de quem fala, de quem liga os nomes aos verbos e a qualquer outra parte do discurso. O logos consiste essencialmente numa conexão de palavras. Justamente nesse plano da conexão, que „liga‟ e „recolhe‟ segundo determinadas regras, está centrada a atenção da filosofia. Centrada inclusive com prejuízo Ŕ mas talvez fosse melhor dizer: sobretudo com prejuízo Ŕ do plano acústico da palavra. O logocentrismo filosófico se interessa, principalmente, pela ordem que regula a conexão, isto é, pela linguagem como sistema da significação. (Idem. p. 50-51). Felizmente, parte importante dos pensadores, entre eles Adriana Cavarero, vem questionando os paradigmas de base platônica de desvocalização do logos. O ponto central da questão não é a desvalorização da escrita, ou sua negação, mas observar os contatos, as intersecções e os pontos de mutação entre a palavra falada e a palavra escrita. Importa ouvir o logos não para “entende-lo” (racionalmente), mas para a partir dele escolher caminhos. Ou seja, questionar a ordem que regula a conexão entre as palavras e se deixar envolver com a “força bruta”: ser criação ao ritmo do plano acústico da palavra. OLIVEIRA, Leonardo Davino de. Canção popular: notas sobre a revocalização do logos. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 13-28, jan./jun. 2014. Quando dizemos que o som era sentido, sua força era de tocar o homem para qualquer lugar e não de fazer o homem refletir sobre este fenômeno, dividi-lo ou analisá-lo. Assim, a gestualidade espontânea do corpo é já por si mesma certa objetivação, uma certa manifestação do sentido. Ela não é, obviamente, a objetivação de uma ideia, mas a de uma situação no mundo sobre a qual se decalcam as próprias ideias. (TOMÁS, 2002, p. 50). É por isso que a proposta do meu trabalho passa por um retorno mitológico do vocalizar, do cantar, do narrar: por reconhecer aqui que a sonoridade das palavras tem mais relevância do que seus significados. Ou melhor, que o plano acústico da palavra está visceralmente ligado à significação empreendida pelo ouvinte. Daí também que um livro como Milagrário pessoal, de Jose Eduardo Agualusa, ajuda na argumentação de minha intenção. Temos no livro de Agualusa o embate entre um professor e uma exaluna (Iara), linguista, cujo trabalho é identificar e dicionarizar as palavras novas. A Iara interessam, sobretudo, as palavras recém-nascidas, ainda úmidas, ofegantes, indefesas, caídas de repente nesse vasto alarido que é a vida. Para encontrar eventuais neologismos serve-se de um programa informático, o Neotrack, o qual recolhe, a partir dos jornais do dia disponíveis na internet, as palavras não dicionarizadas (AGUALUSA, 2010, p. 15). Fazendo uso de uma escrita que utiliza o ritmo da fala, posto que a “sensação” criada é a de uma conversa entre narrador e leitor, Agualusa tematiza a complementaridade entre a fala e a escrita. O narrador se dirige diretamente ao leitor, bem como faz avanços e recuos no tempo, suspensões da narrativa para inserir outras histórias, num procedimento típico da oralidade. Iara entra em conflito quando percebe a disseminação inesperada de um grande número de neologismos. E busca a ajuda do antigo professor para entender o problema. Em geral, personagens femininas são o motor dos romances de Agualusa, na contramão de certa corrente que silencia as mulheres que cantam. Referência indígena brasileira, em Milagrário pessoal Iara, para além da personagem, mas mimetizada ao narrador, é a sereia que seduz o leitor a ouvir o som das palavras: Até esta altura qual foi o neologismo mais bonito que tu encontraste? Iara esperava a pergunta: Não sei, rendeu-se. Nunca me apareceu uma palavra bonita. Mesmo bonita. A verdade é que os neologismos são quase todos feios. Acho-os, de uma forma geral, grosseiros e enfadonhos (Idem, p. 16-17). Página 21 Mais adiante, quando instigada a escolher as dez palavras mais bonitas da língua, Iara sugere que é a sonoridade o que as tornam bonitas e grávidas de significado. A indicação de Iara como sereia, gesto de recuperação, apropriação e manipulação do mito feito por Agualusa durante todo o romance, está presente já na capa do livro. Tanto na edição portuguesa Ŕ fotografia de uma imagem de Iara em local de devoção, quanto na brasileira Ŕ fotografia “A Sereia e o Cinema”, still do vídeo Psinoe, de Adriana Varejão. Seja como for, a sereia amazônica Iara imprime sua mitopoética no imaginário da língua portuguesa-brasileira e se espalha pelas artes. De José de Alencar (O tronco do ipê) ao grupo Axial (“Beijo da Iara”, de Kiko Dicucci), passando por Olavo Bilac (“Iara”), que descreve a sereia indígena: OLIVEIRA, Leonardo Davino de. Canção popular: notas sobre a revocalização do logos. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 13-28, jan./jun. 2014. Vive dentro de mim, como num rio, Uma linda mulher, esquiva e rara, Num borbulhar de argênteos flocos, Iara De cabeleira de ouro e corpo frio. Entre as ninfeias a namoro e espio: E ela, do espelho móbil da onda clara, Com os verdes olhos úmidos me encara, E oferece-me o seio alvo e macio. Precipito-me, no ímpeto de esposo, Na desesperação da glória suma, Para a estreitar, louco de orgulho e gozo... Mas nos meus braços a ilusão se esfuma: E a mãe-d'água, exalando um ai piedoso, Desfaz-se em mortas pérolas de espuma. A título de mais um exemplo, na canção “Kirimurê”, de Jota Velloso, ela é a sereia que canta a afirmação da existência de um povo que foi dizimado Ŕ “Onde era mata hoje é Bonfim / De onde meu povo espreitava baleias / É farol que desnorteia a mim” Ŕ e da certeza da permanência do desejo de ser os donos daqui: “Se me der a folha certa / E eu cantar como aprendi / Vou livrar a Terra inteira / De tudo que é ruim”. Sabe-se que a região que hoje conhecemos como Baía de todos os santos era chamada pelos tupinambás de Kirimurê. Na voz de uma Maria Bethânia (2006) mimetizada em Iara, a canção ganha sentidos amplos: “Espelho virado ao céu / Espelho do mar de mim / Iara índia de mel / Dos rios que correm aqui / Rendeira da beira da terra / Com a espuma da esperança (...) Na fome da minha gente / E nos traços que eu guardo em mim / Minha voz é flecha ardente / Nos catimbós que vivem aqui”. Página 22 Assemelha-se a essa “Iara índia de mel”, a cantada pelo grupo Axial em “Beijo de Iara”. Ambas são concentração de doçura e resistência, “espelho virado ao céu” a refletir no ouvinte que a escuta a beleza de seu canto beira-rio. Diz o sujeito da canção: “Ouvi no beira-rio / um canto ecoar / é a mãe d‟água / pra me encantar”. Senhora das águas ou Mãe-d‟água, a mitopoética de Iara é contada vocalmente e passa gerações. O sujeito da canção recolhe e condensa algumas narrativas sobre a sereia. Nos versos “Rema rema remador / Iara quer te namorar / quem provar dos beijos seus / com a morte vai se casar”, temos tanto a retomada da cantiga folclórica “Rema rema remador, que este barco é do Senhor”, quanto da marchinha “Marcha do remador”: “Rema, rema, rema, remador / Quero ver depressa o meu amor / Se eu chegar depois do sol raiar / Ela bota outro em meu lugar”. No encontro dos fragmentos das canções permanece o mote de não sucumbir ao canto mortal. Mas está no modo de apresentação da canção por Sandra Ximenez (vocais e piano elétrico), Felipe Julián (loops, ruídos e teclados) e Leonardo Muniz Corrêa (clarinete) o engenho do encanto. O clima sonoro criado pelo grupo presentifica a mítica sereia. O palimpsesto cultural brasileiro, onde Iara se forja, é apontado na palheta de sons do OLIVEIRA, Leonardo Davino de. Canção popular: notas sobre a revocalização do logos. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 13-28, jan./jun. 2014. grupo Axial. E assim o feitiço se realiza: “Espelho virado ao céu / Espelho do mar de mim / Iara índia de mel / Dos rios que correm aqui”, como canta Bethânia. Ou: “Sinhá sereia chegou / beldade maior / nunca se viu // Deixa eu banhar você / lavar teus cabelos / nas águas do rio”. O grupo Axial e Maria Bethânia mostram que a potência da palavra está em sua vocalização. É assim também que age o narrador de Agualusa: logos vocalizado, quente e úmido na voz de alguém cantando. “O corpo aí se recolhe. É uma voz que ele escuta e ele reencontra uma sensibilidade que dois ou três séculos de escrita tinham anestesiado, sem destruir”, como observaria Paul Zumthor (2007, p. 60). Surge o beijo. Da Iara. Beijo da Iara (Kiko Dicucci) Ouvi no beira-rio um canto ecoar é a mãe d'água pra me encantar Rema rema remador Iara quer te namorar quem provar dos beijos seus com a morte vai se casar Sinhá sereia chegou beldade maior nunca se viu Deixa eu banhar você lavar teus cabelos nas águas do rio Página 23 *** Em A pele que habito, filme de Pedro Almodóvar, a jovem Norma (Ana Mena), brincando distraidamente no jardim, cantando os versos de “Pelo amor de amar”, de José Toledo e Jean Manzon, desperta a mãe marcada por um incêndio que lhe desfigurou o corpo. Em uma torção mítica feliz, a filha é a sereia da mãe. A voz de Norma Ŕ suas inflexões infantis, seu esforço para cantar em português uma canção de ninar desnaturada Ŕ dá o sopro de vida que Gal (a mãe) necessita. “O coração do mundo canta no meu coração / Meus pés seguem sozinhos a dançar / Eu não conheço em mim a grande dor da solidão / Se em tudo eu encontro o dom de amar”, canta. E ao mesmo tempo, é essa a voz que também direciona a personagem à luz, a ver-se refletida em sua aparência aterradora, ao fim trágico e irrefutável. Desse modo, a voz do coração da criança é o veneno-remédio de Gal. “Só a morte apazigua esse nada-mais-tem-sentido que a decrepitude nos sussurra a todo instante. Canto de sereia às avessas convencendo OLIVEIRA, Leonardo Davino de. Canção popular: notas sobre a revocalização do logos. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 13-28, jan./jun. 2014. Ulisses de que o mar secou” (FERREIRA, 2010, p. 45-46), escreve o narrador do livro Minha mãe se matou sem dizer adeus, de Evandro Affonso Ferreira. As consequências do gesto de furtar da mãe o papel de sereia definirá a existência da filha. E a trama de Almodóvar. Mais tarde, a audição da mesma canção, agora em espanhol e na voz de Buika (uma cantora profissional), arrastará a filha ao destino. “Pelo amor de amar / Quero ser a luz que sorrir na flor / Pelo dom de amar / Quero ser a flor que se deu de amor”, encerra a canção gravada por Ellen de Lima em 1960 para o filme Os bandeirantes, de Marcel Camus. Concluímos que somos alguma coisa feita para ser cantada. E cantante. Sustentamo-nos na voz. Mas não é qualquer canção. E, principalmente, não é qualquer voz. A voz que (me) canta é a voz que governa (meus) mundos. Em geral, pela nossa trajetória histórica e genética, pensamo-nos (nós: latino-americanos) com o corpo todo (homo ludens pulsando), e a voz tem presença decisiva nesse processo, como uma resposta intuitiva ao raciocínio colonizador, posto que a voz convida ao movimento: à dança. “Nunca fomos catequizados, fizemos foi carnaval”, diria Oswald de Andrade. A palavra escrita nunca foi suficiente para nós, brasileiros, latino-americanos. O empenho da palavra falada sempre teve mais valor do que o da palavra escrita. Muito embora, em um gesto típico de cópia mal sucedida e subalterna, tenhamos burocratizado em excesso nossos pensamentos e palavras, atos e omissões. Mais do que quaisquer outros povos, estamos melhor preparados, porque fundamo-nos sobre os atos de criar e conectar-se, para viver o mundo contemporâneo. O jeitinho é nosso veneno-remédio, nossa sereia a nos arrastar à vida (empurrar para frente) e à morte. Página 24 Digo tudo isso para destacar a beleza da voz de Jussara Silveira cantando “A voz do coração”, de Celso Fonseca e Ronaldo Bastos, no disco Ame ou se mande (2011). Há nas inflexões vocais de Jussara Ŕ nas nuances sutis nas alturas melódicas Ŕ um descompromisso (natural e espontâneo) com aquilo que é dito. Voz que luta eroticamente com uma melodia em soluços, compassada. Já tendo sido gravada por Celso Fonseca, com Jussara Silveira “A voz do coração” ganha contornos sirênicos sedutores. Jussara e sua voz nos arrastam para um campo onde somos amor da cabeça aos pés: desperta em nós a nostalgia da pura interioridade. Semelhante à criança que desperta a mãe. “Quem poderá em vão calar / a voz do coração?”. A pergunta inicial do sujeito parece querer refletir a nossa dúvida humana. Entre a razão (o logos desvocalizado) e a emoção (a vocalização do saber) o coração canta como contrapartida estética ao abandono Ŕ “Se o amor quiser partir num dia de manhã sem avisar”. É esta voz que dita o rumo a ser seguido pelo sujeito cantor da canção. Fazer do limão uma limonada, da solidão um amor em paz, equilibrar dor e alegria no estético Ŕ na criação Ŕ são ensinamentos vindos do coração. A voz de alguém cantando anuncia que há um ser único e de carne e osso vibrando-lhe no ar. Ao contrário da outra “canção de fossa”, porque ao invés de pensar em causas e efeitos, criou, transcriou tudo em canto, o sujeito decreta: “Meu mundo não caiu preciso lhe falar / eu gosto de você demais // Preciso lhe dizer de todo o coração / a falta que você me faz”. Precisa e diz. OLIVEIRA, Leonardo Davino de. Canção popular: notas sobre a revocalização do logos. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 13-28, jan./jun. 2014. Sem o outro que lhe abandonou, o sujeito não cantaria. É nisso que ele foca, cantando para mandar a tristeza embora, ou melhor, para hibridizá-la à alegria e uni-las no canto necessário à vida, em um exercício de criatividade desprendido da carga pesada que é viver. Aqui, a voz poética (da memória, do coração, em certa medida) é o estabilizador Ŕ sem ela o ser humano não suportaria estar vivo. Dando vida a este sujeito cantante, Jussara Silveira, tal e qual a personagem Norma de Pedro Almodóvar, coloca-nos diante do espelho: é a sereia que promove o movimento, convida-nos à criação. E ao final, como diria o sujeito de “Ilusão à toa”, de Johnny Alf: “Meus olhos sentem / Minhas mãos transpiram / É um amor que eu guardo há muito / Dentro em mim / E é a voz do coração que canta assim / Assim”. E “quem poderá em vão calar seu coração?”. A voz do coração (Celso Fonseca / Ronaldo Bastos) Quem poderá em vão calar a voz do coração? Se o amor quiser partir num dia de manhã sem avisar A voz me dita o que fazer tingir de outra cor a cor da solidão Fazer dessa manhã amor em paz Meu mundo não caiu preciso lhe falar eu gosto de voce demais Preciso lhe dizer de todo o coração a falta que voce me faz Quem poderá em vão calar meu coração? Página 25 *** São vários e complexos os caminhos que levam à musicalização de um texto escrito. Sabemos que as palavras tem “musicalidade”, mas esta só é efetivada na voz, na vocalização da palavra. Sentimos esta musicalidade, já devidamente naturalizada dentro de nós, ao ler silenciosamente um texto porque estamos infectados pela memória sonora da palavra falada (cantada), pela sua materialidade vocal. Encontrar a gestualidade vocal exata, equilibrar texto e música na voz para “melhor dizer” uma mensagem é tarefa árdua e prazerosa enfrentada pelo cancionista. O certo é que se não há um “jeito único” de vocalizar um texto, cabe ao destinador esquentá-lo de modo a transmitir a mensagem da melhor forma possível à compreensão do destinatário. Do mesmo modo como fazemos ao falar. Ou seja, as “mesmas palavras” servem a intenções diversas e para diferenciar as intenções a voz entra em ação. Quando lemos um texto, entre outros artifícios, os sinais oferecidos pelo narrador são o que nos auxilia a distinguir as intenções. OLIVEIRA, Leonardo Davino de. Canção popular: notas sobre a revocalização do logos. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 13-28, jan./jun. 2014. Caetano Veloso, por exemplo, opta por uma cama sonora passional para musicar/vocalizar um trecho do livro Minha formação, de Joaquim Nabuco, incentivado pela constatação do narrador que diz: “A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil” (1999, p. 232). Ao falar sobre a permanência fantasmagórica da escravidão como algo introjetado ao jeito de ser do brasileiro, entre lembranças, saudades e afirmações, o cancionista recusa qualquer gesto que nublaria sua introspecção, sua reflexão interna sobre o caso. “É ela o suspiro indefinível que exalam ao luar as nossas noites do norte” (idem), Caetano Veloso finaliza vocalmente melancólico para plasmar a melancolia do sujeito da canção, do narrador de Nabuco. Dito isso, podemos começar a entrar no entendimento da proliferação de sons com a qual Iara Rennó presenteia o ouvinte do disco Macunaíma Ópera Tupi (2008). Tradução intersemiótica do livro Macunaíma – o herói sem nenhum caráter, o disco de Iara musica e vocaliza trechos levando o ouvinte a empreender uma viagem etnoantropo-semio-musicológica tal e qual a organizada pelo musicólogo Mário de Andrade na seminal Missão de Pesquisas Folclóricas. O disco é o resultado das anotações afetivas a partir da leitura de Iara sobre o livro. Notas sobre notas, somos convidados a navegar com Macunaíma pela diversidade do Brasil sonoro. Turistas aprendizes que somos. Justapondo música erudita e música folclórica, bem como funk, eletrônico, sem juízos de valor, mas pelo prazer do gesto brasileiro, o disco explicita o vigor plural e étnico do país. E o conjunto resulta em ritual sincrético: violino e tambor, eletrônico e cordel, psicodelia e cantigas folclóricas, o Tupi e o alaúde. Embolada, repente, rap. Difícil definir. Melhor sentir e reconhecer na (pro)fusão os rascunhos de Brasil. Ao extrair do livro reconhecidamente importante ao cânone literário brasileiro os trechos e versos que compõem as canções do disco, Iara promove, via instinto caraíba, a valorização da antropofagia como signo estético e artístico. Além de devolver às palavras a vocalização contida nelas antes de Mário de Andrade as fixar no papel. Iara revocaliza lendas, mitos e rituais indígenas, africanos e portugueses com a mesma perspicácia rapsódica engendrada pelo autor do livro. E, assim, a “ópera tupi”, a “odisseia” de Mário se (re)traduz em veículo da tradição vocal e popular. Como o autor anota ao final do livro: “Me acocorei em riba destas folhas, catei meus carrapatos, ponteei na violinha e em toque rasgado botei a boca no mundo cantando na fala impura as frases e os casos de Macunaíma, herói da nossa gente” (ANDRADE, 1988, p.129). Página 26 Traindo a tradição para manter a beleza da tradição, Iara copia, recorta, cola, mistura a “fala impura”. Vejamos o exemplo de “Bamba querê”. A canção incorpora a cadência das aliterações presentes no texto de tal modo que fica difícil para o ouvinte imaginar outra rítmica senão a criada e inventada por Iara. É na dança do orixá Iemanjá no terreiro que Iara se mira para construir a canção e plasmar a imagem do cavalo possuído diante do ouvinte. Iara Rennó antologiza, em tom mario-andradiano, exatamente os versos vocalizados para montar a canção “Bamba querê”. A querência de Iara desterritorializa, remelexe, bambeia extratos sonoros para (re)apresentá-los encapsulados em forma de uma canção una, núcleo duro do país de semiologia macunaímica. E, assim como Haroldo de Campos escreveu sobre o livro, “no coquetel, porém, havia método” (1973, p. 79), no canto de Iara Ŕ ou seria da Iara (sereia)? Ŕ há a aplicação do método daquilo OLIVEIRA, Leonardo Davino de. Canção popular: notas sobre a revocalização do logos. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 13-28, jan./jun. 2014. que podemos chamar, juntos com José Celso Martinez Corrêa, de “macumba antropofágica”. Desse modo, a “linhagem rabelaisiana” presente no livro é restaurada por Iara na canção, no disco: do cruzamento de várias sintaxes ao protagonismo da voz, passando pelo além do bem e do mal nietzschiano. Bamba querê (Mário de Andrade / Iara Rennó) Bamba querê Sai Aruê Mongi gongo Sai Orobô Êh! Ôh mungunzá Bom acaçá Vancê nhamanja De pai Guenguê Êh! Ôh Olorung Ô Boto Tucuchi Ô Iemanjá Anamburucu Ochum três Mães-d'água Vamo sarava Página 27 REFERÊNCIAS AGUALUSA, José Eduardo. Milagrário pessoal. Rio de Janeiro: Língua Geral, 2010. ANDRADE, Mario de. Macunaíma o herói sem nenhum caráter. Belo Horizonte: Itatiaia, 1988, p.129. BETHÂNIA, Maria. Mar de Sophia. (CD). Brasil: Biscoito Fino, 2006. CAMPOS, Haroldo. Morfologia do Macunaíma. São Paulo: Perspectiva, 1973, p. 79. CAVARERO: Adriana. Vozes plurais: filosofia da expressão vocal. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2011. CÉU. Caravana sereia Bloom. (CD). Brasil: Universal, 2012. FERREIRA, Evandro Affonso. Minha mãe se matou sem dizer adeus. Rio de Janeiro: Record, 2010, p. 45-46. LAO, Meri. Las Sirenas. México: Ediciones Era,1995. LENINE. Chão. (CD). Brasil: Universal, 2011. MART‟NÁLIA. Pé do meu samba. (CD). Brasil: Universal, 2002. NABUCO, Joaquim. Minha formação. Rio de Janeiro: Topbooks, 1999, p. 232. PARTIMPIM, Adriana. Adriana Partimpim. (CD). Brasil: BMG, 2004. PINTO, Sérgio de Castro. Zoo imaginário. São Paulo: Escrituras Editora, 2005, p. 20. Projeto Axial. Simbiose. (CD). Brasil: 2011. OLIVEIRA, Leonardo Davino de. Canção popular: notas sobre a revocalização do logos. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 13-28, jan./jun. 2014. RENNÓ, Iara. Macunaíma ópera tupi. (CD). Brasil: SENAC, 2008. SILVEIRA, Jussara. Ame ou se mande. (CD). Brasil: Joia moderna, 2011. SIMONE. Simone ao vivo. (CD). Brasil: EMI, 2005. TOMÁS, Lia. Ouvir o lógos: música e filosofia. São Paulo: Editora UNESP, 2002. ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. São Paulo: Cosac Naify, 2007, p. 60. Recebido em 09/01/2014. Aprovado em 15/06/2014 Página 28 Title: Popular song: notes on the revocalization of the logos Author: Leonardo Davino de Oliveira Abstract: This paper aims to discuss the process of quieting the poetic logos over time, from the analysis of some popular songs. Supported the observations taken public by Adriana Cavarero in the book Vozes plurais: filosofia da expressão vocal (2011), we investigated the presence of “vowel animals”, taking as an example the well-known fable of the ant and the grasshopper of La Fontaine, we passed the evaluation of lyrical as “voice of the heart” and hearing the sirens “singing women” as signs of the ontology of poetry and popular song, to the vocal polyphony of the mythopoetic of Macunaíma, as a representative of an essay on Brazil. Keywords: Logos. Voice. Poetry. Song. OLIVEIRA, Leonardo Davino de. Canção popular: notas sobre a revocalização do logos. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 13-28, jan./jun. 2014. A ALEGORIA TROPICALISTA NA AVENIDA VAZIA DO HISTORICISMO: O TROPICALISMO E O ROCK NO BRASIL Tiago Hermano Breunig1 Jair Tadeu da Fonseca2 Resumo: A compreensão do Tropicalismo pelos intelectuais no Brasil o remete, desde a sua consolidação na cultura brasileira, a uma forma de representação associada com a alegoria, constitutiva do moderno e do nacional, que se relaciona, no entanto, ao tempo do evolucionismo vazio, do progresso linear da historiografia historicista. Assim, a alegoria se aproxima de uma atualização das representações do Brasil. Para tanto, como observa Carlos Basualdo, o rock se configura como um meio de atualizar a produção musical no Brasil pela incorporação de seus elementos. Mas se o Tropicalismo, conforme a natureza da alegoria, sintetiza dialeticamente as polaridades representadas, por um lado, pela MPB e, por outro, pelo rock, interessa como o rock, por sua vez, produz um contradiscurso da identidade nacional por meio de um procedimento que se nega a operar logicamente ou dialeticamente, o que constitui o objeto do presente artigo. Palavras-chave: Rock. Tropicalismo. Nacionalismo. A compreensão do Tropicalismo pelos intelectuais no Brasil o remete, desde a sua consolidação na cultura brasileira, a uma forma de representação associada com a alegoria. Segundo Christopher Dunn (2007, p. 66), “Roberto Schwarz foi o primeiro a comentar como a alegoria moderna”, tal como conceitualizada por Walter Benjamin, ou seja, como “um modo de representação” que “resiste a categorias totalizadoras transcendentes”, era desenvolvida no Tropicalismo. Com efeito, a partir da concepção benjaminiana de alegoria, Schwarz (1978, p. 74) compreende o Tropicalismo como uma “submissão de anacronismos” ao moderno, cujo resultado consiste em uma “alegoria do Brasil”. Com a “alegoria tropicalista”, em que se combinam indistintamente o passado e o presente, o arcaico e o moderno, os tropicalistas, segundo Schwarz (1978, p. 78), “alegorizam a „ideia‟ intemporal de Brasil”. Dunn (2007, p. 66-69) conclui que o Tropicalismo, conforme o concebe Schwarz, “representava o Brasil como um absurdo”, ao apresentar as suas contradições “como emblemas de identidade nacional”. Página 29 O que se pode imediatamente reter da concepção da alegoria tropicalista condiz com o fato de constituir uma representação moderna, por um lado, e nacional, por outro. Assim, a alegoria tropicalista representa algo como uma atualização das representações do Brasil. Tanto que Carlos Basualdo (2007, p. 13-15) afirma que o Tropicalismo 1 Doutorando em Literatura Ŕ UFSC. Bolsista do CNPq. Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4744709D6 2 Doutor em Estudos Literários Ŕ UFMG. Professor Adjunto Ŕ UFSC. Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790533Y9 BREUNIG, Tiago Hermano; FONSECA, Jair Tadeu da. A alegoria tropicalista na avenida vazia do historicismo: o tropicalismo e o rock no Brasil. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 29-45, jan./jun. 2014. pretende “pensar a identidade nacional brasileira como um processo aberto, em desenvolvimento permanente” e, para tanto, o rock se configura estrategicamente “como meio de atualizar e potencializar a produção musical no Brasil” pela incorporação de seus elementos no contexto da tradição musical brasileira. Embora a incorporação de elementos do rock deva ser compreendida como o processo mesmo, em detrimento do seu resultado, como observa Carlos Basualdo (2007, p. 15), o Tropicalismo contraditoriamente preserva algo das noções de forma e de formação, com suas normas e valores comuns, na medida em que pretende “fundar”, ao seu modo, “a identidade nacional”. A “retomada da „linha evolutiva‟”, proposta por Caetano Veloso e desenvolvida criticamente por Augusto de Campos, no processo de institucionalização da MPB o comprova definitivamente. Acontece que, paradoxalmente, a alegoria tropicalista se associa, assim, ao tempo iluminista do progresso linear, o tempo do evolucionismo vazio. Benjamin (1994, p. 229) compreende o progresso, como o concebe a historiografia historicista, como uma “marcha no interior de um tempo vazio”. Ao acompanhar a referida marcha, o Tropicalismo se reduz a uma alegoria... de carnaval, de modo que, na marcha pelas avenidas do Brasil, o bloco tropicalista da historiografia historicista se confunde com o cortejo triunfal, cujos despojos constituem “o que chamamos bens culturais”. (BENJAMIN, 1994, p. 225) Afinal, “não existem”, como questiona Benjamin (1994, p. 223), “nas vozes que escutamos, ecos de vozes que emudeceram?” O TROPICALISMO E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA MPB As propostas musicais marioandradinas visavam, desde fins dos anos 1920, a uma “continuidade nacional”, no interior da qual as manifestações musicais populares exerceriam “uma função verdadeiramente nacional e social” (COLI, 1998, p. 24), conforme estabelece sua proposta de nacionalização musical, que adquire um contorno partircular a partir dos tempos ditatoriais do Estado Novo. Apesar de se direcionar ao campo musical erudito, a proposta marioandradina parece germinar no campo musical popular e reflorescer nos anos 1960 e 1970, sobretudo depois dos acontecimentos de 1964 e 1968. Página 30 Ao propugnar a concepção de “normas caracteristicamente brasileiras” (ANDRADE, 1976, p. 80), que confeririam a “entidade” manifesta pela incorporação de caracteres musicais convencionalmente nacionais, a tradição que se estabelece a partir do pensamento musical marioandradino fundamenta os paradigmas por meio dos quais se pode reconhecer uma “„especificidade musical‟ brasileira” (SANDRONI, 2001, p. 20), traduzida por determinadas figuras que conteriam um significado nacional, como a sincopação considerada caracteristicamente ou legitimamente nacional: BREUNIG, Tiago Hermano; FONSECA, Jair Tadeu da. A alegoria tropicalista na avenida vazia do historicismo: o tropicalismo e o rock no Brasil. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 29-45, jan./jun. 2014. Se as noções de forma e, sobretudo, de formação previstas pela proposta de nacionalização musical implicam a formação e a fixação dos caracteres musicais constitutivos da “entidade” musical brasileira que informariam a MPB, por conseguinte, implicam o conceito marioandradino de “deformação”. Os processos de “deformação” pelos quais elementos musicais estrangeiros passam no Brasil consistem em uma “deformação que transforma fontes exclusivamente estrangeiras numa organização que sem ser propriamente original” se torna, segundo Andrade (1976, p. 93), “caracteristicamente nacional”. Em detrimento da forma e da formação previstas e precedidas pelo processo de deformação a partir da formação e da fixação dos caracteres musicais constitutivos de uma musicalidade brasileira elaborada discursivamente a partir do pensamento marioandradino, o rock no Brasil dos anos 1970 recorre, ironicamente, a processos de deformação. A deformação dos paradigmas que informam a MPB pelo rock no Brasil funda um discurso que problematiza a naturalidade dos ritmos brasileiros por meio de uma contradição que desnaturaliza conceitos de valor evidentes. Página 31 Como modelo de um procedimento que opera sobre os elementos musicais e textuais das canções, a apropriação pelo rock brasileiro de versos de “Aquarela do Brasil” sob uma nova melodia e harmonia exemplifica o processo de deformação, previsto nas pesquisas marioandradinas, como emprego de textos tradicionais subordinados a melodias novas: BREUNIG, Tiago Hermano; FONSECA, Jair Tadeu da. A alegoria tropicalista na avenida vazia do historicismo: o tropicalismo e o rock no Brasil. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 29-45, jan./jun. 2014. Página 32 Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei congo no congado E toda a canção do meu amor Deixa cantar de novo o trovador À merencória luz da lua Toda a canção do meu amor Brasil! Pra mim... BREUNIG, Tiago Hermano; FONSECA, Jair Tadeu da. A alegoria tropicalista na avenida vazia do historicismo: o tropicalismo e o rock no Brasil. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 29-45, jan./jun. 2014. A apropriação de versos de Aquarela do Brasil interessa na medida em que a canção, considerada a origem do samba exaltação, caracterizado pelo ufanismo do Estado Novo, representa o paradigma do segmento nacionalista que culmina com a “consolidação do samba como padrão de música brasileira” (NAPOLITANO; WASSERMAN, 2000, p. 172), na contramão da proposta de nacionalização musical marioandradina. Ao processo de apropriação dos versos tradicionais sob uma nova melodia descrito acima antecede imediatamente uma progressão equivalente ao acompanhamento dos versos apropriados da canção original, de modo que o compasso dois por quatro Ŕ Ŕ do samba, reproduzido a partir da canção tradicional, cede ao compasso quatro por quatro Ŕ ou Ŕ do rock: Os versos propostos a cantar o Brasil brasileiro do samba que circulou sob estilo definido como “cena brasileira” nos anos do Estado Novo se ressignificam na medida em que se recortam e se deslocam no respectivo processo. O referido rock brasileiro assume a tarefa a que se atribui o sujeito da canção de cantar o Brasil nos seus versos, de modo que interessam os sentidos produzidos pelos versos deslocados para o contexto em que emerge um outro sentido para o verso “Brasil! Pra mim...”, tanto quanto os sentidos produzidos pelos versos emudecidos: Posteriormente, a mesma banda que se apropria dos versos de “Aquarela do Brasil”, subvertendo os sentidos do samba de Ary Barroso, cantaria em “Uma banda made in Brazil”: Página 33 É o Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil! Brasil! Pra mim... Pra mim... BREUNIG, Tiago Hermano; FONSECA, Jair Tadeu da. A alegoria tropicalista na avenida vazia do historicismo: o tropicalismo e o rock no Brasil. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 29-45, jan./jun. 2014. Quem não me entende Diz que a terra é do samba E aqui não tem lugar para a gente...3 Assim, se no Brasil se forma um sistema cultural diferenciado para o sistema musical em torno da MPB e se, como afirma Marcos Napolitano (2001), a configuração do conceito de MPB ocorre a partir do Golpe de 1964 e se consolida em 1968, depois do Tropicalismo, o conceito se estabelece como uma instituição cultural capaz de atribuir uma identidade nacional e popular, bem como legitimar a hierarquia cultural. O processo instituinte ocorre concomitantemente ao debate em torno do engajamento musical como redimensionamento com a tradição com fins de popularização e afirmação nacional em contraposição ao rock, compreendido como o outro contra o qual se afirma a identidade nacional e como a contraface do golpe de 64, ao passo que a MPB permaneceria associada aos discursos de autenticidade, origem, etc. Em outras palavras, enquanto o duvidoso conceito de MPB mantinha uma “certa função de „defesa-nacional‟” (SANDRONI, 2004, p. 29), ironicamente consoante ao projeto cultural do Estado, o rock no Brasil dos anos 1970 produz sentidos a partir da incorporação de caracteres preestabelecidos nos discursos acerca do que se compreende como nacional. Nesse sentido, ao confrontar os aspectos constitutivos da cultura brasileira e da identidade nacional presentificados na MPB, o rock, no Brasil, suspende a dicotomia entre o nacional e o estrangeiro ou a MPB e o rock, conservando, no entanto, os opostos da polaridade que sustenta o discurso musical nacionalista. O PROCEDIMENTO DO ROCK NO BRASIL Antes de o Tropicalismo promover o “deslocamento dos instrumentos” da Jovem Guarda para a MPB, como constata Augusto de Campos (2008, p. 154), o rock desloca instrumentos e sonoridades de manifestações musicais regionais e populares do Brasil. Afinal, o advento do rock and roll remonta a meados dos anos 1950, com as interpretações e traduções brasileiras dos originais provenientes dos Estados Unidos, eventualmente adaptadas com instrumentos populares ou regionais, como o acordeom, a exemplo da versão instrumental de “Rock around the clock”, de Bill Haley and his Comets, composta pelo acordeonista Frontera em 1955, como que confirmando a contraditoriedade interna que, conforme Richard Middleton (1990, p. 18), caracteriza o rock. Se o deslocamento constatado por Augusto de Campos “tem, em si mesmo, um significado”, certamente o tem os deslocamentos propostos pelo rock no Brasil. Apenas Página 34 3 A contracapa do disco, que empresta o nome de uma obra fundamental do modernismo brasileiro publicada no mesmo ano da Semana de Arte Moderna, qual seja, “Paulicéia desvairada”, referencia a pluritonalidade da obra marioandradiana em detrimento do passadismo nacionalista, ao citar os versos de um poema de “Losango Caqui”, de 1924: “O passadista se enganou. Não era desafinação, era pluritonalidade moderníssima.” Na mesma contracapa, a banda, ao dedicar o disco a Elvis Presley e a Erasmo Carlos, estabelece uma ponte entre o rock and roll, a jovem guarda e o rock produzido no Brasil dos anos 1970: “O Made dedica Paulicéia desvairada a Erasmo Carlos e a Elvis Presley”. BREUNIG, Tiago Hermano; FONSECA, Jair Tadeu da. A alegoria tropicalista na avenida vazia do historicismo: o tropicalismo e o rock no Brasil. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 29-45, jan./jun. 2014. em 1957, ano de que datam as primeiras composições brasileiras em ritmo de rock, a guitarra seria utilizada em um rock composto por Betinho e seu Conjunto. A consolidação do rock and roll no mercado musical brasileiro provoca o aparecimento de compositores e versionistas de sucessos do ritmo para a interpretação de cantores brasileiros, bem como de bandas instrumentais influenciadas pelos ritmos da surf music, do twist e do hully-gully. O oposicionismo moral e politicamente orientado que o rock confronta desde o seu advento no Brasil se potencializa com o sucesso da Jovem Guarda em um dilema nacionalista compartilhado pela ideologia do Estado e da oposição ao Estado desde o Golpe de 1964, quando se radicaliza a polarização que dividiu a sociedade brasileira, de modo reducionista, entre o “nacionalpopulismo” e o “nacional-desenvolvimentismo”, ambos nacionalistas, portanto, confirmando o aspecto invariavelmente nacionalista que caracteriza a cultura no Brasil nos anos 1960. O referido quadro se agrava com o decreto do AI-5 em dezembro de 1968. Página 35 Na medida em que dialoga com os aspectos constitutivos da cultura brasileira e da identidade nacional, presentificados na MPB, por meio da relativização da dicotomia instaurada no discurso nacionalista musical, o rock no Brasil dos anos 1970 permite entrever as suas contradições. Assim, Raul Seixas, por exemplo, suspende a referida dicotomia ao comparar os ritmos do rock and roll e do baião, respectivamente intercalados nas estrofes da canção: BREUNIG, Tiago Hermano; FONSECA, Jair Tadeu da. A alegoria tropicalista na avenida vazia do historicismo: o tropicalismo e o rock no Brasil. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 29-45, jan./jun. 2014. Let me sing, Let me sing Let me sing my rock and roll Let me sing, Let me swing Let me sing my blues and go Tenho quarenta e oito quilos certos Quarenta e oito quilos de baião Não vou cantar como a cigarra canta Mas desse meu canto eu não abro mão Ao ceder ao dois por quatro do baião, “Let me sing, let me sing” apresenta um significativo rompimento do compasso quatro por quatro do rock, que subverte o ritmo e produz sentido ao compreender a metade do compasso quatro por quatro no interior de um compasso dois por quatro, como graficamente representado pela partitura: Página 36 em que se manifesta, portanto, o paradigma que se caracteriza fundamentalmente pela recorrente contrametricidade na quarta semicolcheia do compasso dois por quatro, que antecede e fundamenta a construção dos discursos acerca da musicalidade popular brasileira, sobretudo a partir da autoridade musical marioandradina, que a denomina “síncope legítima” ou “característica” e a julga portadora de uma “especificidade musical” brasileira. Afinal, o referido paradigma estrutura o ritmo do baião: BREUNIG, Tiago Hermano; FONSECA, Jair Tadeu da. A alegoria tropicalista na avenida vazia do historicismo: o tropicalismo e o rock no Brasil. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 29-45, jan./jun. 2014. A singularidade de Raul Seixas enquanto representação do rock brasileiro para a historiografia da MPB, no mesmo momento em que o rock emudece diante da demanda por um discurso de identidade nacional, se deve a uma relação com a “musicalidade tradicional da MPB”, em cuja historiografia aparece como precursor do “rock brasileiro” (ALBIN, 2003, p. 352),4 mesmo a despeito de abdicar da tradição da MPB. Raul Seixas recusa a tradição da MPB e a sua continuidade representada pelo Tropicalismo ao negar a “retomada da „linha evolutiva‟”, proposta por Caetano Veloso no debate promovido e publicado pela Revista Civilização Brasileira, cujo objetivo era entender e equacionar os novos desafios compreendidos em termos de engajado ou alienado dispostos com a crise promovida pelo sucesso comercial da Jovem Guarda: Acredite que eu não tenho nada a ver Com a linha evolutiva da música popular brasileira A única linha que eu conheço É a linha de empinar uma bandeira O referido debate foi publicado em maio de 1966, mesmo ano, portanto, do disco “Jovem Guarda”, da dupla Roberto e Erasmo Carlos. No debate, Caetano Veloso defende a continuidade de uma tradição musical brasileira nos termos de uma “retomada da linha evolutiva” que poderia oferecer “uma organicidade para selecionar e ter um julgamento de criação” (VELOSO apud BARBOSA, 1966, p. 378). A partir das palavras de Caetano Veloso, Augusto de Campos (2008, p. 144) transforma a “linha evolutiva” em palavra de ordem em seus artigos, interpretando a mesma sob o signo da antropofagia de Oswald de Andrade e, musicalmente, como a “abertura experimental em busca de novos sons e novas letras.” Ao estabelecer uma ponte discursiva entre a defesa da “linha evolutiva” de Caetano Veloso e o Tropicalismo, Augusto de Campos (2008, p. 145) postula a inutilidade do nacionalismo diante da “intercomunicabilidade universal”, a partir da qual Caetano acabaria “com a „discriminação‟ musical entre MPB e jovem guarda.” A necessidade de negar uma continuidade com o Tropicalismo se apresenta como uma necessidade de afirmar o rock como um lugar discursivo e, por conseguinte, social. A negação da tradição da MPB pelo rock no Brasil, contrariamente ao Tropicalismo que, segundo Marcos Napolitano (2001, p. 240), “encerrou uma fase de institucionalização da MPB, através de uma estratégia paradoxal: negando-a (em seu sentido restrito), contribuiu para ampliar e consolidar novo estatuto assumido pela sigla, dentro da hierarquia cultural como um todo”, instaura um lugar para o rock que, se se associa a uma narrativa e a uma tradição, condiz com a tradição e a narrativa do rock and roll. Página 37 O procedimento que relativiza o rock aos ritmos regionais e populares brasileiros se apresenta como intervenção no debate sobre a MPB, discutido em termos de 4 Com uma preocupação evidentemente historicista, Ricardo Cravo Albin (2003, p. 287) incluiu Raul Seixas em sua historiografia da MPB como o “primeiro artista a misturar sistematicamente o rock com ritmos brasileiros, principalmente o baião”. BREUNIG, Tiago Hermano; FONSECA, Jair Tadeu da. A alegoria tropicalista na avenida vazia do historicismo: o tropicalismo e o rock no Brasil. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 29-45, jan./jun. 2014. nacionalidade no quadro da polarização social no limite da politização cultural sofrida na sociedade brasileira. Nesse sentido, o sujeito da canção, ao mesmo tempo em que problematiza a naturalidade dos ritmos brasileiros pela contradição que desnaturaliza conceitos de valor evidentes, contraditoriamente naturaliza a relação do corpo com o ritmo, seja do rock, seja da MPB. Assim, enquanto o sujeito da canção em Raul Seixas estabelece uma relação do seu corpo com o ritmo do baião, ao equiparar a sua massa corporal, correspondente a exatos quarenta e oito quilos, a uma mesma medida do respectivo ritmo, o sujeito da canção da banda Perfume Azul do Sol associa recorrentemente o mesmo ritmo a um aspecto da fisiologia que se apresenta como fundamental para a manutenção da vida do sujeito. O sentido do verso “o baião é minha respiração” se completa nos versos de outra canção, em que o baião e o forró constituem o sangue do sujeito da canção, cujos versos “carrego triângulo e zabumba e levo no sangue o baião”, de “O abraço do baião”, se somam aos transcritos abaixo: Página 38 Eu quero abraçar este mundo Mas quero com um braço só Pra no outro levar a viola E no sangue levar o forró A afirmação em torno dos ritmos constitutivos da MPB, no entanto, contrasta com um fundo falso, qual seja, o rock. Assim, a despeito da forma musical que se depreende da melodia, formada precisamente por uma figura representativa da “entidade” do cancioneiro popular brasileiro expresso por caracteres musicais convencionalmente nacionais, a referida afirmação se apresenta como uma contradição. A despeito de um processo de construção, por vias da naturalização, de uma tipologia musical brasileira representativa de uma entidade dotada de “fisiopsicologia” apropriada, para a qual BREUNIG, Tiago Hermano; FONSECA, Jair Tadeu da. A alegoria tropicalista na avenida vazia do historicismo: o tropicalismo e o rock no Brasil. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 29-45, jan./jun. 2014. concorre o ritmo, como quer o pensamento marioandradino, o rock no Brasil produz um discurso que o associa a um sentido supostamente natural, proveniente da fisiologia e da biologia. Ao se associar ao corpo e contrariar a naturalidade nacional, o rock transcende a nacionalidade e, por conseguinte, o preceito nacional da MPB, que afinal se revela como uma construção discursiva. Enquanto as convenções musicais que informam os paradigmas da MPB adquirem significados ao se associarem a uma concepção do “tipicamente brasileiro”, o rock, ao incorporar as respectivas convenções musicais, como no recorrente emprego do paradigma que se caracteriza pela contrametricidade na quarta semicolcheia do compasso dois por quatro, problematiza os seus significados, sobretudo os relacionados com o problema da nacionalidade. Em uma canção datada de 1971, o problema da nacionalidade aparece associado ao emprego de uma forma musical que, embora transcrita no compasso quatro por quatro, representa a mesma figura formada por “colcheia entre duas semicolcheias”, concebida como signo de brasilidade: Página 39 A respectiva forma musical representa o ritmo do cateretê, empregado em “Hoje ainda é dia de rock”: Eu tô doidin por uma viola Mãe e pai de doze cordas e quatro cristais Pra eu poder tocar lá na cidade Mãe e pai esse meu blues de Minas Gerais BREUNIG, Tiago Hermano; FONSECA, Jair Tadeu da. A alegoria tropicalista na avenida vazia do historicismo: o tropicalismo e o rock no Brasil. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 29-45, jan./jun. 2014. E o meu cateretê lá do Alabama Mesmo que eu toque uma vezinha só Eu descobri acho que foi a tempo Mãe e pai que hoje ainda é dia de rock Ao se apropriar de um ritmo considerado nacional a partir de premissas musicais associadas ao ritmo do rock, a canção opera uma deformação que a letra, por meio de uma variedade da linguagem empregada no interior do estado de Minas Gerais, explicita nos versos em que equipara o “meu blues de Minas Gerais” ao “meu cateretê lá do Alabama”, subvertendo as origens dos ritmos dos seus respectivos estados. Na medida em que os contrastes constituem temas recorrentes para o sujeito da canção interpelado por polaridades contrastantes, o sujeito, cuja descoberta de que “hoje ainda é dia de rock” ocorre “olhando o milho verde” e “ouvindo a mula preta”, aparece (des)situado entre as polaridades contrastantes. Outra canção, denominada “Corta Jaca”, cuja letra questiona a unidade do ritmo Ŕ “„tão pensando que isso é rock and roll?” Ŕ submete ritmicamente o acento do compasso quatro por quatro do ritmo do rock and roll ao acento do compasso dois por quatro do ritmo do xote: Página 40 A letra problematiza os contrastes que fundamentam os discursos folcloristas, como o rural e o urbano, o passado e o presente, conjeturando que “Cortar jaca na cidade não é mole não”: BREUNIG, Tiago Hermano; FONSECA, Jair Tadeu da. A alegoria tropicalista na avenida vazia do historicismo: o tropicalismo e o rock no Brasil. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 29-45, jan./jun. 2014. Aonde foi parar minha boiada Meu sertão meu preto velho me oriente por favor Eu gosto de ver você bonita Mas no meio da fumaça o meu cigarro já apagou Falar que tão chegando até na lua... Ao submeter o acento do compasso quatro por quatro do ritmo do rock and roll ao acento do compasso dois por quatro do ritmo do xote, a canção produz um shuffle com o acento do ritmo do xote. O shuffle caracteriza o ritmo tercinado do blues e do rhythm and blues, dos quais se origina o rock and roll, que abandona o tercinado pela dinamização do ritmo. Ao deformar ambos os ritmos, portanto, “Corta Jaca” apresenta um shuffle caracterizado por uma sonoridade que se poderia denominar, apenas contraditoriamente, “tipicamente brasileira” ou “caracteristicamente nacional”, uma vez que neutraliza a identidade, sobretudo quanto a aspectos de nacionalidade: Página 41 O shuffle acima difere, portanto, do shuffle tradicional do rock and roll, caracterizado pela cometricidade do modelo tercinado que constitui o ritmo do blues e do rhythm and blues, exatamente como aparece na seguinte canção dos Mutantes: BREUNIG, Tiago Hermano; FONSECA, Jair Tadeu da. A alegoria tropicalista na avenida vazia do historicismo: o tropicalismo e o rock no Brasil. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 29-45, jan./jun. 2014. Muito tempo eu andei contra o vento Mas agora é hora de mudar Pois o contrário de nada é nada E assim não se sai do lugar E se você quiser saber onde eu fico é só me escutar Rock‟n‟roll yeah! Rock‟n‟roll yeah! Rock‟n‟roll yeah! Rock‟n‟roll yeah! Página 42 Aqui interessa reter dos versos, que neutralizam as polaridades opostas de uma oposição, o gesto que, talvez aludindo aos versos de Caetano Veloso Ŕ “Caminhando contra o vento...” Ŕ e consoante ao ritmo que o sustenta, pretende, ao refutar a “linha evolutiva” da MPB representada pelo Tropicalismo, fundar um lugar enunciativo ao rock and roll no Brasil, como confirma o refrão: BREUNIG, Tiago Hermano; FONSECA, Jair Tadeu da. A alegoria tropicalista na avenida vazia do historicismo: o tropicalismo e o rock no Brasil. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 29-45, jan./jun. 2014. Com efeito, o referido gesto prolifera entre as bandas de rock no Brasil dos anos 1970, a exemplo dos versos de uma canção registrada no primeiro disco da Patrulha do Espaço depois de Arnaldo Baptista, datado de 1978: Eu vou pra qualquer lugar Aonde eu possa tocar E não quero pensar muito pra onde eu vou Mas onde estiver eu sou mais rock and roll Os versos dos Mutantes, no entanto, compreendem a possibilidade de uma interpretação particular, qual seja, a de uma mudança do Tropicalismo para o rock and roll, fundamentada no verbo „mudar‟: “Muito tempo eu andei contra o vento, mas agora é hora de mudar...”, tal como reaparece nos versos de uma canção do disco seguinte, gravado ao vivo em 1976: Viajando para rock and roll city Sinto muito mas não vou escutar Estou voando para rock and roll city Não espere que eu não vou mais voltar Estou mudando para rock and roll city E não há nada que me faça parar Afinal, se no final dos anos 1960 os Mutantes integram o Tropicalismo, a partir dos anos 1970, abdicam do movimento de continuidade da tradição da MPB e afirmam uma identidade propriamente roqueira, como exprime o sujeito da canção, de modo que o abandono dos ritmos brasileiros, conforme Carlos Calado (1995, p. 300) reduz a banda a “uma sombra de si mesma”. No processo de polarização, enfim, que, concomitantemente ao processo de nacionalização do samba nos anos 1930, considerado ritmo nacional mantenedor da identidade nacional, dividiu a sociedade brasileira, o Tropicalismo, conforme a natureza da alegoria,5 sintetiza dialeticamente as polaridades, culturalmente representadas nos anos 1960, por um lado, pela MPB e, por outro, pelo rock. Se, como sugere Middleton (1990, p. 18), o rock and roll se caracteriza por uma contraditoriedade interna e por se inserir entre as polaridades no interior da contradição de modo a organizar o problema de maneira particular, a MPB, por outro lado, pelo sentido de nacionalidade que adquire, constitui uma polaridade da contradição. A MPB articula a oposição de uma cultura nacional a uma cultura estrangeira ao delimitar uma Página 43 5 Ao diferenciar o símbolo e a alegoria, Walter Benjamin (1984, p. 187) afirma que “a alegoria não está livre de uma dialética correspondente”, de modo que o estudo da forma do drama barroco alemão revela “a violência desse movimento dialético”: “O amplo horizonte que Görres e Creuzer atribuem à intenção alegórica, enquanto história natural, pré-história da significação ou da intenção, é de natureza dialética. A relação entre o símbolo e a alegoria pode ser compreendida, de forma persuasiva e esquemática, à luz da decisiva categoria do tempo, que esses pensadores da época romântica tiveram o mérito de introduzir na esfera da semiótica”. BREUNIG, Tiago Hermano; FONSECA, Jair Tadeu da. A alegoria tropicalista na avenida vazia do historicismo: o tropicalismo e o rock no Brasil. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 29-45, jan./jun. 2014. autenticidade que supostamente se realiza nas manifestações populares e regionais que reafirmariam a identidade nacional, contribuindo para o estabelecimento de um paradigma firmado na nacionalidade. E o Tropicalismo, ao sintetizar dialeticamente as oposições, confirma o referido paradigma preservado pela MPB. Afinal, como afirma Napolitano (2001, p. 343), a pluralidade e as contradições, “como em todo processo de institucionalização de uma determinada expressão cultural”, “tendem a se perder”. A partir do processo de incorporação de caracteres preestabelecidos nos discursos acerca do que se compreende como nacional, o rock, ao problematizar as polaridades contrastantes representadas pelo rock e pela MPB, potencializa as polaridades, mas as equiparando e preservando o conflito. O rock no Brasil dos anos 1970 produz, assim, por meio de um procedimento que se nega a operar logicamente ou dialeticamente, um discurso sobre a identidade sob o signo de uma contradição permanentemente contradita. Para tanto, o rock apresenta recorrentemente o seu sujeito (des)situado entre as polaridades contrastantes, o eu e o outro, o urbano e o rural, o presente e o passado, o rock e a MPB, de modo que o sujeito afirma e nega a identidade a partir de um lugar no qual a polaridade aparece e desaparece. Ao problematizar a unidade convencionada a partir de uma identidade nacional e uma cultura brasileira, fundamentada na contraposição com o outro, o rock representa o aparecimento e o desaparecimento de cada categoria e, por conseguinte, da possibilidade de unidade de cada categoria. Página 44 REFERÊNCIAS ALBIN, Ricardo Cravo. O livro de ouro da MPB: a história de nossa música popular de sua origem até hoje. 2. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003. ANDRADE, Mário de. Música, doce música. 2. ed. São Paulo: Martins; Brasília: INL, 1976. BARBOSA, Airton Lima (Org.). Que caminho seguir na música popular brasileira? In: REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA. Rio de Janeiro, n. 7, p. 375-385, maio 1966. BASUALDO, Carlos. Vanguarda, cultura popular e indústria cultural no Brasil. In: BASUALDO, Carlos (Org.). Tropicália: uma revolução na cultura brasileira (1967-1972). São Paulo: Cosac Naify, 2007. BENJAMIN, Walter. Origem do drama barroco alemão. Tradução de Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1984. BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. 7ª ed. Tradução de Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994. CALADO, Carlos. A divina comédia dos Mutantes. Rio de Janeiro: 34, 1995. CAMPOS, Augusto de. Balanço da bossa e outras bossas. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. (Debates) COLI, Jorge. Música Fical: Mário de Andrade e sua coluna jornalística Mundo Musical. Campinas: UNICAMP, 1998. DUNN, Christopher. Tropicália: modernidade, alegoria e contracultura. In: BASUALDO, Carlos (Org.). Tropicália: uma revolução na cultura brasileira (1967-1972). São Paulo: Cosac Naify, 2007. MELLO, Zuza Homem de. A era dos festivais: uma parábola. São Paulo: 34, 2003. MIDDLETON, Richard. Studying popular music. Philadelphia: Open University Press, 1990. NAPOLITANO, Marcos. Seguindo a canção: engajamento político e indústria cultural na MPB (19591969). São Paulo: Annablume/Fapesp, 2001. BREUNIG, Tiago Hermano; FONSECA, Jair Tadeu da. A alegoria tropicalista na avenida vazia do historicismo: o tropicalismo e o rock no Brasil. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 29-45, jan./jun. 2014. NAPOLITANO, Marcos; WASSERMAN, Maria Clara. Desde que samba é samba: a questão das origens no debate historiográfico sobre música popular brasileira. In: REVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA. São Paulo, v. 20, n. 39, p. 157-189, 2000. SANDRONI, Carlos. Adeus à MPB. In: CAVALCANTE, Berenice et al.(Org.). Decantando a República. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004. SANDRONI, Carlos. Feitiço Decente: transformações do samba no Rio de Janeiro (1917-1933). Rio de Janeiro: J. Zahar; UFRJ, 2001. SCHWARZ, Roberto. Cultura e política: 1964-1969. In: SCHWARZ, Roberto. O pai de família e outros estudos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. DISCOGRAFIA ARNALDO & A PATRULHA DO ESPAÇO. Corta jaca. In: ARNALDO & A PATRULHA DO ESPAÇO. Elo perdido. São Paulo: Vinil Urbano, 1988. 1 disco sonoro. Lado A, faixa 3 (3min 55s). MADE IN BRAZIL. Aquarela do Brasil. In: MADE IN BRAZIL. Made in Brazil. São Paulo: RCA Victor, p1974. 1 disco sonoro. Lado A, faixa 4 (2min 49s). MADE IN BRAZIL. Uma banda made in Brazil. In: MADE IN BRAZIL. Paulicéia desvairada. São Paulo: BMG, 1978. 1 disco sonoro. Lado B, faixa 1. MUTANTES. O contrário de nada é nada. In: MUTANTES. Tudo foi feito pelo sol. Rio de Janeiro: Som Livre, 1974. 1 disco sonoro. Lado B, faixa 3 (2 min 58s). MUTANTES. Rock‟n‟roll city. In: MUTANTES. Ao vivo. Rio de Janeiro: Som Livre, 1977. 1 disco sonoro. Lado B, faixa 3 (6 min 30s). PATRULHA DO ESPAÇO. Role da estrada. In: PATRULHA DO ESPAÇO. Dossiê volume 1: 1978/1981. São Paulo: Independente, 1997. CD. Faixa 4 (2min 21s). PERFUME AZUL DO SOL. O abraço do baião. In: PERFUME AZUL DO SOL. Nascimento. São Paulo: Chantecler, 1974. 1 disco sonoro. Lado A, faixa 5 (2min 53s). SÁ, RODRIX E GUARABIRA. Hoje ainda é dia de rock. In: SÁ, RODRIX E GUARABIRA. Passado, presente, futuro. São Paulo: Odeon, 1971. 1 disco sonoro. Lado A, faixa 6 (2min 19s). SEIXAS, Raul. As aventuras de Raul Seixas na cidade de Thor. In: SEIXAS, Raul. Gita. São Paulo: Philips, 1974. 1 disco sonoro. Lado A, faixa 3 (3min 40s). SEIXAS, Raul. Let me sing, let me sing. In: SEIXAS, Raul. Let me sing my rock’n’roll. São Paulo: Independente, 1985. 1 disco sonoro. Lado A, faixa 1 (3min 15s). Página 45 Recebido em 27/05/2014. Aprovado em 15/06/2014 Title: The Tropicalist allegory on the avenue of historicism: Tropicalism and rock in Brazil Author: Tiago Hermano Breunig; Jair Tadeu da Fonseca Abstract: Since its consolidation in the Brazilian culture, the Tropicalism is designed by intellectuals as a form of representation of modern and national associated with allegory, which is related with the linear progress of historicist historiography. Thus, the allegory seems as an update of Brazil's representations, so that Carlos Basualdo says that the Tropicalism intends to think the Brazilian national identity as an open process in continuous development and, therefore, the incorporation of the rock elements on it serves as a mean of updating the musical production in Brazil. If, on the one hand, the Tropicalism, according to the dialectical nature of the allegory, synthesizes the polarities represented by MPB and rock music, on the other hand, rock produces a counter-discourse of national identity through a procedure that refuses to operate logically or dialectically, which is the subject of this work. Keywords: Rock. Tropicalism. Nacionalism. BREUNIG, Tiago Hermano; FONSECA, Jair Tadeu da. A alegoria tropicalista na avenida vazia do historicismo: o tropicalismo e o rock no Brasil. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 29-45, jan./jun. 2014. A REDEFINIÇÃO CONTINUADA DO LUGAR DA CANÇÃO POPULAR NA CULTURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA Sylvia H. Cyntrão1 Resumo: Este texto propõe-se a discutir a continuidade sempre redefinida da canção popular brasileira a partir da década dos anos 60 do século XX e de que forma manifestase contemporaneamente como vetor estético de representação, sendo um produto cultural que trabalha com a transfiguração do real, manipulando um capital simbólico coletivo. Entende-se seu criador como o sujeito que ressignifica esteticamente as tradições culturais. Este artigo tenta oferecer algumas pistas sobre o lugar social e existencial do cancionista hoje, no Brasil. Palavras-Chave: Cultura. Imaginário. Canção contemporânea Entende-se a canção como um gênero artístico híbrido de duas séries ou sistemas sígnicos de base - o literário e o musical -, vetor estético de representação existencial, produto cultural que trabalha com a transfiguração do real, na tradução continuada de um capital simbólico coletivo. A Música Popular Brasileira a que nos referimos não é apenas a do segmento MPB, pós Bossa Nova, a dos Festivais das décadas de 1960 e 1970, mas aquela mais ampla a que vamos aqui chamar de canção popular, tida como uma forma de representação urbana e de expressão que faz convergir ao espetáculo texto, melodia e também a sua performance. Dominique Maingueneau (1998) com o conceito de paratopia nos remete à discussão sobre a multiplicidade da expressão poética contemporânea e nesse conjunto pode-se incluir a letra das canções. Ele aponta para o fato de a literatura ser um espaço diferente das outras atividades sociais, porque não é possível definir para ela um espaço estável no âmbito da sociedade. Esse é o ponto de partida, então, para a negociação entre lugar e não-lugar. O que se fala se fala de onde? Como característica típica deste tempo, a contemporaneidade, os estilos particulares e hiper-individuais são a regra. Página 47 Postulo aqui uma leitura com foco sobre a intentio lectoris (conceito de Umberto Eco que agrega duas outras „intentio‟, a auctoris e a operis prevendo o conjunto de manifestações que convergem para a produção e o entendimento de uma obra) Esta se justifica quando nos entendemos como destinatários historicamente situados, com referenciais culturais e psicológicos que promovem reflexões significativas sobre o sujeito contemporaneamente situado no espaço da nação brasileira, na eleição das letras da MPB como objeto de análise do simbólico que constitui o imaginário coletivo. Segundo Bhabha (2005) “Cada objetivo [interpretativo] é construído sobre o traço daquela perspectiva que ele rasura; cada objeto político é determinado em relação ao outro e deslocado no mesmo ato crítico”. Passa-se assim a ler nos textos as diferenças culturais processos de enunciação da cultura Ŕ que, ainda segundo o crítico, são “processos de 1 Doutora em Literatura brasileira. Pós-doutorado (PUC-RJ). Universidade de Brasília/Instituto de Letras/Departamento de Teoria Literária e Literaturas. E-mail: [email protected]. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2907523784331163. CYNTRÃO, Sylvia H. A redefinição continuada do lugar da canção popular na cultura brasileira contemporânea. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 47-55, jan./jun. 2014. significação através do qual afirmações da cultura ou sobre a cultura diferenciam, discriminam e autorizam a produção de campos de força...”. Aproveitando este e outro de seus conceitos, situo o cancionista contemporâneo no que ele chama de entre-lugar, que é o espaço estético de intervenção em que qualquer identidade radical é diluída e o sujeito artístico é livre para ressignificar o imaginário que o inspira a falar. A canção popular apresenta-se nesse sentido como um sistema de significações para o qual convergem e de onde partem sentidos sociológicos e culturais de um modo de vida urbano geracional. A globalização a partir dos anos de 1990 modificou a relação entre arte e realidade quando instaurou novos paradigmas na aproximação de linguagens diversificadas, com a consequente geração de formas cada vez mais híbridas, tanto as reprodutoras das estruturas dominantes, bem como as desarticuladoras e críticas do sistema sócio-político-econômico mundial. Lembremos que o sujeito da pós-modernidade (este tempo presentificado dos fins do século XX em diante) segundo Stuart Hall (1998), não tem uma identidade fixa, permanente. É a metamorfose ambulante (expressão de nosso cancionista Raul Seixas), podendo ser deslocada dependendo de seu próprio interesse. Nesse sentido, os artistas contemporâneos parecem incorporar essa mutação deslizante. Assim, as práticas artísticas da pós-modernidade transitam nos limites de hibridação dos gêneros e os sistemas semióticos concorrem, dessa forma, para a sua fabricação. Isso é patente. Basta irmos a qualquer apresentação em bienais, a festivais de música, a museus interativos, a espaços públicos ou em casas de show que haverá imagens visuais, texto em diálogo com som, projeções de vídeos, entre outros elementos que se agregaram à expressão musical popular. Podemos dizer que vêm apresentando um processo de hibridação progressivo, gerado pela erosão de fronteiras entre os gêneros (mídia, canção, teatro). Página 48 As sociedades, como a brasileira, que tiveram um passado colonial, absorveram elementos sociais, psicológicos, étnicos, éticos e estéticos de outras civilizações, incorporando-os aos elementos nativos e desenvolvendo, nas gerações que se sucederam, uma identidade composta de multi-faces, multi-linguagens e multi-mitos, de sentido caracteristicamente deslizante. A coexistência de vários discursos em diferentes registros alia-se à diversificação dos temas abordados nas produções musicais, emersos da diversidade cultural. No caso da canção brasileira, destaca-se a longevidade qualitativa da voz lírica de Chico Buarque de Hollanda, cuja produção contínua ocupa ao menos 40 anos de nossa história. É de 1974 o lançamento do disco Sinal Fechado, um marco na discografia da MPB, em que o compositor, restrito pela censura do regime autoritário militar, assina apenas uma das canções, „Jorge Maravilha‟ (ainda assim com o pseudônimo de Julinho da Adelaide) sendo as outras de artistas convidados, como Paulinho da Viola que assina a canção que deu o significativo título ao disco. Segundo Silva (2013) sendo a voz nacional uma voz identitária ela não estaria constituída em si mesma como uma subjetividade participante do coro lírico. Sendo vista como uma construção desse coro, teria que ser reconstituída criticamente a partir do substrato sociocultural e histórico inerentes às vozes que integram o fluxo semiotizante da lírica buarqueana. CYNTRÃO, Sylvia H. A redefinição continuada do lugar da canção popular na cultura brasileira contemporânea. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 47-55, jan./jun. 2014. Vinculando a produção da MPB, da Poesia Marginal e das Vanguardas ao projeto poético brasileiro, Anazildo Silva (2013) apresenta a ideia que, a partir dele, ratifico: (...) pugnava não apenas pela legitimação dessa geração como um todo, mas também pelo reconhecimento e a integração de uma produção poética que estava aparentemente apartada da série literária. Expressava a opinião, defendida durante esses anos todos, de que a avaliação da produção poética da geração de 1960, dentro e fora da MPB, tinha de ser feita no âmbito da Literatura Brasileira, de acordo com os padrões críticos que definem a evolução das formas literárias, e não apenas no contexto paraliterário. E é com satisfação que constato a incorporação definitiva dessa postura crítica à nossa historiografia literária, comprovada na farta bibliografia, incluindo teses, antologias, songbook, ensaios críticos e históricos, além da inclusão da MPB nos livros didáticos de ensino de segundo e terceiro graus, efetivando, assim, a integração de toda a produção poética da geração 1960 no curso da lírica nacional. Outras formas de expressão musical como o BRrock dos anos de 1980, os protestos do RAP, o movimento Mangue Beat de Chico Science, as canções sertanejas, o axé baiano, os sambas dos pagodes cariocas vão formar um conjunto plural, expressão de um fenômeno cultural chamado “dissemiNação”, conceito bastante significante de Homi Bhabha- que explica a expressão simultânea de múltiplas subjetividades partindo de variados centros, dentro de um mesmo espaço geográfico. Desde os anos de 1920 até os anos de 1960 o samba foi o estilo central do gênero canção no Brasil, mas no final dos anos de 1960, esse gênero dominante entrou em processo de descentramento, ou de “dissemiNação”, quando a partir da Bossa Nova, com suas estruturas melódicas sofisticadas e seus temas do cotidiano da classe média, configurou-se uma crise de expressão que culminou com o movimento sincrético inaugural da estética pós-moderna na canção brasileira que foi o Tropicalismo. Já na década de 1980 adentra o chamado BRock (Dapieve, 1986) com a expressão de Renato Russo, Cazuza e Arnaldo Antunes, que com suas bandas plugadas amplificaram a estética da canção, das interpretações e das questões temáticas, mantendo-se a acidez das críticas sociais, bastando lembrar algumas das letras mais entoadas pelo público como „Brasil‟ de Cazuza e “Que país é este” de Renato Russo. Chega-se aos anos de 1990, em que os dois maiores porta-vozes da realidade existencial dessa década são acometidos pelo vírus do HIV e morrem, assumindo posições opostas sobre sua tragédia pessoal. De um lado, temos Cazuza afirmativamente mergulhado na sociedade do espetáculo expondo suas crises e, de outro, Renato Russo negando a espetacularização de seu estado terminal. Página 49 Com esses novos cancionistas houve uma nova abordagem, inclusive ideológica, dos processos de expressão da realidade brasileira, como mostram, por exemplo, as imagens presentes na letra alegórica da canção “Tropicália” -uma alegoria da própria MPB. Caetano Veloso monta um mosaico nacional do momento histórico a partir de pares compostos de referências ao presente e ao passado nacionais: “Viva Iracema/Viva Ipanema/ (...) eu oriento o carnaval/eu inauguro o monumento no planalto central/do país/viva a bossa/viva a palhoça (...); viva a Banda /Carmem Miranda-da-da-da...”. CYNTRÃO, Sylvia H. A redefinição continuada do lugar da canção popular na cultura brasileira contemporânea. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 47-55, jan./jun. 2014. Paralelamente ao rock brasileiro vinha sendo desenvolvido o chamado Movimento Mangue, oriundo da periferia do Recife (estado de Pernambuco, fora, portanto, do eixo midiático Rio-São Paulo) que emite um manifesto centrado na ressignificação da tradição da cultura musical brasileira. Esse movimento cultural que se originou das margens, lança suas letras que cantam realidades localizadas, mas antenadas com o contexto internacional (a „parabólica enfiada na lama‟, expressão que consta do Manifesto Mangue escrito por Fred Zero 4). A MPB de linha lírico-social do Mangue beat, tida como parte do projeto poético do Modernismo, tem na proposta antropofágica de Oswald de Andrade sua base de representação artística na hibridação de elementos regionais-étnicos (maracatu, xaxado e outros) com a música negra norte-americana de periferia, de inspiração no canto falado do rap. Chico Science, o ícone do movimento, precocemente morto por um acidente automobilístico no auge de sua voz, na canção “Etnia” lança uma afirmativa centrada na idéia coletiva: “somos todos juntos uma miscigenação”, “o seu e o meu são iguais/...samba que sai da favela acabada/ é hip hop na minha embolada”, versos que remetem a elementos tradicionais da cultura brasileira, e à diluição das fronteiras culturais, como a referência ao hip hop. As canções do Mangue mostram, assim, a resistência e o valor dos elementos particulares convivendo com elementos da cultura estrangeira, criando uma zona de interfaces afirmativas. É importante fazer referência à canção “Inclassificáveis” de Arnaldo Antunes, da mesma década de 1990, cuja letra aborda o mesmo tema, mas partindo de um outro lugar de fala: o do artista do eixo nacional do sudeste. A letra remete à questão da miscigenação nacional, a partir das referências significantes da linguagem. As perguntas iniciais “ que preto, que branco, que índio o quê? /que branco, que índio, que preto o quê?”... levam à seqüência de compostos que representam as etnias formadoras da nacionalidade brasileira e registram a pluralidade coletiva do “somos”: “ aqui somos/ mestiços mulatos/(...)ameriquilatos/ luso nipo caboclos/” e muitas outras possibilidades mais, como “iberibárbaros indo ciganagôs...”. Essas novas metabolizações criadas pelo texto resultam na constatação final: “crilouros guaranisseis e judárabes/(...) somos o que somos/ inclassificáveis”. Página 50 Antunes resume no vocábulo inclassificáveis o impasse contemporâneo criado pela rejeição do racionalismo centralista que “classifica”, o que remete a outra letra de Science, em “Da lama ao caos” de 1994: “(...) comecei a pensar/ que eu me organizando posso me desorganizar/que eu desorganizando/ posso me organizar.” É essa consciência da necessidade de ressignificação da tradição, a partir de um processo de subjetivação cultural inclusivo, que Science apresenta nos versos de “Etnia”, quando aproxima manifestações diferenciadas compondo um mesmo sintagma, e referencia a miscigenação: “Maracatu psicodélico/(...)/Bumba meu rádio/Berimbau elétrico/Frevo,samba e cores/Cores unidas e alegria/ Nada de errado em nossa etnia.” A representação artística de Caetano na década de 1970, de Chico Science e Arnaldo Antunes, a partir dos anos de 1990, apresentou uma consciente hibridação, em oposição à homogeneização unitária da primeira metade do século XX. A canção incorpora o grito, a fala sem melodia, a voz performática e faz a defesa da mistura que CYNTRÃO, Sylvia H. A redefinição continuada do lugar da canção popular na cultura brasileira contemporânea. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 47-55, jan./jun. 2014. acaba por figurar uma nação descentralizada, permeada pelo mais radicalmente local como pelo mais radicalmente global. As letras mencionadas propiciaram um espaço de discursos plurais e ideologicamente inclusivos. Sobre essas novas relações de poder, há uma questão social decorrente que eu queria ressaltar, que é a consequência dessas identidades deslizantes e continuamente deslocadas. Voltamo-nos para a canção “Subúrbio” (do CD Carioca, 2006), de Chico Buarque, em que, do não-lugar inerente à fala suburbana da cidade do Rio de Janeiro, emerge a voz do compositor que foi ativo na construção da história nacional, subiu morros, desceu-os, falou por degredados e desvalidos, deu-lhes voz e enuncia continuamente há quatro décadas de seu lugar de arauto. A letra de “Subúrbio” representa o cotidiano dos marginalizados do Rio de Janeiro Ŕmetáfora de Brasil- em oposição à vida dos bairros privilegiados da cidade. As estratégias de representação são diversificadas ressaltando as diferenças pelo opositivo „lá‟, lugar das carências x „aqui‟, lugar de fala do enunciador e da cidade que „abusa de ser tão maravilhosa‟! O eu poético conclama a reação dos desvalidos suburbanos pela valorização da arte localmente produzida quando provoca:“Vai, faz ouvir os acordes do choro-canção/Traz as cabrochas e a roda de samba/Dança teu funk, o rock, forró, pagode, reggae/Teu hip-hop/Fala na língua do rap/Desbanca a outra” justamente e repetindo... “A tal que abusa/De ser tão maravilhosa”. Página 51 A metáfora do „labirinto‟, „avesso da montanha‟, cuja frente seria a Zona sul da cidade, a do lugar das praias, vai ser central nessa construção de sentido. Remete ao sem saída aparente dos inúmeros problemas que enfrentam os que estão na base da escala social urbana. A sequência de imagens antitéticas (positivo x negativo), algumas em destaque abaixo com grifos nossos, propicia a reiteração dos campos semânticos ligados à “pobreza” com os quais se constroem as isotopias espaciais, actanciais e temporais com a enumeração nominativa dos subúrbios. Essa enumeração vem precedida do chamamento instigador “Fala”! E não sem intenção, certamente o último potente verso é „Fala, Paciência!”. Lá não tem brisa Não tem verde-azuis Não tem frescura nem atrevimento Lá não figura no mapa No avesso da montanha, é labirinto É contra-senha, é cara a tapa Fala, Penha Fala, Irajá Fala, Olaria Fala, Acari, Vigário Geral Fala, Piedade Casas sem cor Ruas de pó, cidade Que não se pinta Que é sem vaidade CYNTRÃO, Sylvia H. A redefinição continuada do lugar da canção popular na cultura brasileira contemporânea. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 47-55, jan./jun. 2014. Vai, faz ouvir os acordes do choro-canção Traz as cabrochas e a roda de samba Dança teu funk, o rock, forró, pagode, reggae Teu hip-hop Fala na língua do rap Desbanca a outra A tal que abusa De ser tão maravilhosa Lá não tem moças douradas Expostas, andam nus Pelas quebradas teus exus Não tem turistas Não sai foto nas revistas Lá tem Jesus E está de costas Fala, Maré Fala, Madureira Fala, Pavuna Fala, Inhaúma Cordovil, Pilares Espalha a tua voz Nos arredores Carrega a tua cruz E os teus tambores Página 52 Vai, faz ouvir os acordes do choro-canção Traz as cabrochas e a roda de samba Dança teu funk, o rock, forró, pagode Teu hip-hop Fala na língua do rap Fala no pé Dá uma idéia Naquela que te sombreia Lá não tem claro-escuro A luz é dura A chapa é quente Que futuro tem Aquela gente toda Perdido em ti Eu ando em roda É pau, é pedra É fim de linha É lenha, é fogo, é foda CYNTRÃO, Sylvia H. A redefinição continuada do lugar da canção popular na cultura brasileira contemporânea. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 47-55, jan./jun. 2014. Fala, Penha Fala, Irajá Fala, Encantado, Bangu Fala, Realengo... Fala, Maré Fala, Madureira Fala, Meriti, Nova Iguaçu Fala, Paciência... A importância dos compositores que, como Chico Buarque, desenvolveram um projeto artístico projetado a partir de uma observação crítica contínua do real Ŕ como demonstra a letra que acabamos de comentar é sustentar no público uma conexão com sua própria emoção diante da obra e fazer ressoar seus sentidos. É nesse instante de encontro do eu poético com o seu leitor-ouvinte que forças desconhecidas se cruzam, dialogam, e é possível também criar-se uma tensão extremamente rica entre o produto artístico e a teoria (ou a sua visão crítica), convergente para a compreensão dos valores éticos, sociais e culturais que nos envolvem. Naturalmente, o que propomos aqui é uma leitura conjetural, que visa oferecer uma possível abertura de entendimento dos anseios das vozes que transpiram nos versos, ampliadas pelo dono textual da voz. No processo de semiose ilimitada é possível passarmos de um nó qualquer a outro nó, mas as passagens são controladas por regras de conexão que a nossa história cultural de algum modo legitimou, como nos ensina Eco (1995), e é dessa forma que queremos essa reflexão. A conclusão a que me permito chegar e expôr é que, diante do vasto repertório de estilos que hoje configuram a canção brasileira, cada um deles representa o sujeito que vive, sente e pensa sua realidade a partir de seus contextuais. Os estudos literários, hoje, manifestam-se pela abertura de processos que compreendem o encadeamento sistematizado das várias esferas que circundam o ser na expressão de sua existência. Página 53 Teorias excludentes não se sustentam. Nesta primeira década do século XXI, o pensamento analítico incorporou o olhar voltado para a diferença e para as manifestações das pluralidades, propiciando a compreensão da riqueza dos híbridos artísticos. Descartamos para fins de estudo literário canções que sejam meras reprodutoras de clichês, homogeneizadoras de pensamento ou reprodutoras de distorções sociais criminosas, como são as letras de muitos funks cariocas ou dos raps do estilo Gangsta (a designação Gangsta é um derivativo de gangster e as letras veiculam conteúdos incitadores de ações violentas, com palavras de baixo calão) adotadas em certos redutos no Brasil. Tais produtos caberão melhor, para efeito de estudo, na área da Sociologia, consideramos. A expressão artística relativizou-se como um lugar privilegiado daquele que performatiza, ou seja, dá voz estetizada a suas pulsões de vida e morte. No caso das canções, funcionam como fronteiras intersubjetivas de compreensão do mundo em que vivemos. Após o processo de desconstrução e desreferencialização do real, propiciado pelas fraturas a que o século XX foi submetido, como a econômica, a estética e a CYNTRÃO, Sylvia H. A redefinição continuada do lugar da canção popular na cultura brasileira contemporânea. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 47-55, jan./jun. 2014. cultural como nos dizem Lipovetsky e Serroy (2011), o olhar crítico analítico busca investigar na matéria poética -lugar de confluência dos símbolos da cultura- a rehistorização do eu, e do outro face à aceleração e à compressão do tempo-espaço que o faz deslizar na fluidez dos laços relacionais. Mas, é justamente dentro da cultura-mundo, repleta de nuances criativas, que o ser e suas relações têm a existência valorizada. A canção popular brasileira, como manifestação artística de massa e por sua natureza intersubjetiva,- reorganiza paixões propiciando aos protagonistas -autores e leitores-ouvintes- conexões identitárias. A pluralidade de que se investiu nas últimas décadas expõe justamente o paradoxo qualitativo deste gênero híbrido, o que instiga à continuidade das pesquisas sobre sua importância representativa após mais de um século de existência, na configuração dos sujeitos culturais que somos. REFERÊNCIAS BAUMAN. Zigmunt. Amor líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 2004. BHABHA, Homi. O local da cultura. Minas Gerais: Editora da UFMG, 1998. CERRADOS. Poesia brasileira contemporânea. Brasília: Programa de Pós-graduação em Literatura, UnB. Número 18. Ano 13, 2004. CYNTRAO, Sylvia, H. Como ler o texto poético: caminhos contemporâneos. Brasília: Plano Editora, 2004. _____, Sylvia H. (org.) Poesia: o lugar do contemporâneo. Brasília: Departamento de Teoria literária e Literaturas/UnB, 2009. DAPIEVE, BRock: o rock brasileiro dos anos 80. Editora 34, RJ, 1996. _____, Sylvia H. O que será que me dá, o que será que lhe dá, o que será que dá dentro da gente? In FERNANDES, Rinaldo (org.) Chico Buarque, o poeta das mulheres, dos desvalidos e dos perseguidos. S. P: Leya: 2013. ECO, Umberto. Os limites da interpretação. SP. Perspectiva, 1995. ELIADE, Mircea. Imagens e símbolos. São Paulo: Martins fontes, 1991. ELIAS, Norbert. O processo civilizador Ŕ Volume 1: Uma História dos Costumes. Trad. Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 2v. GIDDENS, ANTHONY. A transformação da intimidade. SP: UNESP, 1993. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro. DP&A, 1998. HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos o breve século XX 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. Página 54 HOLLANDA, Francisco Buarque. Subúrbio. In: Carioca. Maus, Sarapui Produções Artísticas, (p) 2006. 1 CD(56min59s). (Cmpct Disc). JOBIM, J.Luís.et alli. Lugares dos discursos literários e culturais. Rio de Janeiro: EdUFF, 2006. LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal. Ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo. Lisboa: Edições 70 2007. LIPOVETSKY, Gilles. Os tempos hipermodernos. Trad. Mário Vilela. São Paulo: Editora Barcarolla, 2004. LIPOVETSKY, Gilles. A sociedade da decepção. Trad. Armando Braio Ara. Barueri, SP: Manole, 2007. LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A cultura-mundo: resposta a uma sociedade desorientada. Tradução Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. MAINGUENEAU, Dominique.Termos-chave da Análise do discurso. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998. CYNTRÃO, Sylvia H. A redefinição continuada do lugar da canção popular na cultura brasileira contemporânea. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 47-55, jan./jun. 2014. SILVA, Anazildo V. Quem canta comigo: a representação do social em Chico Buarque. RJ: Garamond, 2013. ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. Tradução: Jerusa Pires Ferreira e Suely Fenerich. São Paulo: Cosac Naify, 2007. Recebido em: 18/02/2014. Aprovado em 15/06/2014. Página 55 Title: Redefining the place of MPB in contemporary Brazilian culture Author: Sylvia H. Cyntrão Abstract: This text aims to discuss certain aspects of Brazilian popular song from the early 20TH century 60 years and how it manifests itself at the same time as aesthetic representation vector-a cultural product that works with the Transfiguration of reality, manipulating a collective symbolic capital.This article tries to offer some clues about the social and existential place of songwriter today, in Brazil. Keywords: Culture. Imaginary. Contemporary poetry. CYNTRÃO, Sylvia H. A redefinição continuada do lugar da canção popular na cultura brasileira contemporânea. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 47-55, jan./jun. 2014. “NÃO POSSO MAIS: EU QUERO É VIVER NA ORGIA”: MALANDRAGEM FEMININA E REJEIÇÃO DO TRABALHO EM SAMBAS DAS DÉCADAS DE 1930 E 40 Cilene Margarete Pereira1 Resumo: No fim da década de 1920, sambistas do bairro do Estácio de Sá (Rio de Janeiro) impõem uma nova modalidade de samba, cadenciado para os desfiles de blocos e para o carnaval de rua. Dessa geração descendem os sambistas das décadas seguintes, encontrando no Rádio um importante veículo de difusão cultural que ajudaria na “consolidação” do samba como elemento de nacionalidade e na emergência de grandes compositores como Noel Rosa, Ataulfo Alves e Wilson Batista. O objetivo deste artigo é examinar, a partir de algumas letras de sambas das décadas de 1930 e 40 – tendo como ponto de partida a canção “Oh, Seu Oscar!” (1940), de Wilson Batista e Ataulfo Alves –, a oposição entre mundo regular e ordeiro (no qual se incluem a constituição da família e o trabalho honesto) e o universo da malandragem, dando destaque à tópica da “mulher da orgia”. Palavras-chave: Samba. Malandragem. Personagens. Trabalho. Família. DO SAMBA ANTIGO AO “SAMBA DO ESTÁCIO” Em Acertei no Milhar: samba e malandragem no tempo de Getúlio (1882), Claudia Matos identifica duas gerações do samba carioca: a primeira, do início do século XX, é chamada por ela de “samba primitivo”, sendo seus compositores os “pais” de “Pelo Telefone”. O samba, conforme observado pelo próprio Donga, era bem próximo ao maxixe: “fiz o samba, não procurando me afastar muito do maxixe, música que estava bastante em voga.” (DONGA apud MATOS, 1982, p. 39). Se o depoimento do sambista reforça a composição rítmica de “Pelo Telefone”, afirma também o interesse comercial na peça, construída para se adequar aos padrões de um público já acostumado ao maxixe.2 Desse “grupo primitivo” faziam parte, além de Donga, Sinhô, João da Baiana e Caninha, frequentadores da casa da baiana Tia Ciata. Em meados da década de 1920, surge a segunda geração de sambistas, conhecida como “samba do Estácio”. No bairro do Estácio surgiria aquela considerada a primeira escola de samba, a “Deixa Falar”, fundada por Ismael Silva e outros bambas, como Nilton Bastos, Bide, Mano Rubem, Mano Edgar, Baiaco e Brancura. Página 57 A nova modalidade de samba que eles começaram a fazer na década de 20 se amolava melhor às necessidades carnavalescas, naquele tempo em que o carnaval se popularizava, 1 Doutora em Teoria e História Literária. Docente do Programa de Mestrado em Letras da Universidade Vale do Rio Verde (UNINCOR). E-mail: [email protected]. 2 Claudia Matos observa que “no início do século [XX], o maxixe já conquistara um lugar nos hábitos culturais da classe média, chegando a motivar, nos anos 20, exibições de dança em palcos europeus.” (MATOS, 1982, p. 39). PEREIRA, Cilene Margarete. “Não posso mais: eu quero é viver na orgia”: malandragem feminina e rejeição do trabalho em sambas das décadas de 1930 e 40. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 57-69, jan./jun. 2014. tornava-se mais amplo e movimentado, e também, num certo sentido, mais brasileiro e mestiço. (MATOS, 1982, p. 39-40).3 Em entrevista a Sérgio Cabral, em As escolas de samba, Ismael Silva explica a diferença do “samba do Estácio” em oposição ao que se vinha praticando: É que quando comecei, o samba da época não dava para os grupos carnavalescos andarem na rua, conforme a gente vê hoje em dia. O estilo não dava para andar. Eu comecei a notar que havia essa coisa. O samba era assim: tan tantan tan tantan. Não dava. Como é que um bloco ia andar na rua assim? Aí, a gente começou a fazer um samba assim bum bum paticumbumprugurudum. (SILVA apud CABRAL, s/d, p.28). A explicação de Ismael marca não só o novo ritmo, que dava ao samba mais “ginga, flexibilidade e mobilização simultâneas” (MATOS, 2012, p. 41), como deixava em evidência os espaços distintos de execução do samba, pois se os “sambistas primitivos” tinham os fundos das casas das velhas baianas; 4 a turma do Estácio queria ocupar as ruas e os botequins. O samba do Estácio era, assim, um “samba carnavalesco”, feito para o acompanhamento de cordões e blocos e, portanto, mais sincopado e que tratava de temas cotidianos com algum contorno cômico, como convinha à festa do Carnaval. Para Cláudia Matos, É a direção do samba do Estácio que gera e fortalece as escolas de samba (...). O samba negro e proletário irrompia no asfalto travestido de príncipe, buscando patente de suas criações nas gravadoras da classe dominante branca e burguesa. (...). A “Deixa Falar” e outras escolas em desfile surgiram na avenida como formas de expressão em trânsito, movimentando-se na fronteira de culturas e classes. (MATOS, 1982, p. 42). A partir da década de 1930,5 tem-se o que se pode chamar de desdobramento in continuum da turma do Estácio, pois o samba, a partir de sua exposição no asfalto e na indústria da música, intensifica-se como produto cultural, difundindo-se como veículo de expressão de uma nacionalidade. Página 58 3 Esse aspecto é também apontado por Carlos Didier ao observar que os sambas dos compositores do Estácio distinguiam-se “daqueles consagrados por Sinhô pelo menos por sua pulsação rítmica mais complexa. Enquanto estes guardavam vestígios de antigos maxixes, aqueles sambas que vinha do Estácio [se caracterizavam] pela agregação de mais de uma célula rítmica à marcação.” (DIDIER apud SANDRONI, 2012, p. 34). 4 A casa de Tia Ciata é descrita assim por Muniz Sodré: “Metáfora viva das posições de resistência adotadas pela comunidade negra, a casa continha os elementos ideologicamente necessários ao contato com a sociedade global: „responsabilidade‟ pequeno-burguesa dos donos (o marido era profissional liberal valorizado e a esposa, uma mulata bonita e de porte gracioso); os bailes na frente da casa (já ali se executavam músicas e danças mais conhecidas, mais „respeitáveis‟), os sambas (onde atuava a elite da ginga e do sapateado) nos fundos; também nos fundos, a batucada Ŕ terreno próprio dos negros mais velhos, onde se fazia presente o elemento religioso...” (SODRÉ, 1998, p. 15). 5 “O período 1927-33 corresponde assim ao da ascensão e apogeu dos bambas do Estácio. A „Deixa Falar‟ [escola de samba do Estácio] é dissolvida em 1931, ano que também é o da morte de Nílton Bastos; em 1933 há o rompimento entre [Francisco] Alves e Ismael; em 1935 o grupo estará totalmente dissolvido, com a morte de Brancura e Baiaco, e a prisão de Ismael, por envolvimento em uma briga.” (SANDRONI, 2012, p. 189). PEREIRA, Cilene Margarete. “Não posso mais: eu quero é viver na orgia”: malandragem feminina e rejeição do trabalho em sambas das décadas de 1930 e 40. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 57-69, jan./jun. 2014. Em Samba, o dono do corpo, Muniz Sodré observa a distinção entre o chamado “samba tradicional” e “samba produto cultural”. Para ele, o “samba tradicional” teria como característico a improvisação feita sobre uma primeira parte, pois “os sambistas compunham só uma primeira parte da canção (samba de primeira parte), reservando à segunda um lugar de resposta social: ora a improvisação na roda de samba, ora o improviso dos diretores de harmonia na hora do desfile da escola.”. (SODRÉ, 1998, p. 58). Na concepção de Sodré tal estrutura (primeira parte + improvisação) se daria tanto no espaço da roda de samba, lugar de excelência do partido-alto e de composições associadas aos “sambistas primitivos” (conforme “Pelo Telefone”), quanto na rua, a partir do andamento da Escola de Samba, o que nos levaria à composição melódica do “samba do Estácio”. Se o modo de composição entre as duas vertentes de samba observa uma mesma estrutura, apesar de variarem em termos melódicos; a geração seguinte, descendente do gingado e da síncope da turma de Ismael Silva, promoverá uma quebra estrutural, compondo um samba organizado para a forma do disco e que, portanto, “impõe peças prontas e acabadas” (SODRÉ, 1998, p. 58), sem direito a improvisações. Sodré, no entanto, já identifica um processo inicial de industrialização do samba na gravação de “Pelo Telefone”, considerando que “da canção folclórica (de produção e uso coletivos, transmitida por meios orais) transforma-se em música popular, isto é, produzida por um autor (indivíduo conhecido) e veiculada num quadro social mais amplo”. (SODRÉ, 1998, p. 40). Há de se destacar que o processo de industrialização, pós-geração do Estácio, tem proporções maiores, já que a Rádio se torna importante veículo de difusão cultural que ajuda na “consolidação” do samba e na emergência de grandes compositores, dentre os quais se destacam Noel Rosa, Wilson Batista, Geraldo Pereira, Ataulfo Alves, entre outros. Em meados dos anos 30 [do século XX], o samba-canção ou samba-de-meio-ano fixa-se como modalidade diversa do samba carnavalesco. Através das emissões radiofônicas, o novo gênero rapidamente conquista grandes contingentes do público urbano. Na mesma época, surge o samba-choro, produto híbrido que não chegou a se constituir como um estilo definido e duradouro. E um pouco mais tarde, o samba “Jogo proibido”, lançado em 1936 na voz de Moreira da Silva, inaugura o gênero que viria a ser conhecido como samba-debreque. (MATOS, 1982, p. 45). Página 59 Em Feitiço decente: transformações do samba no Rio de Janeiro (1917-1933), Carlos Sandroni denomina essas duas gerações iniciais, apontadas por Claudia Matos, de “estilo antigo” e “estilo novo”, observando também os espaços sociais ocupados por estes dois tipos de sambas: a casa de Tia Ciata (e de outras baianas) e blocos e botequins6 do bairro do Estácio, respectivamente. 6 Sandroni explica que “o botequim é para o sambista do período um ponto tão habitual que é chamado às vezes de „escritório‟ (...). Blocos e botequins possuem uma característica comum: são mais públicos, mais abertos socialmente, que a sala de jantar de Tia Ciata.” (SANDRONI, 2012, p. 145-146). PEREIRA, Cilene Margarete. “Não posso mais: eu quero é viver na orgia”: malandragem feminina e rejeição do trabalho em sambas das décadas de 1930 e 40. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 57-69, jan./jun. 2014. O tipo de samba que teria sido criado no Estácio logo se difundiu, influenciando os compositores de outras áreas da cidade, generalizando-se e tornando-se um sinônimo de samba moderno, de samba tal qual o reconhecemos hoje em dia. (SANDRONI, 2012, p. 133).7 Em se tratando da estrutura melódica distinta entre um estilo e outro, Sandroni observa ausências na bibliografia sobre o samba, reportando essa distinção, para alguns estudiosos, à audição apenas. A respeito disso, diz Sérgio Cabral: “É fácil: basta comparar uma velha gravação de um samba de Sinhô (ou do próprio “Pelo Telefone”) com outra de um samba qualquer de autoria dos compositores do Estácio de Sá para estabelecer a diferença entre as duas formas de samba.” (CABRAL, s/d, p. 21). Sérgio Cabral tem de fato razão e parte desta deve-se à explicação de Ismael Silva em entrevista concedida ao próprio Cabral, já citada neste texto.8 Para estudiosos como João Máximo e Carlos Didier, a diferença melódica se daria no uso (e na valorização) de instrumentos distintos, visto que o acompanhamento do samba da turma do Estácio seria feito, salvo algum cavaquinho e violão, especialmente por meio da percussão, com objetos “fabricados pelos próprios ritmistas ou por eles inventados”,9 enquanto que os sambistas primitivos optariam com “piano, flauta, clarineta, cordas e metais.” (MÁXIMO; DIDIER apud SANDRONI, 2012, p. 140). Seja ou não a diferença originária da instrumentação, o fato é que, conforme observa Sodré no título de seu livro, Samba, o dono do corpo (1998), trata-se de uma distinção que, se pode ser sentida na audição, é revelada, sobretudo, na pulsação do corpo que obedece a marcações rítmicas próprias. Para Sandroni, uma questão importante que passa pela distinção entre “estilo antigo” e “novo” diz respeito à própria estruturação dos versos no “samba folclórico” e no “samba popular”. O “samba folclórico” está ligado, como já dissemos, à geração dos “sambistas primitivos” que improvisavam seus sambas a partir de uma primeira parte, às vezes de base folclórica. O “samba popular”, associado à turma do Estácio e à profissionalização do sambista, é formatado para o mercado fonográfico, anulando as improvisações. Nesse caso, não haveria uma primeira parte que demandaria um complemento improvisado, mas duas partes compostas com o fim de formatar e fechar a canção. Página 60 7 Para reiterar a afirmativa, Sandroni cita o depoimento de sambistas consagrados como Candeia, da Portela, e Cartola, da Mangueira: “O Estácio era a escola mais velha, não vamos discutir isso. Fora do carnaval, o pessoal do Estácio vinha pra cá pro morro cantar samba, qualquer dia da semana. E nós tínhamos muito respeito a eles como os mestres do samba.” (CARTOLA apud SANDRONI, 2012, p. 133). 8 Analisando os livros Na roda do samba e Samba, de Vagalume e Orestes Barbosa, respectivamente, ambos em 1933, Sandroni resume, assim, a oposição entre “estilo antigo e novo”: “Embora nenhum dos dois livros em questão fale explicitamente de uma diferença entre dois tipos de samba, ou entre samba e maxixe, fortes contrastes se manifestam neles entre duas maneiras de encarar o assunto (um valorizando a tradição, outro a modernidade), dois grupos de compositores a que se dá pesos diferentes (a turma da Tia Ciata e a do Estácio), duas reivindicações de origem (a Bahia e o Rio), dois personagens-símbolos (o bamba e o malandro).” (SANDRONI, 2012, p. 139). 9 Em entrevista a Sérgio Cabral, eis a resposta de Bide sobre a invenção do surdo e do tamborim: “Bem, o tamborim eu encontrei, não tenho certeza se fui eu que inventei. O surdo, sim, foi ideia minha. E com uma lata de manteiga daquelas grandes, redondas, Compramos aros, botei um por fora outro por dentro, pregamos tacha e, assim entramos na Praça Onze.” (BIDE apud CABRAL, s/d, p. 30). PEREIRA, Cilene Margarete. “Não posso mais: eu quero é viver na orgia”: malandragem feminina e rejeição do trabalho em sambas das décadas de 1930 e 40. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 57-69, jan./jun. 2014. (...) o samba folclórico (...) era em primeiro lugar a situação festiva; mas era também cada um dos estribilhos que se cantava, seguido das improvisações (que podiam identificar os sambas por não serem particulares a um estribilho dado). No contexto profissional, ao contrário, o samba é reificado, ganha autonomia em relação às pessoas que o criam Ŕ é por isso que começa a poder ser roubado e depois vendido. Como objeto independente, ele precisa demarcar as suas fronteiras: não mais o espaço aberto da improvisação, mas as duas partes definidas de uma vez por todas, letra e música devidamente escritas, publicadas e gravadas. (SANDRONI, 2012, p. 156). Essa divisão imposta no samba popular a partir de 1930, em primeira parte (funcionado geralmente como um refrão) e segunda parte, ocasionou um “tipo específico de parceria real” entre os sambistas, “aquela em que um dos parceiros faz o estribilho e o outro, a segunda parte”, conforme observa Sandroni (2012, p. 156). MALANDRAGEM FEMININA E REJEIÇÃO DO TRABALHO Esse foi o processo de construção de “Oh, Seu Oscar!” (1939), samba de Wilson Batista e Ataulfo Alves, sucesso do carnaval de 1940 e vencedora do concurso de sambas carnavalescos organizado pelo DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), do governo Getúlio Vargas: Cheguei cansado em casa do trabalho Logo a vizinha me chamou: Oh! seu Oscar Tá fazendo meia hora Que a sua mulher foi embora E um bilhete deixou Meu Deus, que horror O bilhete dizia: Não posso mais, eu quero é viver na orgia! Página 61 Fiz tudo para ver seu bem-estar Até no cais do porto eu fui parar Martirizando o meu corpo noite e dia Mas tudo em vão: ela é da orgia É, parei! A primeira parte foi composta por Wilson e a segunda, por Ataulfo, tendo este contribuído com o verso título do samba, “Oh, Seu Oscar!”, ao perceber que havia um “buraco na passagem do segundo para o terceiro verso (...).” (CABRAL, 2009, p. 50). A contribuição foi tão importante que redefiniu o nome do samba que se chamaria “Está fazendo meia hora”. 10 Percebe-se que a introdução do verso de Ataulfo resultou 10 O caso é narrado, segundo Cabral, pelo biógrafo de Wilson Batista, Bruno Ferreira. (Cf. CABRAL, 2009, p. 50). PEREIRA, Cilene Margarete. “Não posso mais: eu quero é viver na orgia”: malandragem feminina e rejeição do trabalho em sambas das décadas de 1930 e 40. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 57-69, jan./jun. 2014. também em uma adaptação de linguagem, visto o tom coloquial da versão oficial: “Tá fazendo meia hora” (4º verso da primeira parte). A segunda parte do samba se adapta perfeitamente à primeira, esboçando a reclamação da personagem masculina quanto aos sacrifícios feitos pela mulher: “Cheguei cansado do trabalho” (1ª parte) e “Até no cais do porto eu fui parar / martirizando o meu corpo noite e dia” (2ª parte). Seu Oscar entende que a felicidade feminina está condicionada à família e à composição social do lar, denominações masculinas para “bem-estar”. Mas o abandono dá-se, conforme sugere a canção, pela oposição entre desejo feminino (“Não posso mais, eu quero é viver na orgia!”) e oferta masculina (“Fiz tudo para o seu bem-estar”). O que Seu Oscar oferta a sua mulher (um homem cansado e com seu corpo martirizado) não é o suficiente para mantê-la presa à vida doméstica, preferindo a orgia, sinônimo, aqui, “de vida boêmia, do modo de vida apreciado pelo malandro”, sendo quase equivalente à malandragem. (SANDRONI, 2012, p. 163). O que teríamos, na canção, é uma oposição entre as personagens feminina e masculina marcada por inversões relativas ao gênero (pelo menos conforme prevista pela moral burguesa cristã) nos modos de condução de suas vidas enraizados em duas figuras tradicionais do samba: o malandro (papel exercido, aqui, pela mulher) e o trabalhador, na linguagem malandra, o otário (Seu Oscar). Para Claudia Matos, paralela a esta dicotomia entre malandro e trabalhador, esboça-se a oposição entre sexo e prazer/casamento e família. Ora, esta mulher malandra recusa o papel de esposa, despreza o bem-estar material e parte em busca de liberdade e satisfação para o seu desejo, enquanto a opção do marido só lhe proporcionou o martírio do corpo, a anulação do desejo. Assumindo a postura do malandro, a mulher faz do marido (...) um verdadeiro otário. (...) ao procurar a orgia, ela parece seguir um caminho legítimo e natural Ŕ “ela é da orgia” Ŕ enquanto foi o homem que se enganou ao impor um caminho errado e inútil, que não levava a parte alguma: “até no cais do porto [ele foi] parar”. (MATOS, 1982, p. 96, grifos da autora). Assim, se na primeira parte do samba temos a constatação do abandono do eu lírico (e a inserção das vozes femininas Ŕ vizinha e mulher);11 na segunda parte, Ataulfo parece querer justificar o nome da personagem título, já que, segundo depoimentos colhidos por Sérgio Cabral, “Seu Oscar” “era uma gíria muito usada no Café Nice identificando o otário, o bobalhão...”. (CABRAL, 2009, p. 50).12 Ou seja, a um homem do tipo “Oscar” só caberia este destino: a martirização do corpo e o abandono (como recompensa). A derrota masculina é finalizada com um sugestivo “É, parei”, conotando a imobilidade da personagem em todos os níveis: moral, social, amoroso, existencial. Página 62 Em busca da compreensão da figura feminina aí exposta, vale a pena nos determos no comentário de Matos acima, ressaltando o uso do verbo ser no presente do 11 É interessante como Wilson Batista capta vozes dissonantes, aqui, ao apresentar um ser feminino acorrentado às malhas do padrão moral (reforço da voz de Seu Oscar) Ŕ por isso o verso “Meus Deus, que horror” parece ser um reflexo do pensamento de ambos Ŕ e seu contrário: a liberdade moral e sexual. 12 Os depoimentos referidos por Cabral são os do compositor Roberto Martins e os dos estudiosos Zuza Homem de Melo e Jairo Severiano em A canção no tempo. PEREIRA, Cilene Margarete. “Não posso mais: eu quero é viver na orgia”: malandragem feminina e rejeição do trabalho em sambas das décadas de 1930 e 40. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 57-69, jan./jun. 2014. indicativo no verso “Mas tudo em vão: ela é da orgia” (grifos nossos). Considerando, como observa a ensaísta, que a orgia é determinada como um “caminho legítimo e natural” da esposa de Seu Oscar, podemos afirmar que se trata, aqui, de uma tentativa de regeneração do ser malandro. Em outras palavras, Seu Oscar promove, com consequências negativas, sobretudo a ele, uma adequação frustrada da mulher malandra ao mundo familiar, organizado segundo regras bastante disciplinadoras quanto ao comportamento e espaço femininos. Tal concepção sempre foi legitimada por um discurso (erudito e também popular) que afirmava o antagonismo sexual: Os homens estão do lado da razão e da inteligência que fundam a cultura; a eles cabe a decisão, a ação e, consequentemente, a esfera pública. As mulheres se enraízam na Natureza; elas têm o coração, a sensibilidade, a fraqueza também. (PERROT, 2005, p. 268269). Dentro dessa perspectiva “segregadora” impôs-se uma nítida divisão entre as atividades destinadas à mulher (ligadas todas ao território doméstico Ŕ das quais se inclui a maternidade) e as de funções estritamente masculinas (associadas ao espaço público). Enquanto Seu Oscar martiriza seu corpo, no cais, em busca da promoção do bem-estar feminino; sua esposa deveria manter-se nos limites da casa, exercendo funções domésticas e de apelo sentimental: “Mas tudo em vão: ela é da orgia”. De algum modo, a constatação de Seu Oscar parece anunciar um erro estratégico, assumindo, em parte, a responsabilidade sobre a frustrada adaptação feminina. A temática da “mulher da orgia” é, nesse sentido, uma constante nas letras dos sambas, como vemos em “Vai, mulher da orgia” (1936), composição de Miguel Guarnieri e Roberto Martins: Vai, vai, vai Eu não culpado de você me abandonar O destino de toda mulher da orgia É penar, é penar Foi você a flor que quis roubar minha alegria E no meu coração deixou a nostalgia Se o fogo da vida desfolhar sua beleza Você há de sentir a lei da natureza Em “Vai, mulher da orgia”, o recado é claro: “O destino de toda mulher da orgia / É penar, é penar”. Talvez seja essa a solução final reservada à mulher de Seu Oscar Ŕ Página 63 Em todo caminho perfumado e venturoso Há sempre um abismo profundo e perigoso Nesse mar da vida o destino é traiçoeiro Às vezes sem querer o azar chega primeiro PEREIRA, Cilene Margarete. “Não posso mais: eu quero é viver na orgia”: malandragem feminina e rejeição do trabalho em sambas das décadas de 1930 e 40. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 57-69, jan./jun. 2014. caso não haja o perdão do marido.13 Na canção acima, temos a reafirmação de algo já visto em “Oh, Seu Oscar”: a trajetória masculina de desilusão e imobilidade dá-se a partir da figura feminina que se configura como “um abismo profundo e perigoso” que, no entanto, deixa marcas emocionais no eu lírico: “no meu coração deixou a nostalgia”. Essas mulheres são descritas, na análise que o sociólogo Manoel Berlinck faz das imagens femininas presentes nas letras de sambas, como aquelas que não possuem “contrato exclusivo com nenhum homem”, desorganizando “as relações sociais do homem gerando a „dor de cotovelo‟, a desconfiança e reforçando a prática da malandragem”. (BERLINCK, 1976, p. 109). Para enfatizarmos ainda mais essa oposição criada entre as personagens malandra (mulher) e otária (Seu Oscar), na canção de Ataulfo Alves e Wilson Batista, vale a pena recorrer ao samba de Cyro de Souza, “Vida apertada”. Meu Deus, que vida apertada Trabalho, não tenho nada Vivo num martírio sem igual A vida não tem encanto Para quem padece tanto Desse jeito eu acabo mal Ser pobre não é defeito Mas é infelicidade Nem sequer tenho direito De gozar a mocidade Saio tarde do trabalho Chego em casa semimorto Pois enfrento uma estiva Todo dia lá no 2 No cais do porto (Tadinho de mim: breque) Essa canção esmiúça detalhes do dia-a-dia de sacrifícios feitos pelo Seu Oscar em busca do bem-estar feminino. A personagem do samba de Cyro de Souza é também um estivador que martiriza seu corpo (“Vivo num martírio sem igual”), no cais do porto, chegando ao lar “semimorto”. Trabalhar, neste contexto, é algo apenas penoso que absorve as forças do homem e que não traz nenhuma compensação, material ou existencial: “Trabalho, não tenho nada”; “A vida não tem encanto”. Página 64 A canção reforça uma ideia recorrente no mundo do samba, a rejeição ao trabalho, que ganha contorno na figura do malandro, ser que se define em primeiro lugar, segundo Sandroni, “por sua relação esquiva com o mundo do trabalho: trabalha o 13 Na esteira do sucesso de “Oh, Seu Oscar!”, Wilson Batista e Ataulfo Alves promoveram o retorno das personagens na canção “A mulher do Seu Oscar” (1941), na qual temos a justificativa da personagem feminina para o abandono (provisório) do marido: “Onde eu dizia/ Vou-me embora pra orgia/ Era pro samba/ Sem segunda intenção/ Orgia de luz, de riso e alegria.” PEREIRA, Cilene Margarete. “Não posso mais: eu quero é viver na orgia”: malandragem feminina e rejeição do trabalho em sambas das décadas de 1930 e 40. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 57-69, jan./jun. 2014. mínimo possível, vive do jogo, das mulheres que o sustentam e dos golpes que aplica nos otários, sua contrapartida bem comportada.” (SANDRONI, 2012, p. 158).14 Ocorre que a rejeição ao trabalho esteia-se, para o sambista e para um amplo grupo proletário cuja visão de mundo ele expressa, num sentimento de descrédito e desilusão em relação às compensações oferecidas pelo trabalho tal como ele se dá em nosso sistema socioeconômico. (MATOS, 1982, p. 79). Tal construção socioeconômica não permite, para trabalhadores assalariados e de baixa renda, qualquer tipo de deslocamento social,15 pois o trabalho objetiva “simplesmente obter o mínimo necessário à própria manutenção e à dos seus”, completa Matos (1982, p. 79). Não se trabalha, pois, para o acúmulo de capital e para a satisfação do ócio, mas para um mínimo necessário à subsistência da família. E, às vezes, essa família não “reconhece” os esforços diários da labuta, levando o trabalhador, como no caso da canção de Wilson e Ataulfo, a uma série de lamentações diante do abandono feminino. Essa mulher e outras tantas que caíam na folia, com uma vida relativamente liberada das amarras convencionais, não eram, em hipótese alguma, compatíveis com a imagem idealizada pelo ministro do Trabalho Marcondes Filho, ao exaltar “a senhora do lar proletário”. Muito menos se afinavam com o misto de esposa ideal e real concebida pelo jurista Cesarino Jr., de acordo com as “tradições virtuosas das matronas brasi1eiras”. Essas mulheres “do barulho”, “do balacobaco”, infelicitavam a vida dos seus parceiros: trocavam, com facilidade, as prendas domésticas pela gandaia... (PARANHOS, 2011, p. 72). A afirmativa de Paranhos faz constatar o que ele chama de “discurso alternativo” às vozes sintonizadas com a política do Estado Novo de exaltação do trabalho. 16 As Página 65 14 Para Matos, o senso comum designa que “malandro seria quem não trabalha ou não gosta de trabalhar, preferindo sobreviver à custa de expedientes matreiros e frequentemente desonestos.” (MATOS, 1982, p. 77). Em entrevista a Moreira da Silva, Matos observa a definição singular deste de malandro: “malandro não é quem não faz nada, que assim seria muito difícil viver; é quem não pega no pesado. O estivador que carrega fardos o dia inteiro, o operário, o motorista de ônibus, não são malandros; já certos tipos de pequenos funcionários públicos, por exemplo, podem sê-lo. Moreira citou, como exemplo de profissão de malandro, a fiscalização da estiva. Há também os „trabalhos‟ ilícitos, como a cafetinagem, o jogo, etc.”. (MATOS, 1982, p. 77). 15 Matos chega a obsevar que uma análise dos sambas das décadas de 1930 a 50 mostra que o único deslocamento possível ao pobre é o reservado ao transporte público, por isso um número grande de canções tematizam esse deslocamento via bonde: “O que está contido na rejeição ao trabalho é a consciência de que a sociedade capitalista brasileira raramente permite o deslocamento do indivíduo negro dentro de sua hierarquia econômica e social. A possibilidade de tal deslocamento (...) só existe efetivamente e em maior escala a partir do estrato social pequeno-burguês, e está geralmente vedada ou grandemente dificultada para trabalhadores negros.” (MATOS, 1982, p. 82). 16 “Gerar um „novo homem‟, um cidadão modelar, ajustado aos princípios de cidadania incensados pelo Estado Novo, era tarefa prioritária do „Brasil Novo‟ que se tentava forjar. Tornava-se imperioso espantar de uma vez por todas o fantasma da vadiagem ou da contestação ao sistema de trabalho reinante. Afinada por esse diapasão, a Constituição promulgada em 10 de novembro de 1937 assemelhava ociosidade a crime e prescrevia, no seu artigo 136, que „o trabalho é um dever social‟. Já o artigo 139 capitulava a greve como „recurso antissocial‟, ato delituoso passível de prisão por 3 a 18 meses, mais as penas acessórias cabíveis, conforme estipulava o artigo 165 do Código Penal.” (PARANHOS, 2011, p. 62). PEREIRA, Cilene Margarete. “Não posso mais: eu quero é viver na orgia”: malandragem feminina e rejeição do trabalho em sambas das décadas de 1930 e 40. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 57-69, jan./jun. 2014. duas canções citadas (“Oh, Seu Oscar” e “Vida apertada”) oferecem outra realidade, na qual o trabalho não é compensador. José Miguel Wisnik pontua que a malandragem sambística, nesse contexto [do Estado Novo], aparece como um mal a ser erradicado. (...) Através de um aliciamento indireto, o Departamento de Propaganda incentiva os sambistas a fazerem o elogio do trabalho contra a malandragem. Convite em grande parte fracassado, no entanto, e por uma razão que podemos entender bem. Embora alguns sambas procurem efetivamente assumir um ethós cívico no nível das letras, essa intenção é contradita pelo gesto rítmico, pelas pulsões sincopadas que (...) opõe um desmentido corporal ao tom hínico e à propaganda trabalhista. A tradição da malandragem resiste, de dentro da própria linguagem musical, à redução oficial, produzindo curiosas incongruências de letra e música, e sobrevive intacta ao Estado Novo. (WISNIK, 1992, p, 120). Uma dessas incongruências é apontada por Paranhos na análise do samba “O amor regenera o malandro” (1940), de Sebastião Figueiredo: Sou da opinião De que todo malandro Tem que se regenerar Se compenetrar (e ainda mais: breque) Que todo mundo deve ter O seu trabalho para o amor merecer Segundo o ensaísta, a impressão inicial de adesão à política de erradicação da malandragem “se desfaz ao acompanharmos a performance dos intérpretes, Joel e Gaúcho, no fecho da segunda estrofe”, na qual “o uso do breque a duas vozes Ŕ breque que, neste caso, é anunciador de distanciamento crítico Ŕ bota por terra todo o blablabá estado-novista que parecia haver contagiado a gravação.” (PARANHOS, 2011, p. 6465). Regenerado Ele pensa no amor Mas pra merecer carinho Tem que ser trabalhador (que horror!: breque) Página 66 Em “Ganha-se pouco mas é divertido”, de Wilson Batista e Cyro de Souza (1940), o dia a dia árduo do trabalhador, de segunda a sábado em uma fábrica, só é rompido pela emergência do domingo e da festa, momento compensador. Ele trabalha de segunda a sábado Com muito gosto sem reclamar Mas no domingo ele tira o macacão, Embandeira o barracão, Bota a família pra sambar Lá no morro ele pinta o sete PEREIRA, Cilene Margarete. “Não posso mais: eu quero é viver na orgia”: malandragem feminina e rejeição do trabalho em sambas das décadas de 1930 e 40. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 57-69, jan./jun. 2014. Com ele ninguém se mete Ali ninguém é fingido Ganha-se pouco mas é divertido Ele nasceu sambista Tem a tal veia de artista Carteira de reservista E está legal com o senhorio Não pode ouvir pandeiro não Fica cheio de dengo É torcida do Flamengo Nasceu no Rio de Janeiro Considerando o tipo de parceria entre os compositores aludida por Sandroni, é possível afirmar a autoria de cada uma das partes da canção: coube a Wilson o refrão (primeira parte) e ao parceiro Cyro, a segunda. Desse modo, temos Batista construindo a imagem dupla da personagem masculina: trabalhador e sambista. Ou seja, temos aqui uma duplicidade que nem sempre é vista no samba, já que sambista é quase sempre associado ao malandro, sobretudo a partir das criações do grupo do Estácio.17 Wilson Batista, malandro de primeira, constrói uma personagem operária que atende, diariamente (“de segunda a sábado”), à ordem do sistema (“sem reclamar”), padronizado e sem identidade pelo uso do uniforme (“macacão”). Mas esse mesmo operário tem uma válvula de escape: o samba, que não só expõe sua outra faceta (“põe a família para sambar”) como o individualiza a partir de uma comunhão coletiva. A individualização ocorre por meio de sua dissociação ao mundo do trabalho (o mundo dos dominantes, do qual ele é só mais um dominado). Essa singularização do sujeito torna-se mais evidente na segunda parte do samba, na qual alguns caracteres são incorporados como reforço da composição trabalhador e sambista já anunciada por Wilson Batista na primeira parte: Ele nasceu sambista (...) Não pode ouvir pandeiro não (...) É torcida do Flamengo Nasceu no Rio de Janeiro Página 67 É interessante notar que os elementos caracterizadores da personagem são também responsáveis por colocá-lo em contato com uma comunidade maior, representada, na canção, por sua associação aos moradores do morro: 17 A noção de malandro está associada à de sambista desde os anos 20 [do século passado]. A associação é simultânea ao processo de derivação do samba para sua versão rítmica „moderna‟, aquela que se divulgou a partir dos fins da década de 20 nas criações do pessoal do Estácio. (MATOS, 1982, p. 39). PEREIRA, Cilene Margarete. “Não posso mais: eu quero é viver na orgia”: malandragem feminina e rejeição do trabalho em sambas das décadas de 1930 e 40. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 57-69, jan./jun. 2014. Lá no morro ele pinta o sete Com ele ninguém se mete Ali ninguém é fingido A segunda parte continua a promover a duplicidade da personagem, associando-a ao mundo da ordem, da qual o trabalho faz sem dúvida parte: “Carteira de reservista / E está legal com o senhorio”. Cyro de Sousa desenvolve o tema de Wilson e o retoma, reafirmando o espaço do morro e do samba (“é divertido”) como oposição ao “mundo lá fora” (“Ganha-se pouco”). A unir estes dois mundos está uma conjunção adversativa (mas) que parece afirmar a supremacia do morro em oposição ao mundo do asfalto; afinal, “ali ninguém é fingido”. Apesar da tendência à idealização patente nestes versos, observa-se que eles configuram uma verdade particular à comunidade da favela e do samba, verdade que se identifica à noção de uma sinceridade ou autenticidade de todo o grupo: “ali ninguém é fingido”. (MATOS, 1982, p. 32). “Ganha-se pouco mas é divertido” revela, como nos lembra José Miguel Wisnik, que “a afirmação do ócio é para o negro a conquista de um intervalo mínimo entre a escravidão e a nova precária condição de mão de obra desqualificada e flutuante.” (WISNIK, 1992, p. 119). O momento consagrado ao dançar e cantar (ao ócio e à celebração, portanto) aponta para a brecha mínima existente entre duas condições embrutecidas pela exploração e pelo trabalho alienado. Não se pode esquecer de que o samba, em sua função mais imediata, tem um caráter lúdico, promovendo, assim, um “território protegido das pressões externas, que é, simultaneamente, um território de prazer, com valores próprios, que procura preservar-se excluindo de si os fatores que representam opressão e desprazer.” (MATOS, 1982, p. 31). O samba pode ser entendido, dentro dessa visão intervalar mínima, como uma espécie de “agente unificador e mantenedor de uma identidade sociocultural do grupo que o pratica”, ganhando um “estatuto de patrimônio coletivo a ser cultuado e preservado”. (MATOS, 1982, p. 31). Para Muniz Sodré, “o samba é o meio e o lugar de uma troca social, de expressão de opiniões, fantasias e frustrações, de continuidade de uma fala (negra) que resiste à expropriação cultural”. (SODRÉ, 1998, p. 59). Assim, ele se qualifica como índice de uma resistência mínima ainda que pareça apontar para a mitificação da pobreza feliz como em “Ganha-se pouco mas é divertido”. Página 68 REFERÊNCIAS BERLINCK, Manoel Tosta. Sossega leão! Algumas considerações sobre o samba como forma de cultura popular. In: Contexto. São Paulo: novembro de 1976, N.º 1. CABRAL, Sérgio. As escolas de samba. Rio de Janeiro: Ed. Fontana, s/d. MATOS, Cláudia. Acertei no milhar: samba e malandragem no tempo de Getúlio. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. PARANHOS, Adalberto de Paula. Espelhos partidos: samba e trabalho no tempo do “Estado Novo”. Projeto História. Dezembro de 2011. N.º 43. PEREIRA, Cilene Margarete. “Não posso mais: eu quero é viver na orgia”: malandragem feminina e rejeição do trabalho em sambas das décadas de 1930 e 40. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 57-69, jan./jun. 2014. PERROT, Michelle. As mulheres ou os silêncios da história. Trad. Viviane Ribeiro. Bauru/SP: EDUSC, 2005. SANDRONI, Carlos. Feitiço decente: transformações do samba no Rio de Janeiro (1917-1933). 2ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. SEVERINO, Jairo; MELLO, Zuza Homem de. A canção no tempo: 85 anos de músicas brasileiras (volume 1: 1901-1957). Rio de Janeiro: Editora 34, 1997. SODRÉ, Muniz. Samba, o dono do corpo. Rio de Janeiro: Mauad, 1998. WISNIK, José Miguel. Algumas questões de música e política no Brasil. In: BOSI, Alfredo (org.). Cultura brasileira: temas e situações. São Paulo: Ática, 1992. Recebido em: 04/02/2014. Aprovado em 15/06/2014. Página 69 Title: “Não posso mais: eu quero é viver na orgia”: female trickery and work rejection in sambas from the 1930s and 40s Abstract: At the end of the 1920s, samba players from the Estácio de Sá neighboorhood (In Rio de Janeiro) impose a new mode of samba, played to the rhythm for the official street parades and street Carnival parades. From this generation, descend the samba players of the following decades, who found the radio to be an important vehicle to diffuse it culturally and to help “consolidate” the samba as an element of nationality and the in the emerging of great composers, such as Noel Rosa, Ataulfo Alves and Wilson Batista. The objective of this study is to examine, from some samba lyrics from the 1930s and 40s having as a starting point a song named “Oh, Seu Oscar!” (1940), by Wilson Batista and Ataulfo Alves - , the opposition between regular world and orderly world (in which are included the family constitution and honest work) and the universe of trickery, giving emphasis to the topic of the “orgy woman.” Keywords: Samba. Trickery. Characters. Work. Family. PEREIRA, Cilene Margarete. “Não posso mais: eu quero é viver na orgia”: malandragem feminina e rejeição do trabalho em sambas das décadas de 1930 e 40. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 57-69, jan./jun. 2014. „HUMAN AFTER ALL‟? DAFT PUNK E O CULTO À MÁQUINA Marcelo Cizaurre Guirau1 Rafael Mantovani2 Resumo: Daft Punk é um duo formado nos anos 1990 e consagrado na década seguinte. É considerado por muitos como inovador e os próprios componentes apresentam um discurso de experimentação em música. Seu último lançamento, Random Access memories, de 2013, foi bastante aclamado por crítica e público, tendo vencido o prêmio de melhor álbum do ano de 2013 – dentre outros quatro prêmios – no Grammy 2014. O que o Daft Punk traz de realmente inovador é que eles abolem a figura humana, efeito alcançado com a eliminação da figura de (ao menos) um frontman e/ou substituindo, em geral, a voz humana pela voz mecanizada. Abolindo o homem e tendo como fantasia que a produção musical é feita por máquinas, tem-se na banda representado de forma mais completa o sonho mecanicista do século XX, trazido pela primeira vez pela escola futurista. Palavras-chave: Techno. Daft Punk. Utopia. Máquina. Ciborgue. INTRODUÇÃO3 No dia 15 de maio de 2013, Roberto Nascimento escreveu uma crítica4 ao quarto álbum de estúdio do duo francês Daft Punk, Random access memories. Em tom extremamente elogioso, o texto destaca uma frase que um dos componentes da banda, Thomas Gangalter, disse à revista Rolling Stone: “A dance music atual está na zona de conforto. Não tem caminhado um palmo”. Tal afirmação permite que se infira que a banda se pretende vanguarda. Pode-se argumentar que uma frase dita por um produtor cultural em uma entrevista pode não ser totalmente sincera e visar apenas publicidade. Página 71 1 Marcelo Cizaurre Guirau possui graduação em Letras (Português / Inglês) pela Universidade de São Paulo. (2004); especialização em Estudos de museus de arte pelo Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo -MAC-USP (2006); mestrado em Letras (Estudos Linguísticos e Literários em Inglês) pela Universidade de São Paulo (2007); especialização em Linguagens da arte pelo Centro Universitário Maria Antônia da Universidade de São Paulo (2008); doutorado em Letras (Estudos Linguísticos e Literários em Inglês) pela Universidade de São Paulo. É professor do Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Email: [email protected] 2 Rafael Mantovani é doutorando (2011) em Sociologia pela Universidade de São Paulo (USP). É mestre (2009) pela PUC/SP em Ciências Sociais, com concentração na área de Antropologia, tendo sido convidado como pesquisador do Instituto Gino Germani do programa de pós-graduação da Universidad de Buenos Aires. É graduado (2005) em Ciências Sociais também pela PUC/SP. Tem experiência na área de sociologia histórica e desenvolve pesquisas nos temas de formação de Estados-nação, literatura e pintura, controle social e história da ciência. Email: [email protected]. 3 Agradecemos a leitura e comentários de André Romano, que enriqueceram esse texto. 4 Nascimento, Roberto. “Manifesto contra o pop impessoal”, O Estado de São Paulo, 15 de maio de 2013. Conforme se observará, Roberto Nascimento se equivoca ao pensar que o Daft Punk apresentaria uma espécie de manifesto contra a impessoalidade: a impessoalidade é justamente uma das características do Daft Punk, buscada e comemorada pelo duo. GUIRAU, Marcelo Cizaurre; MANTOVANI, Rafael. ‘Human After All’? Daft Punk e o culto à máquina. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 71-85, jan./jun. 2014. Por mais que seja difícil averiguar o grau de “sinceridade” que determinada afirmação tem quando proferida por um produtor de cultura, há condições para que seja proferida e, mais do que isso, publicada. Criou-se ao redor do lançamento desse álbum uma grande expectativa. O Daft Punk é um tipo de criação social que gera legitimação simbólica em torno do que produz: o seu consumidor tem, tanto ao conhecer quanto ao apreciar, um capital simbólico específico pelo fato de a banda pertencer a um universo considerado “cult”. Por mais que não se venha aqui fazer uma discussão estritamente musical do Daft Punk, convém ressaltar que a banda não pode ser reconhecida exatamente pela inovação nos arranjos de cordas, como pretende Roberto Nascimento. Ora, por que então falar do duo formado por Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo? Porque essa banda representa o sintoma mais evidente, dentro da cultura de massa, de um sonho antigo de uma parte da humanidade Ŕ que ganhou voz e expressão artística com Filippo Marinetti (1876-1944) Ŕ de que o futuro seja guiado pela suposta perfeição e racionalidade da máquina. A música é mecanizada desde a emergência da indústria cultural. Entretanto, há algo que ainda é preservado de humano nela, algo que o Daft Punk pretende eliminar simbolicamente Ŕ o que os torna um objeto de estudo interessante para a compreensão das razões desse desprestígio do humano em face do inumano. Trata-se de um movimento que se inicia na música pop, mais especificamente, com o Kraftwerk, banda alemã que surge na década de 1970, que produz suas músicas de forma sintética. Tratava-se da descoberta da facilidade mecânica não apenas para a gravação das músicas, mas também para a produção e criação de música por meio da máquina. A banda canta esse elogio à máquina e tem em seu repertório músicas como The robots, Autobahn e The man-machine5. Contudo, no Kraftwerk, a justaposição do humano e do tecnológico “não questiona as categorias essenciais, mas sim deve ser vista como uma mudança na aliança de uma esfera a outra6” (Auner, 2003, p. 110). Posteriormente, fazer música com computadores se tornou comum e os estilos se multiplicaram em techno, synthpop, house (que, por sua vez, se divide em acid house, dirty house, progressive house, tribal house etc.), rock industrial, entre outros7. Entretanto, todas essas manifestações mais importantes de cada estilo ainda conservavam um aspecto determinante: a voz humana e a figura de, ao menos, um frontman. Por mais que se faça cada vez mais música com computadores, sempre se manteve um refúgio para o humano: ao menos na voz e na figura dos artistas-criadores. Mesmo dentro do que é produzido de forma totalmente mecânica, em geral, buscou-se fugir da total mecanização: havia a preocupação de não soar mecânico demais (ao estilo Página 72 5 Em inglês, o adjetivo vem, em regra, antes do substantivo. Portanto, não se trata de “homem-máquina”, ou seja, um homem que tem atribuições de máquina, mas antes, “máquina-homem”, ou seja, uma máquina que tem atributos humanos. 6 Traduções livres dos autores no decorrer deste texto. 7 Convém chamar a atenção para o fato de que não se trata aqui do desenvolvimento puramente sonoro que chegou ao techno, mas sim da evolução de uma ideia que culmina no Daft Punk. Por isso, opta-se aqui por traçar essa trajetória pelo caminho que, na música contemporânea, foi aberto pelo Kraftwerk, embora não ignoremos que alguns, como Smith (2004, p. 732), dirão que a evolução do techno francês passa pela musique concrète dos anos 1940. GUIRAU, Marcelo Cizaurre; MANTOVANI, Rafael. ‘Human After All’? Daft Punk e o culto à máquina. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 71-85, jan./jun. 2014. fundo musical de jogos de videogame) e as bandas que gravavam dessa forma demonstravam a intenção de, nas gravações, colocar algo que quebrasse a completa perfeição monótona e, nos videoclipes, criar a fantasia de que os instrumentos eram tocados por pessoas8. Em ensaio escrito em 1927, Theodor Adorno compara o destino dos aparelhos de gravação e reprodução mecânica da voz ao da fotografia, e chega à conclusão de que a mudança da produção artesanal para a industrial transforma não apenas a forma de distribuição, mas o que é produzido. Adorno vê o processo de aperfeiçoamento da gravação de forma bastante pessimista; se de um lado as gravações ganham em volume e plasticidade, outros aspectos como a autenticidade dos sons vocais declinam, “como se o cantor fosse sendo cada vez mais distanciado do aparato” (ADORNO, 1990, p. 48). Slavoj Zizek, comentando o ensaio de Adorno, esclarece a relação inversa entre a percepção da presença humana por trás do aparato e a perfeição da técnica de reprodução: Quanto mais a máquina evidencia sua presença (por meio de ruídos inoportunos, falhas de reprodução e interrupções) [ou seja, quando a perfeição da máquina se rompe], mais forte é a experiência da presença real do cantor Ŕ ou, pensando no inverso, quanto mais perfeita é a gravação, quanto mais fiel é a reprodução da voz humana pela máquina, mais humanidade é removida, mais forte é a sensação de que estamos lidando com algo “inautêntico” (ZIZEK, 2001, p. 44). Portanto, quanto mais perfeito tecnicamente, menos aspectos humanos são percebidos; e, contrariamente, o humano é notado quando a reprodução mecânica é imperfeita (Zizek, 2001, p. 45). Se a indústria cultural exige a perfeição técnica para veicular as músicas, nos videoclipes ao menos, as bandas geralmente ainda se preocupam em manter a imagem do homem, como se fosse ele quem estivesse tocando instrumentos que produzem determinados sons quando, em realidade, eles foram produzidos por samplers. No techno isso é comprometido, afinal, fica mais difícil imaginar que os sons comuns nesse tipo de música são produzidos por homens; mas, ainda assim, a imagem dos DJs parece ser importante, como, por exemplo, Fatboy Slim, Skazi, David Guetta, Murphy. Ou seja, por mais que a mecanização e perfeição sejam aspectos exigidos pela indústria cultural, a presença humana é mantida como lembrança da origem da obra Ŕ é ainda necessário mostrar que, por detrás de toda a tecnologia, ainda há pessoas criando. O que o Daft Punk faz é o movimento inverso: ao invés de preservar a figura humana, eles conscientemente buscam eliminá-la. Página 73 O aspecto marcante do Daft Punk está no fato de que seus integrantes se vestem de robôs. Na página da banda na internet, eles justificam essa opção estética dizendo que o fazem por não gostar da ideia do artista como “estrela” e do culto à personalidade 8 Ver, como exemplos, os clipes de Kids are united, do Atari Teenage Riot, e apresentações do Prodigy, banda que faz questão de ter no palco um guitarrista e um baterista (baterista que apenas aparece nos shows, afinal, não faz parte da banda e nem grava com ela), além de diversos outros clipes de músicas cujas baterias e baixos poderiam ser feitos totalmente com samplers, mas que são tocados por pessoas: bons exemplos disso são Ministry e Nine Inch Nails. GUIRAU, Marcelo Cizaurre; MANTOVANI, Rafael. ‘Human After All’? Daft Punk e o culto à máquina. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 71-85, jan./jun. 2014. impulsionado pelo “star system”: “Nós discordamos totalmente do star system e do culto à imagem física da pessoa. Nós somos músicos e essa é a única coisa de que as pessoas deveriam se lembrar” (Apud SMITH, 2004, p. 738). Ou seja, descrevem a sua peculiaridade (a fantasia da música produzida por robôs) como se fosse uma grande crítica ou subversão ao mainstream. Assim, mascaram seu movimento de impessoalização, levado a cabo por meio da figura do robô em vez da sua própria, como crítica social. A voz nas músicas do Daft Punk também se apresenta como imitação de robôs. Se, em determinados momentos, a banda procura aproximar a gravação de instrumentos a uma sonoridade que até parece ter sido produzida por humanos, as marcas principais de atributos humanos da cultura contemporânea (a voz e a imagem) são substituídas. A fantasia de que são robôs que fazem a música constitui uma espécie de marca específica da banda. Não fosse essa especificidade, se trataria de apenas mais uma banda que, como muitas outras, cuida com extrema disciplina do ordenamento matemático de cada nota e cada tempo para não criar estranhamento. Contudo, a forma se torna conteúdo: se as bandas, em geral, usam as possibilidades tecnológicas para exacerbar as figuras humanas (reverberação na voz, luzes que projetam sombras enormes, brilhos), no caso do Daft Punk a mecanização segue até o contato com os ouvintes e/ou a plateia: não há homens que são evidenciados pela utilização da tecnologia; é a própria tecnologia que é apresentada para ser reverenciada, afinal, se trata de dois robôs. Se não é verdadeiro que não haja homens por trás da produção da banda, é essa a fantasia que pretendem criar. O que faz essa banda ser tão aclamada e prestigiada nos meios especializados? Talvez o que haja de subjacente ao prestígio do Daft Punk seja um antigo sonho de utopia mecanicista que se inicia no século XX. Trata-se da ideia kraftwerkiana de que eles não seriam eles “homens-máquina”, mas sim uma espécie nova, máquinas com capacidade criativa: “máquinas-homem”. Essa mudança de perspectiva em relação à tecnologia pode ser descrita como uma espécie de “gnosticismo tecnológico”, termo de Hermínio Martins, que, para Felinto, indica uma mudança de perspectiva em relação às representações da tecnologia correntes até princípios do século XX. Até então, a tecnologia era representada como uma forma de extensão do corpo humano, e desse modo a imagem material do corpo tinha prioridade sobre o maquínico. No horizonte das novas tecnologias, contudo, é o humano que é absorvido pela máquina, tomando-se apenas mais um sistema de informações entre outros. O gnosticismo era uma religião dualista, depreciadora da materialidade e da corporalidade. Seu objetivo era oferecer ao adepto uma técnica espiritual capaz de permitir a liberação das amarras corporais e do espaço material. Do mesmo modo, as fantasias a respeito das novas tecnologias sonham com a superação de todos os limites físicos do ser humano, com a virtualização do corpo e a expansão da consciência (2005, p. 63). Página 74 Segundo Auner, “em nenhum aspecto das nossas vidas a penetração do humano pela máquina tem sido mais completa do que na música9” (2003, p. 99). Disso, temos 9 No original: “In no aspect of our lives has the penetration of the human by machines been more complete than in music”. GUIRAU, Marcelo Cizaurre; MANTOVANI, Rafael. ‘Human After All’? Daft Punk e o culto à máquina. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 71-85, jan./jun. 2014. que o techno surge como celebração dessa penetração; e o Daft Punk como a sinalização utópica do processo levado ao ápice. O FUTURO COMO UTOPIA: A VANGUARDA FUTURISTA E O SONHO MECANICISTA O Daft Punk apresenta a continuação da ideologia do progresso tecnológico trazida primeiramente pelo futurismo. Para explicar os pontos de contato e as diversas diferenças entre artistas separados por um século, é importante trazer os pontos fundamentais do futurismo, embora o foco aqui seja outro. Para se chegar ao nosso objeto, é necessário entender dois pontos: 1. o comportamento iconoclasta do grupo futurista (que discrepa diametralmente com o comportamento do duo), 2. as formas de se acabar com a imagem do eu e do homem. Com relação ao primeiro ponto, as condições de produção cultural explicam o distanciamento entre o comportamento iconoclasta dos futuristas e a docilidade do Daft Punk. Com relação ao segundo ponto, mesmo atualizada, a forma de acabar com o humano na produção artística tanto dos futuristas quanto do duo apresenta técnicas e estratégias parecidas. Perloff (1986, p. 36) já nos alertou que equacionar futurismo e fascismo é uma simplificação, afinal, entre os membros da vanguarda, havia marxistas, socialistas, anarquistas, anarco-sindicalistas. Entretanto, a ligação entre essa vanguarda artística e o movimento político ocorreu, embora muitas vezes de forma confusa e tensa (HUMPHREYS, 2001, p. 14-15). O futurismo tinha como bandeira, acima de tudo, a destruição da tradição, dos museus, bibliotecas e tudo o que representasse o passado. A violência contra a plateia era a postura de profetas do futuro que não viam outra forma de fazer arte senão destruindo o que imaginavam como passado opressivo. “A ação violenta, seja na vida, seja na arte, era encarada como o antídoto contra a letargia política, cultural e filosófica” (Humphreys, 2001, p. 9), especialmente da Itália da virada para o século XX. E o elogio da máquina, do óleo, do ritmo correto que marca o “belo” passo de veículos de rodovia e que requer a destruição acabou por cair no elogio à guerra10, esse momento em que a grandiosidade de tudo o que é metálico, duro e espesso ganharia “poesia”. Em 1909, Marinetti escreveu no seu Manifesto do futurismo: “Nós queremos a guerra Ŕ única higiene do mundo Ŕ, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre [...]” (apud BERNARDINI, 1980, p. 34). Ao menos para estes artistas, naquele momento, fazia algum sentido imaginar que os verdadeiros detentores da liberdade seriam os nacionalistas. Não é de se estranhar que grande parte dos futuristas tenha morrido no campo de batalha em nome do fascínio Página 75 10 Walter Benjamin, em perspectiva oposta ao elogio da técnica dos futuristas, estabelece a relação entre automóvel e guerra: “„L„automobile c„est la guerre‟. O que estava na raiz dessa surpreendente associação de palavras era a ideia de uma aceleração dos instrumentos técnicos, seus ritmos, suas fontes de energia etc., que não encontram em nossa vida pessoal nenhuma utilização completa e adequada e, no entanto, lutam por justificar-se. Na medida em que renunciam a todas as interações harmônicas, esses instrumentos se justificam pela guerra, que prova com suas devastações que a realidade social não está madura para transformar a técnica em seu órgão e que a técnica não é suficientemente forte para dominar as forças elementares da sociedade” (Benjamin, 1994, p. 61). GUIRAU, Marcelo Cizaurre; MANTOVANI, Rafael. ‘Human After All’? Daft Punk e o culto à máquina. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 71-85, jan./jun. 2014. que lhes tomou conta quando explodiram a primeira e a segunda guerras mundiais. Contudo, a ligação ao patriotismo e o elogio à guerra, apesar de serem aspectos muito consideráveis para a vanguarda, nos interessa de forma acessória. Mais importantes para nós são as técnicas para criar o assombro e tentar destruir o humano da obra. As iniciativas para criar o esperado incômodo na plateia se iniciaram quando Marinetti assistiu à peça Ubu Rei, de Alfred Jarry e criou a sua própria em seguida, em 1909, chamada Roi Bombance. Era provocativa, assim como a de Jarry, e apresentava sátiras à revolução e à democracia (GOLBERG, 2006). Tratava-se da tentativa de tirar os espectadores da zona de conforto a fim de levá-los a rejeitar a tradição para, enfim, cultuar a máquina. A performance era um meio de desconcertar o público acomodado, que diversas vezes não iria entender o que estava em jogo e, portanto, “os futuristas devem ensinar todos os escritores e performers a desprezar o público, asseverava ele [Marinetti]” (GOLBERG, 2006, p. 6). Não apenas vaias, mas verdadeiros confrontos se seguiam às apresentações futuristas. Essas técnicas de Marinetti Ŕ fossem elas vender uma entrada para duas pessoas com o intuito de fazê-las brigar pelo lugar, colocar cola nos assentos, ou não ter roteiro em suas peças e incentivar o nonsense Ŕ visavam ao incômodo e ao conflito (a música ruidosa e onomatopeica que os futuristas criaram também visava à recriação do ambiente de trincheira). Em segundo lugar, os futuristas visavam também criar uma forma de ligar os elementos em movimento para que fosse gerada a percepção da cadência mecânica. A música de ruído, mencionada acima, além de ter como intuito recriar o ambiente de trincheira, seguia, segundo o pintor Rusolo, o ritmo das máquinas. O ruído reinava “soberano sobre a sensibilidade humana” (GOLBERG, 2006, p. 11). Mas não é apenas sonoramente que se obtém a sensação de mecanicidade. No Manifesto técnico da literatura futurista de 1912, Marinetti diz que é necessário Substituir a psicologia do homem, já esgotada, com a obsessão lírica da matéria. Cuidado para não emprestar à matéria os sentimentos humanos, mas antes, procurar adivinhar seus diferentes impulsos diretores, suas forças de compressão, de dilatação, de coesão, e de desagregação, seus bandos de moléculas em quantidade ou seus turbilhões de elétrons. Não se trata de apresentar os dramas da matéria humanizada. É a solidez de uma chapa de aço que nos interessa por ela mesma, isto é, a aliança incompreensível e inumana de suas moléculas ou de seus elétrons, que se opõem, por exemplo, à penetração de um obus No manifesto intitulado Declamação dinâmica e sinóptica de 1914, Marinetti explicava como deveriam ser as ações corporais baseadas na máquina. E, para acabar com a “psicologia do homem”, o que o homem dissesse no palco não poderia ser expressão de sentimento, mas apenas o som mecânico: nas peças havia performers nos bastidores emitindo sons como “bulu bulu bulu” (GOLDBERG, 2006, p. 18) ou a repetição veemente da sílaba “STA” (GOLDBERG, 2006, p. 12), que, junto com outras técnicas, visavam à fusão entre atores e cenografia para a apresentação da máquina, das qualidades da máquina. No manifesto da Dança futurista, escrito em 1917, Marinetti Página 76 (BERNARDINI, 1980, p. 84-85). GUIRAU, Marcelo Cizaurre; MANTOVANI, Rafael. ‘Human After All’? Daft Punk e o culto à máquina. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 71-85, jan./jun. 2014. deixa bastante claro qual era o desejo dos futuristas: “aquele corpo ideal e múltiplo do motor, com o qual sonhamos há tanto tempo11” (GOLDBERG, 2006, p. 14). AS QUALIDADES HUMANAS COMO INSTRUMENTOS DA MÁQUINA Passado quase um século, o homem civilizado se vê rodeado de aparelhos, números, estatísticas, introjeção passiva de chips no seu cotidiano: a aceitação da máquina já não é uma batalha. Estando bem estabelecido que o progresso tecnológico facilita a vida do homem por meio da máquina, a disposição de tirar o homem da arte já não demanda tanta agressão à plateia; é certo que tal gosto ainda pode trazer certo espanto, mas em geral não passa da ideia de “cult”, um diferencial criativo. Não só não é necessário incomodar a plateia como, aos que pretendem fazer parte da indústria cultural, não é requisitado assombrar os espectadores. Além do mais, há uma série de temas nas músicas do Daft Punk que não estavam dados à época do futurismo, mas que são rotineiros e demandados pelo público nas produções atuais: o amor e a vida noturna/festa12. Esses temas são hoje obrigatórios na cultura pop. Dessa forma, os produtores culturais aqui em questão se adaptam a demandas bastante específicas do campo da produção de cultura em massa (cantam sobre o amor e a festa), mas apresentam a sua especificidade ao acabar com a imagem do homem. Para entender como acontece essa união, passaremos pelos quatro álbuns de estúdio e por dois videoclipes (Robot Rock e Prime time of your life) que trazem uma proposta artístico-estética que caracteriza a banda. Embora clipes e músicas sejam linguagens diferentes, eles compõem uma identidade estética para a banda. DISCOGRAFIA O Daft Punk tem quatro álbuns de estúdio: Homework (1997), Discovery (2001), Human after all (2005) e Random Access memories (2013). O prestígio artístico do Daft Punk já é alcançado com o álbum de 1997, tendo dois videoclipes dirigidos por diretores aclamados: Spike Jonze dirigiu Da funk e Michel Gondry dirigiu Around the 11 Em Ode triunfal (1914), Álvaro de Campos Ŕ pseudônimo de Fernando Pessoa Ŕ expressa seu desejo de Página 77 união carnal com a máquina: Eu podia morrer triturado por um motor Com o sentimento de deliciosa entrega duma mulher possuída. Atirem-me para dentro das fornalhas! Metam-me debaixo dos comboios! Espanquem-me a bordo de navios! Masoquismo através de maquinismos! Sadismo de não sei quê moderno e eu e barulho! 12 O filósofo e crítico de arte Michel Gaillot, para dizer que as raves são um “laboratório artístico do presente”, traz três aspectos fundamentais do techno: 1. é essenciamente festivo, 2. não há posicionamento político, 3. está relacionado com a tecnologia contemporânea (Apud SMITH, 2004, p. 737). GUIRAU, Marcelo Cizaurre; MANTOVANI, Rafael. ‘Human After All’? Daft Punk e o culto à máquina. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 71-85, jan./jun. 2014. world. Por terem sido criados personalidades conhecidas por seus vídeos e filmes, esses dois primeiros clipes da banda apresentam características autorais de seus diretores. A marca registrada do Daft Punk Ŕ a aparição em shows e em público caracterizados de robôs Ŕ surgiria com força apenas posteriormente. Cada álbum apresenta um conceito diferente: Homework pode ser entendido como uma mistura de techno e acid house; Discovery vai pela linha do synthpop; Human after all é totalmente diferente dos dois primeiros, misturando eletrônico com rock; e Random access memories também difere totalmente dos anteriores sendo um retorno à disco music. Ou seja, por mais que a banda diga que espera que seja apreciada pela música que produz, é muito pouco provável que um grande número de pessoas possa ser apreciadora igualmente de sinthpop, rock e disco. Em realidade, fãs da banda o são de fato basicamente pela aura do Daft Punk, pois as mudanças tão drásticas de gênero não poderiam, unicamente pelo aspecto musical, manter os seus apreciadores13. O primeiro álbum, Homework, apresenta faixas com vozes humanas, iniciando-se pela primeira. Entretanto, a utilização que a banda faz, nesse momento, da voz humana é apenas uma espécie de “instrumentalização” da voz, que é o resultado da mistura de certas sílabas, sonoras o suficiente, com determinado timbre, que faz com que ela se misture organicamente com os outros instrumentos. Palavras como “com‟on”, “everybody”, “dance” ou “oh yeah” são exemplos clássicos desse efeito. A primeira faixa de Homework, intitulada Daftendirekt, trata exatamente desse efeito: uma frase Ŕ “Dafunk back to the punk come on” Ŕ que é repetida inúmeras vezes devido ao efeito do tipo de voz usado com as sílabas pronunciadas. Esvaziada de valor semântico, a frase apenas vale pela sua carga sonora. Chamaremos a essa técnica Ŕ que se assemelha à técnica de voz empregada pelos futuristas Ŕ de “voz silábica”. Ao contrário do rap, que requer a palavra, “o techno rejeita lirismo e narrativa, e confia quase exclusivamente na atmosfera ou nas batidas por minuto para o seu efeito” (Smith, 2004, p. 734). Segundo Smith, o uso dos vocais no techno é geralmente fonético e estético, não semântico; é mais um instrumento musical do que um canal de mensagem Ŕ não há mensagem, afinal, os vocais estão descontextualizados. A segunda faixa é uma espécie de imitação de vinheta de rádio e, portanto, efeito de uma metalinguagem em que se pressupõe que os artistas estão, ainda, por detrás do que é exposto. A terceira faixa, Revolution 909, segue a mesma ideia (um efeito de Página 78 13 Pode-se contra-argumentar dizendo que bandas mudam de estilo sem, no entanto, perder os fãs que possuem. Contudo, quando o fazem, em geral permanecem sob uma mesma rubrica maior. O Ministry, já citado neste trabalho, mudou bastante, indo do synthpop ao metal, sempre misturando com eletrônico. Mas o Ministry não deixou de fazer algum tipo de rock e, por isso, os fãs permaneceram. Um outro cenário seria se a banda tivesse mudada do synthpop para a salsa, por exemplo. Aí os fãs seguramente deixariam de segui-la. O mesmo ocorreria se fossem do synthpop para a disco music. Existem socialmente algumas fronteiras dentro das quais um grupo de pessoas se reconhece musicalmente e em que uma banda pode fazer experimentações (mesmo dentro do rock, uma banda precisa cuidar quando muda de estilo se quiser manter seu público, pois dois estilos podem ser totalmente incompatíveis: por exemplo, uma banda de heavy metal que comece a fazer grunge, ou o oposto, uma banda grunge que passe para o heavy metal, muito provavelmente perderá o seu público e não conseguirá o apoio do estilo de música no qual está entrando). Curiosamente, o Daft Punk operou uma dessas essas mudanças drásticas de estilo, passou do rock para a disco music, sem grandes inovações em nenhum deles. O prestígio do qual a banda desfruta está em outro lugar e a sua manutenção depende de outros fatores. GUIRAU, Marcelo Cizaurre; MANTOVANI, Rafael. ‘Human After All’? Daft Punk e o culto à máquina. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 71-85, jan./jun. 2014. metalinguagem em que a música em si está submetida à história contada) e também apresenta vozes humanas. Contudo, elas apenas simbolizam os espectadores de um show que se dá em espaço público: seria o fundo musical de um pretenso conflito entre a polícia e o que quer que esteja tocando Ŕ surge um som de alto-falante com alguém dizendo “Stop the music and go home” em meio a outras conversas. Da funk (faixa 4), Phoenix (faixa 5) e Fresh (faixa 6) são uma sequência que não apresenta letra nem vozes. Em seguida entra Around the world (faixa 7), que tem letra e traz o título da faixa repetido por uma voz mecânica. Rollin‟ & scratchin‟ (faixa 8) é a mais mecanizada de todo o álbum, pois não apresenta nenhuma tonalidade: é música totalmente construída com ruídos de samplers. A grande exceção desse álbum é a próxima, Teachers (faixa 9), uma espécie de homenagem da dupla aos produtores culturais que admiram: se trata de um lista bastante grande de nomes Ŕ na sua maioria, DJs Ŕ que é dita por duas vozes mecanizadas: uma grave e outra aguda. Entretanto, presumem-se nessa faixa ao menos dois elementos humanos: admiração/afeto aos “teachers”; pois as vozes, apesar de mecanizadas, podem, a alguns ouvidos, soarem como vozes humanas com algum efeito. High fidelity (faixa 10) e Oh yeah (faixa 11) são os casos em que o efeito de voz silábica fica mais evidente. Interpondo-se a elas, há a instrumental Rock n‟ roll (faixa 11). O álbum termina com as instrumentais Burnin‟ (faixa 13), Indo silver club (faixa 14), Alive (faixa 15) e uma espécie de “citação” da quarta faixa que eles intitularam Funk ad (faixa 16). O álbum Discovery, de 2001, se inicia com One more time, a faixa talvez de maior sucesso do duo e, curiosamente, uma das faixas em que a voz mecanizada ainda tem muito de humano: trata-se de uma música tonal, melodiosa e que fala sobre celebração, ou seja, a festa. A terceira faixa traz uma das letras mais extensas da banda e fala sobre amor. O sentimento prossegue, embora seja cantado por robôs: quem canta o amor é uma voz robótica e a música se chama Digital love. Também a faixa nove Ŕ Something about us Ŕ fala sobre amor e, além disso, ao contrário de Digital love, traz uma voz menos robotizada Ŕ trata-se da grande exceção desse álbum e da banda, conforme se explicará. Harder, better, faster, stronger (faixa 4), Crescendolls (faixa 5), Superheroes (faixa 7), High life (faixa 8) trazem voz Ŕ voz silábica. Aerodynamics (faixa 2), Nightvision (faixa 6), Voyager (faixa 10), Veridis quo (faixa 11), Short circuit (faixa 12) são instrumentais. Página 79 Sobre as faixas com vozes não robotizadas: One more time (faixa 1) e Too long (faixa 14) foram cantadas por Anthony Moore, e Face to face (faixa 13) foi cantada por Todd Edwards. Ou seja, das quatro músicas cantadas por humanos, apenas uma (Something about us) é cantada por um membro da banda, e não por um convidado. Tudo indica que é Thomas Bangalter quem canta. Este recurso de não criar uma identidade vocal para a banda é o elemento principal que possibilita alguma impessoalidade para o duo, o que é uma característica do techno. O álbum de 2005, Human after all, talvez seja o de título mais contraditório à fantasia mecanicista da banda Ŕ e também provavelmente o mais repetitivo de toda a história da música, impressão compartilhada por críticos da banda. Esse álbum é uma mistura de eletrônico com rock e, junto com este último, traz toda a influência do GUIRAU, Marcelo Cizaurre; MANTOVANI, Rafael. ‘Human After All’? Daft Punk e o culto à máquina. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 71-85, jan./jun. 2014. universo do rock, o que explica uma pretensa subversão do disco, que tem faixas chamadas The brainwasher ou Television rules the nation, as quais podem soar como músicas contestadoras, mas que, em realidade, apenas fazem referência às temáticas classicamente tratadas pelo rock. Inicia-se com a faixa que dá título ao álbum. A letra é basicamente “We are human, after all. That‟s uncommon, after all” e é cantada por uma voz totalmente robotizada. O paradoxo aqui é evidente: as frases que celebram o humano são veiculadas por vozes mecânicas. The prime time of your life (faixa 2) é a repetição do título por voz robótica com outras poucas palavras intercaladas entre as repetições. Em Robot rock (faixa 3), Steam machine (faixa 4), The brainwasher (faixa 6), Television rules the nation (faixa 8) e Emotion (faixa 10) há uma voz mecânica repetindo os respectivos títulos da músicas14. Make love (faixa 5) é instrumental e On off (faixa 7) se trata de outra espécie de citação. Technologic (faixa 9) é uma sequência de verbos Ŕ ditos por uma voz infantilizada Ŕ que dizem respeito ao tema do consumismo, com um refrão que é a repetição do nome da música, ditos pela mesma voz infantilizada. Pode-se dizer que essa listagem extensa e repetida rapidamente também cria um efeito semelhante a da voz silábica. Desse álbum chama muito a atenção a primeira Ŕ Human after all Ŕ e a última faixa Ŕ Emotion: ambas tentam fazer referência ao humano (na primeira, efetivamente dizendo que são humanos e, na última, tendo a palavra “emotion” repetida 77 vezes). Sintomaticamente, o álbum abre e se encerra com faixas que enunciam Ŕ por meio de voz robotizada, ressaltemos Ŕ a presença do humano, dentro desse álbum em que a mecanização e a repetição são elementos evidentes. É como se todo o conteúdo do álbum estivesse circunstrito por esses dois limites Ŕ o humano e o emocial. Portanto, mesmo tendo o tema da máquina como formador da identidade da banda, o duo ainda usa os temas requeridos pela indústria cultural para a obtenção do sucesso: o sentimento, o amor e a festa como temas preferivelmente tratados Ŕ embora “tratados por robôs”. Página 80 Se Human after all é contraditório no título, o álbum de 2013, Random access memories, é contraditório sonoramente: é um retorno à disco music, portanto, os instrumentos são ou parecem ser tocados por humanos. Contudo, quatro músicas são cantadas por vozes robóticas: Give life back to music (faixa 1), The game of love (faixa 2), Within (faixa 4), Instant crush (faixa 5 Ŕ que é cantada por Julian Casablancas) e Beyond (faixa 9). Outras três são instrumentais: Giorgio by moroder15 (faixa 3), Motherboard (faixa 10) e Contact (faixa 13). Touch (faixa 7) tem uma parte também com voz humana cantada por Paul Williams que se coloca diante de outras vozes mecânicas durante seus 8 minutos. As faixas totalmente com vozes humanas são quatro: Lose yourself to dance (faixa 6) e Get lucky (faixa 8) cantadas por Pharrell Williams, Fragments of time (faixa 11) cantada por Todd Edwards, e Doin‟ it right (faixa 12) cantada por Noah Lennox. 14 Há uma pequena mudança na música The brainwasher, música na qual o que é repetido é “I am the brainwasher”. 15 Aparece a voz do próprio Giordio Moroder, entretanto, a música não deixa de ser instrumental, pois a voz apenas desenvolve uma narrativa sem se integrar rítmica ou tonalmente à música (ou seja, a voz não canta). GUIRAU, Marcelo Cizaurre; MANTOVANI, Rafael. ‘Human After All’? Daft Punk e o culto à máquina. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 71-85, jan./jun. 2014. Nos seus quatro álbuns de estúdio, o Daft Punk gravou 53 faixas. Dessas, 4 faixas de Discovery e 4 de Random access memories têm vozes não robotizadas, somando 8. Dessas 8, apenas uma traz a voz de um dos componentes da banda: Something about us. Sendo apenas uma única música com voz humana cantada pela própria banda do total de 53, tem-se reforçada a fantasia mecanicista de que são os robôs que criam e produzem as músicas, convidando humanos para participações especiais quando percebem que a voz humana é a melhor escolha. DOIS VÍDEOS Os vídeos de Robot rock e Prime time of your life chamam a atenção. Ambos se iniciam com os dizerem “Special presentation”16. Prime time of your life mostra uma garota dentro de um quarto, primeiramente passando por canais de televisão: todos os humanos são mostrados como esqueletos. Em seguida, mostra a estante com fotos: a única humana é ela, os seus parentes são também caveiras e, ao final do vídeo, ela se desfaz da própria carne com uma lâmina e acaba no chão do banheiro, sendo socorrida por outros dois humanos que, presume-se, talvez sejam seus pais. Logo, a morte é um tema tratado pela banda: a morte do humano, é claro; a máquina segue. O clipe de Robot rock chama a atenção por ser o vídeo em que a fantasia aqui descrita é potencializada: trata-se de dois robôs tocando; um toca uma guitarra dupla e o outro toca a bateria. É uma espécie de show, contudo, na plateia não há espectadores. Ou seja: é um show de máquinas para ninguém. A isso, somam-se características do rock do século XX: uma imagem que parece ter sido tirada de um VHS, uma postura tipicamente do rock (a movimentação do guitarrista) e a utilização de uma guitarra dupla, uma com 6 cordas e outra com 12. Convém ressaltar que tudo o que vem do som de uma pretensa guitarra na música é obtido pelo chamado powerchord ou bichord: tipo de acorde conseguido com duas cordas. A música possui apenas um acorde, com uma pequena variação que pode ser feita nas mesmas cordas. Logo, para tocá-la na guitarra, seriam necessárias apenas duas cordas, entretanto, um dos robôs tem 18 cordas em mãos17. Sendo uma música que da guitarra se exija apenas powerchords, a presença da guitarra é meramente cenográfica, como um clichê imagético que remete ao mundo do rock. Página 81 No momento em que a voz robótica, junto com a guitarra, canta “Rock, robot rock”, focaliza-se o robô que toca guitarra, como se ele fosse o responsável pelo que está sendo cantado. A forma como ele move a cabeça e se move em direção à câmera se assemelha bastante à postura de Kurt Cobain na terceira estrofe do videoclipe de Smells like teen spirit Ŕ imagem que se tornou canônica na história do rock. Portanto, embora as referências do rock também sejam as mais conflituosas do século XX, no vídeo de Robot rock não há conflito algum. Ao contrário disso, há uma letra formalista que não significa nada, em um ambiente livre de tensão Ŕ estando ausente inclusive a plateia 16 Além desses dois, o vídeo de Technologic se inicia da mesma forma. É certo que em determinado momento, o robô guitarrista fantasia usar mais cordas por tocar mais notas, contudo, aquilo não é proveniente do som de guitarra. 17 GUIRAU, Marcelo Cizaurre; MANTOVANI, Rafael. ‘Human After All’? Daft Punk e o culto à máquina. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 71-85, jan./jun. 2014. humana ou qualquer tipo de plateia. Se Marinetti explicava a necessidade de desprezar a plateia, o Daft Punk a aboliu. A UTOPIA DA MÁQUINA NO MOMENTO EM QUE PARECE NÃO HAVER UTOPIA A velocidade do desenvolvimento colossal da força de produção criada pela burguesia já era percebida por Marx e Engels no século XIX Ŕ maior do que as forças produtivas de todas as gerações antecedentes reunidas. Nesse momento, a dominação é criticada. Os operários quebram as máquinas. No século XX, a velocidade dos avanços tecnológicos segue; entretanto, a possibilidade de usufruir deles se estende e, em grande medida, se democratiza. Nesse momento, a dominação é naturalizada. Marcuse, nos anos 1960, era uma das vozes a questionar a positividade do avanço tecnológico18. Devido à naturalização da maquinaria na vida social, que facilita o cotidiano, essas críticas foram e são etiquetadas como retrógradas. Já não espanta mais que alguém cante o louvor à máquina, por isso, a violência do futurismo já não é necessária para trazer essa ideia à arte. Tais mudanças na vida social geraram algumas mudanças também na subjetividade e no simbolismo: o comportamento regido por gráficos, tabelas e análises de estratégias para melhor rendimento tem o seu impacto nas dimensões fora da esfera da produção. Um homem, que viaje de carro a um lugar distante, escolhe a rota de sua viagem num guia de estradas. Cidades, lagos e montanhas aparecem como obstáculos a serem ultrapassados. O campo é delineado e organizado pela estrada: o que se encontra no percurso é um subproduto ou anexo da estrada. Vários sinais e placas dizem ao viajante o que fazer e pensar. Espaços convenientes para estacionar foram construídos onde as mais amplas e surpreendentes vistas se desenrolam. Painéis gigantes lhe dizem onde parar e encontrar a pausa revigorante. A rota é feita para o benefício, segurança e conforto do homem. E a obediência às instruções representa o único meio de se obter resultados desejados (MARCUSE, 1998, p. 79). De Marcuse de meados do século XX, passemos para o país considerado historicamente como do futebol arte Ŕ o Brasil Ŕ que hoje escuta frequentemente ideias como “não há gol feio; feio é não fazer gol”. Novamente, a lógica da produtividade. Não só o trabalhador, como também o viajante, o jogador de futebol, o amante também tem a sua produtividade medida por quantidades, medições de intensidade, marcadores Página 82 18 Chamemos a atenção à crítica com relação à pesquisa espacial: Marcuse, nesse tempo morando nos Estados Unidos, conta que qualquer um que questione a necessidade da pesquisa espacial - em face de demandas sociais tão mais urgentes Ŕ é imediatamente qualificado de retrógrado e inimigo do progresso. Para Marcuse, os defensores dos gastos com programas espaciais Ŕ cujos resultados muitas vezes não trazem nenhuma consequência sensível para a melhoria da vida na Terra Ŕ se sustentam no discurso predominante da racionalidade técnica, a qual concebe o desenvolvimento da técnica como um fim em si. No caso da pesquisa espacial, qualquer objeção e ordem moral ou ética Ŕ por exemplo, de que o dinheiro gasto nisso poderia ser mais bem aplicado em alimento, moradia e saúde para quem precise Ŕ é respondida com o discurso da necessidade do progresso tecnológico (Marcuse, 1998). GUIRAU, Marcelo Cizaurre; MANTOVANI, Rafael. ‘Human After All’? Daft Punk e o culto à máquina. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 71-85, jan./jun. 2014. de produtividade. Há toda uma maquinaria disponível para o bom desempenho e drogas disponíveis para que a baixa performance possa ser medicalizada. A superação do homem passa a ser uma realidade em qualquer aspecto da vida. O ideal vislumbrado é a máquina. O tópos da máquina-homem Ŕ comumente figurado na imagem do robô Ŕ não deve ser lido somente como uma especulação científico-filosófica sobre a evolução da técnica e as consequências disso para a humanidade. Além desse caráter especulativo, a figura da máquina propicia uma espécie de aglutinação de significados simbólicos. A máquina, como campo semântico-metafórico, pode abrigar uma série de atributos (como insensibilidade, frieza, objetividade absoluta etc.) que nomeiam simbolicamente males sociais formalmente traduzidos nessa figura distópica: “A máquina é mais do que uma metáfora útil para descrever processos econômicos; ela é a figura do implacavelmente objetivo, referindo-se a tudo de automático, inumano e morto sobre a vida social” (Dienst, 1994, p. 37). Em seu manifesto, Donna Haraway contesta certos dualismos que persistem na tradição ocidental e seriam responsáveis pela dominação de tudo que se constitui como o outro19. Para ela, A cultura high-tech desafia estes dualismos de formas intrigantes. Não é claro quem constrói e quem é construído na relação entre homem e máquina. Não é claro o que é mente e o que é corpo nas máquinas que suscitam práticas codificadas. [...] Não há nenhuma separação ontológica fundamental no nosso conhecimento formal de máquina e organismo, de técnico e orgânico (HARAWAY, 1991, p. 171). Ora, é exatamente essa interligação entre homem e máquina que gera o fim dos dualismos que o techno apresenta como um dos seus valores: “O próprio anonimato do techno o torna sem classe social, sem raça e sem gênero. Em outras palavras, quebra as polaridades que historicamente nos separam: rico e pobre, negro e branco, masculino e feminino, gay e heterossexual e assim por diante” (SMITH, 2004, p. 734). Página 83 Smith aqui se refere ao anonimato criado pela falta de identificações dos DJs, podendo cada um deles ter às vezes dezenas de codinomes. Esses codinomes são qualquer nome desprovido de qualquer atributo social: como mostrado acima, não se sabe de que classe social provêm, qual é a cor e, no caso do Daft Punk, se são homens ou mulheres Ŕ já que a máquina é assexuada. Todo conflito de classe, de raça, de gênero se esvai. Daí se tira a conclusão de que a rave é um ritual em que não há conflito, muito provavelmente também devido ao efeito do ecstasy. Curiosamente, isso é considerado uma vantagem da cultura techno: é o momento em que se esquece dos problemas do mundo para, estando o corpo e a mente fundida com a máquina, celebrar o nada. Ou, melhor dizendo, por mais que a celebração seja por meio de música e substâncias alucinógenas, ironicamente o que se celebra é a submissão à racionalidade técnica: é o 19 A autora cita alguns desses dualismos: self/other, mind/body, culture/nature, male/female, civilized/primitive, reality/appearance, whole/part, agent/resource, maker/made, active/passive, right/wrong, truth/illusion, total/partial, God/man. GUIRAU, Marcelo Cizaurre; MANTOVANI, Rafael. ‘Human After All’? Daft Punk e o culto à máquina. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 71-85, jan./jun. 2014. momento de comunhão, mas, nesse caso, de comunhão com a máquina. O Daft Punk eloquentemente sintetiza essa ideia e a potencializa: deixam de lado o homem como se fossem eles, as máquinas, regentes de todo o ritual de celebração da racionalidade que, no início do século XX era a celebração violenta da racionalidade de técnica e de Estado e que, agora, apresenta essa nova forma, uma celebração passiva e dócil dessa racionalidade tecnológica, à qual é “logicamente óbvia” a necessidade de obediência. LAPSO EPISTEMOLÓGICO Finalmente, acaba aqui a tentativa de análise sociocultural e entra mais explicitamente o incômodo de quem resolveu escrever esse texto, a princípio, não por motivos acadêmicos, mas por gostar do tema. Ao contrário da marcha cultural que renega o conflito, a autoria, o sentimento, a festa não institucionalizada, o vazio, existe ainda assim todo um conjunto de pessoas que insiste no contrário, que insiste na bobagem de que o homem é um ser que sente, se emociona, se alegra e se dói. Logo, não se poderia terminar esse texto sem um “viva!”: à gravação deliberadamente ruim do Guided by Voices até 1996; à intransigência do Arcade Fire em tratar de temas que são trabalhados desde o romantismo e que, no palco, por meio de performances experimentais, tentam demonstrar em gestos, agressões e posturas (que não têm importância nenhuma para o som produzido) toda a gama de emoções que uma pessoa pode ter; ao Beirut pelos belos vídeos que mostram o trabalho artesanal que é fazer música; ao Tame Impala que usa diversos recursos tecnológicos sobre os instrumentos e a voz como forma de exacerbar a experiência do sonho; a todo o punk, que nos lembra que não é apenas o conflito interno de cada um que pode ser cantado, mas também o conflito proveniente de uma sociedade organizada hierarquicamente; ao Killing Joke que tenta desvendar os mistérios do universo e exorcizar-se; ao Tom Zé, que, apesar de todas as experimentações, sabe que é necessário deixar de lado tudo o que aprendeu em uma faculdade de música, para fazer música. A todos eles gostaríamos de dedicar esse texto. Página 84 REFERÊNCIAS ADORNO, Theodor. Prismas: crítica cultural e sociedade. São Paulo: Ática, 1998. ADORNO, Theodor. “The Curves of the needle”. In.: October, Vol. 55 (Winter, 1990), pp. 48-55 (http://www.jstor.org/stable/778935 acessado em agosto 2013). AUNER, Joseph. “„Sing it for me‟: posthuman ventriloquism in recent popular music”. In.: Journal of the Royal Musical Association, vol. 128, nº 1, 2003, pp. 98-122. BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo, Brasiliense, 1994 (Obras escolhidas; vol. 1). ______. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1989. BERNARDINI, Aurora Fornoni. O futurismo italiano. São Paulo: Perspectiva, 1980. BOURDIEU, Pierre. As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. DIENST, Richard. Still life in real time: theory after television. Durham & London: Duke University Press, 1994. GUIRAU, Marcelo Cizaurre; MANTOVANI, Rafael. ‘Human After All’? Daft Punk e o culto à máquina. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 71-85, jan./jun. 2014. FELINTO, Erick. A Religião das Máquinas: ensaios sobre o Imaginário da Cibercultura. Porto Alegre: Sulina, 2005. GOLDBERG, RoseLee. A arte da performance: do futurismo ao presente. São Paulo: Martins Fontes, 2006. HARAWAY, Donna. A Cyborg manifesto: science, technology, and socialist-feminism in the late twentieth century. In.: Simians, cyborgs and women: the reinvention of nature. New York: Routledge, 1991. HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. São Paulo, Centauro, 2000. HUMPHREYS, Richard. Futurismo. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. MIGLIACCIO, Luciano. As vanguardas da 1º metade do século XX / A arte depois da 2º guerra mundial. São Paulo, TV Cultura / CPFL, 2005 (documentário). PERLOFF, Marjorie. The futurism moment: avant-guerre, and the language of rupture. Chicago: University of Chicago Press, 1986. SMITH, Nigel. “And the beat goes on: an introduction to French techno culture”. In: The French Review, vol. 77, nº 4 (Mar., 2004), pp. 730-741 (http://www.jstor.org/stable/25479461 acessado em junho de 2013). VERTOV, Dziga. “Nós”. I.: XAVIER, Ismael (org.) A experiência do cinema. Rio de Janeiro: Graal, 1983. ZIZEK, Slavoj. On Belief. London/New York: Routledge, 2001. Recebido em: 24/09/2013. Aprovado em 15/06/2014. Página 85 Title: „Human after all‟? Daft punk and the cult of the machine Author: Marcelo Cizaurre Guirau; Rafael Mantovani Abstract: Daft Punk is a duo formed in the 1990s and widely recognized in the next decade. They are considered by many as innovator and display themselves a musical experimentation discourse. Their most recent album (Random Access memories), released in 2013, was a public and critical success and was awarded – among four other categories – Best Album of 2013 in the 2014 Grammy Award. What Daft Punk really brings as innovation is the abolition of the human figure, which can be accomplished either by having robots rather than humans as frontmen or by using mechanical voices instead of a human one. By abolishing the human figure and fantasizing that the music is being done by machines, the band achieves a definitive representation of the mechanicist dream of the 20th century, announced for the first time by the Futurist school. Keywords: Techno. Daft Punk. Utopia. Machine. Cyborg. GUIRAU, Marcelo Cizaurre; MANTOVANI, Rafael. ‘Human After All’? Daft Punk e o culto à máquina. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 71-85, jan./jun. 2014. OS ANIMAIS PERFORMÁTICOS DE BEUYS, SHERK, BERWICK E DION Ana Carolina Cernicchiaro1 Resumo: Nas performances animais de Joseph Beuys, Bonnie Sherk, Rachel Berwick e Mark Dion, o ponto de vista irredutível da alteridade inumana funda novos modos estéticos e éticos que colocam em questão as dicotomias ocidentais entre sujeito da arte e objeto de arte, mas também entre natureza e cultura, humano e inumano, mesmidade e alteridade. Palavras-chave: Arte e animalidade. Joseph Beuys. Bonnie Sherk. Mark Dion. Rachel Berwick Num sábado de fevereiro de 1970, ao almoçar trancafiada em uma das jaulas da área de alimentação dos felinos (enquanto os outros animais comiam nos covis ao lado), Bonnie Sherk se apresenta diante do olhar desestabilizador do animal. Na performance intitulada Public Lunch, a artista estadunidense colocava em cheque a ideia tradicional de objeto, tanto de objeto de arte quanto de objeto de conhecimento ou de entretenimento, tornando-se, ela própria, um animal/objeto enjaulado aos olhos dos visitantes do zoológico de San Francisco. Sherk está sujeita ao olhar do espectador, mas também ao olhar do animal, de forma que, a própria artista plástica confessa, Public Lunch resultou numa experiência profunda para pensar o potencial de percepção, inteligência e comunicação das outras espécies, para pensar o olhar do animal sobre o humano, para se sentir olhado pelo outro, para se ver sob o olhar do outro, sob o ponto de vista inumano. Public Lunch foi um trabalho seminal para mim. Durante a performance, eu andei, comi minha comida humana, subi até a plataforma, escrevi o que eu estava pensando e sentindo, deitei, descansei. Enquanto eu estava olhando o lindo céu sobre mim, vendo as nuvens e os pássaros acima, o tigre na jaula ao lado, sentou e ronronou para mim. Eu pensei, “este tigre está me percebendo; ele está me olhando. O que ele está olhando? O que ele está pensando? O que ele está sentindo? (SHERK, 2012)2. Página 87 As reações do tigre marcaram profundamente o trabalho performático de Sherk, que passou a incluir em suas pesquisas e performances o comportamento de outros animais. Mais do que um trabalho de etologia, do que um estudo de comportamento animal, tratava-se de um trabalho de performance: "The animals were performers, as was I" (SHERK, 2000). Mesmo antes de Public Lunch, Sherk já vinha desafiando as convenções de apresentação da arte e os limites usuais da galeria ao tentar trazer a experiência da natureza para a cidade com intervenções inesperadas, como a série Portable Parks, em que ela e Howard Levine expuseram palmeiras, mesas de picnic e 1 Doutora em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, realiza estágio pósdoutoral na Universidade do Sul de Santa Catarina. 2 Tradução minha. CERNICCHIARO, Ana Carolina. Os animais performáticos de Beuys, Sherk, Berwick e Dion. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 87-96, jan./jun. 2014. animais da fazenda e do zoo nas ruas de San Francisco. Esse trabalho levou Sherk ao projeto The Crossroads Community (também chamado de The Farm), que durou de 1974 a 1980. Construído sob uma movimentadíssima freeway de San Francisco, essa sorte de jardim ecológico, de "escultura performática ambiental", para usar uma expressão da própria Sherk, incluía, entre outras coisas, um teatro, um espaço para diferentes formas de arte, uma escola sem muros e uma biblioteca. Integrando todos estes elementos, Sherk se propunha a passar adiante aquilo que experienciou através da arte e da observação dos processos naturais, ou seja, "a interconectividade de diferentes estados de ser/conhecer/amar". Interconectividade esta que, acredita ela, pode ser a fonte para a emergência de novas formas de arte. Afinal, se, como afirma Hélio Oiticica, a arte é a formulação de novas possibilidades de vida3, também pensar outras formas de vida é possibilitar a irrupção de novas formas de arte. Uma espécie de "complexo de tostines" que vincula arte e mundo numa relação ética singularmente plural. Nas palavras de Sherk, “como artista, eu tentei expandir o conceito de arte para incluir, e até ser, a vida, e fazer visível as conexões entre diferentes sistemas de conhecimento” (SHERK, 2007, p. 227)4, a arte como um tríptico entre humano, animal e vegetal, como uma convergência global. Outra prática artística que também é marcada por esta crença na capacidade ou potência da arte em reunir homem e natureza na construção de um novo mundo é a de Joseph Beuys, que inspirou boa parte dos artistas performáticos da segunda metade do século XX. Fundador de um partido político dos animais, Beuys acreditava que, uma vez que a atividade artística é capaz de produzir percepções mais profundas de experiência e estabelecer novas causas que podem mudar nossa maneira de se relacionar com a natureza, uma ideia real de ecologia somente poderia ser atingida pela arte. É importante lembrar, no entanto, o caráter universal do conceito de arte de Beuys. Para ele, todo homem - ou mais que isso, todos os seres vivos - são artistas e podem desenvolver sua criatividade de maneira a transformar o mundo. Aliás, segundo ele, o homem só está verdadeiramente vivo quando realiza esse seu ser criativo, artístico, em todos os aspectos de sua vida. É preciso, no entanto, criar uma nova base para arte, porque esta que temos se tornou terrivelmente restrita no decorrer dos últimos cem anos. "Ela se tornou um território de poucos intelectuais, muito distante da vida das pessoas"5, afirma Beuys (1997, p. 24), acrescentando que mesmo o ato de descascar uma batata pode ser uma obra de arte se for um ato consciente (BEUYS, 1990, p. 87). Beuys defendia que a arte é o real capital de uma sociedade, a força revolucionária capaz de transformar a terra, a humanidade, a ordem social e etc (BEUYS, 1996, p. 30). Daí que suas performances sejam chamadas de "esculturas sociais", uma vez que funcionam como formas de moldar o mundo em que vivemos. Página 88 Meus objetos devem ser vistos como estimulantes para a transformação da idéia de escultura… ou da arte em geral. Eles podem provocar pensamentos sobre o que a escultura 3 “A fundação de uma obra não é a produção infinita do objeto: é a formulação de uma possibilidade de vida” (OITICICA, 2010). 4 Tradução minha. 5 Tradução minha. CERNICCHIARO, Ana Carolina. Os animais performáticos de Beuys, Sherk, Berwick e Dion. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 87-96, jan./jun. 2014. pode ser e como o conceito de escultura pode ser estendido para materiais invisíveis usados por todos. FORMAS PENSADAS Ŕ como moldamos nossos pensamentos ou FORMAS FALADAS Ŕ como moldamos nossos pensamentos em palavras ou ESCULTURA SOCIAL Ŕ como moldamos e damos forma ao mundo no qual vivemos: ESCULTURA COMO PROCESSO EVOLUCIONÁRIO; TODO MUNDO UM ARTISTA (BEUYS, 1990, p. 19)6. Nessas esculturas sociais, como tentativas de interação entre o mundo humano e inumano, Beuys explicou arte para uma lebre morta, dividiu o palco com um cavalo branco, passou três dias num quarto com um coiote e plantou árvores, muitas árvores. Em um projeto concebido para a Documenta 7, em 1982, por exemplo, Beuys plantou sete mil carvalhos na cidade alemã de Kassel. O projeto apresentava um processo de revitalização não apenas da natureza, mas do organismo social como um todo, uma forma de resistência ao enorme processo letal que a humanidade causou através de seu conceito de materialismo e de seus processos de produção. A ideia era apontar para a importância de uma nova consciência, questionar o que exatamente é o homem e o que ele tem em comum com outros seres, despertar uma política sócio-ecológica, que permitisse entender o relacionamento entre humanidade e natureza como uma unidade, de maneira que, juntos, homem e natureza pudessem construir um novo mundo (BEUYS, 1996, p. 30). Para Beuys, a natureza é um lugar de eventos sociais. Como um diplomata cosmopolítico, como um xamã, ele pretendia religar o homem à terra, à natureza, aos animais, mostrar que o ser humano é um ser-com (com hífen, conforme a lição de Jean-Luc Nancy) com a natureza e que a árvore está tão ciente de nós quanto nós dela. É isso que vemos em performances como Coyote: I Like America and America Likes Me. Em maio de 1974, Beuys foi pego por uma ambulância no aeroporto de Nova York e levado até a galeria René Block, onde dividiu um quarto com um coiote selvagem por uma semana. Embrulhado em um fino cobertor de feltro, às vezes apoiado em um cajado como um pastor, noutras caído como um objeto vulnerável diante do coiote (pastor mas também cordeiro), Beuys tentava estabelecer uma relação não hierárquica com o animal. Página 89 Little John, o coiote, cautelosamente rodeou Beuys, urinou sobre as cinquenta cópias do Wall Street Journal espalhadas pelo chão e trocou seu feno pelo cobertor de feltro de Beuys, que foi destruído em seguida. Ao final da experiência, Beuys é novamente embrulhado e levado ao aeroporto por uma ambulância, deixando a América sem ver nada além de um coiote: "Eu queria me concentrar somente no coiote. Eu não queria ver nada da América além do coiote" (BEUYS, 2008, p. 15)7. Conforme explica o próprio Beuys, a ideia era curar, como um xamã, um ponto psicologicamente traumático dos Estados Unidos com o povo nativo: "todo o trauma americano com o 6 7 Tradução minha. Tradução minha. CERNICCHIARO, Ana Carolina. Os animais performáticos de Beuys, Sherk, Berwick e Dion. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 87-96, jan./jun. 2014. indígena, o Pele Vermelha. Você pode dizer que um acerto de contas foi feito com o coiote, somente assim esse trauma pode ser superado" (BEUYS, 1990, p. 141)8. Mas por que o coiote? Como nos mostra Lévi-Strauss em História de lince (1993), o coiote é personagem constante nos mitos dos povos da América do Norte, seja como figura poderosa, heróica, ou como um malandro trapaceiro, um trickster. De um jeito ou de outro (como herói ou anti-herói), a escolha de Beuys pelo coiote não é gratuita. Os Estados Unidos que ele quer ter contato é os Estados Unidos capaz de ter um diálogo com o coiote, de devir-coiote. Assim como em "Meu tio o Iauaretê", de João Guimarães Rosa (2001), o devir-tupi implica um devir-onça e vice-versa9; também o devir-índio norte-americano implica uma relação de contágio com o coiote, um devircoiote, na medida que rememora uma relação perdida do homem com o animal, uma filosofia ou uma ontologia perspectivista, onde a subjetividade, a alma, o ponto de vista são potencialidades dos animais10. "Eu queria lembrá-lo que os seres humanos estão agora falando com ele. (...) que ele é compreendido como ator considerável na produção de liberdade, que nós precisamos dele como um produtor e um auxiliar importante" (BEUYS apud TISDALL, 2008, p. 14)11. Segundo a análise da fotógrafa da performance, Caroline Tisdall, a chave para Coyote está no princípio de transformação: transformação da ideia de liberdade, transformação da linguagem, transformação do diálogo verbal em diálogo de energias (TISDALL, 2008, p. 12); transformação dos conceitos estanques ocidentais em fluidez perspectivista, poderíamos acrescentar. Tisdall percebeu que, ao interagir com o coiote, 8 Tradução minha. A leitura proposta aqui vê na onça algo mais do que uma representação totêmica clássica, vê um deviríndio-onça e um devir-onça-índio. Um devir-onça que é um devir-índio do sertanejo, uma jaguaridade potencial (xamânica ou canibal) do índio, como forma ideal de predação, de devoração do outro e de seu ponto-de-vista. Essa vontade de devorar o ponto de vista do outro, o desejo de ser o outro, a incorporação do outro, a saída de si é o que faz do modo de ser indígena um modo de devir-outro, pois a relação com o outro funda a identidade, da mesma maneira que a relação com o inimigo funda a sociedade. Por outro lado, tal devir-onça pressupõe uma potencialidade canibal (humana) do jaguar, uma capacidade de assumir a posição reflexiva, de ser sujeito, de não domesticação ou coisificação do inumano. O sobrinho do Iauaretê se torna índio e onça, pois as duas coisas estão interligadas como duas faces da mesma moeda: ao assumir sua cultura indígena, ele assume também a proximidade dessa cultura com a natureza, seu pensamento não dicotômico, que vê natureza e cultura como séries contínuas e não como dois domínios ontológicos diferentes, estanques. Um pensamento que propõe uma diferença relativa, mesurável e flexível, ou melhor, um estado de diferenciação permanente, um modo de ser que é um modo de devir. 10 Desenvolvido por Eduardo Viveiros de Castro em parceria com Tânia Stolze Lima a partir das concepções indígenas (em especial das tribos de origem tupi-guarani) de mundo, pessoa, sujeito, humano e não-humano, o perspectivismo multinaturalista se refere a um aspecto do pensamento ameríndio que define que “o mundo é habitado por diferentes espécies de sujeitos ou pessoas, humanas e não-humanas, que o apreendem segundo pontos de vista distintos” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 347). Para esta cosmologia, a consciência e a cultura, a subjetividade e a intencionalidade não são exclusividade dos humanos, mas potencialidades de uma infinidade de outras espécies. Cada uma das diferentes formas de vida vê sua própria espécie como humana, considerando as outras como animais ou espíritos. Isso porque, para o pensamento perspectivista, a forma manifesta de cada espécie seria um envoltório, uma roupa, que esconde a forma interna humana (a forma mítica original de todos os seres) e que é visível apenas aos olhos da própria espécie ou “de certos seres transespecíficos, como os xamãs” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 351). 11 Tradução minha. Página 90 9 CERNICCHIARO, Ana Carolina. Os animais performáticos de Beuys, Sherk, Berwick e Dion. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 87-96, jan./jun. 2014. Beuys está se relacionando com uma outra América, daí o título irônico I Like America and America Likes Me, justamente porque a América que ele gosta e que gosta dele, é outra, é a do coiote, uma América que pressupõe uma outra relação com a natureza e com os animais, uma América que percebe os animais como seres capazes de um embate ético. E é a essa América que Beuys quer se abrir para escutar a voz; principalmente porque, para Beuys, essa é a responsabilidade de todo ser humano em relação aos outros seres: ouvir a voz do mundo mudo. Assumir tal responsabilidade é o que, dez anos antes, já havia levado Beuys à performance The Chief (1963-64). Num quarto com esculturas de gordura nos cantos, Beuys, enrolado em uma manta de feltro, mas dessa vez com uma lebre morta em cada ponta do tecido, fazia barulhos incompreensíveis que eram amplificados no quarto e na rua. Continuando essa ideia, no ano seguinte, em How to Explain Pictures to a Dead Hare, a proposta era, mais uma vez através da lebre, entrar no mundo animal e vegetal que é parte de nós, parecer uma lebre, devir-lebre: "Eu não sou um ser humano, na realidade eu sou uma lebre. Isso é muito real. Eu trabalho com esta transformação" (BEUYS, 1997, p. 14)12. A famosa performance acontecia em uma galeria fechada, que permitia ao público apenas espiar pela janela. Com a cabeça coberta de mel e de folhas douradas, Beuys fazia a pata da lebre tocar os quadros e sussurrava em sua orelha explicações sobre cada um deles. Depois de finalizar o tour, o artista sentou em uma cadeira e começou a explicar os quadros a sua pequena amiga, afinal, conclui ele, "eu acho que hoje é melhor explicar a importância da arte aos animais do que aos seres humanos" (BEUYS, 1997, p. 9)13. Para ele, a lebre, assim como uma oliveira, um cipreste, um cavalo, o mar, as montanhas são partes do interior do homem, são órgãos do homem da mesma maneira que o fígado, o coração, os rins e todo o resto, e se formos capazes de explicar pinturas para esse órgão externo, então a arte poderá ser entendida como uma genuína ratificação dos poderes criativos do homem (BEUYS, 1996, p. 30). Beuys defende que a arte é algo que desafia nossa vontade de síntese, de representação, de sentido único, de explicação, de entendimento. De maneira tal que mesmo uma lebre morta possui mais intuição do que um ser humano cuja racionalidade se tornou inflexível, cujo pensamento foi intelectualizado até um nível mortífero: Em nossos tempos, pensar se tornou algo tão positivista que as pessoas só apreciam o que pode ser controlado pela razão, o que pode ser útil, o que alavancar sua carreira. Por isso eu sinto que é necessário apresentar algo mais do que meros objetos. Ao fazer isso, quem sabe as pessoas possam começar a entender que o homem não é só um ser racional (BEUYS, 1990, p. 86)14. Página 91 Beuys olhou o coiote e se viu olhado pelo animal, falou e ouviu a lebre. Ele se entregou aos olhos do animal para se tornar uma espécie de objeto, uma escultura em que os espectadores não são os visitantes que espiam de fora da galeria, mas o próprio 12 Tradução minha. Tradução minha. 14 Tradução minha. 13 CERNICCHIARO, Ana Carolina. Os animais performáticos de Beuys, Sherk, Berwick e Dion. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 87-96, jan./jun. 2014. coiote, a própria lebre. Tal questionamento sobre as fronteiras do humano e do animal se confunde com uma pergunta sobre os papéis (e os limites desses papéis) do espectador, do artista, do sujeito da arte, e do objeto de arte, da coisa que se contempla. Conforme analisou Valerie Casey, How to Explain Pictures to a Dead Hare critica as relações pré-concebidas entre espectadores e objetos na indústria da arte, especialmente na galeria e no museu, desafiando as interpretações e apropriações super racionalizadas do mundo da arte (CASEY, 2005). É esse tipo de crítica que vemos também na série The Library for the Birds, de Mark Dion, apresentada em Massachusetts, Nova York e Antuérpia. A primeira delas, The Library for the Birds of Antwerp, de 1993, foi exibida no Museum van Hedendaagse Kunst da Antuérpia e contava com 18 pássaros que voavam, empoleiravam-se e cantavam sobre uma árvore que marcava o centro da instalação (a biblioteca dos pássaros). Os pássaros, totalmente livres, fizeram do ambiente sua casa graças a um jogo de luzes que os atraía. Os objetos que os circundavam, gaiolas de madeira da África e da América, lembravam o mercado lucrativo de pássaros exóticos que começou no século XVI e continua até hoje no Vogelmarkt de Antuérpia, onde as aves foram compradas. Além das gaiolas, de uma reprodução de Concerto das Aves, do flamengo Frans Snyders, de retratos de pássaros e de uma foto do aviário do zoológico da Antuérpia, os sinais de captura e extinção estavam em todos os lugares, nos livros expostos sobre a árvore, em ilustrações e, principalmente, na árvore seca no centro da instalação. Como se a biblioteca rememorasse uma história dos vencidos, da presa, do animal em extinção, contra a história oficial do desenvolvimentismo. Página 92 Aliás, os animais em extinção são um tema recorrente nas obras de Mark Dion. Em Tar and Feathers, de 1996, por exemplo, animais taxidermizados pendurados numa macabra árvore coberta de alcatrão (tar) e penas (feather) chamam a atenção para este problema. O próprio nome/material da instalação já remete à crueldade da relação do homem com o inumano (no caso, com o homem inumanizado), já que lembra uma prática de punição, tortura e linchamento dos tempos feudais que persistiu nos Estados Unidos e na Inglaterra ainda no século XX. Impossível também não lembrar da famosa cena da Guerra do Golfo em que pássaros cobertos de petróleo agonizavam diante das câmeras. De uma maneira ou de outra, permanece o elemento macabro, aterrorizador, que, segundo o próprio Dion, tem a ver com a temática da extinção. "Eu acho que quando se lida com questões como extinção, é difícil não se tornar um pouco macabro" (DION, 1997, p. 33)15. Também neste sentido, vale uma referência a May-por-é, de Rachel Berwick. O trabalho de 1997 (que esteve em Porto Alegre para a Bienal do Mercosul de 2004), consiste num aviário escultural com dois papagaios amazônicos que falam uma língua indígena extinta. As aves foram ensinadas por ela a partir das anotações de Alexander Von Humboldt, que, em 1799, adquiriu um dos papagaios que haviam sido domesticados por uma tribo indígena caribenha já dizimada e que eram os únicos "falantes" da língua Maypure. As paredes translucidas do aviário ao mesmo tempo que encobrem os papagaios (apenas suas sombras podem ser vistas pelo espectador), 15 Tradução minha. CERNICCHIARO, Ana Carolina. Os animais performáticos de Beuys, Sherk, Berwick e Dion. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 87-96, jan./jun. 2014. também remetem à ideia de rastro, de vestígio, de traço, como se um rastro do humano extinto perdurasse no animal - aquele que é tradicionalmente o extinto -, mais ironicamente ainda, na linguagem deste animal - justamente aquela característica considerada exclusiva do homem, responsável até por separá-lo dos outros viventes16. Da mesma maneira que os papagaios de Berwick colocam em questão a diferença entre natureza e cultura ao testemunhar a extinção de um povo e sua língua; os pássaros de Mark Dion, ao ganharem uma biblioteca num espaço institucional como o museu de arte, revelam-se seres mais do que naturais. Ao mesmo tempo, seus espectadores humanos, ao entrarem no espaço dos pássaros e serem sobrevoados por eles, também não são mais seres puramente culturais. Ali, homens e pássaros são intersecções de arte e espectador, sujeito e objeto, natureza e cultura17. Norman Bryson mostra que Dion está interessado na interface entre a natureza e a história das disciplinas e dos sistemas de poder que a tomam como seu objeto de conhecimento, que a classificam e a controlam. Daí, afirma Bryson, o caráter paradoxal de uma biblioteca para pássaros, pois, se todo saber sobre o mundo natural é condicionado pelas instituições de conhecimento, com sua maneira própria e particular de produção da verdade, então o real, a natureza, não é tanto o que aparece mas o que permanece à margem da representação (BRYSON, 1997, p. 96), aquilo que pode ser invocado pela experiência do espectador, devido justamente à proximidade (confusão, podemos dizer) entre o sujeito e o objeto de arte. Para além de suas bibliotecas para pássaros, toda obra de Mark Dion traz uma preocupação com os limites entre natureza e cultura e suas instituições colecionadoras. Ao investigar o museu de arte, o museu de história natural, o zoológico e os elementos de dominação que os envolvem, ele mostra de que maneira esses espaços dividem, além de sua descendência em comum, um mesmo objetivo: exibir tesouros e troféus, de modo a ostentar o poder, a influência e o conhecimento do proprietário de tais coleções, seja este um indivíduo ou uma nação. Não é a toa que a nacionalização e a abertura à visitação pública dos zoológicos e dos museus se deu em conjunto nos séculos XVIII e XIX. Tanto quanto os zoos, os museus são coleções de perspectivas históricas na qual se constitui um conhecimento sobre o outro, dispositivos imperiais que representam um certo tipo de saber estatal objetivante sobre este outro, um indicativo da capacidade de classificá-lo, controlá-lo e dominá-lo18. Página 93 16 O tema também aparece em outra instalação de Rachel Berwick. Lonesome George, de 2005, fala de uma tartaruga de 80 anos que é - ou melhor, era (em junho deste ano, ouvi em algum noticiário estadunidense a notícia de sua morte) - a última de sua espécie. Neste trabalho, Berwick dramatiza este sentido de perda, com velas de embarcações que se enchem de ar toda vez que George aparece se recolhendo em seu casco no vídeo que compõe a instalação. 17 Semelhante questão expôs Pauline Bastard em Campo contra campo, apresentado na 30ª Bienal de São Paulo: A iminência das poéticas, em 2012. O vídeo de nove minutos filmado por dois cavalos videomakers, que possuíam uma câmera acoplada na cabeça, apresenta uma arte executada pelos próprios animais, que, além de revelar o olhar do animal e o mundo como visto por eles, ainda questiona os limites entre natureza e cultura, museu de arte e museu de história natural, ao expor este olhar e este mundo numa Bienal. 18 Este outro pode ser animal, mas também humano. A última exposição de animais humanos enjaulados em zoológicos foi a de uma família do Congo, há pouco mais de 50 anos, em 1958, em Bruxelas. Entre os primeiros desses povos exóticos expostos na Europa estão a família de índios tupinambá que desfilaram, CERNICCHIARO, Ana Carolina. Os animais performáticos de Beuys, Sherk, Berwick e Dion. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 87-96, jan./jun. 2014. Os zoológicos públicos surgem quando os animais começam a desaparecer da vida cotidiana. Como afirma John Berger, o zoo é uma espécie de epitáfio de uma relação que era tão antiga quanto o homem e que se perdeu. O olhar entre o homem e o animal, que teve um papel crucial no desenvolvimento da sociedade humana e com o qual todos os homens conviveram, foi extinto. Por isso o zoológico - este "lugar de exclusão e reclusão dos animais selvagens” (SANTIAGO, 2006, p. 183) - não pode senão desapontar, pois em nenhum lugar do zoo se pode encontrar o olhar do animal: "O zoo ao qual as pessoas vão para encontrar o animal, para observá-los, para vê-los, é, de fato, um monumento à impossibilidade destes encontros" (BERGER, 1997, p. 103)19. Ainda que, como disse Berger, o zoológico não seja um espaço propício para o encontro com o animal por ser um lugar de objetivação, dominação e classificação do outro, quando apropriado pela arte, ele pode, sim, revelar o olhar do animal sobre nós. A jaula de Bonnie Sherk, o viveiro dos papagaios de Rachel Berwick, a biblioteca para pássaros de Mark Dion, a galeria onde Joseph Beuys está preso com um coiote, são espaços que se parecem com o zoológico (no caso de Sherk é o próprio zoológico), mas que o inverte, o transforma. A arte abre as jaulas do zoológico, mas também do museu, na medida que confunde a separação entre homem e animal e entre arte e mundo, na medida que expõe não mais um animal objeto, um objeto espetacular, ou um homem animalizado, mas uma relação de devir. Segundo Deleuze e Guattari, a arte não é um fim, mas um instrumento para traçar os devires, linhas de vida, fugas ativas. Fugas que não fazem da arte um refúgio, pois são "desterritorializações positivas, que não irão se reterritorializar na arte, mas que irão, sobretudo, arrastá-la consigo para as regiões do a-significante, do a-subjetivo e do sem-rosto" (DELEUZE; GUATTARI, 2008, p. 57). Trata-se de uma das funções políticas da arte, pois o devir nos libera, afirma Peter Pál Pelbart, da forma do “homembranco-macho-racional-europeu”. Através dele, a arte abandona a "Forma-homem, ao embarcar em devires minoritários, inumanos, plurais”, transpondo as fronteiras entre "o animal, o vegetal e o mineral, ou entre o humano e inumano, o individual e o coletivo, o masculino e o feminino, o material e o imaterial, etc" (PELBART, 2000, p. 69). Página 94 Como explica Nato Thompson, em “Monstruos Empathy” - texto de abertura ao catálogo da exposição Becoming-Animal, organizada pelo Massachusetts Museum of Contemporary Art (MASS MoCA), de maio de 2005 a março de 2006, que incluía trabalhos de Dion e Berwick -, quando Deleuze e Guattari desenvolvem esta ideia, desestabilizam as fronteiras restritas e arbitrárias da modernidade entre a humanidade e o reino animal. Segundo ele, o termo devir permite o intercâmbio entre concepções de mundo outrora estáticas como homem/natureza, homem/mulher, eu/nós, humano/animal (THOMPSON, 2005, p. 8), pois, no devir, não há divisões essenciais entre minerais, vegetais, animais e humanos, mas um contínuo, um campo de forças virtuais, intensidades e forças, que estão sempre mudando conforme se encontram e se relacionam com outras entidades. em 1550, para o rei Henrique II e a nobreza em Rouen, na França. Mas foi no início do século XIX, que estas exposições se tornaram mais populares. Segundo Pascal Blanchard, mais de 1 bilhão de pessoas assistiram aos espetáculos de "humanos exóticos" realizados entre 1800 e 1958 (BLANCHARD, 2008). 19 Tradução minha. CERNICCHIARO, Ana Carolina. Os animais performáticos de Beuys, Sherk, Berwick e Dion. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 87-96, jan./jun. 2014. Como todos os seres, o ser humano também está engajado nestas constantes relações de devir, que nos abrem a outros modos de existência. Daí Jacques Derrida concluir que o ponto de vista do animal sobre o humano traz questões que "engajam um pensamento do que quer dizer viver, falar, morrer, ser e mundo como ser-no-mundo ou ser-ao-mundo, ou ser-com" (DERRIDA, 2002, 29). Esta citação de O animal que logo sou nos remete ao pensamento de Jean-Luc Nancy, para quem o ser não é outra coisa senão o ser-uns-com-os-outros, circulando no com e pelo com da co-existência singularmente plural. Para o autor de Ser Singular Plural, o homem está no mundo porque o mundo é sua própria exterioridade, o mundo é o não-humano ao qual o humano se expõe. Por isso o homem não é o fim da natureza; seu fim, sua finalidade, é o ser-no-mundo e o ser-mundo de todo o existente. Ao se colocar como campo aberto à alteridade, a arte deixa de ser uma apresentação do eu ou uma representação do outro e passa a ser uma presentificação de seres-uns-com-os-outros singularmente plurais. O mesmo se apaga porque justamente a partícula eu, que define e forma toda ipseidade, está tomada por um outro que não é identitário, não é fixo, mas que está sempre em devir. Assim é que, na arte que se expõe ao olhar do animal, na arte que se deixa atravessar por esse olhar, não há fixação do eu, mas ficção do eu, fricção do eu com muitas outras coisas que o contagiam, afetação infinita e múltipla, afinal, o ser nada mais é do que um ser-com, um ser-entre-muitosoutros, e de inúmeras espécies. Página 95 REFERÊNCIAS BERGER, John. "Why look at animals?". In: CORRIN, Lisa Graziose; KWON, Miwon; BRYSON, Norman. Mark Dion. New York and London: Phaidon Press, 1997. BEUYS, Joseph. "Interview with Richard Hamilton". In: BEUYS, Eva; BEUYS, Wenzel; BEUYS, Jessyka. Joseph Beuys - Block Beuys. München, Paris, London: Schirmer/Mosel, 1997. _______. “Introduction” (1979) e “Interview with Willoughby Sharp” (1969). BEUYS, Joseph. Energy plan for the Western man: writings by and interviews with Joseph Beuys. Compiled by Carin Kuoni. New York: Four Walls Eight Windows, 1990. _______. "Questions to Joseph Beuys. Interview by Jörg Schellmann and Bernd Klüser". In: SCHELLMANN, Jörg (ed.) Joseph Beuys - The multiples. Cambridge, Minneapolis and München/New York: Busch Reisinger Museum, Walker Art Center, and Edition Schellmann, 1997. BLANCHARD, Pascal. Human zoos: Science and Spectacle in the Age of Empire. Liverpool: Liverpool University Press, 2008. BRYSON, Norman. "Mark Dion and the Birds of Antwerp". In: CORRIN, Lisa Graziose; KWON, Miwon; BRYSON, Norman. Mark Dion. New York and London: Phaidon Press, 1997. CASEY, Valerie. "Staging Meaning - Performance in the Modern Museum". In: The Drama Review. v. 49, n. 3. New York: New York University and the Massachusetts Institute of Technology, 2005. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 3. Trad. Ana Lúcia de Oliveira e Lúcia Cláudia Leão. 4ª reimpressão. São Paulo: Editora 34, 2008. DERRIDA, Jacques. O animal que logo sou. Trad. Fábio Landa. São Paulo: Editora UNESP, 2002. DION, Mark. "Miwon Kwon in conversation with Mark Dion". In: CORRIN, Lisa Graziose; KWON, Miwon; BRYSON, Norman. Mark Dion. New York and London: Phaidon Press, 1997. DURINI, Lucrecia de Domizio. Difesa della Natura. Milano: Edizioni Charta, 1996. LÉVI-STRAUSS, Claude. História de lince. Trad. Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. CERNICCHIARO, Ana Carolina. Os animais performáticos de Beuys, Sherk, Berwick e Dion. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 87-96, jan./jun. 2014. NANCY, Jean-Luc. Ser singular plural. Trad. Antonio Tudela Sancho. Madrid: Arena Libros, 2006. OITICICA, Hélio. “Meu trabalho é subterrâneo” [atribuído]. Mar/1970. In: Programa Hélio Oiticica. Disponível em: <http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas /enciclopedia/ho/home/index.cfm.> Acesso em: 15 jun 2010. PELBART, Peter Pál. A vertigem por um fio. Políticas da subjetividade contemporânea. São Paulo: Editora Iluminuras, 2000. ROSA, João Guimarães. “Meu tio o Iauaretê”. In: Estas Estórias. 5ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. SANTIAGO, Silviano. “Bestiário”. In: SANTIAGO, Silviano. Ora (direis) puxar conversa! Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006. SHERK, Bonnie. A Living Library - Archive for the ‘Art, Landscape Architecture, & Systemic Design’ Category. Disponível em: <http://www.alivinglibrary.org/blog/ category/art-landscapearchitecture-systemic-design>. Acesso em: 20 jun 2012. _______. Interview. In: MONTANO, Linda (compilated by). Performance Artists Talking in the Eighties: Sex, Food, Money/Fame, Ritual/Death. Berkeley: University of California Press, 2000. _______. Position Paper on Crossroads Community (The Farm). Extract from a presentation at the First International Symposium of the Center for Critical Enquiry, San Francisco Art Institute, November 1977. In: BRADLEY, Will; ESCHE, Charles. Art and social change – a critical reader. London: Tate Publishing, 2007. THOMPSON, Nato. “Monstruous Empathy”. In: THOMPSON, Nato (ed.). Becoming Animal: Contemporary Art in the Animal Kingdom. Cambridge: MASS MoCA Publications, 2005. TISDALL, Caroline. Joseph Beuys - Coyote. London: Thames & Hudson, 2008. VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. Recebido em: 14/06/2014. Aprovado em 15/06/2014. Página 96 Title: Performing animals of Beuys, Sherk, Berwick and Dion Author: Ana Carolina Cernicchiaro Abstract: On Joseph Beuys, Bonnie Sherk, Rachel Berwick and Mark Dion animal performances, the irreductible point of view of inhuman alterity establishes new aesthetics and ethics modes that call into question the occidental dichotomies between subject and object of art, as well nature and culture, human and inhuman, selfness and otherness. Keywords: Art and animality. Joseph Beuys. Bonnie Sherk. Mark Dion. Rachel Berwick. CERNICCHIARO, Ana Carolina. Os animais performáticos de Beuys, Sherk, Berwick e Dion. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 87-96, jan./jun. 2014. A GUERRILHA SEMÂNTICA DE HONORÉ DAUMIER Marcos Fabris1 Resumo: Este artigo pretende discutir as relações entre caricatura e outras áreas da produção cultural no âmbito da obra do pintor, escultor, desenhista e caricaturista francês Honoré Daumier. Almeja-se também tecer paralelos entre sua produção artística e o seu momento histórico, a Paris capital do século XIX, contestando as noções pré-estabelecidas de “caricatura política” e “caricatura social/de costumes”, consolidada pela bibliografia mais influente. Palavras-Chave: Caricatura. Fotografia. Crítica de arte. Honoré Daumier. “C‟est la canaille! Eh bien! J‟en suis!” 2 “... a energia com a qual... nos pinta as sequelas do Mal...” 3 “Quero falar agora de um dos homens mais importantes, eu não diria apenas da caricatura, mas também da arte moderna, de um homem que, toda manhã, diverte a população parisiense, que, todo dia, satisfaz as necessidades da alegria pública e lhe dá alimento. O burguês, o homem de negócios, o garoto, a mulher, riem e passam com frequência, os ingratos!, sem ler o nome. Até o momento, só os artistas compreenderam o quanto há de sério ali, e que aquilo é realmente matéria digna de estudo. Percebe-se que falo de Daumier” (BAUDELAIRE, 1975, p. 167). O Baudelaire de Alguns caricaturistas franceses não apenas levanta questões intrigantes sobre a obra do amigo Honoré Daumier (1808 Ŕ 1879), algumas até hoje sem resposta satisfatória, mas aponta, já no primeiro parágrafo de suas considerações sobre o artista, para a necessidade de concebê-las de modo totalizante. Em consonância formal com a produção do caricaturista (e certamente com sua própria), o poeta e crítico de arte insiste, com a complexidade de seu humor plural (“os ingratos!”) e sua sutileza digna de nota, no fato de que somente a leitura cuidadosa, afinada para captar o uso particular dos sentidos, não raro cifrados em seus contextos (como, aliás, no excerto acima), e que explore as relações entre o dado e o sugerido numa operação aditiva de aproximação de “opostos”, poderá produzir nexos produtivos, inclusive para aqueles que “riem e passam”. Propõe, aqui, que pensemos nas dinâmicas entre, por exemplo, “importância” e “anonimato”, “caricatura” e “arte”, trabalho e satisfação, divertimento e seriedade, Página 97 1 Doutor em Letras pela FFLCH Ŕ USP, com pós-doutorado em Columbia University (Nova York), pósdoutorado na Université Paris Oueste Nanterre (Paris) e pós-doutorado no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo Ŕ MAC USP. 2 Excerto de uma canção revolucionária de 1865 intitulada La Canaille [A ralé], re-apropriada pelos trabalhadores franceses durante a Comuna de Paris de 1871. Letra de Alexis Bouvier. “É a ralé! É isso aí! Eu faço parte dela!” (todas as traduções de minha autoria, salvo menção contrária). 3 BAUDELAIRE, C. Versos para o retrato de Honoré Daumier. In Charles Baudelaire Poesia e Prosa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar S.A., 2006, p. 248. FABRIS, Marcos. A guerrilha semântica de Honoré Daumier. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 97-104, jan./jun. 2014. “burguês”, “homem de negócio”, “garoto” e “mulher” e produção artística e avaliação crítica. A natureza da intervenção e sua estratégia, baudelairianas por excelência na rejeição da oposição binária em favor da contradição dialética, impõem à crítica algumas questões incontornáveis: 1. Qual seria, nestes termos, a definição de diversão e que função desempenharia ela no conjunto da obra e no projeto do artista?, 2. O que significaria satisfazer necessidades de alegria? Se há “necessidade” de alegria, seria porque este item encontrar-se-ia escasso ou ausente da dieta dos parisienses (o paralelo com a palavra “alimento” é explícito!)? Em caso afirmativo, de quais parisienses? Quem estaria “magro” de alegria, ou seja, quem teria a necessidade de adquiri-la e qual o preço de mercado a ser pago pelo item?, Por quê falar em alegria pública Ŕ ela não seria, então, um bem comum?, 3. Qual a fração artística que teria compreendido a arte de Daumier?, Por quê apenas uma parcela o fez e quais seriam os requisitos ou as condições para sua compreensão?, 4. No que consistiria a seriedade desta arte eminentemente cômica (ou, inversamente, a comicidade desta arte eminentemente séria)?, e finalmente 5. Qual a matéria histórica com a qual depara o caricaturista, como ele a figura e por que seria ela digna de estudo Ŕ tanto pelo próprio artista como por seu público? Em suma, a pergunta central que nos sugere este Baudelaire, somatória das demais e portanto tão produtiva e desafiadora quanto possivelmente constrangedora seria: então como deve a crítica estudar esta matéria nestes termos sem incorrer no risco de, tal qual „os ingratos‟, „rir e passar‟, lendo-a irrefletida e insatisfatoriamente?” Vejamos como uma parcela influente da fortuna crítica lidou com tal desafio e, a partir de suas conquistas, quais seriam as possibilidades de expansão dos horizontes na tentativa de elaborar questões inéditas, fecundas porque fazem vibrar a matéria social e artística com a qual nos confrontamos ao considerarmos a produção de Honoré Daumier. Página 98 Em um estudo influente dedicado especificamente à obra litográfica do caricaturista, fruto de sua experiência como docente, pesquisadora e também como membro integrante do comissariado que organizou a maior exposição retrospectiva em torno do artista4, a crítica de arte francesa Ségolène Le Men aponta aspectos essenciais sobre esta fração da arte de Daumier. Ao considerar uma de suas séries, Histoire Ancienne, composta de cinquenta litografias publicadas no jornal parisiense Le Charivari entre dezembro de 1841 e janeiro de 1843, Le Men salienta, por exemplo, a tentativa do artista de observar o presente a partir da tradição artística que o precede 5. Daumier criticaria, segundo ela, em termos estéticos, toda produção artística de seu tempo que insistia em mitologizar o presente, negando-o ao refugiar-se no anacronismo da antiguidade clássica. O Belo ideal, a ou trans histórico, valorizado pela (então e ainda influente) crítica de arte de um Winckelmann ou de um Quatremère de Quincy seria 4 A exposição Daumier 1808 – 1879 aconteceu no Musée des Beaux-Arts du Canada, em Ottawa (de 11 junho a 6 de setembro de 1999), nas Galeries nationales du Grand Palais, em Paris (de 5 de outubro de 1999 a 3 de janeiro de 2000) e no museu norte-americano The Phillips Collection, em Washington (de 19 de fevereiro a 14 de maio de 2000). 5 Cf. LE MEN, S. Daumier et la caricature. Paris: Éditions Citadelles & Mazenod, 2008. FABRIS, Marcos. A guerrilha semântica de Honoré Daumier. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 97-104, jan./jun. 2014. artisticamente posto em xeque. Poderíamos então afirmar que as batalhas do artista tinham como alvo primordial a História da Arte, articulando-se sobretudo neste terreno? Acertadamente, creio, Le Men também estabelece ligações temáticas entre personagens distintos das diversas séries concebidas pelo artista. Ela afirma a existência de relações de oposição entre eles e sugere paralelos entre a caricatura e outras artes, por exemplo o teatro popular. Especificamente sobre a série História Antiga, a crítica nota: Se Robert Macaire [personagem principal da série de mesmo nome] aparece como uma nova epopeia, glorificando de modo cômico a vida contemporânea que incarna como um anti-herói, Histoire Ancienne, ao contrário, funda-se no processo de degradação burlesca, que desvaloriza o culto de uma antiguidade mal compreendida. (LE MEN, 2008, p. 143) A crítica aproxima ainda, nos termos dos assuntos representados, as relações entre a produção gráfica do artista e seus paralelos com a escultura, técnica também praticada por Daumier. Segundo ela, tratar-se-ia de um “jogo de transposição entre litografia e escultura [...] deste litógrafo cujo ofício era o de desenhar sobre a pedra; e sobre ele, sabemos que possuía em seu ateliê o molde de um relevo da coluna de Trajano” (LE MEN, 1999, p. 144) . A imagem O retorno de Ulisses (prancha 7 da série Histoire Ancienne publicada no jornal satírico Le Charivari em 18 de maio de 1842 Ŕ figura 1) exemplificaria o paralelo. Página 99 Este impulso “anti-clássico” parece de fato ser um componente central na obra do artista, que encontra reverberação no espírito de seu tempo como atesta a produção de outros artistas igualmente empenhados em colocá-lo em xeque Ŕ e não apenas nas artes visuais, mas também na música e na literatura, por exemplo em Grandville (Un autre monde, de 1844), Gustave Doré (Les travaux d‟Hercules, de 1847), Offenbach (Orphée aux Enfers, de 1858; La belle Hélène, de 1864) e Jarry (Ubu Roi, de 1896). Porém, ao negar o ambiente “deletério” desta classicidade “anacrônica” e “mal compreendida”, estaria o artista produzindo, a seu modo, outro “clássico” (moldado ou esculpido a partir de matrizes clássicas e, por conseguinte, “elevando” a caricatura ao nível da grande Arte)? Seria aqui a linguagem subversiva porque “os golpes [seriam] mais diretos e mais compreensíveis, permitindo uma explicação textual [das legendas que comumente acompanham as imagens] abreviada, senão mesmo suprimida, porque agora [a explicação textual seria] supérflua” (LE MEN, 2008, p. 31)? Quão “diretos” seriam, de fato, os “golpes” aplicados por Daumier à matéria social que pretende dar forma em termos visuais? Ainda sobre a mesma série, Le Men sugere uma pista investigativa altamente relevante para a compreensão do suposto “abalo” causado pelo artista na matéria trabalhada: “vestidos à moda antiga, os heróis, ainda que nus ou seminus, adotam uma postura [corporal] dos contemporâneos de Daumier” (LE MEN, 2008, p. 145). A crítica corretamente avalia que este procedimento introduz um elemento cômico na representação do corpo das personagens. Da afirmação, decorrem minhas questões: Mas o que significa, então, este “ruído”, que insiste em apontar para si? Como identificá-lo formalmente na obra do artista? Quais seriam suas matrizes e como avaliar FABRIS, Marcos. A guerrilha semântica de Honoré Daumier. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 97-104, jan./jun. 2014. tal conjunto no âmbito do cômico vis-à-vis a matéria investigada? Como isto se relacionaria à “degradação burlesca” anteriormente mencionada por Le Men ou, mais especificamente, qual seria o coup de théâtre formalmente produzido por Daumier, articulado inclusive e graças ao modo de “representação” de suas personagens ou, se preferirmos, ao modo como elas “atuam” na mise en scène do que poderíamos definir inicialmente por “comédia burlesca”, dirigida por um Daumier réalisateur? Tomemos outra imagem da mesma série intitulada Le Beau Narcisse (prancha 23 da série Histoire Ancienne publicada no Le Charivari em 11 de setembro de 1842 Ŕ figura 2). Ao discorrer sobre ela no catálogo da exposição dedicada ao artista entre 1999 e 2000, Le Men afirma: Le Beau Narcisse, inteiramente nu, exibe um corpo esquelético e um perfil coroado de rosas (que de grego nada possuem); ar sorridente e tolo [benêt], deitado ao longo de um riacho, contempla com satisfação sua imagem. Variação sobre o tema narcísico do espelho presente na obra de Daumier, o reflexo de seu rosto na superfície das águas em movimento oferece uma metáfora da caricatura como forma expressiva, deformadora, do retrato. (LE MEN, 1999, p. 200) Em outro lugar, Le Men ratifica: Página 100 Quanto ao Beau Narcisse, designado por antífrase na legenda, exibe um corpo de fracote [gringalet], aparece de perfil, coroado de rosas, e com ar sorridente e tolo [benêt]; deitado na borda de um riacho, sorri para sua própria imagem. Variação sobre o tema narcísico do espelho, frequente na obra do artista, o reflexo do rosto na superfície das águas em movimento oferece uma bela metáfora da caricatura como forma expressiva, deformada, do retrato, assim como do realismo e da vaga do retrato, o reverso [travers] compartilhado de uma época que vê o nascimento da fotografia. (LE MEN, 2008, p. 145). Com efeito, vemos a figura de um jovem nu, famélico e esquelético, coroado de flores (por quem, não sabemos) que, com sorriso tolo (?) estampado no rosto contempla com aparente satisfação uma imagem. A ideia de reflexo apontada de modo arguto por Le Men sublinha os possíveis paralelos entre a caricatura, a nascente arte fotográfica e a vaga do retrato (certamente na pintura e na escultura, mas também em seu formato mais popular na Paris do século XIX, a carte de visite), sugerindo também um “espelhamento invertido” na legenda que, em sentido oposto ao verdadeiro (antífrase), ratificaria o humor e as capacidades expressivas apontadas por Le Men na arte de Daumier. Sem pretender estender-me em considerações por hora iniciais, que esgotem as possibilidades analíticas da imagem, à qual pretendo retornar em outro momento, creio que o que observamos aqui é a mise en abyme do próprio ato da observação, ou seja, nós, observadores de uma imagem, observamos alguém que observa uma imagem Ŕ e uma que, embora compartilhe semelhanças com o “original”, não “reflete realisticamente” a figura que se projeta. Assim, o jovem nu de ossatura protuberante e traços esboçados (notemos as mãos, animalescas, ou os dedos dos pés, meramente sugeridos) se nos apresenta reclinado diante do que parece ser uma caverna, a parte visível de uma natureza selvagem e nada acolhedora Ŕ um reflexo do estado psicológico da(s) personagem(ns) e, no limite, FABRIS, Marcos. A guerrilha semântica de Honoré Daumier. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 97-104, jan./jun. 2014. 101 Página (também) do observador “externo”, que “partilharia” o espaço onde ocorre a cena? Alongado, de corpo inteiro, sobre as margens de um riacho ou lagoa, o jovem frágil, feminizado, contempla uma figura (ou a imagem que se nos apresenta desta imagem), apenas sugerida em croqui, que ecoa algumas de suas características físicas primordiais, a saber, o aspecto amendoado dos olhos, o delineio da boca semi-aberta que lembra um sorriso e o formato de parte dos cabelos. De resto, os traços destinados ao “segundo” personagem, desigual ao “primeiro” mas a ele combinado graças a um processo de distorção ou “deformação expressiva” de elementos estruturais por ambos compartilhados, alude, em princípio, a uma figura “oposta” a seu “molde”: mais velha, mais robusta (melhor nutrido?), de aspecto mais viril (porém sem a definição categórica de gênero) e portanto mais potente Ŕ o lápis litográfico de Daumier, que no desenho da água reproduz a sensação de movimento presente na vegetação acima do reflexo, “expande” o corpo da figura (sobretudo seu suposto ventre) nesta superfície incerta e movediça, associando os efeitos acima descritos à sugestão de magnitude ou “monumentalidade” do personagem. E ele não revela senão parte de sua cabeça, com cabelos que já não ostentam qualquer coroa aparente. Em ambos, o nariz, cuidadosamente desenhado, salienta a semelhança contraditória que aproxima (ao mesmo tempo que separa!) as duas figuras: o perfil de mármore “grego” do primeiro revela um nariz adunco do segundo. Nestes termos, impõem-se as questões: Quantos personagens temos aqui Ŕ um, dois ou apenas um, multifacetado porque cindido? Quem seria o “criador”? E a “criatura”? “Quais as possíveis relações temáticas entre os “distintos” personagens, ou seja, no que diferem e o que compartilham? Poderíamos/deveríamos lê-los como alegorias de uma mesma “matéria”, (ainda parcialmente) encoberta ou camuflada: o que revelariam sobre os embates sociais e as lutas de classes na Paris do Segundo Império e como antecipariam os próximos “atos” de uma “comédia macabra” que se provaria bouffonnerie sanglante, as batalhas de 1848? Como se relacionaria esta “matéria” ao caráter supostamente narcisista do(s) indivíduo(s) aqui presente(s)? Por que representá-los neste ambiente, uma natureza aparentemente onírica e hostil, e de modo tão velado (uma vez que aqui os paralelos não parecem ser imediatamente apreensíveis)? E quem, afinal, observa quem? E o leitor, que papel desempenharia como observador nesta cena de “comédia”? De que lado do “espelho” estaríamos e em que “setor” da “plateia” nos sentamos para assistir a este espetáculo neste “Teatro das Aparências”? Qual o significado profundo desta “forma expressiva deformadora”, que ao deformar cria efeitos que aproximam personagens, relações e processos nos termos de uma contradição (e que, de outro modo, não se veriam formalmente coligados)? Que função desempenharia a seriedade deste “Realismo atualizado” na tentativa de figuração, no universo do cômico (por antífrase?), da “verdade” sobre a “matéria com a qual lida nosso artista? Nestes termos, haveria uma referência ou “recado cifrado” às outras formas de expressão artística, notadamente à fotografia, que nasce com a vocação para a reprodução e para a impressão (nas chapas utilizadas como negativo por “espelhamento invertido”) da imagem do mundo “natural”, “tal qual” se nos apresenta? Quão “natural” é esta natureza, aqui ela própria “desmembrada” em artística e cotidiana (um crítico francês provavelmente preferiria a palavra mœurs, “de costumes”) e por que Daumier as representa, tanto uma quanto outra, nos moldes de um “delírio organizado” (ambas, ao mesmo tempo, uma espécie de FABRIS, Marcos. A guerrilha semântica de Honoré Daumier. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 97-104, jan./jun. 2014. memória do real e do imaginário)? Que significa, neste contexto, Histoire Ancienne e quais as ferramentas de que se utiliza o artista para escavar seu chão histórico, escovar a história (a contrapelo?) e (re)fazer o que poderíamos denominar uma “arqueologia do presente”, numa proposição de caráter narrativo precisamente porque parece sugerir Ŕ ou instaurar Ŕ um a priori e um a posteriori? Nestes termos, qual seria a real “monumentalidade” da obra de Daumier, sem esquecermos que o termo “monumento” significa inclusive “memória”, “recordação” ou “lembrança”6? Ségolène Le Men termina suas considerações sobre esta série de litografias de Daumier nos propondo uma questão potencialmente interessantíssima: [...] podemos nos perguntar por que Daumier escolheu este tema. Não teria ele, que se formou com Lenoir [seu primeiro mentor artístico] fora das escolas de Belas Artes e ausente dos cursos de longa duração, buscado tardiamente, à idade de trinta e três anos, apropriar-se da cultura clássica, que alimentou a arte de seu pai dramaturgo, para assim criticá-la? (LE MEN, 2008, p. 146). Suponho que o conjunto de questões aqui levantadas aponte a necessidade de continuarmos a conceber caminhos que possam conduzir a reflexões inéditas e profícuas, demandas da crítica mais exigente. REFERÊNCIAS Página 102 ARGAN, G. C. História da arte italiana Ŕ volume II de Giotto a Leonardo. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. _______. Arte Moderna Ŕ do iluminismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. _______. Imagem e persuasão Ŕ ensaios sobre o barroco. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. _______. A arte moderna na Europa Ŕ de Hogarth a Picasso. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. BAUDELAIRE, C. Œuvres complètes. Paris: Éditions Robert Laffont, 1980. _______. As flores do Mal [tradução, introdução e notas de Ivan Junqueira]. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. _______. Au-delà du Romantisme Ŕ Écrits sur l‟art. Paris: Flammarion, 1998. _______. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar S. A. 2006. _______. Versos para o retrato de Honoré Daumier. In Charles Baudelaire Poesia e Prosa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar S.A., 2006. _______. Quelques caricaturistes français. In Charles Baudelaire Œuvre Complète. Paris : Éditions Gallimard, 1975. BENJAMIN, W. Obras escolhidas Ŕ magia e técnica, arte e politica. São Paulo: Brasiliense, 1993. _______. Obras escolhidas III Ŕ Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo. São Paulo: Editora Brasiliense, 1994. LE MEN, S. Catalogue de l‟exposition Daumier 1808 Ŕ 1879. Paris: Réunion des Musées Nationaux, 1999. _______ . Daumier et la caricature. Paris: Éditions Citadelles & Mazenod, 2008. 6 Cf. FERREIRA, A. B. de H. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1986. FABRIS, Marcos. A guerrilha semântica de Honoré Daumier. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 97-104, jan./jun. 2014. Página 103 ANEXO FABRIS, Marcos. A guerrilha semântica de Honoré Daumier. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 97-104, jan./jun. 2014. Recebido em: 15/04/2014. Aprovado em 15/06/2014 Página 104 Title: The semantics guerrilla of Honoré Daumier Author: Marcos Fabris Abstract: This article intends to discuss the relations between caricature and other areas of the cultural production in the oeuvre of the painter, sculptor, draughtsman, and French caricaturist Honoré Daumier. I intend to establish parallels between his artistic production and his historical hour, that is, Paris, the capital of the 19 th Century, contesting preconceived notions such as “political caricature” in opposition to caricature “de moeurs”, an aspect consolidated in the most influential bibliography on the artist. Keywords: Caricature. Photography. Art Criticism. Honoré Daumier. FABRIS, Marcos. A guerrilha semântica de Honoré Daumier. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 97-104, jan./jun. 2014. “THE LITTLE GIRL LOST” E “THE LITLE GIRL FOUND”, DE WILLIAM BLAKE: CANÇÕES DE INOCÊNCIA OU DE EXPERIÊNCIA? Enéias Farias Tavares1 Leandro Cardoso de Oliveira2 Resumo: Atualmente, um dos grandes temas dos estudos blakeanos é a interação de poesia, gravura e pintura em seus livros iluminados. Neste ensaio, centraremos nossa atenção nos poemas “The Little Girl Lost” e “The Little Girl Found”, poemas originalmente presentes em Canções de Inocência que depois migraram para o volume de Experiência. Metodologicamente, buscaremos uma interpretação da arte compósita de Blake, ressaltando como essas diferentes artes são apresentadas nas lâminas dos livros iluminados. Para tal análise, utilizamos a cópia G de Canções de Inocência e a cópia L de Canções de Inocência e de Experiência, formatos ainda não disponíveis nas edições brasileiras, que estão centradas apenas na dimensão textual de sua arte. Palavras-chave: Literatura. Gravura. Pintura. Livros Iluminados. William Blake. INTRODUÇÃO Em 1789, após desenvolver um método que utilizava ácidos para produzir gravações em relevo de texto e imagem, Blake imprimiu e finalizou os livros iluminados que marcaram o início da sua obra. Produzidos simultaneamente, As Canções de Inocência e O Livro de Thel configuram, respectivamente, em termos líricos e proféticos, aquilo que Blake conceberia como o estado de “inocência”. Tal estado remeteria a uma idealizada existência, associada à nostalgia da infância, à simplificação espiritual ou religiosa e à percepção corporal e também sexual no percurso do desenvolvimento humano. Página 105 Cinco anos depois, Blake retornaria a essa temática objetivando apresentar seu contraponto. A Thel, Blake comporia Visões das Filhas de Albion, livro profético cuja angústia sexual, o estupro e o ciúme figurariam em paralelo às idealizadas paragens de Har e ao horror da protagonista do livro anterior diante da materialidade, da perenidade e da sexualidade. Blake faria o mesmo com suas Canções, compondo nesses anos poemas que seriam gravados, impressos e finalizados como hinos da Experiência. À edição conjunta de mais de cinquenta lâminas, Blake comporia um frontispício com o seguinte título: Canções de Inocência e de Experiência – Mostrando os Estados Contrários da Alma Humana. A composição deste volume posterior tem recebido a atenção da crítica devido à série de correções, realocações e alterações que Blake executou em relação ao primeiro. 1 Enéias Farias Tavares é doutor em Letras Ŕ Estudos Literários e professor Adjunto do Departamento de Letras Clássicas e Linguística da Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: [email protected] 2 Leandro Cardoso de Oliveira é mestrando em Letras Ŕ Estudos Literários na Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: [email protected] TAVARES, Enéias Farias; OLIVEIRA, Leandro Cardoso de. “The Little Girl Lost” e “The Litle Girl Found”, de William Blake: Canções de Inocência ou de Experiência? Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 105117, jan./jun. 2014. Além disso, o fato de boa parte dos poemas de Experiência ter sido composta no seu Notebook Ŕ atualmente na British Library Ŕ garante uma revigorada discussão a partir da Crítica Genética que objetiva perceber a composição de poemas renomados como “The Tyger” e “London”, entre outros. Neste ensaio, centraremos a atenção nas lâminas de “The Little Girl Lost” e “The Little Girl Found”, poemas originalmente presentes em Canções de Inocência e que migraram para o volume de Canções de Experiência. O que essa alteração comunicaria? Indicariam os elementos compósitos de texto e imagem quaisquer indícios dessa transferência? De que modo essas três lâminas Ŕ mais proféticas do que líricas Ŕ lançariam luzes sobre outras obras iluminadas de Blake? Para tal investigação, utilizamos a cópia G de Canções de Inocência e a cópia L de Canções de Inocência e de Experiência, disponíveis no acervo digital do “Blake Archive”. 1. A FÁBULA DE LYCA E OS SINGELOS CENÁRIOS DAS CANÇÕES DE INOCÊNCIA Uma das particularidades desses dois poemas está no fato de serem compostos em três lâminas (Fig. 1-3). “The Little Girl Lost” termina na segunda lâmina, que também inicia “The Little Girl Found”. Essa integração torna impossível a separação dos dois poemas neste ou no volume seguinte. Além disso, como em outros exemplares da arte iluminada de Blake, há nelas uma completa integração de texto e imagem. Inicialmente, a imagem parece desconecta ao texto, uma vez que, como veremos, não há uma tradicional ilustração da narrativa. Porém, é o repensar dessas categorias tradicionais que a arte de Blake articula. Página 106 Primeiro, o olhar percebe as figuras humanas das lâminas, no caso da primeira uma masculina e uma feminina, ambas adultas, unidas em um abraço (Fig. 1). Enquanto a figura feminina está envolvida em tons de azul, constituindo um longo vestido que a cobre, a masculina não apresenta coloração, apenas traços corporais que sugerem sua nudez. O homem, mais alto, dirige seu olhar à mulher e a envolve com o braço. Ele possui o rosto e o corpo voltados para a esquerda, assim como a serpente que aparece na lâmina. A mulher, além de estar vestida e em consonância com o azul que cobre parte do fundo da lâmina, possui o rosto voltado ao homem, apesar do corpo voltado ao sentido contrário. Se o envolve com um braço, com o outro aponta para o alto. Enquanto o homem possui a face direcionada para o mesmo lado que a serpente, a mulher possui a face direcionada para o mesmo lado que a ave que voa sobre eles. No alto da imagem, além de folhas e galhos, há o pássaro e a serpente. O dedo feminino pode apontar para o animal que voa. As árvores e galhos finos envolvem o texto com suas flores e ornamentos, constituindo uma espécie de moldura e apresentando a vivacidade natural característica de Inocência. Enquanto o pássaro corta a porção superior da lâmina, abaixo do „Girl‟ do título, a serpente é apresentada com uma configuração peculiar. Ela se encontra na árvore da esquerda, portanto, oposta aos humanos, e voltada também para a esquerda, oposta à direção da ave. Além de sua posição, a localização na lâmina não é gratuita. A serpente, junto dos ornamentos dos galhos, divide as duas primeiras estrofes do restante do poema. TAVARES, Enéias Farias; OLIVEIRA, Leandro Cardoso de. “The Little Girl Lost” e “The Litle Girl Found”, de William Blake: Canções de Inocência ou de Experiência? Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 105117, jan./jun. 2014. Reprodução das Lâminas da Cópia G de Canções de Inocência Figura. 01. BLAKE, W. Canções de Inocência. Cópia G. 1789. Yale Center for British Art, New Haven. Lâmina 5. Figura. 02. BLAKE, W. Canções de Inocência. Cópia G. 1789. Yale Center for British Art, New Haven. Lâmina 6. Figura. 03. BLAKE, W. Canções de Inocência. Cópia G. 1789. Yale Center for British Art, New Haven. Lâmina 7. É somente depois de atentarmos a essa dimensão visual, que a percepção se volta ao texto e à narrativa nele apresentada. A matéria textual de “The Little Girl Lost” Ŕ fundida como está à dimensão visual Ŕ possui dois momentos distintos. As estrofes iniciais apresentam um teor profético. Com a divisão da serpente, na imagem que compõe o poema, entre a segunda e a terceira estrofe, tem-se o início da jornada da personagem Lyca, que segue até o fim do poema. Nesta lâmina, o texto se encontra sobre e entre a imagem, levando o leitor a se perguntar se a Lyca do poema seria a figura feminina apresentada na imagem. Esta apresenta diversos elementos a serem observados, como figuras humanas, animais e vegetais. Página 107 Autores como Leader enfatizam a fábula do poema funcionando primeiramente como um conto de fadas. “Lost” narra a separação de Lyca de seus pais e do seu vagar por um “deserto selvagem”. Cansada, ela deita abaixo de uma árvore, cai no sono e logo se aproximam mágicas “bestas de rapina” que a despem (enquanto ela dorme) e a carregam para uma caverna. “Found” narra as preocupações dos pais com a jornada de Lyca. Eles também encontram feras mágicas (um leão que se torna “um espírito armado de ouro”) que os leva ao lugar em que Lyca dorme “entre tigres selvagens”. Na última estrofe, os parentes são descritos “como habitando um vale de solidão”, não mais temendo lobos e tigres. (LEADER, 1981, p. 38) TAVARES, Enéias Farias; OLIVEIRA, Leandro Cardoso de. “The Little Girl Lost” e “The Litle Girl Found”, de William Blake: Canções de Inocência ou de Experiência? Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 105117, jan./jun. 2014. Todavia, há outras dimensões que merecem destaque na aparente simplicidade da fábula blakeana. O texto da primeira lâmina, por exemplo, nas duas primeiras estrofes, apresenta a profecia de que a terra, um deserto selvagem, irá se tornar um jardim paradisíaco. Aqui, a ligação com o mundo antes e depois da queda é direta. A profecia antevê uma terra árida e decaída voltando a ser um jardim fértil e atraente, numa das várias releituras bíblicas que Blake proporia em sua obra de Isaías, capítulos 34 e 35. Na sequência, temos a personagem Lyca, uma criança de sete anos, perdida em um cenário desolado, e a busca de seus pais por ela. Aqui, nos distanciamos da imagem, uma vez que a jovem figurada teria uma idade adulta e uma experiência sensual estranha à história da criança perdida. Na quarta estrofe, animais selvagens são referidos pela primeira vez, com Lyca ouvindo a canção dos pássaros. A personagem é caracterizada, posteriormente, como uma virgem, ou seja, livre do pecado inicial, sendo encontrada por feras Ŕ bestas de rapina, tigres, leopardos e um casal de leões. No texto da segunda lâmina, o leão toca seu corpo e a conduz, nua, para as cavernas. Lá, ocorre uma quebra de expectativa sobre a visão tradicional associada a animais selvagens, uma vez que Lyca recebe deles proteção e segurança. Na porção superior da segunda lâmina (Fig. 2), há apenas uma figura humana, feminina, coberta por um vestido rosa e sozinha. Ela está deitada e o corpo e a face estão voltados para a direita. À sua volta, uma natureza espessa de árvores, galhos e folhas. 108 Nesta última lâmina (Fig. 3), homens e animais convivem em harmonia. A natureza é densa novamente, com dois grandes galhos cobertos de folhas que, entrelaçados, sobem ao topo da página iluminada. A imagem demonstra a harmônica reintegração humana, animal e vegetal. Há também uma figura feminina adulta, agora nua, deitada no chão, que supomos tratar-se da mesma figura feminina das primeiras lâminas. Há, além disso, três figuras infantis, uma delas encostada ao leão, que não possui aparência amedrontadora, outra montada sobre uma leoa e a terceira ao lado dela. Como Robert Essick afirma, “enquanto o poema nos deixa em um „vale solitário‟ Ŕ com os pais reencontrando a criança perdida adormecida ou morta Ŕ a imagem nos oferece uma visão onírica do „tenro jardim‟, profetizado nas primeiras estrofes” (2008, p. 104). Página A presença animal, na segunda lâmina, aparece apenas na porção inferior, depois do título do segundo poema. Na imagem, um tigre está com o corpo direcionado para a esquerda e a face voltada para a direita. Ele está sob uma árvore menor e sem folhas. O texto do segundo poema, “The Little Girl Found”, apresenta a jornada dos pais de Lyca a sua procura. Na primeira lâmina, é expressa a exaustão em que se encontram e a visão da menina em um sonho. Na sequência, o sonho se esvanece e eles encontram, em um caminho sem volta, um leão. Este conduz os pais à caverna onde Lyca repousa. A última estrofe finaliza a narrativa afirmando que os pais passaram a viver no lugar em que encontraram a criança, em um vale de solidão, entre animais selvagens. Este final narrativo é alterado pela imagem da última lâmina, que parece remeter às estrofes proféticas do poema anterior, onde a natureza e a terra desértica transmutam-se em um belo jardim. Dentro de Inocência, esses poemas parecem deslocados ao apresentarem apenas animais selvagens e imagens solitárias e tristes (Fig. 2). Não existe a presença de TAVARES, Enéias Farias; OLIVEIRA, Leandro Cardoso de. “The Little Girl Lost” e “The Litle Girl Found”, de William Blake: Canções de Inocência ou de Experiência? Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 105117, jan./jun. 2014. animais dóceis, como o cordeiro, por exemplo, recorrente neste livro iluminado. Entretanto, a figura infantil de Lyca no texto e o júbilo humano/natural da última lâmina reforçam Ŕ mesmo que ambiguamente Ŕ os temas de Inocência. Neste volume, Lyca é figura infantil, perdida e desamparada, procurada pelos pais e acolhida por feras selvagens que, em sua visão inocente, não apresentam ameaça. Para Lyca, a canção dos pássaros selvagens é bela e atraente e os tigres e leopardos que brincam não diferem de cordeiros, assim como o leão que lhe lambe o corpo e que, junto da leoa, a conduz às cavernas sombrias. Blake parece atingir nesses poemas o limite de sua primeira exploração do estado de “inocência”, fazendo com que o texto da lâmina sugira experiência sensual e Ŕ talvez Ŕ sexual. Se no texto essa ênfase não é clara, o mesmo não se pode dizer das imagens, com suas cenas de nudez, abraços e vivências mais corpóreas do que intelectivas. Diferente de “The Ecchoing Green”, na qual essa dimensão é mera sugestão, toda a jornada de Lyca é acompanhada de imagens adultas Ŕ figurativas ou simbólicas Ŕ que reforçam o tema da materialidade. Por fim, mesmo o poema parece integrar-se a essa dimensão ao ressaltar a nudez de Lyca e o contato corpóreo com as feras que encontra na floresta noturna. Todavia, mesmo diante da temática da queda, é preciso lembrar que, quando Blake publicou esse conjunto de poemas, ainda não havia apresentado o estado de “experiência”. Logo, “Found”, que é comumente associado ao olhar adulto de experiência, aparece aqui mais como uma jornada de reencontro com o perdido estado de “inocência”. Ao olharmos para o poema hoje, é inviável não o considerarmos como um prenúncio à sequência que viria nos anos seguintes. Porém, em Inocência, o poema parece elucidar que este estado não pertence apenas às crianças, mas também aos adultos que o procuram, pois a “inocência” Ŕ assim como o estado de “experiência” Ŕ permeia a alma do homem em sua totalidade. Não coincidentemente, no volume seguinte, o frontispício emparelharia Inocência e Experiência como “Dois Estados Contrários da Alma Humana”. Agora, vejamos como a “simples” transferência de um volume a outro obriga a reinterpretação das lâminas que apresentam o drama de Lyca. Página 109 Nessa acepção, o segundo poema apresentaria as consequências da queda ou da perda da “inocência”, um sinônimo daquilo que Blake empreenderia em suas Canções de Experiência. Em “The Little Girl Found”, os pais de Lyca procuram pela filha perdida. Nessa busca, conseguem perceber a idealizada “inocência” apenas nas paragens de um sonho que logo se esvai. Mesmo o olhar adulto ser percebido como ideal “inocência” é estranho, uma vez que tal visão ocorre em meio a terras desérticas. Apenas depois de hesitarem ao encontrarem o leão, que inicialmente apresenta ameaça, é que começam a retomar a “inocência”. Na percepção infantil de que a fera não apresenta perigo, são guiados pelo animal na perfeita harmonia entre homens e animais selvagens, para reencontrarem a sua filha perdida. Diante desses fatores, não surpreende a passagem desta canção para o volume seguinte, uma vez que a dimensão da queda Ŕ relacionada ou não à dimensão erótica Ŕ é em “The Little Girl Lost” explícita. TAVARES, Enéias Farias; OLIVEIRA, Leandro Cardoso de. “The Little Girl Lost” e “The Litle Girl Found”, de William Blake: Canções de Inocência ou de Experiência? Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 105117, jan./jun. 2014. 2. AS CINZENTAS E ADULTAS PAISAGENS DAS CANÇÕES DE EXPERIÊNCIA As razões de Blake ter transferido “The Little Girl Lost” e “Found” de Inocência para Experiência na versão conjunta da obra, publicada em 1794, são ainda inconclusas. Wicksteed, por exemplo, afirma que, possivelmente, Blake compôs essa dupla lírica por último, já prevendo sua gradativa modificação para o conjunto posterior (1923, p. 115). É possível levar essa hipótese adiante, ao supor que a própria composição desses dois conjuntos poéticos/imagéticos Ŕ de temática profética Ŕ poderia ter apresentado ao artista um novo desenvolvimento de sua própria reflexão. Todavia, mesmo no segundo conjunto iluminado, esses poemas e suas lâminas parecem um tanto fora de lugar. Reprodução das Lâminas da Cópia L de Canções de Inocência e de Experiência Página 110 Figura. 04. BLAKE, W. Canções de Inocência e de Experiência. Cópia L. 1795. Yale Center for British Art, Lâmina 33. Figura. 05. BLAKE, W. Canções de Inocência e de Experiência . Cópia L. 1795. Yale Center for British Art. Lâmina 34. Figura. 06. BLAKE, W. Canções de Inocência e de Experiência. Cópia L. 1795. Yale Center for British Art. Lâmina 35. Os dois volumes de Inocência e Experiência também são contrastados visualmente por Blake por meio das cores vivas, quentes e claras do primeiro em relação aos tons escuros, sombrios e melancólicos do segundo. Obviamente, como há mais figuras infantis no primeiro e mais figuras adultas no segundo, Blake sugere que essa dimensão visual também se adéqua às diferentes idades, percepções e vivências humanas. Neste aspecto, destacamos três alterações neste novo contexto e na sua alterada paleta de cores. TAVARES, Enéias Farias; OLIVEIRA, Leandro Cardoso de. “The Little Girl Lost” e “The Litle Girl Found”, de William Blake: Canções de Inocência ou de Experiência? Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 105117, jan./jun. 2014. Primeiro, há diferenças significativas produzidas exclusivamente a partir do novo arranjo de cores (Fig. 4-6). Enquanto Experiência tem a sua própria dupla de crianças perdidas (“A little boy lost” e “A little girl lost”) e enquanto “The Little Boy Lost” e “Found” permaneceram em Inocência, “The Little Girl Lost” e “Found” parecem um tanto inadequados neste contexto, apresentando bem mais uma problematização dos próprios estados de “inocência” e “experiência” e de seus respectivos limites visuais e poéticos. Na cópia L, além da transposição para Experiência, o fundo da primeira lâmina (Fig. 4), que antes apresentava tons claros de azul e rosa, agora apresenta tons cinzentos. O homem, antes nu, está agora coberto de azul. A figura feminina, por sua vez, veste rosa (Fig. 5). Em segundo lugar, a compreensão de todo o volume é alterado a partir do novo frontispício do conjunto, que agora articula e contrasta os estados de “inocência” e de “experiência”. Como as figuras adultas ganham destaque em Experiência, a ênfase dada aos pais de Lyca agora é mais explícita. Além disso, percebemos Lyca de forma diferente. Não se trata mais de uma perdida criança de sete anos e sim uma mulher adulta, de idade indeterminada, que nos conta que aos sete anos ouviu a canção dos pássaros selvagens e sobre a sua decorrente mudança. Os verbos que encontramos no décimo quarto e no décimo quinto verso do primeiro poema expressam a ideia de passado, contribuindo para a interpretação da personagem como adulta. Tais menções nublam qualquer certeza sobre a idade da personagem enquanto ocorrem a busca dos pais e o reencontro com ela. Página 111 Em terceiro lugar, esses poemas auxiliam a perceber a forma como Blake reposiciona geograficamente as paragens de Inocência e de Experiência em seus livros. Em suas Canções, o artista estabelece uma convenção iconográfica que comunica as porções esquerda e direita de suas páginas como relacionadas aos cenários, respectivamente, da “inocência” e da “experiência”, do mundo idealizado e paradisíaco para as sombrias terras decaídas do mundo material. Essa é razão de diversas personagens de Inocência olharem para a direita, ou seja, para as suas contrapartes futuras de Experiência. Mais marcantes ainda são os diversos contatos que homens, mulheres e animais do segundo volume estabelecem com os do primeiro. O exemplo mais marcante é o “Tigre” de Experiência, cuja versão visual está voltada para Inocência, o que explicaria sua expressão afável e domesticada, apesar da “terrível simetria” do texto verbal. Tais indicações espaciais parecem evidenciar um retorno temporal, uma ruptura com a linearidade da leitura e da interpretação, da esquerda para a direita, do início para o fim. Tal ruptura expressaria a necessidade, por parte do observador/leitor, do aprendizado de uma nova “inocência”, estado que seria reaprendido mesmo em meio aos gélidos e pálidos cenários de Experiência. Tal “inocência” reaprendida é justamente aquilo que Blake parece indicar por meio da sua arte e da ênfase dada nos seus livros à imaginação. Diante desta constatação, a primeira lâmina de “The Little Girl Lost”, com o jovem enamorado olhando para a esquerda, para a serpente do Éden, indicaria uma “inocência” que seria reaprendida no corpo e por meio das percepções corporais. Todavia, antes que isso fosse possível, seria necessário um longo percurso de TAVARES, Enéias Farias; OLIVEIRA, Leandro Cardoso de. “The Little Girl Lost” e “The Litle Girl Found”, de William Blake: Canções de Inocência ou de Experiência? Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 105117, jan./jun. 2014. aprendizado, no qual se abandonaria a idealizada “inocência” e se direcionaria a percepção à música do bardo da “experiência”. Tal percurso seria executado por Lyca e também pela jovem na lâmina, ambas prestes a deixar os vales edênicos para aventurarem-se nas terras desérticas de Experiência. Por fim, as imagens adultas, recorrentes nas Canções de Experiência, nos fazem associar Lyca também a uma figura adulta, já tomada pela “experiência”, e relacionada à mulher da imagem presente na primeira lâmina. Leader (1981, p. 39), por exemplo, identifica a figura feminina adulta das imagens com a própria Lyca, ao interpretar o número sete como uma idade simbólica. O diminutivo do título, assim, se justifica ao reafirmar a idade em que a criança perdeu sua “inocência” e adentrou ao novo mundo da “experiência”. A partir da canção dos pássaros, Lyca é figurada deitada ou dormindo, possivelmente indicando a morte simbólica da “inocência” abandonada ou perdida. Esta leitura explicaria o porquê de o leão derramar lágrimas, talvez ao notar o que fora perdido. No segundo poema, a imagem já experiente dos pais na busca por uma criança inocente que não mais existe reafirma a inocência perdida. Aqui, o casal vaga pelos desertos por sete dias, mas nada encontram, pois a experiência natural dos adultos não permite. Apenas após um visionário sono de sete noites Ŕ simbolizando agora não mais a morte da “inocência”, mas a morte da “experiência” Ŕ é que eles reencontram a “criança” da imaginação, seja ela Lyca ou a sua própria. Após este sonho, visualizam o que antes apresentava ameaça: um espírito dourado no leão que encontram. Este é responsável pela redescoberta da “inocência” por parte do casal, que agora consegue ver nas feras a mesma beleza presente em todos os animais. Notemos, porém, que essa redescoberta só é possível depois de um despertar espiritual. Desta forma, se realiza a profecia expressa nas duas primeiras estrofes do primeiro poema e a criança, ou seja, a “inocência”, finalmente é reencontrada, ou reaprendida, em meio ao belo jardim e ao bom convívio entre homens, animais e natureza. Para além desta leitura, o poema funciona como uma crítica aos valores morais de uma sociedade que observa as práticas corporais Ŕ o sexo entre elas, obviamente Ŕ como impuras ou pecaminosas. Essas duas Canções, como outras de “Experiência”, enfatizam a importância de se desvencilhar de prerrogativas morais que se pressupõem verdadeiras Ŕ como “o sexo é pecado” ou “leões sempre apresentam ameaça” Ŕ para se reencontrar a “inocência” imaginativa. Página 112 Em outros termos, a terceira lâmina desses poemas finda com uma exultante cena de profecia realizada. Tal concretização acontece em dois lugares: na terceira e última lâmina deste conjunto e na consciência de seus espectadores, que vêem realizados em texto e imagem, em lâmina compósita, o retorno ao recriado Éden da imaginação humana. Na última seção, refletiremos sobre a dimensão sensual/sexual sugerida por Blake em seus poemas iluminados. 3. BLAKE E AS INDEFINIDAS FRONTEIRAS ENTRE “INOCÊNCIA” E “EXPERIÊNCIA” As Canções de Blake tem produzido muitas leituras que observam como delimitadas e claras as fronteiras entre as infantis e idealizadas paisagens naturais de TAVARES, Enéias Farias; OLIVEIRA, Leandro Cardoso de. “The Little Girl Lost” e “The Litle Girl Found”, de William Blake: Canções de Inocência ou de Experiência? Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 105117, jan./jun. 2014. Inocência em relação às adultas e poluídas ruas urbanas de Experiência. Todavia, o artista criara uma página título para o conjunto reafirmando que ambos seriam “estados contrários” de uma única “alma humana”, indicando que as zonas limítrofes entre um estado e outro não seriam claras. Os poemas iluminados que lemos podem auxiliar no entendimento da complexidade pretendida e executada por Blake em suas Canções. Robert Essick, por exemplo, estuda-os como uma aceitação da Experiência Ŕ dos pais adultos de Lyca Ŕ diante da morte da Inocência, o que explicaria a passagem do poema do conjunto de 1789 para o segundo em 1794 (2008, p. 100). Todavia, tal interpretação inviabiliza a sugestão de despertar espiritual e existencial, como prometido nos primeiros versos. Para Essick, tais canções revelam mais morte e adormecimento, do que ressurreição ou renovação. Embora autores como Damon (1988, p. 258) equacionem o leão como uma representação da morte, interpretamos o animal e sua relação com a “inocente” Lyca mais como símbolo de desenvolvimento mental e também corporal. Do ponto de vista do poema, não há como fugir da temática marcada do adormecimento Ŕ símbolo de morte Ŕ da pequena criança e da reação de seus pais. Todavia, as imagens adultas das lâminas Ŕ em relação às alusões à nudez de Lyca e seu contato físico com o leão Ŕ podem sugerir revelação sensual ou despertar sexual, tema também percebido por outros críticos. Morris Eaves, por exemplo, ao exemplificar a variante interpretativa das Canções, supõe que os dois poemas, na “sua forma mítica”, podem evidenciar “as consequências familiares do desenvolvimento sexual adolescente” (2003, p. 5). Embora não sejamos tão literais, nossa leitura tende a perceber no poema uma forte carga erótica Ŕ mais simbólica do que realista. Tal dimensão é também mencionada por Nelson Hilton, que lista termos que poderiam indicar alguns sentidos possíveis à sua desafiadora “alegoria”: “amor, sexo, adolescência, paternidade, perda, profecia”, entre outras (2003, p. 201). Página 113 Logicamente, a percepção mais ampla de tais extratos simbólicos e de seus respectivos sentidos apenas é possível se não priorizarmos a narrativa textual em detrimento da visual ou vice-versa. Embora Essick critique a dissociação entre texto visual e verbal Ŕ ele aproxima, por exemplo, o casal da primeira lâmina como “ilustrando” o poema Ŕ, o autor articula outra possibilidade visando emparelhar a narrativa do poema à das imagens. Segundo ele A narrativa pictórica começa com o jovem casal da primeira lâmina. Na seguinte, há a transição de um poema a outro, na qual vemos a jovem mulher “debaixo” de uma árvore, como Lyca na quinta estrofe de “The Little Girl Lost”, mas ainda a despertar e apreensiva. Abaixo, uma leoa abaixo de uma árvore infecunda cheira o ar, talvez farejando uma potencial caça. As cores amarelo e vermelho atrás dela indicam a vinda da “noite” descrita na estrofe ao lado. Enquanto Lyca está viajando da vida para a morte no poema, a jovem mais velha das imagens está transitando da infância para a maturidade, e, na verdade, do jardim da inocência para o “deserto selvagem” da experiência, com suas feras assustadoras. A vinha carregada e fértil da porção inferior esquerda, pendendo ou crescendo das primeiras duas palavras do título, indicaria algo mais esperançoso. (ESSICK, 2008, p. 103) TAVARES, Enéias Farias; OLIVEIRA, Leandro Cardoso de. “The Little Girl Lost” e “The Litle Girl Found”, de William Blake: Canções de Inocência ou de Experiência? Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 105117, jan./jun. 2014. Essick exemplifica aqui um dos grandes problemas das interpretações dos livros de Blake. Primeiro, ao priorizar o texto em relação à imagem, como se esta não passasse de uma ilustração daquele. Segundo, ao interpretar a imagem em função do texto ao invés de deixar que ambas as linguagens se auto-iluminem. O fato de o crítico insistir na leitura tradicional desses poemas como unicamente Canções de Experiência Ŕ portanto, canções sobre morte e decadência Ŕ o impede de ver os elementos positivos e esperançosos por ele mesmo apontados. Que os poemas iluminados sejam sobre “inocência” perdida, é correto, mas eles também apresentam a perda da “experiência” adulta, moralista, tradicional, o que em Blake é sempre um ganho em termos de “inocência reaprendida”, expressão sinonímica para arte, imaginação, renascimento do intelecto e da percepção, como enfatizado nas duas primeiras estrofes e como as lâminas evidenciam, ao mesclar símbolos de natureza decaída e também renascida, re-integrada. Ora, Blake não “ilustra” seus poemas do modo tradicional. Esperar encontrar uma imagem infantil porque o poema apresenta uma menina de sete anos é equivocado, sobretudo quando todas as Canções fazem questão de produzir formas tão diversas, irônicas e icônicas, de afastamento visual e textual. Assim, ao invés de buscarmos um emparelhamento entre narrativa visual e textual, o que deveríamos buscar são conexões orgânicas, metafóricas e simbólicas, que as duas linguagens vivificam por meio da arte compósita de Blake. Zachry Leader, por exemplo, articula de que modo a união de texto e imagem mostra-se frutífera no que diz respeito a esses dois poemas. Segundo ele, “„The Little Girl Lost‟ e „The Little Girl Found‟ provêem um exemplo da sutil e frequentemente recorrente interdependência de texto e imagem” (1981, p. 38). O modo como o crítico articula tal “interdependência” é ilustrativo de como a arte de Blake dialoga com diferentes espectadores e da importância da percepção de seus elementos tanto visuais quanto textuais. Página 114 Visualmente, por exemplo, as lâminas evidenciam uma inegável experiência sensual/sexual. Na primeira lâmina, temos o casal unido em um abraço. Os indícios para a interpretação como despertar sexual estão claramente expressos, não apenas por conta do casal, mas também dos animais que figuram no alto. Enquanto a serpente, símbolo sexual, aparece na porção superior, igualmente simbolizando liberdade está o pássaro. Cabe ressaltar que o dedo da personagem feminina apontar para a ave sugere a liberdade adquirida com o despertar sexual. Entretanto, a união não é completa. Devemos perceber que, se o casal está unindo os corpos, a vestimenta da mulher causa uma separação. Na segunda lâmina, a separação indicada pelas roupas da figura feminina na primeira lâmina agora é evidente. Além da ausência do homem, esta lâmina é repleta de cisões. Nela, ocorre a divisão entre o primeiro e o segundo poema. A porção superior também possui um cenário diferenciado da porção inferior, sendo a única lâmina do conjunto que não apresenta uma imagem única. Ademais, ocorre a separação entre o mundo humano e o mundo animal e a diferenciação do ambiente natural. Enquanto na parte superior encontra-se uma mulher vestida e envolta de uma natureza densa, na parte inferior apenas um animal sob uma árvore sem folhas. TAVARES, Enéias Farias; OLIVEIRA, Leandro Cardoso de. “The Little Girl Lost” e “The Litle Girl Found”, de William Blake: Canções de Inocência ou de Experiência? Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 105117, jan./jun. 2014. Na terceira lâmina, a união ou a re-integração finalmente é completa. Humanos e animais se reencontram. Ainda, há a presença tanto da vegetação densa, com os dois grandes galhos entrelaçados na porção direita e os pequenos ramos, também entrelaçados, na porção esquerda. Aqui, os humanos não possuem vestimentas e há figuras masculinas e femininas. O casal de leões, que despe a personagem principal dos poemas, está em harmonia com as figuras humanas. Esta absoluta integração parece visualmente exemplificar uma reaprendida “inocência”, na qual animais selvagens não diferem de dóceis, sendo a harmonia completa, entre homens, animais e natureza. Nesse sentido, tanto o casal de amantes adultos ou jovens na primeira lâmina (Fig. 1 e 4), quanto a solidão da personagem feminina na segunda (Fig. 2 e 5), além da sua nudez e reintegração natural na terceira (Fig. 3 e 6), reforçam essa tópica. Além disso, as crianças sobre o dorso do leão na última lâmina Ŕ muito semelhantes aos infantes no dorso da serpente da última lâmina de O Livro de Thel, produzido no mesmo ano de Inocência (1789) Ŕ apenas reforçam o tema sensual/sexual dos poemas (ESSICK, 2008, p. 104). Tal imagem, dos bebês da “inocência” domando as “feras da “experiência” seria recorrente na arte iluminada de Blake, vide América lâmina 11. Hagstrum, por sua vez, relaciona esse imaginário com imagens antigas em homenagem a Príapo, de clara significação erótica e sexual (1964, p. 89). A partir destes elementos visuais, percebemos como o poema apresenta sutis alusões sexuais. Segundo Leader, “um grande número de detalhes significativos reforça essa leitura: o cenário sulino (tradicionalmente associado às paixões); a amabilidade (loveliness) de Lyca, que é mencionada duas vezes; a influência sedutora da „canção dos pássaros selvagens‟; Lyca ser chamada de seu „doce sono‟ da forma como um amante faz; o leão lamber seu pescoço e peito; a perda do „seu leve vestido‟” (1981, p. 39). Questões como essas Ŕ indiferente de suas respostas Ŕ afetam o modo como lemos os poemas sobre “Lyca”. Elas direcionam nossa atenção para versos específicos, dando ênfase e apontando para as sutis alusões sexuais do texto. Apesar de não estarmos confinados às imagens em qualquer nível de sentido, elas tornam impossível ignorarmos a dimensão sexual da estória de Lyca. Como muitas das iluminações de Blake, as imagens ocupam um território intermediário entre a ilustração e a interpretação. Elas não provêem nenhuma informação nova, como fazem em “Spring”, mas nos previnem de leituras parciais ou equivocadas. Elas também produzem um efeito mais amplo e geral: ao tomarem maiores liberdades com o texto (por que leões e não tigres na terceira lâmina?), elas encorajam uma maior liberdade em nossas próprias interpretações. Encontramos a nós mesmos procurando por aquilo que Blake chamou de “sentido mítico e recôndito, onde mais do que o olho alcança pode ser visto” (Descriptive Catalogue, 1809). (LEADER, 1981, p. 40) Página 115 A partir dessa enérgica correlação entre texto e imagem, poesia, gravura e pintura nos livros iluminados de Blake, nota-se até que ponto o artista cria uma arte que desafia a percepção Ŕ seja ela intelectiva ou corpórea Ŕ do observador. Onde estão os limites de texto e imagem? Onde estão as fronteiras entre “inocência” e “experiência”? Onde termina a vivência do corpo e inicia a reflexão do intelecto? O propósito dessas questões que dizem respeito à precedência de texto ou de imagem ou ao diálogo mútuo entre eles, é ressaltado por Leader: TAVARES, Enéias Farias; OLIVEIRA, Leandro Cardoso de. “The Little Girl Lost” e “The Litle Girl Found”, de William Blake: Canções de Inocência ou de Experiência? Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 105117, jan./jun. 2014. Em vista disso, finalizamos nossa leitura de “The Little Girl Lost” e “The Little Girl Found” observando que a arte de Blake desafia definições, conceituações ou leitura unidimensionais. Assim como não há em seus livros fronteiras estabelecidas entre “texto” ou “imagem”, entre “inocência” ou “experiência”, entre o humano, o animal e o vegetal Ŕ como a terceira lâmina de “The Little Girl Found” tão belamente apresenta Ŕ parece-nos que aquilo que o artista desejava comunicar era justamente o perigo de uma limitada visão una da existência. Nessa acepção, é como se os poemas iluminados Ŕ de Inocência ou de Experiência?, não saberemos a resposta Ŕ significassem outra coisa: como as primeiras duas estrofes de “Lost” prometem, é necessário reverter um mundo terrível, solitário e frio, em um renovado jardim de imaginação, criação e comunhão. No caso de Blake, esse renovado jardim, esse paraíso revivido, esse Éden eterno contido em um “grão de areia” e no “pulsar de uma artéria”, seria apenas realizado na consciência de seus espectadores, diante do espaço compósito de seu teatro iluminado, diante das faces e das vozes de suas crianças perdidas e reencontradas. REFERÊNCIAS Recebido em: 27/05/2014. Aprovado em 15/06/2014. Página 116 BLAKE, William. Canções da inocência e Canções da experiência: os dois estados contrários da alma humana. Tradução de Gilberto Sorbini e Weimar de Carvalho. São Paulo: Disal, 2005. BLAKE, William. The Complete Poetry & Prose of William Blake. Ed. By David V. Erdman. New York: Anchor Book, 1988. BLAKE, William. The poetry and prose of W. Blake. David V. Erdman (editor) e Harold Bloom (commentary). New York: Doubleday & Company, 1965. BLAKE, William. The William Blake Archive: http://www.blakearchive.org/blake/. DAMON, Foster. A Blake Dictionary – The Ideas and Symbols of William Blake. Hanover and London: University Press of New England, 1988. EAVES, M. “Introduction: to paradise the hard way”. In: EAVES, M. (Ed.) Cambridge Companion to William Blake. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 1-16. EAVES, Morris (ed) The Cambridge companion to William Blake. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ESSICK, Robert. “Commentary to the Songs of Innocence and of Experience”. In: BLAKE, William. Songs of Innocence and of Experience. Edited by Robert Essick. San Marino: Huntington Library, 2008, p. 23-156. HILTON, Nelson. “Blake‟s early works”. In: EAVES, M. (Ed.) Cambridge Companion to William Blake. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 191-209. LEADER, Zachry. Reading Blake’s Songs. London: Routledge & Kegan Paul, 1981. MITCHELL, W. J. T. Blake’s Compositive Art. Princeton: Princeton University Press, 1985. TAVARES, E. F. As Portas da Percepção: Texto e Imagem nos Livros Iluminados de William Blake. Tese de Doutorado. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2012. WIKSTEED, Joseph. Blake’s Innocence and Experience. New York: E. P. Dutton & Co, 1923. TAVARES, Enéias Farias; OLIVEIRA, Leandro Cardoso de. “The Little Girl Lost” e “The Litle Girl Found”, de William Blake: Canções de Inocência ou de Experiência? Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 105117, jan./jun. 2014. Página 117 Title: William Blake‟s “The Little Girl Lost” and “The Litle Girl Found”: Songs of Innocence or of Experience? Author: Enéias Farias Tavares; Leandro Cardoso de Oliveira Abstract: Nowadays, one of the major themes of the blakean studies is the interaction of poetry, printmaking and painting in his illuminated books. In this essay, we will focus our attention on the poems "The Little Girl Lost" and "The Little Girl Found", originally published in Songs of Innocence, illuminated poems that later migrated to the volume of Songs of Experience. Methodologically, we will present an interpretation of Blake‟s composite art, emphasizing how different arts are produced in the plates of his illuminated books. For this analysis, we will use the copy of G of Songs of Innocence and copy L of Songs of Innocence and of Experience, format not available in the Brazilian editions, only centered in the textual dimension of Blake‟s art. Keywords: Literature. Engraving. Painting. Illuminated Books. William Blake. TAVARES, Enéias Farias; OLIVEIRA, Leandro Cardoso de. “The Little Girl Lost” e “The Litle Girl Found”, de William Blake: Canções de Inocência ou de Experiência? Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 105117, jan./jun. 2014. O ÉDIPO ROMÂNTICO, DA LITERATURA AO CINEMA Fausto Calaça1 Célia Maria Domingues da Rocha Reis2 Resumo: No presente artigo, realizamos uma análise comparada entre o romance de Honoré de Balzac, O lírio do vale (1836) e o filme de François Truffaut, Beijos proibidos (1968), tendo como perspectiva os temas desencantamento, nostalgia, romance de aprendizagem, Nouvelle vague e a noção de “Édipo romântico”, elaborada por Pierre Laforgue (2002). Colocamos em destaque o drama de Antoine Doinel, protagonista do filme, que re-apresenta um episódio semelhante ao da trajetória do jovem protagonista Félix de Vandenesse, do romance de Balzac. Palavras-chave: Romantismo. Nouvelle vague. Édipo. François Truffaut. Honoré de Balzac. « Les femmes les plus vertueuses ont en elles quelque chose qui n‟est jamais chaste ». Physiologie du mariage, 1829 (BALZAC, 1980, p. 944) « L‟homme est composé de matière et d‟esprit; l‟animalité vient aboutir en lui, et l‟ange commence à lui. De là cette lutte que nous éprouvons tous entre une destinée future que nous pressentons et les souvenirs de nos instincts antérieurs dont nous ne sommes pas entièrement détachés: un amour charnel et un amour divin ». Le Lys dans la vallée, 1836 (BALZAC, 1978, p. 1146) No contexto de uma série de convulsões políticas após a queda da Bastilha, em 1789, o Romantismo se constitui como umas das grandes expressões do mal-estar na cultura e na civilização por meio da escrita de muitos autores franceses. São diversas as formas de manifestações românticas que caracterizam a literatura no período de 1789 a 1830. De Rousseau ao jovem Victor Hugo, temos aí um universo imenso de produções literárias que colocam em cena a figura do rapaz3 romântico. Neste período, esta figura se expressa de maneiras distintas: solitária, melancólica, heroica, enérgica, revolucionária, irônica, desencantada. Na França, na década de 1830, o rapaz romântico figura como protagonista de várias obras e expressa o espírito de desencantamento do seu século (BARA, 2003). A Página 119 1 Docente do do Curso de Graduação em Psicologia e do Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem, ambos da Universidade Federal de Mato Grosso. Professor convidado na Université DiderotParis 7 / Groupe International de Recherches Balzaciennes (Bolsista de pós-doutorado CAPES 20122013). Correspondente brasileiro da Société des Études Romantiques et Dix-neuviémistes (SERD-Paris). [email protected] 2 Docente do Curso de Graduação em Letras e do Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem, ambos da Universidade Federal de Mato Grosso. Pós-doutorado em Estudos Comparados pela USP (2008). Coordenadora do Projeto de Pesquisa Lugares de Arte: linguagens, memórias, fronteiras, que conta com financiamento de bolsas de seus membros, pela CAPES, e de financiamento de publicações pela FAPEMAT. [email protected] 3 Em língua francesa, « jeune homme »: “homem jovem”, “jovem adulto”, “moço”. CALAÇA, Fausto; REIS, Célia Maria Domingues da Rocha. O Édipo Romântico, da literatura ao cinema. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 119-130, jan./jun. 2014. Monarquia de Julho (1830-1848) Ŕ conhecida como uma monarquia constitucional e liberal que permitiu a presença de banqueiros e advogados no trono da França Ŕ instaura a ascensão da alta burguesia no poder, revelando que os ideais da Revolução Francesa não passam de utopia. A monarquia do Antigo Regime, após sua queda, em 1789, e sua tentativa de retomar o seu poder no período conhecido como Restauração (1815-1830), é então substituída por uma “monarquia do dinheiro” (id., ibid.). Neste contexto, o que faz da figura do rapaz um personagem de interesse da literatura romântica é o fato de que ele, desencantado com as utopias revolucionárias, sinta-se como um marginal. Pierre Laforgue (2002) ressalta que é a impossibilidade de entrar na sociedade o que constitui precisamente os jovens heróis românticos em sujeitos na literatura e na sociedade. Estes heróis criados por Honoré de Balzac, Stendhal, Alfred de Musset, Alfred de Vigny, Sainte-Beuve, Théophile Gautier, dentre outros, representam o malestar em uma sociedade que não exclui os jovens, mas os impedem de participar do mundo político: Sem dúvida, antes de 1830, encontramos figuras do “jovem homem” na literatura Ŕ vale destacar aqui o personagem René, de Chateaubriand Ŕ, mas é somente na Monarquia de Julho que o “jovem homem” emerge verdadeiramente como representante de uma parte do corpo social e encontra o lugar que lhe é dedicado na produção literária. (LAFORGUE, 2002, p. 11) 4 Ao negar as frivolidades e as libertinagens do século XVIII, a “monarquia do dinheiro” impõe seus valores hipócritas de pudor e contenção dos impulsos, combinados com utilidade e lucro, contra os “vícios” da carne e da alma, manifestos especialmente pela literatura setecentista: “em nenhuma outra época ela conseguiu com tanta eficácia arruinar a naturalidade de Eros” (LAFORGUE, 2002, p. 12). É por essa espécie de mutilação que a figura do rapaz romântico encena um mal do século XIX, algo que também podemos nomear como uma representação da “castração”, uma castração imaginária Ŕ que faz dele um “ser de desejo, mas que não consegue conciliar seus desejos com a realidade e que está condenado a viver sua relação com o real de modo defeituoso” (id., ibid.). Página 120 Em tal perspectiva histórica o mito de Édipo pode ser mencionado como referência para uma interpretação do mal-estar do rapaz romântico. Essa geração sofre de um mal-estar político e erótico. São muito conhecidas as referências que Sigmund Freud faz à peça Édipo rei, de Sófocles, para construir um saber sobre a constituição do sujeito na Psicanálise. No entanto, a referência que aqui discutimos, elaborada por Pierre Laforgue (2002)5, autor sobre o qual fundamentamos algumas noções de “Édipo romântico”, diferencia- se daquela explorada na noção de “Complexo de Édipo”, apesar de ambas contemplarem elementos bem próximos. Freud, como um dos mais populares qualificadores do texto de Sófocles, propõe uma leitura do mito de Édipo, ao nomear 4 Todas as citações de textos em língua francesa aqui utilizadas foram, por nós, traduzidas. Pierre Laforgue não é o primeiro autor de literatura francesa a discutir sobre o “mal do século” na época romântica. Pierre Barbéris, Claude Duchet, Anne Ubersfeld são autores importantes que também abordaram esse tema. 5 CALAÇA, Fausto; REIS, Célia Maria Domingues da Rocha. O Édipo Romântico, da literatura ao cinema. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 119-130, jan./jun. 2014. um dos processos humanos como “complexo de castração”, que tem no mito de Édipo uma figuração, relevando os aspectos inconscientes do desejo. Por sua vez, no contexto histórico do Romantismo, o mito edipiano expressa os problemas históricos e políticos do desejo6. Evidentemente, trata-se de uma importante diferença de ênfase, uma vez que nenhuma discussão se faz em contextos isolados. Nesta perspectiva histórica, poderíamos dizer que a noção freudiana de inconsciente é uma teoria elaborada a partir da experiência do homem romântico Ŕ ser construído pela literatura da primeira metade do século XIX Ŕ, assim como a noção de homem romântico se apoia sobre um homem das Luzes, “filho” do homem da Idade Clássica, “neto” do renascentista, do medieval, do antigo. O desencanto frente às revoluções, de 1789 a 1830, desencadeou uma “desordem” na constituição do sujeito Ŕ o rapaz romântico. Nem a aristocracia (o Antigo Regime), nem o império (de Napoleão), nem o retorno da aristocracia (a Restauração) e nem a alta burguesia puderam ocupar um lugar de referência patriarcal na configuração do “eu” romântico. O drama edipiano presente nos romances da década de 1830 parece “afetado por esta carência, por esta ausência do poder Ŕ o desaparecimento do Rei acarretando a ausência [simbólica da autoridade] do Pai, ou, ao menos, tendo comprometido a instância patriarcal” (LAFORGUE, 2002, p. 20). Sabe-se que, quando falamos dessa figura paterna, não nos referimos especificamente ao pai biológico ou substituto, mas às representações culturais paternas Ŕ a lei, o tabu, a liderança, o sagrado, o modelo a ser seguido ou contestado Ŕ que a cultura ocidental construiu ao longo dos milênios. Daí, a experiência profunda do sentimento de algo perdido, de um desamparo cruel. Uma nostalgia de uma época que, supostamente, ofereceria um certo amparo aos jovens sonhadores. O jovem romântico então se vê condenado a conviver com os “fantasmas” das representações paternas. Eis uma temática que há dois séculos são, inesgotavelmente, representadas em obras literárias, pictóricas, teatrais, musicais, cinematográficas etc., sem ainda contarmos com as inúmeras especulações das ciências humanas. Página 121 AS AVENTURAS DE ANTOINE DOINEL Observando em obras atuais a reiteração da temática do Édipo romântico, no presente estudo colocamos em destaque o drama de Antoine Doinel, protagonista de Beijos proibidos (1968). Trata-se de um dos filmes de François Truffaut que compõe a série das aventuras desse personagem, e que estabelece uma correspondência com um episódio semelhante ao da trajetória do jovem protagonista Félix de Vandenesse, do romance O lírio do vale (1836), de Honoré de Balzac. O drama se coloca no âmbito do tema do amor romântico, edificado por meio de recursos cinematográficos sutis, interessantes metáforas, diferentes vozes narrativas que contribuem, no conjunto, para a formação amorosa e profissional do jovem Doinel. Verificamos que Truffaut constrói 6 Pierre Laforgue (2002) sugere que, na perspectiva Sociocritique de análise do texto, a fim de evitar sentidos anacrônicos, não convém falar da noção psicanalítica de “Complexo de Édipo” no contexto cultural do Romantismo francês (década de 1830), uma vez que este conceito freudiano se constitui como uma análise da subjetividade da sociedade burguesa do limiar do século XX. CALAÇA, Fausto; REIS, Célia Maria Domingues da Rocha. O Édipo Romântico, da literatura ao cinema. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 119-130, jan./jun. 2014. um mundo romântico dentro de um mundo que parece ter abandonado o romantismo. Aproximando algumas cenas do texto de Balzac às do cinema de Truffaut, identificamos uma nova manifestação do herói romântico no contexto da geração de Maio de 68 Ŕ herói símbolo do movimento cinematográfico da Nouvelle vague. Anne-Marie Baron (2005) inclui este filme de Truffaut na filmografia de Balzac. Ela observa que o título do filme Ŕ em francês, Baisers volés Ŕ é uma alusão à cena inicial de O lírio do vale (Le Lys dans la vallée). O cinema truffautiano, bem como o movimento da Nouvelle vague, seria assim alimentado pelo movimento romântico da literatura francesa. Obviamente, o romantismo que ressurge no cinema adquire novas formas de expressão. Numa entrevista sobre o seu filme Beijos proibidos, François Truffaut analisa o papel do ator Jean-Pierre Léaud Ŕ que interpretou o personagem Antoine Doinel em todos os filmes da série Ŕ e o seu interesse pelo cinema: Se de um filme interpretado por ele se espera um testemunho da juventude moderna, ficaremos decepcionados, pois Jean-Pierre me interessa justamente por seu anacronismo e seu romantismo, ele é um rapaz do século XIX. Quanto a mim, sou um nostálgico, minha inspiração se volta constantemente para o passado. Não tenho antena para captar o que é moderno, eu só ando pelas sensações; é por isso que meus filmes Ŕ e mais particularmente Baisers volés Ŕ são plenos de lembranças e se esforçam por ressuscitar as lembranças da juventude dos espectadores que os assistem. (TRUFFAUT apud GUÉRIF, 2003, p. 21, grifo nosso) Página 122 Ao declarar-se como um autor que se interessa constantemente pelo passado, Truffaut expressa, do seu modo, a sua própria modernidade. Ele oferece à sua geração uma nova estética do rapaz romântico. “Mas, Ŕ pondera Guérif (2003, p. 21) Ŕ, o mundo no qual evolui Antoine [Doinel] é bem moderno; e, neste mundo, o amor é tudo, menos romântico”. Mas Ŕ retrucamos Ŕ, na época de Balzac, o amor romântico não era uma manifestação de toda a sociedade. O romantismo sobre o qual discutimos era justamente uma alternativa contra o mundo de 1830. Era uma atitude de revolta, uma solução Ŕ por meio da criação literária Ŕ para os impasses vividos por uma geração de jovens escritores. Assim, reconhecemos que o anacronismo pelo qual Truffaut se interessa se parece com o anacronismo dos romancistas franceses do início da Monarquia de Julho. Eles também criaram heróis socialmente inadaptados que sofriam de uma nostalgia do século anterior e que, “andando pelas sensações”, estavam à procura de novas significações para a própria existência. Baisers volés7 é a continuação da história de Antoine Doinel contada em Les Quatre cents coups (1959) e Antoine et Colette (1962). A história do protagonista continua em Domicile conjugal (1970) e L‟Amour en fuite (1979). Uma vez que nele assistimos a várias formas de iniciação da vida de um rapaz no mundo dos adultos, na cidade grande, este episódio da vida de Antoine se parece com um romance de formação (ou de aprendizagem) como A educação sentimental (1869), de Flaubert, O 7 O título do filme poderia ser traduzido como “beijos roubados”. A palavra baiser em francês pode adquirir o sentido de “transa”, “fazer amor”, “relação sexual”. Assim, o título poderia até sugerir algo como um “assédio”, “uma tentativa de transar com alguém”. CALAÇA, Fausto; REIS, Célia Maria Domingues da Rocha. O Édipo Romântico, da literatura ao cinema. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 119-130, jan./jun. 2014. pai Goriot (1835) ou Ilusões perdidas (1837-1843), de Balzac, O vermelho e o negro (1830), de Stendhal. O herói tem dificuldade de se adaptar às regras sociais, muitas vezes tem dificuldade até de compreendê-las, em especial as convenções dos diferentes tipos de relações amorosas. Este caráter “marginal” e solitário lhe confere um ar romanesco: A dimensão romântica do personagem de Doinel é evidente: rapaz inexperiente e sem um centavo, um pouco sonhador e poeta em alguns momentos, Antoine parece saído direto de um romance balzaquiano. (CINÉ-CLUB DE SCIENCES-PO, 2010) No filme Beijos proibidos percebemos um aproveitamento expressivo de situações apresentadas em romances, sendo a principal obra de influência, analisada adiante, O lírio do vale (1978), publicada por Balzac em 1836. Na primeira cena do filme a capa deste livro aparece em destaque, sendo focada na vertical na frente do rosto do personagem Antoine Doinel, que fica totalmente escondido, anônimo. Nesta situação inicial da trama, Antoine está na prisão. Ele tomou a decisão de ir para o exército após ler Servidão e grandeza militar (1835), novela de Alfred de Vigny, influência que revela o idealismo do personagem, e que resultará no descaso com os superiores e suas ordens e lhe valerá a expulsão do exército. À moda do leitor do século XIX, ele se deixa influenciar grandemente pelas leituras, fazendo com que elas determinem um modo de ser e de se comportar. Mas, no mundo “real”, a influência da leitura conferiu-lhe o título de “personalidade instável” no seu dossiê de exclusão do serviço militar. Dentre as várias aventuras de Antoine Doinel, destacaremos adiante um conflito edipiano vivido por ele quando assume o papel de detetive na agência do Sr. Blady. O conflito é vivido pelo protagonista frente às figuras paterna e materna do Sr. Tabard, o personagem proprietário de uma loja de calçados e a sua esposa, Sra. Fabienne Tabard. UMA « NOUVELLE VAGUE » DO ROMANTISMO Página 123 Beijos proibidos narra, com certo clima de nostalgia, as estreias na vida de um rapaz que continuará atuando como um “eterno” adolescente: é o que podemos inferir se assistimos os dois filmes seguintes da história de Doinel, o que nos permite endossar a noção de Édipo romântico no contexto dos anos 1960. Neste filme, Antoine, desde criança, leitor de Balzac Ŕ temática explorada em Les Quatre cents coups (1959) Ŕ se identifica com Félix de Vandenesse, de O lírio do vale, e reconhece na Sra. Fabienne Tabard a personagem da Sra. Henriette Mortsauf8. O Sr. Tabard é um personagem que expõe seu sentimento de rejeição ao procurar a agência de detetives para investigar o porquê de ninguém gostar dele. O modo como esse personagem vai expondo o seu problema, respondendo às questões feitas pelo Sr. Blady, chefe da agência, é bastante rico: mostrando sentimento de superioridade Ŕ olha 8 Curiosamente, muitos autores, dentre eles Pierre Citron e François Guérif, afirmam que Antoine é o duplo de Truffaut (GUÉRIF, 2003) e que Félix é um dos duplos de Balzac (CITRON, 1986). CALAÇA, Fausto; REIS, Célia Maria Domingues da Rocha. O Édipo Romântico, da literatura ao cinema. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 119-130, jan./jun. 2014. para cima ao responder, infla o peito, usa frases contundentes Ŕ as informações que dá são sempre favoráveis a ele mesmo Ŕ ele está bem, a empresa dele está bem etc, o que leva o detetive a lhe perguntar em que, afinal, a agência pode ajudá-lo. Num desses momentos, ele diz o grande mote de sua vida: “Eu não preciso de amigos porque nunca tive um”. Eis aqui um personagem que parece fazer referência a tantas criações balzaquianas da figura decadente do “pai de família”, tais como o Sr. Grandet (Eugênia Grandet, de 1833), Sr. de Nucingen (Esplendores e misérias das cortesãs, de 1843), o pai Goriot (O pai Goriot, de 1834) e, em especial, ao Sr. Mortsauf, representante da velha aristocracia em O lírio do vale, personagem “mal amado” com o qual, mais adiante, estabeleceremos uma proximidade com o Sr. Tabard. Antoine será designado para o caso. Será o “periscópio” humano que observará as situações para tentar solucionar o caso do Sr. Tabard. Como estratégia de investigação, emprega-se na loja do Sr. Tabard. No entanto, tendo que assumir as tarefas como os demais, para que não descubram sua real função, ele é responsabilizado pelo sumiço de calçados, tendo que procurá-los em enormes estantes. A cena que se cria é altamente simbólica: sobe na escada, encosta as costas em uma estante, os pés na outra, ficando em estado de suspensão, sem apoio, sem base, sem noção. Como fica também o caso. Com este recurso cinematográfico, compreendemos que, tal qual um jovem personagem romanesco Ŕ marginal e solitário Ŕ, Antoine é um herói que tem dificuldade tanto de se adaptar às regras sociais como de compreendê-las. Fecha-se aí a cena, o episódio, e abre-se um outro núcleo narrativo. Página 124 É justamente após este momento de suspensão que Antoine vê, pela primeira vez, a esposa do patrão: “ela não é uma mulher; é uma aparição”, afirma o rapaz. A partir de então, Antoine vai viver, platonicamente, o seu amor romântico, como aquele vivido por Félix de Vandenesse em relação a Sra. Mortsauf, em O lírio do vale. Na fantasia do rapaz, a Sra. Tabard é a encarnação da mulher romântica e inacessível como a personagem balzaquiana. Mas, no mundo de Truffaut, ela é a representação de uma mulher moderna, realista e senhora do seu destino Ŕ como bem a define seu esposo ao detetive: “uma mulher superior”9. No luxuoso apartamento dos Tabard, o tímido Doinel toma um café com a sua amada e, por um lapso de fala, ele deixa escapar um tratamento de “Senhor” ao invés de “Senhora”. O mocinho sai correndo desesperado até se trancar na mansarda onde ele mora. No dia seguinte, ele encontra um pacote juntamente com uma carta na sua porta. É um pacote de presente contendo uma gravata que parece simbolizar o mundo dos homens adultos, contendo ainda um bilhete no qual se lê uma “solução” de mulher moderna e espirituosa: “Quando eu era criança, me ensinaram a diferença entre a polidez e o tato. Se, por descuido, um homem vê uma mulher desconhecida nua pela fresta de uma porta, ele deve dizer „perdão, Senhora‟, como gesto de polidez. Mas, se ele diz „perdão, Senhor‟, isso é o tato. Entendi a sua intenção. Até amanhã, Antoine!”. Atormentado, o pobre rapaz tenta redigir uma carta-resposta. Na primeira tentativa ele 9 Dois anos depois das filmagens de Beijos proibidos, provavelmente por ter revelado talento ao representar a ambiguidade de uma “mulher superior”, a atriz Delphine Seyrig interpreta a personagem da Sra. Mortsauf na versão cinematográfica de O lírio do vale, de Marcel Cravenne (1970). CALAÇA, Fausto; REIS, Célia Maria Domingues da Rocha. O Édipo Romântico, da literatura ao cinema. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 119-130, jan./jun. 2014. escreve que jamais usará essa gravata, numa recusa à vida de um homem adulto. Na carta definitiva, ele compara seus sentimentos com aqueles do personagem Félix de Vandenesse pela Sra. Mortsauf, no romance de Balzac. Na manhã seguinte, a “resposta” (a própria Sra. Tabard) à sua carta entra pela sua porta: “você me escreveu ontem à noite e minha resposta está aqui: sou eu”. Antoine, debaixo dos cobertores da sua cama, escuta calado como uma criança. “Nós não somos personagens de um romance do século XIX”, responde a mulher, despertando o rapaz de um sonho de amor romântico impossível. Ela lhe propõe um contrato simples que concilia o amor e um tipo de vulgaridade: “uma vez que nos amamos, nós passamos algumas horas juntos aqui e depois nunca mais nos vemos, de acordo?”. “Sim”, responde o moço com empolgação. E ainda, mais um toque de realismo pelo discurso dela: “nas histórias que conhecemos, a dama tranca o quarto e joga a chave pela janela, mas, no nosso caso, este vaso será útil para guardá-la”, observa a mulher após o consentimento do rapaz. Façamos uma análise da adaptação semiótica e histórica da literatura ao cinema. O herói de O lírio do vale, Félix de Vandenesse, é um dos primeiros rapazes românticos da literatura francesa. A ficção começa em maio de 1814, quando o rei Louis XVIII retoma o trono da França e Napoleão está exilado na Ilha de Elba. A esperança de retornar ao Antigo Regime e a nostalgia dos tempos em que se acreditava haver certa estabilidade social nos reinos do mundo compõem este cenário de início do período histórico francês conhecido como Restauração (1814-1830). O cenário do filme de Truffaut é bem distinto. Ele se desenrola no ano de uma nova revolução francesa: maio de 1968. É o cenário de um tipo de romantismo que o movimento cinematográfico da Nouvelle vague representa. Em Beijos proibidos, o clima de rebeliões parisienses só aparece discretamente nos rápidos comentários de alguns personagens ou nas rápidas cenas de manifestações populares que são transmitidas pelo televisor da casa da família Darbon. Algumas rebeliões serviam de desculpas para as fugas da personagem Christine Darbon. Numa delas, ficamos sabendo que ela foi esquiar com os amigos, pois o conservatório de música onde ela estuda estava fechado: mudaram o diretor, mas os alunos preferiam o antigo e por isso, estavam boicotando as aulas. Em outra cena, Christine fala que está um pouco cansada, pois esteve presente numa manifestação no dia anterior na qual bateram na sua amiga. Ela diz que sua amiga precisou ir ao hospital, que o pai dela deu queixa. “Foi horrível”, ela declara. Página 125 Tal tratamento distanciado Ŕ ou, desinteressado Ŕ da Nouvelle vague em relação aos engajamentos políticos e às grandes questões sociais da sua época é uma das marcas deste movimento do cinema. Ela seria uma das características da política de Truffaut: não se interessando pela representação fiel da contemporaneidade, ele apresenta situações particulares que não pretendem expressar sintonia com o espírito da sua geração. O historiador e crítico de cinema, Antoine de Baecque, dá-nos uma luz sobre a política de Truffaut no contexto do movimento cinematográfico do qual fazia parte: Todos os heróis e as heroínas da Nouvelle vague, da dor-de-viver godardiana à nostalgia truffautiana, do dandismo chabroliano à culpa resnaisiana, têm uma relação não evidente com sua época. Ser contemporâneo, então, era ser decididamente defasado, mas, era assim que se abria o ângulo de vista autorizando o entendimento das coisas e dos seres. A CALAÇA, Fausto; REIS, Célia Maria Domingues da Rocha. O Édipo Romântico, da literatura ao cinema. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 119-130, jan./jun. 2014. Nouvelle vague não ilustrava seu tempo, ela captava o seu mal-estar. É aí que reside a sua política. (BAECQUE, 2008, p. 174, grifos nossos) Esta política causou uma série de reações dos críticos de cinema, bem como dos intelectuais engajados dos anos das décadas de 1950 e 1960. Segundo Baecque (2008), sob o olhar da direita, a Nouvelle vague era, ao mesmo tempo, uma moral e um universo libertino que se reprovava; sob o olhar da esquerda, a gratuidade, a inutilidade e o desengajamento. Desinteressados pelas ondas do cinema engajado, do cinema-políticade-esquerda, do cinema-tese-progressista, do cinema-metafísica, do cinema-utilitário, do cinema neorrealista, e principalmente das megaproduções do cinema hollywoodiano, a geração de Truffaut reivindica a forma e o estilo como critérios discriminantes do valor do cinema: “a moral de um filme (seu conteúdo, sua mensagem política) se constitui inteiramente na forma cinematográfica empregada pelo autor (os enquadramentos, as narrativas, as montagens etc)” (BAECQUE, 2008, p. 143). Nesta perspectiva, “o que caracteriza o espírito da Nouvelle vague não é a ausência do contexto político [...] mas, a recusa das simplificações que fazem a eficácia do engajamento” (BAECQUE, 2008, p. 159). Baecque ainda nos orienta que, nos anos de 1950 e no início dos anos 1960, a crítica do cinema considerava esse movimento cinematográfico como de direita, mas a memória francesa atual o considera de esquerda, como se a Nouvelle vague tivesse se engajado em 1968. A razão é que o cinema dos anos de 1960 oferecia à juventude de 1968 o imaginário de uma digna beleza juvenil Ŕ fragmentos de filmes para ver um mundo diferente e tentar se revoltar em preto e branco. A partir destas observações de Baecque, vemos que a geração de jovens cineastas dos anos de 1950-60 compartilha algo de parecido com a geração dos jovens escritores da década de 1830. A reação frente ao pós-guerra e à guerra-fria foi o sentimento de desencantamento frente às propostas de engajamentos. Ao analisar a dinâmica do filme Beijos proibidos, observamos que esta geração dos 50 e 60 propunha, na verdade, uma nova forma de engajamento. O cinema foi uma linguagem para expressar o spleen destes dândis do século XX. O resultado é a invenção de uma forma de cinema que consegue capturar, com certa acuidade, o instantâneo de um dado momento histórico. « UN AMOUR CHARNEL ET UN AMOUR DIVIN » : Página 126 AS FIGURAS FEMININAS DO ÉDIPO ROMÂNTICO A atitude da Sra. Tabard (Beijos proibidos) expressa o espírito da Nouvelle vague (1968) assim como, guardados os contextos, a atitude da Sra. Mortsauf (O lírio do vale), expressa o espírito do fim da Restauração (1830). A mulher truffautiana sabe “jogar” com seus desejos e conciliar a vida de madame com uma vida de aventuras sexuais. A mulher balzaquiana, pressionada pelas convenções sociais, está condenada aos sentimentos de culpa e aos delírios, podendo apenas se exaltar nos diálogos calorosos e nas longas cartas de declaração de amor, cultivando a sua dor de amar e o ardor da repressão sexual e alimentando ideias de morte como a única solução nobre. O único contato “sexual” entre a Sra. Mortsauf e Félix de Vandenesse se dá na cena do baile de CALAÇA, Fausto; REIS, Célia Maria Domingues da Rocha. O Édipo Romântico, da literatura ao cinema. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 119-130, jan./jun. 2014. Tours (interior da França), em maio de 1814. Pierre Laforgue (2002) observa que esta Ŕ a cena balzaquiana dos “beijos proibidos” Ŕ foi considerada uma das cenas mais ardentes da literatura romântica francesa desse período. Em O lírio do vale, a mãe de Félix envia seu filho ao baile para representar a família Vandenesse. Sozinho e melancólico nos cantos do salão, ao acaso, o moço se depara com os ombros descobertos de uma senhora que estava sentada na banqueta ao seu lado. Atraído pela beleza e pelo perfume da mulher, o moço se joga sobre aqueles ombros como uma criança nos peitos da mãe, beijando-os e rolando a sua cabeça. “Senhor?”, reage assustada a Sra. Mortsauf Ŕ por polidez Ŕ mirando o rapaz com um olhar de “santa cólera”. Após este episódio, o rapaz melancólico, “sonhando com os beijos que [ele] tinha roubado” (BALZAC, 1978, p. 985), inicia sua procura da mulher dos belos ombros. Félix viaja sozinho pelo vale do rio Loire à procura daquela mulher que ele considera como o mais belo lírio desta região. Encontrando-a, os dois vão iniciar uma relação de amor digna de um romance impossível entre um filho e sua mãe. A Sra. Mortsauf pedirá ao seu amado: “não me fale jamais sobre este baile de Tours; a cristã já te perdoou, mas, a mulher ainda sofre” (BALZAC, 1978, p. 1027). Seu sofrimento lhe causará uma morte trágica. Página 127 Pierre Laforgue (2002) nos oferece algumas pistas para uma análise simbólica deste romance balzaquiano. O lírio simboliza, ao mesmo tempo, a realeza e a pureza feminina. É a flor emblemática da realeza de Saint Louis. Ele está presente no brasão da família Mortsauf, que comemora o retorno dos Bourbons (o início da Restauração) no reinado da França. No entanto, também simboliza a fragilidade e a decadência. O rei é comparável ao Sr. Mortsauf: velho decadente que sofre de crises nervosas. A rainha é comparável à Sra. Mortsauf: delicada demais, submissa, casta e devota ao catolicismo. A palavra “lírio” revela a fraqueza do regime da Restauração e diz implicitamente a única e triste possibilidade de Eros existir neste regime decadente nostálgico: no estilo do amor platônico e nas manifestações do amor cortês. Na cena dos beijos roubados de Truffaut, o alvo do herói romântico é Christine Darbon. Na adega subterrânea da casa dos Darbon, o rapaz lança um olhar de desejo à moça que, na ocasião, pedia-lhe desculpas mais uma vez por não poder sair com ele, pois já tinha um encontro com seus amigos. Ao beijá-la forçosamente, Christine responde com um beijinho de amiga no rosto, mas o rapaz continua forçando-a. A moça se afasta e os dois jovens retornam silenciosamente para a mesa de jantar. Esta cena será retomada no filme seguinte da série das aventuras de Antoine Doinel (Domicile conjugal) quando Christine, mais madura e confiante em si, se aproximará de Antoine para roubar-lhe uns beijos na mesma adega. Ainda, em Beijos proibidos, assistimos a uma segunda cena como essa: nesta, em vez de roubar uns beijos da mulher impossível Ŕ a Sra. Tabard Ŕ é Antoine que se constitui como alvo desta mulher. A Sra. Tabard e Christine representam duas encarnações de mulheres que estão fora de sintonia com o seu tempo: uma mulher casada que se comporta “vulgarmente” e uma moça que se comporta com certo pudor ultrapassado. Pudor que também pode ser pensado como um desinteresse de Christine por Antoine, como o da cena em que ela se esconde no porão de sua casa e, quando Antoine chega, entra e fecha-se a porta atrás de si, ela sai do porão rapidamente, atravessando o pátio e saindo de casa para outro encontro. CALAÇA, Fausto; REIS, Célia Maria Domingues da Rocha. O Édipo Romântico, da literatura ao cinema. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 119-130, jan./jun. 2014. Pensemos nos dois triângulos amorosos do cinema e da literatura. Em Truffaut, Antoine, enamorado pela imatura Christine, apaixona-se platonicamente pela Sra. Tabard, que lhe corresponde carnalmente. Em Balzac, Félix, que ama platonicamente a Sra. Mortsauf, envolve-se com a femme fatale Arabelle (ou lady Arabelle Dudley, a jovem inglesa) que lhe exige uma atitude de homem maduro. A Sra. Tabard (do cinema) é uma mulher burguesa que encarna numa única personalidade a Sra. Mortsauf e Arabelle (da literatura): o branco imaculado e o vermelho carnal, ou seja o lírio branco da monarquia da França e a rosa vermelha da indústria na Inglaterra Ŕ o branco simbolizando paz e estabilidade no reino conservador da França e o vermelho, por sua vez, a luta e o dinamismo no Inglaterra em ritmo de progresso e modernidade. Quanto a este último par de opostos, é interessante observar que, no dia da aparição, a primeira vez que Antoine vê a Sra. Tabard, ela fala em inglês ao telefone. Segundo Antoine, encantado pela “mulher superior”, falar inglês confere a ela um ar de soberania. Ele decide, então, começar a praticar inglês para se comunicar melhor com aquela mulher que lhe parecia estrangeira. Félix, da literatura, e Antoine, do cinema, são dois personagens franceses que dramatizam a dificuldade do rapaz em entrar na vida de homem adulto. As razões dos seus conflitos edipianos se estruturam no imaginário romântico. Pensemos nas particularidades e nuances destas configurações do Édipo romântico. Na literatura (O lírio do vale, de Balzac), temos uma triangulação entre o Duque d‟Angoulême (representante do Rei), Félix, que diz que gostaria de ser como o Duque, e a Sra. Mortsauf, comparada por Félix a uma rainha. No cinema (Beijos proibidos, de Truffaut), temos uma triangulação entre o Sr. Tabard, Antoine, que é acolhido, protegido e orientado pelo Sr. Tabard (apesar de ele não expressar qualquer sentimento de identificação com este homem capitalista e senhor de si), e a Sra. Tabard, que “não é uma mulher; é uma aparição”. Félix não consegue nem assumir o trono de rei e esposo de uma rainha, nem mesmo construir um reinado alternativo com Arabelle, ou mesmo, no futuro, com Natalie, personagem a quem escreve toda sua história. Após ler toda sua história, essa última figura feminina (do romance de Balzac) que aqui mencionamos escreve-lhe uma carta na qual ela evidencia que Félix não tem maturidade para amar uma mulher, nesse caso, sugerindo-nos que ainda está “preso” aos seus conflitos edipianos: Página 128 A Christine, do cinema, é muito diferente de Arabelle, da literatura, pois, assim como Antoine, ela também é uma jovem moça insegura e aprendiz. Ela faz um tipo boa moça de família classe média. Arabelle é senhora de si. Seu status de inglesa Ŕ estrangeira Ŕ dá-lhe condição de liberdade frente às convenções impostas à mulher francesa do século XIX. Sua condição política e econômica é superior em comparação à condição decadente da Sra. Mortsauf. As duas são aristocratas que cultivam valores antitéticos: uma da alma, a outra, da matéria. Mas, ambas têm um mesmo objeto secreto: o prazer. A francesa “se consome pelo desejo deste prazer que ela sonha” e a inglesa “faz do desejo e de sua realização o único cuidado de sua vida e o conquista sem dificuldade” (LAFORGUE, 2002, p. 190). CALAÇA, Fausto; REIS, Célia Maria Domingues da Rocha. O Édipo Romântico, da literatura ao cinema. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 119-130, jan./jun. 2014. Meu caro conde [Félix], [...] Permita-me completar a sua educação. Tenha bondade! Deixe de lado este seu detestável hábito de imitar as pobres viúvas que falam sempre de seus primeiros maridos, que jogam sempre na cara do segundo as virtudes do defunto. [...] Parece-me que o senhor entediou consideravelmente lady Dudley [Arabelle] impondolhe as perfeições da Sra. Mortsauf, e causou um grande mal à condessa [Sra. Mortsauf] importunando-a com os recursos do amor inglês. Você não teve tato comigo, pobre criatura, que não tenho outro mérito além daquele de te agradar. O senhor me fez entender que eu não te amava nem como Henriette [Sra. Mortsauf], nem como Arabelle. Confesso minhas imperfeições, eu as conheço. Mas, por que me fazer senti-las tão rudemente? Sabe de quem eu tenho pena? Da quarta mulher que o senhor amará. [...] O senhor, às vezes, é entediado ou entediante e nomeia a sua tristeza de melancolia: que seja. Mas, você é insuportável e causa cruéis preocupações àquela que você ama. [...] (BALZAC, 1978, p. 1226-1227, grifos nossos) Natalie, personagem a quem Félix conta suas histórias de amor com a Sra. Mortsauf e Arabelle, seria a representação romanesca de uma leitora. Natalie, “o leitor escondido de Balzac”10, somos nós. Suas palavras revelam que Félix continua “condenado” a um estado infantil da sua vida erótica. Por quê? Porque para ele “é impossível submeter seus desejos à realidade ou ao simbólico, porque seus desejos ignoram qualquer estruturação” (LAFORGUE, 2002, p. 195). Quanto ao jovem Antoine, este continuará romântico e impulsionado pelos seus conflitos à procura errante de si mesmo. Natalie nos conta um pouco sobre o destino de Félix que se parece muito com o de Antoine Doinel. As histórias dos dois rapazes apresentarão equívocos com as mulheres e com a própria identidade. Numa cena em que se coloca diante do espelho, Antoine está sozinho diante da sua própria imagem pronunciando repetidamente os nomes de Christine Darbon e Fabienne Tabard (a Sra. Tabard). Como se fosse um exercício de pronunciação, nosso herói faz seus jogos amorosos antes de se nomear repetidas vezes: “Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel...”. Não podendo dizer quem ele ama, nosso herói sofre por não saber quem ele é (Ciné-Club de Sciences-PO, 2010). Antoine, por acidente, por acaso ou por escolha, se casa com Christine Darbon e a temática da sua história de vida continua marcada pelos conflitos com Eros. CONTINUAÇÃO: O ROMANCE UMA FILHA DE EVA (1839) Página 129 E O FILME AMOR EM FUGA (1979) Truffaut, seguindo alguns “trilhos” de Balzac, também coloca em cena alguns “progressos” do seu herói romântico Antoine Doinel. No filme L‟amour en fuite (Amor em fuga), o personagem publica sua autobiografia e, ao se deparar com novas situações amorosas que lhe impõem outras questões e necessidade de respostas atualizadas, ele nos dá sinais de um momento de maturidade. No romance balzaquiano Une fille d‟Ève (Uma filha de Eva, 1839), o personagem Félix de Vandenesse dramatiza sua maturidade quando, descobrindo que sua esposa (a “quarta mulher”, segundo a personagem Natalie) o trai com um amante, as lembranças dos seus “erros” com as mulheres lhe dão suporte para perdoar o “erro” de sua esposa. Assim, François Truffaut, por meio das aventuras 10 Segundo Victor Brombert (1972), citado por Laforgue (2002, p. 192). CALAÇA, Fausto; REIS, Célia Maria Domingues da Rocha. O Édipo Romântico, da literatura ao cinema. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 119-130, jan./jun. 2014. de Antoine Doinel, realiza uma recriação do espaço literário balzaquiano por meio das imagens do cinema, atualizando o espírito de romantismo e a nostalgia outrora narrados por Honoré de Balzac. REFERÊNCIAS BAECQUE, Antoine. « Oh, moi, rien ! » La Nouvelle vague, la politique et l‟histoire. In: ________. L’histoire-caméra. Paris: Gallimard, 2008. BALZAC, Honoré de. Le Lys dans la vallée [1836]. In: ______. La Comédie humaine. Edição publicada sob a direção de Pierre-Georges Castex. Tome IX. Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1978. BALZAC, Honoré de. Physiologie du mariage [1829]. In: ______. La Comédie humaine. Edição publicada sob a direção de Pierre-Georges Castex. Tome XI. Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1980. BARA, Olivier. Mouvement littéraire Ŕ Le romantisme autour de 1830. In: Lorenzaccio, Alfred de Musset. Dossier et notes réalisés par Olivier Bara. Paris: Gallimard, 2003. BARON, Anne-Marie. Filmographie de Balzac. L’Année balzacienne. Paris, P.U.F. 2005/1, n. 06. CINE-CLUB DE SCIENCES-PO. Baisers volés: initiations amoureuses. Revue Cine qua non, 2010. http://onrefaitlefilm.blogspot.com/2010/04/baisers-voles.html Acesso em 21 outubro 2012. CITRON, Pierre. Dans Balzac. Paris : Seuil, 1986. CRAVENNE, Marcel. Le Lys dans la vallée. D‟après l‟œuvre d‟Honoré de Balzac. França: LCJ éditions, 1970 (em VHS). GUÉRIF, François. François Truffaut. Les 400 coups. Québec: Litho Mille-Îles Itée, 2003. LAFORGUE, Pierre. L’Œdipe romantique. Le jeune homme, le désir et l’histoire en 1830. Grenoble: Ellug, 2002. TRUFFAUT, François. Beijos proibidos (Baisers volés, 1968). Versátil Home Vídeo, 2007 (em DVD). Recebido em : 10/07/2013. Aprovado em 15/06/2014. Página 130 Title: Romantic oedipus from literature to cinema Author: Fausto Calaça; Célia Maria Domingues da Rocha Reis Abstract: In this present paper, we develop a compared analysis between the novel by Honoré de Balzac, Le Lys dans la vallée (1836) and the movie by François Truffaut, Baisers volés (1968), having as perspective the following themes: disenchantment, nostalgia, learning romance, Nouvelle vague and the theme “Romantic Oedipus”, elaborated by Pierre Laforgue (2002). The drama of Antoine Doinel, the movie protagonist, is highlighted, which re-presents a similar episode to the trajectory of the young protagonist Félix de Vandenesse, from the novel by Balzac. Keywords: Romanticism. Nouvelle vague. Oedipus. François Truffaut. Honoré de Balzac. CALAÇA, Fausto; REIS, Célia Maria Domingues da Rocha. O Édipo Romântico, da literatura ao cinema. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 119-130, jan./jun. 2014. REPRODUTIBILIDADE TÉCNICA, ARTE E POLÍTICA 1 Marcos Soares Resumo: Este ensaio pretende mapear alguns dos momentos-chave do diálogo entre o crítico alemão Walter Benjamin e o dramaturgo Bertolt Brecht a respeito do potencial do cinema como linguagem artística e os riscos que artistas interessados em seu desenvolvimento corriam com a ascensão do nazi-fascismo. Palavras-chave: Benjamin. Brecht. Cinema. Reprodutibilidade. Fascismo. Página 131 Uma das principais frentes da crítica pós-moderna é a neutralização da crítica militante, seja por sua desqualificação, seja por sua transformação em nomes e conceitos da moda. Na lista das vítimas, talvez o nome de Walter Benjamin esteja dentre os mais frequentemente citados na crítica de cinema desde o final dos anos 60, notadamente suas discussões sobre a reprodutibilidade técnica, que frequentemente são utilizadas para celebrar festivamente o “potencial” dos novos meios de comunicação que surgiram a partir do nascimento da fotografia e do cinema. O texto de Benjamin é, assim, frequentemente utilizado na direção oposta da condenação do aparato cinematográfico na sua totalidade efetuado por críticos como Jean Louis Baudry a partir da equação entre as técnicas de dominação da ideologia burguesa e a estrutura “inerente” (o dispositif, diria Baudry) implícita na relação entre filme e espectador, na qual o último é condenado a uma posição de passividade infantilizadora (XAVIER, 1983, pp. 383-402). Quando o assunto é a questão da reprodutibilidade técnica, até críticos de esquerda competentes tropeçam em mal-entendidos. Michael Löwy, por exemplo, sugere que o texto revela uma adesão pouco crítica às promessas do progresso tecnológico ao afirmar que “ele [Benjamin] parece atraído por uma variante soviética da ideologia do progresso, disposto a reinterpretá-la à sua maneira” (LOWY, 2005, p. 27) enquanto que Fredric Jameson conclui que ele representa uma tentativa de “descrever as capacidades aparentemente neutras da câmera” (JAMESON, 1974, p. 60). Essas opiniões exemplificam uma posição comum na crítica de esquerda sobre o texto de Benjamin, que enxerga uma virtualidade nostálgica, quando não francamente apologética, em seus pontos de vista críticos. Para um crítico marxista o erro teria sido imperdoável, pois equivaleria a supor um desenvolvimento inexorável dos meios de produção (neste caso, artísticos) através do qual a aura da arte tradicional, aquilo que ela retém do âmbito do “sagrado” e do irracional, seria automaticamente destruída em um processo automático, com a nova arte caminhando triunfantemente na direção de usos progressistas, sem levar em conta o aprisionamento a que as relações de produção (neste caso, as corporações que comandam os processos de produção, distribuição e exibição de filmes) submetem esse desenvolvimento. 1 Doutor. Professor de Literatura Inglesa e Norte-Americana da Universidade de São Paulo. Lattes: http://lattes.cnpq.br/7249014007309888. SOARES, Marcos. Reprodutibilidade técnica, arte e política. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 131-136, jan./jun. 2014. Na verdade, esse tipo que otimismo ingênuo que muitos dizem identificar nas reflexões sobre a reprodutibilidade técnica era precisamente o tipo de otimismo que Benjamin identificava com as tendências reformistas, quando não abertamente reacionárias, tanto da Social-Democracia alemã quanto do Stalinismo que viria dominar o Partido Comunista mundial após a Terceira Internacional, com sua fé inexorável na ideologia do progresso. Como os leitores das “Teses sobre o conceito de história” sabem, é justamente o pressuposto de um progresso inexorável que se tornaria alvo explícito da crítica de Benjamin. Porém, quando o texto de Benjamin foi escrito entre 1933-1935, o nazi-fascismo estava em plena ascensão, e, portanto, já havia ficado claro que as experiências que haviam marcado tanto o avanço do movimento operário internacional quanto as experiências estéticas radicais das vanguardas históricas das décadas anteriores (surrealismo, dadaísmo, expressionismo, etc.) chegariam a um fim abrupto e violento. De qualquer modo, do ponto de vista restrito da produção cinematográfica, as restrições já haviam ficado claras para Benjamin muito antes, a partir da leitura do texto de Brecht sobre “O processo dos três vinténs” (1930-32). Nesse texto, Brecht faz um relato e uma análise do processo judicial que moveu contra a indústria cinematográfica a respeito da adaptação para o cinema de sua peça “Ópera dos três vinténs”. O inusitado do processo é que Brecht não reclamava que o filme de Pabst não era fiel à peça, mas pelo contrário, que era, por assim dizer, “fiel demais”. Na opinião de Brecht, a produção cinematográfica se restringiu à filmagem de algo muito próximo da montagem teatral, desperdiçando o potencial da linguagem do cinema, que poderia avançar enormemente em relação ao texto original (BRECHT, 2000, pp.131-202). Página 132 Cabe apontar aqui que, como Brecht sabia bem, o processo era generalizado, isso só para ficarmos no campo das relações entre cinema e literatura dramática: como afirma a crítica Iná Camargo Costa, “a ideia de fazer teatro enlatado para concorrer diretamente com o produto mais prestigiado do show business Ŕ o teatro declamado Ŕ havia sido lançada na França por americanos radicados em Paris (os irmãos Lafitte), enredados até o pescoço com a indústria cultural (jornal e editoras). No ano de 1908 eles realizaram a dupla proeza de lançar um filme com o elenco da Comédia Francesa e, com ele, o gênero do “filme de arte”, que desde então é marca comercial” (COSTA, 2012, p. 139). De qualquer modo, como a divisão do mercado mundial já havia sido feita em 1930 entre americanos e alemães e, a partir daí, grande parte da produção, distribuição e exibição de filmes já estava na malha da indústria cultural, não havia razão para ingenuidade. Digamos, então, para resumir, que tanto para Brecht quanto para Benjamin já estava suficientemente claro que sua intervenção militante no campo das artes deveria ser feita a partir da percepção da lacuna entre as novas capacidades tecnológicas e o processo incompleto de democratização da esfera pública, que havia dado passos importantes com a Revolução Russa e com a organização da classe operária alemã nos anos 20, mas que agora encontrava seu maior obstáculo na ascensão do nazi-fascismo. É justamente a ascensão do fascismo que vai adensar a percepção de Benjamin sobre a posição peculiar do cinema no debate a respeito do desenvolvimento das forças produtivas e seu aprisionamento pelas relações de produção. Um dos pontos de inflexão SOARES, Marcos. Reprodutibilidade técnica, arte e política. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 131-136, jan./jun. 2014. sobre esse problema já aparece no texto “Sobre alguns temas em Baudelaire”. Nele Benjamin argumenta que o cinema é a linguagem moderna por excelência, por ser a mais apropriada para levar adiante a estética do choque que Baudelaire havia introduzido na poesia, pois no cinema “a percepção sob a forma de choque se impõe como princípio formal” (BENJAMIN, 1994, p. 125). Mas também é nesse texto que ele aponta que o ritmo de aprisionamento das forças produtivas produzido pela concentração de capital se acelerava perigosamente. Quando Benjamin se refere à relação entre o desenvolvimento das forças produtivas e a guerra, ele toca num ponto fundamental do processo de desenvolvimento dos meios de comunicação modernos. Numa nota do texto, Benjamin diz: “Quanto mais curto é o tempo de adestramento do operário industrial, tanto mais longo é o dos militares. Talvez faça parte da preparação da sociedade para uma guerra total essa transferência do adestramento da produção para o da destruição” (BENJAMIN, 1994, p. 126). Página 133 É a percepção desse contraste que servirá de base implícita para todos os textos de Benjamin sobre cinema. Pois o fortalecimento da indústria cultural e, em seguida, a ascensão do fascismo colocava no horizonte o seguinte problema: grande parte do desenvolvimento das novas tecnologias de reprodução atendia não apenas às demandas de expansão do capital, mas também diretamente às demandas cada vez mais urgentes do aparato militar. Basta pensar no aperfeiçoamento científico realizado na área dos radares, telégrafos, rádios e, mais tarde, nas tecnologias da televisão e da internet para perceber a relação direta. A insistência de Benjamin sobre determinados usos da tecnologia reprodutiva visava, assim, a cobrir a lacuna entre duas temporalidades distintas: de um lado, a temporalidade acelerada do desenvolvimento das novas técnicas, que atendiam às demandas industriais e militares da época; e, de outro, a temporalidade mais lenta da criação dos novos conteúdos que correspondessem ao potencial efetivo das novas tecnologias. Como Benjamin percebeu, essa lacuna colocava grande parte do cinema produzido na época, com suas regras em grande parte baseadas na chamada peça bem feita do teatro comercial burguês do século XIX, numa posição de inferioridade até em relação à poesia de Baudelaire. Porém, havia na produção cinematográfica mundial dois exemplos extraordinários de realizações que na opinião de Benjamin trabalhavam na criação desses conteúdos. Uma delas era o cinema soviético pós-1917, que na linha das experiências literárias de Tretiakov efetuava pelo menos duas grandes conquistas: de um lado, seguindo os preceitos construtivistas, trabalhava na eliminação das fronteiras entre autores e produtores aos dissolver categorias industriais como roteiro bem feito e atuação profissional, criando uma nova concepção do “real” no centro da produção cinematográfica; de outro, elevava a categoria do choque ao principio formal central, transformando-o numa análise dialética dos conflitos sociais que determinavam os rumos da história recente. Tanto na teoria quanto na prática, o exemplo mais eloquente da junção dos dois princípios apontados acima era o cinema de Sergei Eisenstein, que se tornaria ele próprio vítima da censura stalinista na década de 30 e 40. Entretanto, o gênero cinematográfico que mais chamou a atenção tanto de Brecht quanto de Benjamin foi a comédia muda norte-americana, notadamente os filmes de Chaplin, nos quais ambos identificavam afinidades eletivas entre o potencial das novas SOARES, Marcos. Reprodutibilidade técnica, arte e política. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 131-136, jan./jun. 2014. tecnologias de reprodução, o teatro épico de Brecht e o surrealismo e que constituíam, portanto, um campo de treinamento de um uso revolucionário dos sentidos. Brecht famosamente apontou em diversos textos que Chaplin era um dos atores de cinema que mais se aproximava do que ele chamava de atuação distanciada: num texto de 1926, ele descreve a cena em que Chaplin come as botas em A corrida do ouro (Gold Rush, 1925), apontando a sequência como um exemplo perfeito de como a abordagem épica poderia transformar um ato cotidiano e naturalizado num evento espantoso, digno de atenção e análise: “Chaplin devora a bota, com bons modos à mesa, removendo o prego como se ele fosse um osso de galinha”. (BRECHT, 2000, p. 10). Entre 1919 e 1935, Benjamin publicou cinco textos sobre a comédia norteamericana em jornais alemães, quatro deles sobre Chaplin, enquanto o mais conhecido, o último da série, é intitulado “A fórmula na qual a estrutura dialética do filme encontra expressão” (BENJAMIN, 1999, p. 94-95), antes de usar Chaplin uma referência central do texto da reprodutibilidade técnica. Para quem leu os textos de Benjamin sobre o teatro épico de Brecht e sobre o surrealismo, não é difícil imaginar o que o atraia no regime anárquico da comédia: sua estrutura fragmentada e paratática, baseada na autonomia do quadro cômico individual mais do que na linearidade do teatro e do cinema burguês; sua associação entre materiais díspares e sua ênfase numa dialética entre o familiar e o estranho; suas analogias impossíveis, construídas num ritmo desconexo e episódico; sua insistência no uso de objetos arrancados de seus empregos utilitários comuns. Tudo isso caracterizava um modo de despertar um encantamento do mundo, um ponto de partida para um tipo de pensamento distante da razão instrumental, uma “iluminação profana” que não se pautaria pelo que é, mas pelo que poderia ser. Estaria aqui, portanto, formulada uma tentativa bem-sucedida de execução da principal função da arte em tempos de fechamento das possibilidades: produzir a visão de outras possibilidades de organização do pensamento e do mundo, que da realização simbólica possam se realizar no devir através da intervenção política. Página 134 Entretanto, em 1934-5 as circunstâncias que haviam criado o impulso inicial e posterior desenvolvimento dessas duas experiências não estavam asseguradas. Longe disso, tanto no caso do cinema russo quanto na comedia americana, os florescimentos extraordinários que haviam causado espanto em Benjamin já estavam a caminho da extinção. No caso russo, é o próprio Benjamin que anuncia o problema para os alemães: em 1927, no texto “Sobre a situação presente do filme russo”, Benjamin discute como as “condições internas na Rússia” (leia-se, a censura stalinista) criavam dificuldades para o cinema local, do qual já se começava a exigir uma atitude de “conciliação” (BENJAMIN, 1999, p. 12-15). Já a comédia norte-americana havia sofrido um duro golpe com a entrada do som no cinema em 1930. Os efeitos catastróficos desse processo são anunciados por Brecht, aparecendo de modo contundente no ensaio “Sobre o emprego da música no teatro épico”, escrito em 1935 (BRECHT, 2001, pp. 84-90). Neste texto, Brecht faz uma avaliação das experiências com o som realizadas a partir de 1930 e detecta o retrocesso generalizado que caracterizava a prática industrial. Pois no lugar das experiências iniciadas no teatro épico, onde a música, usada autonomamente em relação à cena, tem papel de comentário, concretizando um gestus social em relação aos materiais cênicos, o SOARES, Marcos. Reprodutibilidade técnica, arte e política. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 131-136, jan./jun. 2014. cinema sonoro se limitou em grande parte a um emprego redundante e cosmético do som, quando não simplesmente contrabandeou os textos dos “clássicos” de literatura para a tela. Para a indústria americana, os altos investimentos necessários para modernizar equipamentos de filmagem e exibição criaram laços de dependência ainda maiores com os bancos de Wall Street, cujo dinheiro financiou a verticalização da indústria, garantindo seu monopólio sobre os setores de produção, distribuição e exibição. O novo nível de respeitabilidade exigido para atrair as parcelas mais endinheiradas do público provocou um saneamento da comédia. A produção de manuais de roteiro, necessários para a padronização da indústria, passou a exigir a acomodação dos quadros cômicos dentro de estruturas narrativas mais convencionais, que respeitassem a construção dramática do enredo e o desenvolvimento psicológico dos personagens. Poucos dos cômicos da era anterior sobreviveriam. Até hoje, o maior texto crítico sobre esse processo é “O filme Kuhle Wampe”, escrito por Brecht em 1932, onde ele analisa o efeito da verticalização da indústria sobre a produção independente e o papel da censura na manutenção do controle desse monopólio (BRECHT, 2000, pp. 203-258). Página 135 Para Benjamin, portanto, não poderia haver nada de inevitável ou de assegurado no desenvolvimento das técnicas de reprodutibilidade. Pelo contrário, o cenário era de confronto aberto. Entretanto, dialeticamente Benjamin vê as possibilidades que surgem do cenário de catástrofe generalizada: o fim das concepções idealistas da arte e a consciência dos artistas progressistas de que eles são trabalhadores (ou produtores). Nesse sentido, a reflexão sobre a aura vai mesmo além das alusões às alianças entre a arte e o fetiche da mercadoria. Trata-se, na verdade, de enfrentar o fato de que não existe arte exigente sem militância: pois para verem garantidos seus direitos à liberdade criativa e à retomada de experiência ricas do passado, os trabalhadores-artistas devem lutar para a modificação das relações de produção, que nas condições atuais procurarão aprisionar o desenvolvimento das forças produtivas. Sua atuação, portanto, não pode se restringir ao plano “criativo”, mas deve trabalhar na modificação do aparato produtivo. Creio ser esse o sentido profundo da conclamação de Benjamin de que diante da estetização da política efetuada pelo fascismo é preciso politizar a arte. Quanto ao papel da crítica, creio que é seu dever não apenas a análise do papel cognitivo da arte exigente a partir do estudo das relações entre forma e conteúdo sócio histórico, mas também a descrição e análise das formas de combate que procuram possibilitar que avanços cognitivos aconteçam. Em 1929, quando um jornalista alemão fez uma pergunta a Brecht a respeito da possibilidade da introdução gradual das formas épicas no teatro convencional, ele responde categórico: “Não. Se isso acontecer gradativamente, parecerá à plateia que ela vê algo velho morrendo e não algo novo nascendo” (BRECHT, 2001, pp.14-17). Parece que está aqui a explicação da debilidade de grande parte do cinema de esquerda contemporâneo, às vezes repleto de boas intenções liberais. Para a arte de esquerda exigente, vale outra lição de Brecht, com a qual Benjamin certamente concordaria: prevendo o sequestro que seria efetuado das categorias épicas pela arte convencional (que realmente viria a acontecer na França pós-1968, quando as “técnicas” do épico foram transformadas em receituário formalista), o próprio Brecht recomendou que se SOARES, Marcos. Reprodutibilidade técnica, arte e política. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 131-136, jan./jun. 2014. falasse em teatro dialético e, assim, tocou naquilo que, até hoje, a voracidade pósmoderna não conseguiu incorporar para a indústria: a dialética. REFERÊNCIAS BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. Vol. III. São Paulo: Brasiliense, 1994. ______. Selected Writings. London: Belknap Press, 1999. BRECHT, Bertolt. Brecht on Film and Radio. New York: Methuen, 2000. ______. Brecht on Theatre. London: Hill and Wang, 2001. COSTA, Iná Camargo. Nenhuma lágrima. São Paulo: Nankin, 2012. JAMESON, Fredric. Marxism and Form. New York: Princeton University Press, 1974. LOWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio. São Paulo: Boitempo, 2005. XAVIER, Ismail. A experiência do cinema. Rio de Janeiro: Graal, 1983. Recebido em: 15/04/2014. Aprovado em 15/06/2014 Página 136 Title: Technological reproducibility, art and politics Aythor: Marcos Soares Abstract: This essays intends to map out some of the key moments of the dialogue between German critic Walter Benjamin and playwright Bertolt Brecht on the potential of film as an artistic language and the risks artists seriously interested in the development of cinema ran with the rise of nazi-fascism. Keywords: Benjamin. Brecht. Cinema. Reproductibility. Fascism. SOARES, Marcos. Reprodutibilidade técnica, arte e política. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 131-136, jan./jun. 2014. AVATAR AS SYMPTOM: HOLLYWOOD MYTHOLOGICAL NARRATIVE AND CRISIS Fernando simão vugman1 Abstract: The present essay analyzes Avatar (2009) by director James Cameron in the context of the great American mythological narratives. With a focus on the performance of the myth of the Frontier and of the Manifest Destiny, in addition to the American Dream, that film‟s script, mise-en-scène and characters are discussed as a rupture with Hollywood and mythological conventions. Such a rupture of the conventions of the myth is understood as a symptom of an important crisis currently experienced by American society, thus reflecting the need to rethink the present of the country, as well as its future alternatives. Keywords: American mythology. American crisis. Film and technology. Hollywood. Avatar. By now much has been written and said about the technological contribution of James Cameron‟s Avatar (2009) to film making. Its huge success at the box office has arguably encouraged many studios and filmmakers to use 3D technology, though a number of such films had already been made.2 By now, much of such technological developments have been adopted and even improved by a number of other filmmakers and studios. In fact, the concern with using (and developing) state of the art technology in the making of Cameron‟s film shows some ideological and cultural implications that shall be analyzed and discussed along with the film‟s script, which brings forward some significant cultural issues for American society, as it‟s relation to Nature (about which the film presents an openly environmentally correct story); and the waging of wars, more specifically to more recent military campaigns (about which the film displays an apparently critical stance). The discussion to follow will analyze how the film‟s explicit discourse on Nature and war falls into contradiction. Avatar will also be approached as a mythological narrative3 in the line of those films centered on the Myth of the Frontier and the Manifest Destiny, portraying the encounter of the “civilized” white and the Indians, by means of the conventions of the western to favor the indigenous cultures. In such films the white hero learns to respect and eventually adopts the natives‟ culture. 4 And here 1 Página 137 Professor Dr. da Pós-graduação em Ciências da Linguagem e do Curso de Cinema e Realização Audiovisual (UNISUL). Editor da revista digital Crítica Cultural. Autor de A casa sem fim (ficção) e Pesadelos (pós)modernos e ficção (teoria e crítica). Tradutor. 2 A very short list by well-known filmmakers would include films as Cameron‟s own Ghosts of the Abyss (2003); Robert Zemeckis‟s The Polar Express (2004) and Beowulf (2007); John Lasseter‟s Toy Story (1995), Toy Story 2 (1999) and Toy Story 3 (2010, Lee Unkrich); Martin Scorsese‟s Hugo (2011); Steven Spielberg‟s The Adventures of Tintin (2011); and Tim Burton‟s Alice in Wonderland (2011). 3 For a more detailed discussion on Hollywood as the privileged factory of contemporary American mythology, see VUGMAN, Fernando Simão. The Gangster in Film and Literature: Study of a Modern American Monster. Florianópolis, 2001. 271 f. Dissertation (PhD in Letters) - Center of Communication and Expression, Universidade Federal de Santa Catarina. 4 A well-known precedent is Dances with Wolves (1990), by Kevin Costner. In that film the hero, Lt. John Dunbar (Kevin Costner) asks to be assigned to a remote western Civil War outpost were he befriends VUGMAN, Fernando Simão. Avatar as symptom: Hollywood mythological narrative and crisis. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 137-144, jan./jun. 2014. Página 138 Avatar breaks an important convention, allowing the hero to take an unprecedented step by not just adopting the Indians‟ way of life, but becoming their leader against “civilization.” Now, according to historian Richard Slotkin a myth changes through time in order to encompass significant changes in the history of a given society, since it is the “problems that arise in the course of historical experience” (1998, p. 6) that myths come to explain. So here it will be investigated what current historical event is significant enough to justify the change in the myth in Avatar; in other words, that change in the myth is a symptom of what crisis in America? The first myth to be analyzed is that which states that a never-ending technoscientific development will eventually conquer all of humanity‟s problems, a myth originating in the project of Enlightenment, which believed that science and reason would ensure the control of Nature,5 the rational organization of society (capable of working efficiently, in contrast with Nature‟s chaotic violence), an hygienic society (defeating all diseases, another “natural” plague, while giving birth to the perfect body). About the Enlightenment project Marxist sociologist Jürgen Habermas (1985) claims that it is not a failed project, but only incomplete, still to be completed, while for French postmodern philosopher and theoretician Jean-François Lyotard (1986, 1993), the failure of such a project was definitely established with the advent of II World War and the Holocaust. The brief reference above to the debate about those ideas that are at the root of what has come to be known as Modernity aims at calling attention to the significance of the myth of continuous technoscientific development for the organization of Western societies in general, but more specifically for molding American economy and culture. America‟s prowess in technoscientific development has been one of its foundations as the world‟s superpower in the twentieth century; a superiority in military technology, for sure, but also America‟s technological superiority in the industrial production of cultural goods, which together deliver a coherent narrative of the world that bears American dominant ideology. And Hollywood has arguably been the main tool to spread its values around the world and to conquer alien cultures. Some traits of American dominant ideology include not only the belief in those myths of modernity, but also some very national myths, as the Manifest Destiny6 and the Myth of the Frontier.7 In “Ideology, Genre, Auteur”, Robin Wood lists the most frequent ideological elements in Hollywood films. The fourth component in his list is twofold: “Nature as wolves and Indians, thus becoming a nuisance to the military. He eventually “goes native”; however, he does not become the leader of the tribe. 5 Here “Nature” is written with a capital „N‟ when reference is made to the human, i.e. cultural, concept and “nature” to refer to the natural environment itself, which is, after all, inaccessible to us. 6 The myth of the Manifest Destiny, which has long justified American imperialism, originates from the encounter between Puritan settlers and the Indians. For Slotkin (1996; p 21), the “cultural anxieties and aspirations of the colonists found their most dramatic and symbolic portrayal in the accounts of the Indian wars.” From that clash the colonists could “emphasize their Englishness (…); they could suggest their own superiority to the home English by exalting their heroism in battle (…) [and reaffirm] the holly zeal for English Christian expansion with which they preached to or shot at the savages.” 7 According to Slotkin (1996; p 5) the Myth of the Frontier comes from “the conception of America as a wide-open land of unlimited opportunity for the strong, ambitious, self-reliante individual to thrust his way to the top.” VUGMAN, Fernando Simão. Avatar as symptom: Hollywood mythological narrative and crisis. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 137-144, jan./jun. 2014. agrarianism; the virgin land as Garden of Eden” (47), and “Nature as the wilderness, the Indians, on whose subjugation civilization is built” (47). Both views of Nature spring from the Myth of the Frontier, what Slotkin calls in The Fatal Environment “arguably the longest-lived of American myths, with origins in the colonial period and a powerful continuing presence in contemporary culture” (15). Slotkin claims that the ideological underpinnings [of the Myth of the Frontier] are those same „laws‟ of capitalist competition, of supply and demand, of Social Darwinian „survival of the fittest‟ as a rationale for social order, and of „Manifest Destiny‟ that have been the building blocks of our dominant historiographical tradition and political ideology (1985, p. 15). At the root of the Myth of the Frontier one finds the unresolved contradiction faced by the colonists of Nature as Eden and Nature as chaos. The former view was part of the hopes of the European colonists when leaving the Metropolis towards America, while the latter image included the “Puritans‟ sexual anxieties, reflected in their feeling that the Indians were lewd and sexually „unclean‟” (SLOTKIN, 1973, p. 76). Avatar deals with the same contradictions about Nature as Eden and as chaos, which has been translated in terms of military conquests and of the conquering of Nature. What is noteworthy is how Cameron attempts to solve these contradictions. In the case of the military strategy for the conquering of Nature it is explicitly presented in the film as one of the main elements of tension in the plot. In fact, that is precisely one of the elements, which the fans of the film point as an example of Cameron‟s concern about contemporary social and political conflicts; the film‟s critical stand on the military, who are there to help in the exploitation of the planet and to ensure the profits for RDA, a private enterprise that stands for “international capital”, and who ends up defeated, has been read as a reference to the invasion of Iraq, a war waged in order to allow American and allied oil companies to explore that country‟s mineral riches. There are, however, some problems with such an interpretation, when one gives a closer look at some internal contradictions in such a discourse. Página 139 The first contradiction can be observed in the victory of Nature Ŕthe whole planet, Pandora, unites to fight the human invaders in the final battleŔ over the technologicalmilitary paraphernalia of the “international capital”. After all, the very conditions of existence of Cameron‟s film are his own and Hollywood‟s obsession with technological development as a goal in itself, as something good in itself, together with their immoderate pursuit of profit; the box office number are all records8, surpassing the previous box office champion, Titanic (1997), directed by the same James Cameron. How can such a film put forward a discourse for the abandonment of technology in the name of a return to Nature?9 8 According to Box Office Mojo, available at <http://boxofficemojo.com/movies/?id=avatar.htm>. Accessed on 04/09/2014. 9 In fact, Mr. Cameron seems much concerned about Nature when its domestication favors other countries, as in his protesting against Brazil‟s Belo Monte dam. However, he does not seem much concerned about the oil extraction in Alaska, just to mention an environmental issue closer to home. VUGMAN, Fernando Simão. Avatar as symptom: Hollywood mythological narrative and crisis. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 137-144, jan./jun. 2014. A second internal contradiction: in order to present his environmentally correct narrative, Cameron and his team revolutionized audiovisual technology so to project on the screen an incredibly beautiful and seductive Nature, while simultaneously reinforcing in the public a feeling of rejection of the “bad” technology. However, in the same move they replace the real nature (chaotic and violent, even for the peoples of the forest) with Nature as spectacle; a Nature that can only exist in the universe of digital images, and which surpasses, dismisses and erases nature itself (for more on the society of the spectacle see DEBORD, 1997). In other words, in order to stand for the natural environment, Cameron offers to the public a Nature that is only accessible by means of state of the art technology, displayed in movie theatres equipped with high technology, hygienic and, of course, a place one has to pay to be allowed. Mr. Cameron, of course, is facing an unsolvable contradiction: how can one speak in the name of nature without creating Nature? Nonetheless, in the case of Avatar such a contradiction renders the very erasure of nature; it renders the “naturalization,” in the Barthesian sense, of artificial Nature. It is also noteworthy how Avatar presents the old conflict between nature and civilization, an issue of global concern. An issue, in fact, that much before the appearance of the first global preservationist movements, American society already had to face dramatically and in a very particular way, and that would solve it, at the symbolic level, in a way that marked its culture until today. Página 140 As already mentioned, according to Slotkin (1996, 1998, 1998a), in the seventeenth century the Puritans had to face a grave problem: they had left England to America with the belief that they would find a natural world, paradise on Earth itself; there they would build a superior civilization, following the precepts of God, and from there they would disseminate their ways and values to the rest of the world (that still being America‟s justification for its imperialism, the already mentioned Manifest Destiny). However, when the Puritans arrived at the east coast what they found was nature with very different characteristics from what existed in Europe, inhospitable, and to make it worse, inhabited not by angels of the Lord, but by peoples with strange customs; for the Puritans, a primitive people. In such a situation some consequences followed: first, the actual destruction of nature and of the native inhabitants, while they conquered the new territory. But that was a long historical process that would only acquire greater significance in the twentieth century. Another consequence came from the understanding by the colonizers that if on the one hand they could not identify with the native peoples of the land, on the other hand they would have to learn at least part of their ways if they were going to survive in that new landscape. Here one finds the origins of the American hero: an individual, a white man, who must learn and resort to the ways and values of a “primitive” people in order to establish and protect his own civilization (which hurts nature). In that process, he became a character from two worlds: not a savage, nor civilized. And that is the hero who is generated from the clash between the colonizer and Nature; a hero capable of surviving in the natural world, but never fully becoming a native, an agent of civilization who does not fit in the very civilization he advances. A good example of such a hero in Hollywood films is the cowboy protagonist in westerns, VUGMAN, Fernando Simão. Avatar as symptom: Hollywood mythological narrative and crisis. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 137-144, jan./jun. 2014. who at the end of the story leaves the village he protected and helped to survive. After this brief digression, let us return to Cameron‟s film. Cameron‟s hero is Jake Sully (Sam Worthington), an ex-marine now hired as a mercenary by RDA, the enterprise that wants to extract unobitanium, the precious mineral hidden in the soil of Pandora. According to the site IMDb10: Jake was part of the Avatar Program, in which humans remotely control Human/Na'vi hybrids to safely navigate the planet. Jake was originally assigned to gather intel that would help Colonel Quaritch discover the Na'vi weaknesses so he could force them to leave Hometree or destroy it if necessary. This being done so due to the earth beneath Hometree having a significant deposit of Unobtanium; the entire reason for RDA's interest in Pandora. Jake learns the ways of the Na'vi hunters from Neytiri and is eventually accepted into the Omaticaya clan. Soon after he and Neytiri fall in love. Shortly after this the RDA stages it's attack on Hometree, for which Jake seeks revenge. When everything seems lost to the Na'vi, Jake is able to attain Tsahaylu with a Great Leonopteryx, becoming the sixth Toruk Makto. He plays a key role in the final war, as he leads the Na'vi against the RDA offensive. The Na'vi then perform a ceremony in which they ask Eywa to place Jake's mind into his Avatar body permanently. In addition to the obvious similarity between that definition and the description of the American hero as offered above, one can see a change in his role in American mythology: instead of taking part in the “advancement” of his civilization (even if he does not fit), he changes sides to become a real native and −why not?−, a native American. Indeed, as already mentioned, Jake even takes one step further to become the very leader of the natives; a very significant move, as it will be analyzed bellow. But to understand why such a move is so significant, one must how myth narratives are created and what makes them change. In complex societies myths are narratives that offer an accessible version of the world, simplifying events of social significance. In the process of its creation, the complexity of History is erased and simplified in an ideologically conservative version. According to Slotkin, myths are Página 141 (…) stories drawn from a society‟s history that have acquired through persistent usage the power of symbolizing that society‟s ideology and of dramatizing its moral consciousness Ŕ with all the complexities and contradictions that consciousness may contain. Over time, through frequent retellings and deployments as a source of interpretive metaphors, the original mythic story is increasingly conventionalized and abstracted until it is reduced to a deeply encoded and resonant set of symbols, “icons,” “keywords,” or historical clichés (SLOTKIN, 1998, p. 5). The function of the myth is to present itself as a key to understand the world around each individual. For instance, the myth of Buffalo Bill stresses his story as a great hunter, one of the great conquerors of the West, while erasing the fact that he would kill buffalos with method and fury with no regard to the destruction of a vital source of food and shelter for the Indians. Thus, ideologically, myth always plays a 10 IMDb, available at <http://www.imdb.com/character/ch0098390/bio>. Accessed on 31/05/2014. VUGMAN, Fernando Simão. Avatar as symptom: Hollywood mythological narrative and crisis. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 137-144, jan./jun. 2014. Página 142 conservative function, since it eliminates the complexities of History while presenting itself as a stable and safe narrative; in the example of Buffalo Bill, the mythic narrative turns the massacre of Native Americans into a glorious story of the conquering of Nature. So myths are made of significant historical events and after a myth narrative has stabilized only another historical event, which does not fit in the existing mythology can cause a change in its structure. So when Cameron changes the role of the American hero in his film, he shuffles all symbolic elements, thus confounding the mythic narrative. In conventional mythic narrative, the inadequacy of the American hero in relation to both “civilization” and Nature, expresses the ideological conflict that has marked the history of the United States, a conflict still to be solved at the level of reality. When Jake Sully is transformed into a real Na‟vi a series of new contradictions follow so that, at the bottom line, the very discourse of the film favoring Nature and the peoples of the forest is undermined. It is worth taking a closer look at how that happens. Jake Sully begins his trajectory by following the conventions of the American hero: i) he initially accepts the conventional mission of clearing the way for the coming of “civilization”; ii) still within the conventions, he shows his uneasiness with the values of such a civilization; iii) following the mythic narrative structure, he learns the ways and values of the “primitive people” in order to learn how to defeat them; iv) while coming to know the people he must conquer and destroy, he stops despising them and begins to learn to respect their culture, thus reproducing the central conflict faced by the American hero, who at that point does not belong anymore neither to his culture, nor to that of the natives; he does not belong to any world, anymore. Conventionally, at that point the mythic narrative ends, with the hero concluding his mission and then departing to some kind of limbo, not civilized, nor savage. That is the moment when Cameron decided to interfere in the conventional structure and try to solve the contradiction: his hero is literally transformed into a Na‟vi. At first sight, such a move may seem as an apology not only of the Native Americans, but of all peoples of the forest. However, it is exactly that symbolic move in Avatar that undermines the film‟s explicit environmentally and politically correct discourse, thus revealing the actual ideology, which supports its whole narrative. In order to include such a modification, Cameron is forced to destroy the very heroes of the Na‟vi. First, Eytukan (Wes Studi), leader of his people and father of Neytiri (Zoe Saldana), the heroine, dies. Next, dies Tsu'Tey (Laz Alonso), main warrior and second in the line of succession. And finally, Mo‟at (CCH Pounder), the spiritual female leader, wife of Eytukan and mother of Neytiri, submits herself and spiritual guidance to the leadership of Jake, thus consecrating him as the new spiritual and warrior leader of the Na‟vi. So in his homage to the peoples of the forest, Cameron destroys their main cultural symbols, replacing them by all that the white hero stands for. 11 And not only 11 One could claim that in A Man Called Horse (1970), by Elliot Silverstein, John Morgan (Richard Harris), a white English aristocrat is captured by Indians to eventually become the tribe‟s leader. However, the trajectory of the white hero here is much different from that of Jake Sully. After been captured, John Morgan is striped even from his condition of a human being. Thus, in his process of rehumanization he must leave behind all of his western values until finally adopting the customs and world view of his captors. And when he leads his tribe in war it is not against the American army, but VUGMAN, Fernando Simão. Avatar as symptom: Hollywood mythological narrative and crisis. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 137-144, jan./jun. 2014. 143 Página that: in spite of the final transformation of Jake into a Na‟vi following a religious ritual of that people, the fact remains that without the creation of his avatar such a possibility wouldn‟t even exist. In other words, the new leader of Nature is the very last generation technological product of the capitalist society, which “went wrong”! And if one thinks of the fate of the Na‟vi, their mythology will now have to incorporate the fact that their very survival depended on the hero and the technology produced by the same civilization that aimed at the exploitation of their land and even their final destruction. So while simulating admiration for the Na‟vi/native-Americans, what Avatar really does is to reinforce the myth of Manifest Destiny. The question that arises is why? Why did Mr. Cameron interfere in such a way in the structure of the myth? One might find a clue in the similarity between Cameron‟s fantasy and that of George W. Bush and his neocons: to invade Iraq while being welcomed as the heroes and saviors of the Iraqi people. It is the Manifest Destiny again, as it “rests on the assumption that nonwhites need the White Messiah to lead their crusades” (BROOKS, 2010). The need to take one step further to reaffirm such a myth suggests that the historical conditions are changing, with a growing international trend to defy and question America‟s leadership in the world. Indeed, there is a growing number of pundits, Americans and from other countries, claiming that the power of the US over the world is decaying. For example, Ramzy Baroud wrote in Asia Times online that “US foreign policy is almost entirely crippled. For the Obama administration, it has been a continuous firefighting mission since George W Bush left office.” At the same time, Nobel laureate economist Joseph Stiglitz points to the end of the American Dream, observing how inequality has steadily been increasing in the last decades. In his column in The Guardian, he claims that “America likes to think of itself as a land of opportunity, and others view it in much the same light. (…) Nowadays, these numbers show that the American dream is a myth. There is less equality of opportunity in the United Sytates today than there is in Europe Ŕ or, indeed, in any advanced industrial country for which there are data” (The price of inequality). There is much more to be said about the ideological implications in Avatar; only a few more will be briefly mentioned here. For one, no female character escapes the conventional female roles in the patriarchal structure; much to the contrary, when a female character in the film presents male traits, as with the pilot Trudy Chacon (Michelle Rodriguez), she is punished with her death. Another example can be observed in the extreme Manichaean separation of cardboard characters, which are either all good, or all bad, the most extreme case being that of col. Quaritch, who seems to be the personification of hate e racism, serving only to excite hate from the public. And one can also mention Cameron‟s insurmountable difficulty to decide about the place and role of the scientists lead by Dr. Grace Augustine (Sigourney Weaver), who seem to nourish a great admiration for the Na‟vi and for the Nature in Pandora, but whose investigations never go beyond the collection of samples to no clear purpose at all, making it all look like a clumsy attempt to save the scientific and technological discourse as the path to happiness and success. In other words, an attempt to reaffirm the bases of capitalism. against another tribe, which eliminates any possibility of reading that film as a restatement of the myth of the Manifest Destiny, nor of the Myth of the Frontier. In fact, in that film white civilization is almost erased. VUGMAN, Fernando Simão. Avatar as symptom: Hollywood mythological narrative and crisis. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 137-144, jan./jun. 2014. All that being said, there is no doubt that Avatar has meant a new step in the technological development of film and the audiovisual. Such kind of technical development is not new in Hollywood, if one thinks of the introduction of sound, color, and so on. Sure enough such developments have always contributed for the seduction of other audiences for the American Dream, based on individual action and material success. That doesn‟t mean that one should dismiss Cameron‟s film: it is useless to condemn new technologies; it is only a matter of not being naïve about their use. And, after all, Avatar is really a beautiful movie. REFERÊNCIAS BAROUD, Ramzy. Asia Times online. Available at <http://www.atimes.com/atimes/World/WOR-01070414.html >. Accessed on 31/05/2014. BROOKS, David. “The Messiah Complex”. The New York Times (2010). Available at <http://www.nytimes.com/2010/01/08/opinion/08brooks.html?_r=0>. Accessed on 31/05/2014. DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto Editora, 1997. HABERMAS, Jürgen. "Modernity: An Incomplete Project". In Hal Foster, ed. Postmodern Culture. London and Sydney: Pluto Press, 1985, pp. 3-15. STIGLITZ, Joseph. The Guardian. Available at <http://www.theguardian.com/business/2012/jun/05/price-of-inequality-united-states>. Accessed on 31/05/2014. LÉVI-STRAUSS.Tristes Trópicos. Wilson Martins (trans.). São Paulo: Editora Anhembi, 1957. LYOTARD, Jean-François. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Manchester U Press, 1986. _____. O Pós-Moderno Explicado às Crianças. Publicações Dom Quixote Lisboa: 1993, 2nd ed. SLOTKIN, Richard. Gunfighter Nation: The Myth of the Frontier in Twentieth-Century America. University of Oklahoma Press: Norman, 1998 (1st. ed. 1992). _____.The Fatal Environment: The Myth of the Frontier in the Age of Industrialization, 1800-1890. University of Oklahoma Press: Norman, 1998 (1st ed. 1985). _____.Regeneration Through Violence: The Mythology of the American Frontier, 1600-1860. Harper Perennial: 1996 (1st ed.1973). WOOD, Robin. “Ideology, Genre, Auteur.” Film Comment, Jan-Feb pp 46-51, 1997. Página 144 Recebido em: 13/06/2014. Aprovado em 15/06/2014. Título: Avatar como sintoma: a narrativa mitológica de Hollywood e crise Author: Fernando Simão Vugman Resumo: O presente ensaio faz uma análise do filme Avatar (2009), de James Cameron sob o ponto de vista das grandes narrativas mitológicas estadunidenses. Com foco na dramatização do mito da Fronteira e do Destino Manifesto, além do sonho americano, seu roteiro, mise-en-scène e personagens são discutidos como uma quebra nas convenções mitológicas e hollywoodianas. Esta quebra com as convenções do mito é compreendida como sintoma de uma grave crise atualmente vivida pela sociedade estadunidense, refletindo a necessidade de repensar o presente do país e suas alternativas para o futuro. Palavras-chave: Mitologia Americana. Crise Americana. Cinema e tecnologia. Hollywood. Avatar. VUGMAN, Fernando Simão. Avatar as symptom: Hollywood mythological narrative and crisis. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 137-144, jan./jun. 2014. O CONCEITO E A TRAGÉDIA DA CULTURA, 1 DE GEORG SIMMEL Antonio Carlos Santos (tradutor) Que o ser humano não se adapte sem problemas ao dado natural do mundo, como o animal, e sim dele se separe, com ele se defronte, exigindo, lutando, violentando e sendo violentado Ŕ com esse primeiro grande dualismo se origina o infinito processo entre o sujeito e o objeto. No interior do próprio espírito, ele encontra sua segunda instância. O espírito engendra inúmeras configurações que passam a existir em uma autonomia peculiar, independentemente da alma que as produziu, como de qualquer outra que as acolhe ou rejeita. Assim o sujeito se vê, diante da arte como do direito, da religião como da técnica, da ciência como dos costumes Ŕ não apenas ora atraído, ora repelido por seu conteúdo, ora a ele misturado como a um pedaço do eu, ora estranho e intangível diante dele; e sim na forma da solidez, da cristalização, da existência permanente, com a qual o espírito, tornado então objeto, se confronta com o fluxo da vida, com a auto-responsabilidade interna, com a tensão cambiante; como espírito intimamente ligado ao espírito, mas, justamente por isso, vivendo inúmeras tragédias nessa contradição profunda: entre a vida subjetiva, que é incansável mas temporalmente finita, e seus conteúdos que, uma vez criados, são imutáveis, mas intemporais. Em meio a esse dualismo vive a idéia de cultura. Em sua base, mora uma realidade íntima que só pode ser expressa em sua totalidade de maneira metafórica e pouco clara: como o caminho da alma em direção a si mesma; pois nenhuma alma é jamais apenas aquilo que é neste momento e sim algo mais, algo pré-formado, mais elevado e mais realizado do que ela mesma. Não se trata de um ideal que se possa designar, fixo, em algum lugar do mundo espiritual; e sim do devir livre das forças potenciais que descansam nela mesma, do desenvolvimento de seu próprio embrião que obedece a um íntimo instinto formal. Assim como a vida Ŕ e no mais alto grau sua intensificação na consciência Ŕ contém em si seu passado em uma forma imediata como uma parte do inorgânico, assim como esse passado sobrevive por seu conteúdo original Página 145 1 Este ensaio de Georg Simmel (1858-1918), publicado em 1911 em Philosophische Kultur, é fundamental para se compreender como o filósofo alemão nascido em Berlim concebe a noção de cultura a partir de uma oposição entre a vida subjetiva, temporalmente finita, e seus conteúdos de validade intemporal. Para Simmel, o processo cultural é uma dialética entre sujeito e objeto cujo caminho vai do sujeito ao objeto, este compreendido como objetivação do espírito (sujeito), e, novamente, do objeto ao sujeito, ou seja, uma re-subjetivização do objeto com o objetivo de um aperfeiçoamento, de um cultivo da personalidade, aquilo que se costumava chamar de Bildung. A tragédia da cultura reside, então, no fato de que este objeto, que tem uma função mediadora no processo, é um meio do espírito, espírito objetivado, para atingir um fim que é sempre o sujeito, ganha no transcurso da modernidade uma autonomia que acaba por fazer dele próprio o fim dessa cadeia de relações (sujeito/objeto/sujeito). A ideia veio sendo trabalhada desde as reflexões de Simmel sobre o dinheiro, caso mais exemplar da transformação dos meios em fins, em 1889 com Zur Psychologie des Geldes, e no clássico Philosophie des Geldes, de 1900. Antonio Carlos Santos é professor do PPG em Ciências da Linguagem da Unisul. SANTOS, Antonio Carlos (Tradutor). O conceito e a tragédia da cultura, de Georg Simmel. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 145-162, jan./jun. 2014. 146 Página e não apenas como causa mecânica de suas transformações posteriores na consciência, assim a vida engloba também seu futuro de uma maneira que não tem nenhuma analogia com o inanimado. Em cada momento da existência de um organismo que pode crescer e se multiplicar, a forma posterior vive prefigurada com uma necessidade tão íntima que de modo algum pode se comparar com a mola tensa que contém em si mesma sua distensão. Enquanto todo o inanimado possui apenas o momento do presente, o vivente se estende de maneira incomparável sobre o passado e o futuro. Todos os movimentos da alma como a vontade, o dever, a vocação, o desejo Ŕ são os prolongamentos espirituais da determinação fundamental da vida: em seu presente, ela contém, em uma forma particular que só existe no processo vital, seu futuro. E isso não se refere apenas a desenvolvimentos e aperfeiçoamentos singulares, pois a personalidade como um todo e como unidade traz consigo uma imagem prefigurada de linhas invisíveis cuja realização lhe permite, por assim dizer, ser sua plena realidade em vez de apenas uma possibilidade. Assim como também a maturidade e a auto-afirmação das forças anímicas podem se realizar com tarefas e interesses singulares, por assim dizer, marginais, assim também há, de algum modo acima ou abaixo, a exigência de que, com tudo isso, a totalidade anímica como tal cumpra uma promessa dada a ela própria e todas as formações singulares apareçam então como uma multiplicidade de caminhos sobre os quais a alma chega a si mesma. Este é um pressuposto metafísico, se assim o queremos, de nosso ser prático e sensível Ŕ qualquer que seja a distância entre nosso comportamento real e essa expressão simbólica: que a unidade da alma não seja simplesmente um elo formal que o desdobramento de suas forças singulares encerra sempre da mesma maneira e sim que, através dessas forças singulares, seja sustentado seu desenvolvimento como um todo e a esse desenvolvimento do todo se antecipe a finalidade de um aperfeiçoamento interior para o qual sejam válidas como meio todas aquelas capacidades e realizações singulares. E aqui se mostra a primeira e provisória determinação do conceito de cultura que segue apenas o sentimento da língua. Não somos ainda cultos se aperfeiçoamos em nós mesmos este ou aquele conhecimento ou capacidade singular; mas sim apenas quando o desenvolvimento, ligado, sem dúvida, ao conhecimento, mas não coincidindo com ele, serve àquela centralidade anímica. Nossos esforços conscientes e enunciáveis se referem, claro, a interesses e potencialidades particulares, e por isso o desenvolvimento de cada ser humano, visto sob o ângulo de sua capacidade de designar, aparece como um feixe de linhas de crescimento que se estendem para direções muito diversas e em percursos de diferentes tamanhos. Mas não é com estes e seus aperfeiçoamentos singulares e sim com seu significado para ou como desenvolvimento da unidade pessoal indefinível que o ser humano se cultiva. Ou dito de outra forma: cultura é o caminho da unidade fechada, através da multiplicidade desdobrada, para a unidade aberta. Mas de qualquer jeito só pode se tratar do desenvolvimento de um fenômeno que existe nas forças embrionárias da personalidade, esboçado nela, por assim dizer, como seu plano ideal. Também aqui o uso da língua é um guia seguro. Chamamos de cultivada uma fruta do pomar obtida com o trabalho do jardineiro a partir de uma árvore frutífera lenhosa e insípida: ou também: essa árvore selvagem foi cultivada para se tornar uma árvore frutífera. Mas se, ao contrário, talvez, da mesma árvore, produz-se um mastro de navio Ŕ e com isso utilizando uma não menor finalidade de trabalho, então não dizemos, de modo algum, que o tronco foi cultivado SANTOS, Antonio Carlos (Tradutor). O conceito e a tragédia da cultura, de Georg Simmel. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 145-162, jan./jun. 2014. Página 147 para se tornar um mastro. Essa nuance da língua indica claramente que o fruto, embora não se realize sem o empenho humano, advém enfim das próprias forças pulsionais da árvore e cumpre apenas a possibilidade prefigurada em suas disposições Ŕ enquanto a forma do mastro é conduzida de seu tronco a um sistema final completamente estranho a ele e sem aquela prefiguração de suas tendências essenciais próprias. Nesse mesmo sentido, todos os possíveis conhecimentos, virtuosidades e refinamentos de um ser humano podem não nos determinar a lhe conceder um caráter cultivado se estes, por assim dizer, agem apenas como acréscimos que vêm aderir a sua personalidade a partir de um domínio exterior a ela que, em última análise, continuará sempre exterior. Nesses casos, o ser humano cultivou, certamente, determinadas especialidades, mas não é cultivado; ele só o será se os conteúdos advindos do supra-individual pareçam desenvolver na alma, como através de uma harmonia prefigurada, apenas aquilo que constitui nela mesma o instinto mais próprio e a virtualidade mais íntima de sua realização subjetiva. E aqui entra, finalmente, a condicionalidade da cultura através da qual se apresenta uma solução para a equação sujeito-objeto. Recusamos seu conceito a cada vez que a perfeição não seja sentida como o desenvolvimento próprio do centro anímico; mas ele não se confirma tampouco lá onde a cultura entra apenas como um desenvolvimento próprio que não requer meios e estações externos. Numerosos são os movimentos que conduzem a alma a si mesma, conforme às exigências desse ideal, ou seja, à realização de seu ser mais íntimo e pleno, que se lhe antepõe mas apenas como possibilidade. No entanto, se ou na medida em que, impulsionada unicamente por seu interior, ela o realiza nas elevações religiosas, na autodevoção moral, na intelectualidade soberana e na harmonia de toda uma vida Ŕ pode então carecer da posse específica de um estado de cultura. Não apenas que lhe falte essa coisa total ou relativamente externa que a língua corrente desclassifica como mera civilização. Isto não é importante. Mas não há estado de cultura em seu sentido mais puro e profundo quando a alma percorre o caminho de si para si, da possibilidade à realidade de nosso eu mais verdadeiro, exclusivamente com suas forças pessoais subjetivas Ŕ ainda que, talvez, de um ponto de vista superior, justamente essa realização seja a mais preciosa; com o que provaríamos que a cultura não é o único valor definitivo da alma. Seu sentido específico, entretanto, só é preenchido quando o ser humano nesse desenvolvimento inclui algo que lhe é exterior, quando o caminho da alma passa por valores e séries que não são apenas subjetivos e anímicos. Essas configurações anímicas objetivas de que falei no início: arte e moral, ciência e objetos conformes a fins, religião e direito, técnica e normas sociais Ŕ são estações pelas quais o sujeito tem de passar para adquirir esse valor específico que é sua cultura. É preciso que ele os integre a si mesmo, mas ele tem de integrá-los a si, não pode deixá-los simplesmente como valores objetivos. Tal é o paradoxo da cultura: a vida subjetiva, que sentimos em seu fluxo contínuo pressionar a partir de si mesma no sentido de sua realização, não pode alcançar, do ponto de vista da idéia de cultura, essa realização a partir de si mesma, mas somente através daquelas configurações agora totalmente estranhas e cristalizadas em uma unidade fechada em si mesma. A cultura nasce Ŕ e isso é simplesmente essencial para sua compreensão Ŕ quando dois elementos se reúnem e nenhum deles a contém em si: a alma subjetiva e a criação espiritual objetiva. SANTOS, Antonio Carlos (Tradutor). O conceito e a tragédia da cultura, de Georg Simmel. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 145-162, jan./jun. 2014. Página 148 Aqui se enraíza o significado metafísico dessa configuração histórica. Um bom número de atividades humanas essenciais e decisivas constrói pontes inacabadas ou, quando acabadas, sempre novamente destruídas, entre o sujeito e o objeto em geral: o conhecimento, principalmente o trabalho, em muitos de seus significados também a arte e a religião. O espírito se vê confrontado a um ser para o qual tanto a pressão quanto a espontaneidade de sua natureza o impelem: mas ele permanece sempre exilado no movimento em torno de si mesmo, em um círculo em que o ser apenas toca, e a cada momento em que, ao tangenciar seu exílio, quer penetrar no ser, a imanência de sua lei o leva de volta a sua rotação fechada em si mesma. Na formação dos conceitos sujeitoobjeto como correlatos, em que cada um só encontra seu sentido no outro, já se encontra a nostalgia e a antecipação de uma superação desse rígido dualismo. Aquelas atividades mencionadas o transportam a atmosferas particulares nas quais a estranheza radical desses dois elementos é atenuada e certas fusões permitidas. Mas como estas fusões só podem ter lugar com as modificações que, por assim dizer, são produzidas por condições atmosféricas de províncias particulares, elas não podem sobrepujar, no seu mais profundo, a estranheza das partes e permanecem para sempre uma tentativa finita de resolver uma tarefa infinita. Nossa relação, no entanto, com aqueles objetos que nos fazem mais cultivados é diferente porque estes já são espírito tornado objeto na forma ética e intelectual, social e estética, religiosa e técnica; o dualismo, com o qual o sujeito reduzido a seus próprios limites se confronta com o objeto que existe apenas para si, toma uma forma incomparável quando ambas as partes são espírito. Então o espírito subjetivo tem de abandonar sua subjetividade, mas não sua espiritualidade, para viver a relação com o objeto com a qual se realiza seu cultivo. Esta é a única maneira pela qual a forma de existência dualista, imediatamente conectada à existência do sujeito, se organiza em um sistema de relações unificado internamente. Aqui se dá um devir objeto do sujeito e um devir sujeito do objeto que constitui a especificidade do processo cultural, mostrando, para além de seus conteúdos particulares, sua forma metafísica. Sua compreensão mais profunda exige, por isso, uma análise continuada desta objetivação do espírito. Nas páginas anteriores, partimos de uma profunda estranheza ou hostilidade existente entre o processo vital e criativo da alma, por um lado, e seus conteúdos e produtos, por outro. Diante da vida fremente, incessante da alma, que se desenvolve ao infinito, criadora em qualquer sentido, está seu produto firme, idealmente irremovível, com o efeito inquietante e retroativo de fixar essa vivacidade, de solidificá-la; é como se a mobilidade fecunda da alma sucumbisse a seus próprios produtos. Aqui está uma das formas fundamentais de nosso sofrimento em relação a nosso próprio passado, a nosso próprio dogma, a nossa própria fantasia. Essa discrepância, que, por assim dizer, constitui a relação entre o estado material da vida interior e aquele de seus conteúdos, se torna assim, em certa medida, racionalizada e menos nitidamente sensível pelo fato de o ser humano, em seu fazer teórico ou prático, distinguir e se defrontar com esses produtos ou conteúdos anímicos enquanto um cosmo do espírito objetivado, em certo sentido independente. A obra externa ou imaterial em que a vida anímica se concretiza é sentida como um valor de tipo particular; mesmo que a vida, afluindo para essa obra, se perca em um beco sem saída ou faça rolar seus fluxos deixando para trás essas configurações rejeitadas, é isto mesmo a riqueza especificamente humana, o fato de os SANTOS, Antonio Carlos (Tradutor). O conceito e a tragédia da cultura, de Georg Simmel. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 145-162, jan./jun. 2014. 149 Página produtos da vida objetiva pertencerem ao mesmo tempo a uma ordem de valores imprescritível, objetiva, uma ordem lógica ou moral, religiosa ou artística, técnica ou jurídica. Na medida em que se revelam como portadores desses valores, como partes dessas séries, eles não apenas escapam, por seu entrelaçamento mútuo e sistematização, do isolamento rígido que os tornou estranhos ao ritmo do processo vital, como também o próprio processo obtém dessa forma uma importância que não poderia ganhar do movimento ininterrupto de seu simples curso. Nota-se na objetivação do espírito uma inflexão de valor que, sem dúvida, nasce na consciência subjetiva e com a qual essa consciência visa alguma coisa que está além de si mesma. Esse valor não precisa ser, de modo algum, sempre positivo, no sentido do bem; o simples fato formal de o sujeito produzir algo de objetivo cuja vida toma corpo a partir de si mesma, é sentido como algo significativo porque é justamente a autonomia desse objeto formado pelo espírito que pode resolver a tensão fundamental entre o processo e o conteúdo da consciência. Pois do mesmo modo que representações espaciais naturais acalmam a inquietude provocada pela persistência de algo totalmente rígido em sua forma no interior do processo ininterrupto da consciência, e que o fazem legitimando essa estabilidade na relação com um mundo objetivo externo Ŕ da mesma forma a objetividade presta ao mundo espiritual o serviço correspondente. Sentimos que toda a vivacidade de nosso pensamento está ligada à invariabilidade das normas lógicas, toda a espontaneidade de nossas ações às normas morais, todo o fluxo de nossa consciência é preenchido de conhecimento, de tradições, de impressões de um ambiente de algum modo formado pelo espírito; a consistência, por assim dizer, a indissolubilidade química de tudo isso expõe um dualismo problemático em relação ao ritmo incansável do processo anímicosubjetivo no interior do qual ele se produz como representação, como conteúdo anímico-subjetivo. Mas na medida em que tudo isso pertence a um mundo ideal acima da consciência individual, essa oposição encontra um fundamento e uma razão. Certamente, é decisivo para o sentido cultural do objeto, que é o que nos importa finalmente aqui, que nele estejam reunidos vontade e inteligência, individualidade e afetividade, forças e disposição de almas singulares (e também de sua coletividade). Só que na medida em que isto acontece essas significações anímicas atingem por sua vez um ponto extremo de sua determinação. Na felicidade que a obra propicia ao criador, seja ela grande ou pequena, está, além da descarga das tensões internas, a comprovação da força subjetiva, a satisfação por uma exigência realizada, provavelmente ainda um contentamento objetivo, por assim dizer, por essa obra estar ali, pelo fato de o mundo das coisas valiosas ficarem, em função desta peça, ainda mais rico. Sim, talvez não haja um prazer pessoal mais sublime com a própria obra do que quando a sentimos em sua impessoalidade, separada de toda nossa subjetividade. E assim como as objetivações do espírito são valiosas para além dos processos subjetivos da vida que foram absorvidos neles com sua causa, do mesmo modo elas o são também para além dos outros que dependem delas como sua conseqüência. É certo que consideramos as organizações da sociedade e a transformação técnica dos dados naturais, a obra de arte e o conhecimento científico da verdade, os costumes e a moral, em grande parte e mesmo preponderantemente, por sua irradiação na vida e no desenvolvimento nas almas Ŕ mas, no entanto, a essa consideração se liga muito frequentemente o reconhecimento de que essas configurações estão ali, de que o mundo inclui também essa criação do espírito; é SANTOS, Antonio Carlos (Tradutor). O conceito e a tragédia da cultura, de Georg Simmel. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 145-162, jan./jun. 2014. 150 Página uma diretriz de nossos processos axiológicos que nos faz parar na existência autônoma do espírito objetivo sem nos perguntar, para além do caráter definitivo desses objetos, sobre suas consequências psíquicas. Ao lado de todo prazer subjetivo com o qual, por exemplo, a obra de arte por assim dizer nos penetra, apreciamos como um valor específico o fato de que ela finalmente esteja ali, de que o espírito tenha criado para si esse recipiente. Assim como há pelo menos uma linha no interior do querer artístico desembocando na existência autônoma da obra de arte e uma valorização meramente objetiva se entrelaçando ao autoprazer da força criadora em ação, há também no interior da atitude do receptor uma linha que vai na mesma direção. E na verdade de modo nitidamente diferente dos valores que recobrem os dados puramente concretos, a objetividade natural. Pois justamente isto Ŕ o mar e as flores, os Alpes e o céu estrelado Ŕ possui o que se pode chamar de valor apenas em seu reflexo nas almas subjetivas. Pois na medida em que não levamos em conta um antropomorfismo místico e fantástico, a natureza é uma totalidade contínua e coerente cuja lei indiferente não concede a nenhuma parte um acento fundado em sua realidade concreta, nem mesmo uma existência objetivamente delimitada em relação a outras existências. Só nossas categorias humanas separam desse todo as partes singulares às quais relacionamos reações estéticas, sublimes, simbolicamente importantes: que a beleza natural seja “feliz em si mesma”, só se justifica como ficção poética; para a consciência empenhada na objetividade, não há nela nenhuma outra felicidade que não aquela provocada por nós mesmos. Enquanto o produto das forças puramente objetivas só pode ter um valor subjetivo, o produto das forças subjetivas, ao contrário, tem para nós um valor objetivo. As configurações materiais e imateriais nas quais se investe o querer e o poder, o saber e o sentir humanos constituem esse estar-aí objetivo que nós sentimos como algo significativo e enriquecedor da existência se abstraímos totalmente a visão, o uso e o prazer que podemos obter. Valor e significação, sentido e importância se produzem exclusivamente na alma humana e isso se confirma permanentemente diante da natureza, o que não impede o valor objetivo dessas configurações Ŕ criadoras e formadoras Ŕ nas quais forças anímicas e valores são justamente investidos. Um nascer do sol que ninguém vê não faz o mundo mais valioso ou sublime, pois sua realidade objetiva não tem nada a ver com essas categorias, mas tão logo um pintor põe em um quadro desse nascer do sol seu estado de alma, seu sentido de forma e de cor, sua capacidade expressiva, então consideramos essa obra (não importa aqui sob quais categorias metafísicas) um enriquecimento, um acréscimo de valor da existência em geral; o mundo nos parece, por assim dizer, mais digno de existir, seu sentido mais próximo, quando a fonte de todo valor, a alma humana, se espalha assim em uma realidade que pertence igualmente ao mundo objetivo Ŕ nesse sentido específico, sem levar em conta se outra alma, posteriormente, venha liberar esse valor introduzido de maneira mágica dissolvendo-o no fluxo de seu sentimento subjetivo. O nascer do sol natural e a pintura existem ambos como realidades, mas aquele só encontra seu valor em sua sobrevivência no psiquismo do sujeito, enquanto esta, que já incorporou a vida em si modelando-a em um objeto, faz parar nosso sentimento axiológico como diante de um definitivum que dispensa qualquer subjetivação. Estendamos esses momentos até suas polaridades partidárias, teremos então, por um lado, a estimativa exclusiva da vida subjetiva das emoções que não apenas produz SANTOS, Antonio Carlos (Tradutor). O conceito e a tragédia da cultura, de Georg Simmel. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 145-162, jan./jun. 2014. Página 151 todo sentido, valor, significado, mas que também é a morada de tudo isso. Por outro lado, no entanto, o acento radical do valor tornado objetivo não é menos compreensível. Claro que este valor não será vinculado à produção original de obras de arte, religiões, técnicas e conhecimentos; mas no que o ser humano faz, deve haver uma contribuição ao mundo do espírito ideal, histórico, materializado, para que possa ter valor. Isso não convém ao imediatismo de nosso ser e de nosso agir, mas a seu conteúdo objetivamente normatizado, objetivamente ordenado, de modo que, finalmente, apenas essas normatizações e ordenações contenham a substância do valor e as comuniquem ao fluxo do devir pessoal. Mesmo a autonomia da vontade moral em Kant não envolve nenhum valor em sua realidade psicológica, mas sim liga esse valor à realização de uma forma que compreende uma idealidade objetiva. A mentalidade e a personalidade têm seu significado, tanto para o bem, quanto para o mal, porque pertencem a um reino do suprapessoal. Na medida em que essas avaliações do espírito subjetivo e do espírito objetivo estejam em oposição, a cultura conduz sua unidade através de ambas: pois ela significa aquela maneira de realização individual que só pode se efetuar no acolhimento ou utilização de uma configuração suprapessoal que, em qualquer sentido, está fora do sujeito. O valor específico da cultura é inacessível ao sujeito se o caminho para obtê-lo não passa por realidades objetivamente espirituais; estas, por sua vez, só são valores culturais se se deixam atravessar por esse caminho da alma de si para si mesma, ou seja, por isso que podemos chamar de estado natural a seu estado de cultura. Podemos, então, exprimir a estrutura do conceito de cultura da seguinte maneira. Não há valor cultural que seja apenas valor cultural; cada um, pelo contrário, para obter esse significado, tem de ser também valor em uma série concreta. Mas mesmo quando há um valor nesse sentido e qualquer interesse ou capacidade de nosso ser experimenta uma exigência através dele, ele só significa um valor cultural se esse desenvolvimento parcial eleva a totalidade de nosso eu, ao mesmo tempo, a um patamar mais próximo de sua unidade de perfeição. Assim, são compreensíveis apenas dois fenômenos negativos correspondentes da História das Ideias (Geistesgeschichte). Por um lado, os seres humanos que têm o mais profundo interesse cultural demonstram com frequência uma notável indiferença, e mesmo rejeição, em relação ao singular conteúdo material da cultura Ŕ na medida em que não conseguem descobrir o benefício hiperespecializado para as exigências da personalidade como um todo; e se não há porventura nenhum produto humano que tenha de mostrar necessariamente tal benefício, certamente tampouco existe algum que não o possa mostrar. Por outro, no entanto, há fenômenos que parecem ser apenas valores culturais, certas formalidades e refinamentos da vida, características sobretudo de épocas muito maduras e cansadas. Pois onde a vida em si mesma se tornou vazia e sem sentido, todo desenvolvimento de sua vontade e de seu devir no sentido de sua elevação é apenas esquemático, não mais capaz de retirar do conteúdo material das coisas e ideias nutrição e incentivo Ŕ assim como o corpo doente não pode mais assimilar dos alimentos as substâncias das quais o corpo saudável adquire crescimento e forças. Nesse caso, o desenvolvimento individual só pode tirar das normas sociais o comportamento socialmente bom, das artes, apenas o prazer improdutivo, do progresso técnico, apenas o aspecto negativo de um transcurso da vida quotidiana sem penas e sem esforço, nascendo um tipo de cultura formal-subjetiva sem esse entrelaçamento íntimo com o elemento material através do qual se realiza o SANTOS, Antonio Carlos (Tradutor). O conceito e a tragédia da cultura, de Georg Simmel. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 145-162, jan./jun. 2014. Página 152 conceito de uma cultura concreta. Há também, de um lado, uma acentuação tão apaixonadamente centralizada na cultura que o conteúdo concreto de seus fatores objetivos se torna excessivo e desviante e como tal não é e não pode ser absorvido em sua função cultural; de outro lado, há uma tal fraqueza e vazio da cultura que ela não é capaz de integrar em si os fatores objetivos com seu conteúdo concreto. Ambos os fenômenos, que à primeira vista aparecem como instâncias contrárias à relação da cultura pessoal com os dados impessoais, confirmam, ao contrário, a consideração exata dessa ligação. Na cultura os fatores últimos e decisivos da vida se juntam e isso se manifesta exatamente no fato de que cada um deles pode se desenvolver de modo autônomo que não somente pode ultrapassar a motivação pelo ideal cultural, como a recusar categoricamente. Pois o olhar para uma ou outra direção se sente desviado da unidade de sua intenção, quando ele deve ser determinado por uma síntese entre ambos. Justamente os espíritos que criam os conteúdos permanentes, portanto o elemento objetivo da cultura Ŕ esses espíritos se recusariam a pedir emprestado diretamente à ideia de cultura motivos e valores de sua produção. Aqui temos, pelo contrário, a seguinte situação interior. No caso do fundador de uma religião ou no do artista, no do homem de Estado ou no do inventor, no do erudito ou do legislador, age um duplo motivo: a descarga das forças do ser, a exaltação de sua natureza a uma altura em que ela libera de si mesma o conteúdo de sua vida cultural Ŕ e a paixão por uma causa em cuja realização autônoma o sujeito se torna indiferente para si mesmo e se apaga; no gênio, essas duas correntes são uma única: o desenvolvimento do espírito subjetivo, para ele mesmo e para as forças que o impelem, é para o gênio uma unidade indissociável com o devotamento totalmente altruísta à tarefa objetiva. Como vimos, cultura é sempre síntese. Mas síntese não é a única, nem a mais imediata forma de unidade, dado que ela pressupõe sempre a análise dos elementos como precedente ou como correlato. Só uma época tão determinada pela análise como a moderna pôde encontrar na síntese o mais profundo, o um e o todo da relação formal entre o espírito e o mundo Ŕ posto que exista uma unidade original, anterior à diferenciação; na medida em que tira de si mesma os elementos de análise, assim como o germe orgânico se desdobra na multiplicidade de membros separados, essa unidade se situa para além da análise e da síntese Ŕ seja pelo fato de ambas evoluírem em interação a partir dessa unidade, uma pressupondo a outra a cada etapa, seja pelo fato de que a síntese leve a posteriori os elementos separados analiticamente a uma unidade que, no entanto, é algo totalmente diferente daquela anterior à separação. O gênio criador possui aquela unidade original do subjetivo e do objetivo que tem desde logo de se dissociar para renascer, em certa medida, no processo de cultivo dos indivíduos sob uma outra forma, sintética. É por isso que o interesse pela cultura não se acha no mesmo plano que o puro autodesenvolvimento do espírito subjetivo e a mera absorção na causa Ŕ pelo contrário, ele se prende ocasionalmente a eles como a um interesse secundário, reflexivo, de caráter geral e abstrato, para além do impulso axiológico interior e imediato da alma. A cultura se mantém fora do jogo na medida em que a alma toma seu caminho, por assim dizer, apenas através de seus próprios domínios e se realiza no mero autodesenvolvimento de seu próprio ser Ŕ não importando de que modo este é determinado objetivamente. SANTOS, Antonio Carlos (Tradutor). O conceito e a tragédia da cultura, de Georg Simmel. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 145-162, jan./jun. 2014. Página 153 Vejamos o outro fator da cultura: esses produtos do espírito maduros para uma existência ideal específica, independentes agora de toda agitação psíquica, em seu isolamento auto-suficiente, em seu sentido e valor mais próprios, não coincidem de modo algum com seu valor cultural, deixando mesmo totalmente em suspenso seu significado cultural. A obra de arte deve ser perfeita segundo as normas da arte que só perguntam por si mesmas e que dão ou recusam valor a ela mesmo se não houvesse no mundo nada mais do que essa obra; o resultado da pesquisa como tal deve ser verdadeiro e nada mais, a religião concentra, com a salvação que traz à alma, seu sentido nela mesma, o produto econômico deseja ser perfeito enquanto produto econômico e não reconhece nenhuma outra medida de valor do que a econômica. Todas essas séries se desenvolvem na clausura de uma legislação puramente interna e se elas se integram, e com que valor, a essa evolução das almas subjetivas nada tem a ver com seu significado que se mede por normas puramente objetivas e que valem apenas para si mesmas. A partir desse estado de coisas, compreende-se por que encontramos tanto em seres humanos orientados apenas para o sujeito, quanto naqueles orientados para o objeto, uma indiferença aparentemente surpreendente, e mesmo uma aversão em relação à cultura. Aquele que se pergunta apenas pela salvação da alma ou pelo ideal da força pessoal ou pelo desenvolvimento individual-interno, sem intervenção de nenhum momento externo a ela, opera valorizações que carecem justamente de um desses fatores integrantes da cultura, enquanto o outro falta a quem só se pergunta pela pura realização objetiva de nossas obras de modo que elas realizam sua própria idéia e não alguma outra a elas relacionada de algum modo. O extremo do primeiro tipo é o estilita, do outro, o especialista encerrado no fanatismo de sua disciplina. Há, à primeira vista, algo de surpreendente no fato de os portadores de tais “valores culturais” incontestáveis, como religiosidade, formação da personalidade, técnicas de todos os tipos, desprezarem ou mesmo combaterem o conceito de cultura. Isso se esclarece, no entanto, imediatamente através do conhecimento de que cultura significa sempre justamente a síntese de um desenvolvimento subjetivo e de uma obra objetiva do espírito e que a substituição de um desses elementos, na medida de sua exclusividade, tem de recusar o entrelaçamento de ambos. Uma tal dependência do valor cultural da cooperação de um segundo fator situado além da série axiológica concreta própria ao objeto explica por que justamente este objeto muitas vezes alcança na escala de valores culturais um traço totalmente diferente daquele de um significado meramente concreto. Muitas obras artísticas, técnicas e intelectuais que se mantêm abaixo do nível já alcançado têm, no entanto, a capacidade de se introduzir de modo muito efetivo na via de desenvolvimento de muitos seres humanos como impulsionadoras de suas forças latentes, como pontes para sua próxima e mais elevada estação. Do mesmo modo que entre as impressões da natureza, não apenas as que possuem a maior potência dinâmica ou a maior perfeição estética provocam em nós a mais profunda felicidade e o sentimento de que elementos obscuros e não resolvidos em nós subitamente se tornam claros e harmoniosos Ŕ pelo contrário, muitas vezes é graças a uma paisagem simples ou a um jogo de sombras de uma tarde de verão: assim também o significado de uma obra do espírito, seja ela a mais alta ou a mais baixa em sua própria série, não nos deixa presumir o que esta obra pode representar para nós no caminho da cultura. Pois aqui depende de que este significado SANTOS, Antonio Carlos (Tradutor). O conceito e a tragédia da cultura, de Georg Simmel. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 145-162, jan./jun. 2014. 154 Página especial tenha, por assim dizer, como benefício paralelo servir ao desenvolvimento central ou geral da personalidade. E há muitas razões profundas para o fato de que esse benefício possa ser inversamente proporcional ao valor próprio ou interno da obra. Há obras humanas da maior perfeição às quais não temos acesso ou que não nos dão acesso justamente por causa de seu acabamento sem falhas. Uma tal obra fica em um lugar, por assim dizer, de onde não a poderíamos transplantar para nossa rua, uma perfeição solitária para a qual, talvez, pudéssemos nos dirigir, mas que não podemos levar conosco para que ela nos eleve à nossa própria perfeição. Para o sentimento vital moderno, a Antigüidade tem, talvez, essa coesão auto-suficiente que se recusa a assimilar o ritmo e a agitação de nosso tempo de desenvolvimento; e isso pode levar muitos hoje a procurar um outro fator fundamental justamente para nossa cultura. A mesma coisa acontece com certos ideais éticos. Os assim designados produtos do espírito objetivo são, talvez, mais do que os outros, destinados a suportar o desenvolvimento de nossa totalidade, desde a mera possibilidade até a mais alta realidade, e a indicar-lhe a direção. Só que muitos imperativos éticos contêm um ideal de uma perfeição tão rígida que não se pode, a partir dele, atualizar, por assim dizer, nenhuma energia que poderíamos acolher em nosso desenvolvimento. E tão elevados na série das idéias éticas que ficam facilmente atrás de outros elementos culturais que, de sua posição inferior na série, assimilam mais rapidamente o ritmo de nosso desenvolvimento e nele se inserem fortalecendo-o. Um outro motivo da desproporcionalidade entre o valor objetivo e o valor cultural de uma criação reside na unilateralidade dos progressos que vivenciamos através dela. Muitos conteúdos do espírito objetivo nos fazem mais inteligentes ou melhores, mais felizes ou mais hábeis, mas com isso, na verdade, não nos desenvolvem e sim, por assim dizer, apenas um aspecto ou uma qualidade objetiva própria que se adere a nós; trata-se aqui, naturalmente, de diferenças flutuantes e infinitamente delicadas, totalmente impossíveis de serem percebidas de fora, ligadas à relação misteriosa entre nossa totalidade unificada e nossas energias e perfeições singulares. Só podemos designar com certeza a realidade plena e fechada que chamamos de nosso sujeito com a soma de tais singularidades sem que, no entanto, ela se deixe construir a partir destas; e a única categoria de que dispomos: a parte e o todo Ŕ não esgota, de modo algum, essa relação única. Considerada em si mesma, toda essa singularidade, porém, tem um caráter objetivo, em seu isolamento poderia ser encontrada em todo tipo de sujeitos diferentes e só toma o caráter de nossa subjetividade em função de sua face interna que deixa crescer aquela unidade de nosso ser. Com a outra face, no entanto, abre-se de certo modo uma ponte para os valores da objetividade, ela se situa em nossa periferia, lá onde nos juntamos ao mundo objetivo, tanto externo quanto espiritual. Tão logo, no entanto, esta função orientada para o exterior, nutrida a partir do exterior, dirigindo-se para dentro se desliga de seu significado para desembocar em nosso centro, aparece aquela discrepância; tornamo-nos instruídos, mais eficazes, mais ricos em prazer e em capacidades, talvez também “mais cultos” Ŕ mas nossa aculturação não anda nesse passo, pois, é verdade, passamos assim de um nível inferior de ter e poder para um mais elevado, mas não de um nível inferior de nós mesmos a um mais elevado. Essa possibilidade da discrepância entre significado objetivo e significado cultural de um mesmo objeto só foi aqui por mim levantada para esclarecer rigorosamente a SANTOS, Antonio Carlos (Tradutor). O conceito e a tragédia da cultura, de Georg Simmel. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 145-162, jan./jun. 2014. Página 155 dualidade fundamental dos elementos de cujo entrelaçamento a cultura se constitui. Este entrelaçamento é totalmente único na medida em que o desenvolvimento no sentido cultural do ser pessoal, um estado exclusivamente inerente ao sujeito, é de tal forma que não pode de modo algum ser alcançado a não ser através do acolhimento e da utilização de conteúdos objetivos. Por isso, o estado de cultivo é, por um lado, uma tarefa situada no infinito Ŕ pois o emprego de fatores objetivos para o aperfeiçoamento do ser pessoal nunca pode ser dado como encerrado; por outro lado, a nuance da linguagem corrente segue exatamente esse estado de coisas na medida em que usa o termo cultura ligado a um objeto particular: cultura religiosa, cultura artística, etc. em regra geral não apenas para designar o estado dos indivíduos, mas aquele do espírito público; no sentido em que, em uma certa época, há conteúdos espirituais particularmente numerosos e marcantes de um tipo determinado através dos quais se realiza o cultivo dos indivíduos. Estes podem, na realidade, ser mais ou menos cultos, mas não cultos em uma ou outra especialidade; uma cultura objetiva e específica do indivíduo pode apenas significar que o aperfeiçoamento cultural do indivíduo, para além da especialidade, se deve principalmente a esse conteúdo unilateral ou que, ao lado de sua cultura, tenha sido desenvolvido um poder ou saber considerável em um domínio concreto. A cultura artística de um indivíduo, por exemplo Ŕ se ela pode representar algo para além das perfeições artísticas que podem estar presentes também em pessoas “incultas” Ŕ só pode significar que, nesse caso, são exatamente essas perfeições concretas que permitiram o aperfeiçoamento da pessoa em sua totalidade. Pois bem, há no interior da estrutura dessa cultura uma fenda que certamente já está presente em seu fundamento e que faz da síntese sujeito-objeto, o significado metafísico de seu conceito, um paradoxo e mesmo uma tragédia. O dualismo de sujeito e objeto que pressupõe sua síntese não é um dualismo por assim dizer substancial que concerne ao ser de ambos. Ao contrário, a lógica interna, segundo a qual cada um deles se desenvolve não coincide absolutamente, de modo evidente, com a do outro. Uma vez criados os primeiros motivos do direito, da arte e da moral Ŕ talvez em conformidade com nossa espontaneidade mais própria e mais íntima Ŕ escapa de nossas mãos em que configurações singulares vão se desenvolver; produzindo ou acolhendo, limitamo-nos a seguir o fio condutor de uma necessidade ideal que é completamente objetiva, não menos despreocupada com as exigências de nossa individualidade, por mais centrais que sejam, do que as forças físicas e suas leis. É sem dúvida certo de maneira geral que a língua poetiza e pensa por nós, ou seja, que recebe os impulsos fragmentados e contínuos de nosso próprio ser e os conduz a uma perfeição que estes, mesmo exclusivamente para nós, não teriam alcançado. Só que esse paralelismo dos desenvolvimentos objetivos e subjetivos carece, apesar de tudo, de necessidade fundamental. Mesmo a língua, nós a sentimos às vezes como uma força natural estranha que não só deforma e mutila nossas expressões mas também nossas convicções mais íntimas. E a religião, que certamente surgiu da busca da alma por si mesma, como asas geradas pelas próprias forças da alma para levá-la à sua própria altura Ŕ mesmo ela, uma vez originada, tem determinadas leis de formação que desenvolvem suas necessidades mas nem sempre as nossas. O que se reprova frequentemente na religião como seu espírito anticultural não é apenas sua hostilidade ocasional em relação a valores intelectuais, estéticos ou morais e sim algo mais profundo: que ela siga seu próprio SANTOS, Antonio Carlos (Tradutor). O conceito e a tragédia da cultura, de Georg Simmel. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 145-162, jan./jun. 2014. caminho, marcado por sua lógica imanente, a que a vida certamente a conduz; mas sejam quais forem os bens transcendentes que a alma encontre nesse caminho, ele não a conduz muitas vezes à realização dessa totalidade para a qual apontam suas próprias possibilidades e que absorvendo nela mesma o significado de suas configurações objetivas se chama justamente cultura. Página 156 Na medida em que a lógica das configurações e das correlações impessoais está carregada de força surgem entre estas e os impulsos e normas internos à personalidade fortes atritos que, sob a forma de cultura como tal,experimentam uma condensação sem igual. Desde que o ser humano diz eu para si mesmo, tornando-se objeto, acima e diante de si mesmo, desde que por esta forma de nossa alma seus conteúdos pertencem a um único centro Ŕ desde então nasce desta forma o ideal de que este que está ligado ao centro também é uma unidade, fechada em si mesma e consequentemente um todo autosuficiente. Só que os conteúdos com os quais o eu deve organizar um mundo próprio e homogêneo não pertencem só a ele; eles lhe são dados desde um exterior espacial, temporal e ideal, eles são ao mesmo tempo os conteúdos de outros mundos quaisquer, sociais e metafísicos, conceituais e éticos, e nestes possuem formas e conexões entre si que não coincidem com as do eu. Nesses conteúdos, que conformam o eu de maneira especial, os mundos exteriores se apoderam do eu para integrá-lo; ao formar os conteúdos segundo suas exigências, não deixam que aqueles se centrem em torno do eu. Encontramos em relação a isso a mais ampla e profunda revelação no conflito religioso entre a auto-suficiência e a liberdade do ser humano e sua integração às ordens divinas; mas, assim como o conflito social entre o ser humano como individualidade acabada e como mero membro do organismo social, ela é apenas um caso desse dualismo meramente formal em que inevitavelmente nos enreda o pertencimento de nossos conteúdos vitais a outros círculos que não os do nosso eu. O ser humano não apenas se encontra inúmeras vezes no ponto de interseção de duas esferas de poderes e valores objetivos que pretendem, cada uma, arrastá-lo para si; ao contrário, sente-se ele próprio o centro que organiza harmonicamente seus conteúdos vitais em torno de si mesmo segundo a lógica da personalidade Ŕ e se sente ao mesmo tempo solidário com cada um desses conteúdos periféricos que pertencem a uma outra esfera e que aqui é responsável por uma outra lei do movimento; de tal forma que nosso ser se constitui, por assim dizer, no ponto de interseção de si mesmo com uma esfera de exigência estrangeira. A realidade da cultura pressiona então fortemente os dois partidos dessa colisão uns contra os outros de modo a ligar precisamente o desenvolvimento de um (ou seja, só assim pode se converter em cultura) à inclusão do outro em si mesmo, ou seja, pressupõe um paralelismo ou uma acomodação recíproca de ambos. O dualismo metafísico de sujeito e objeto que a estrutura da cultura havia fundamentalmente superado sobrevive como discordância de conteúdos empíricos singulares de desenvolvimentos subjetivos e objetivos. Talvez a fissura seja ainda maior quando dos dois lados não há conteúdos opostos e quando o objetivo, por suas determinações formais, de autonomia e de massa, escapa a uma significação para o sujeito. Pois a fórmula da cultura reside precisamente no fato de energias subjetivas e anímicas tomarem uma forma objetiva, a partir daí independente do processo vital subjetivo, que, por sua vez, fosse incorporada a processos vitais SANTOS, Antonio Carlos (Tradutor). O conceito e a tragédia da cultura, de Georg Simmel. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 145-162, jan./jun. 2014. 157 Página subjetivos de modo a levar seu portador à perfeição acabada de seu ser central. Esta torrente de sujeito a sujeito passando por objeto, com a qual uma relação metafísica entre sujeito e objeto adquire realidade histórica, pode perder sua continuidade; o objeto pode abandonar, de modo mais fundamental do que se supunha até agora, seu significado de mediador e dessa maneira derrubar as pontes sobre as quais passava seu caminho de cultivo. Um tal isolamento e alienação do objeto acontece principalmente com os sujeitos criadores por causa da divisão do trabalho. Os objetos que resultam da cooperação de muitas pessoas formam uma escala em função de sua unidade se reportar à intenção unitária, calculada, de um indivíduo ou ter se formado de si mesma, sem essa origem consciente, a partir das contribuições parciais dos cooperantes. Neste último pólo se situa, por exemplo, uma cidade que não tenha sido construída segundo um plano pré-estabelecido e sim segundo as necessidades e tendências contingentes dos singulares e que, no entanto, é uma configuração plena de sentido como um todo, aparentemente acabada, organicamente ligada a si mesma. O outro pólo pode ser exemplificado, talvez, pelo produto de uma fábrica em que vinte operários cooperem sem conhecimento das outras participações e de sua reunião, e sem interesse por elas Ŕ enquanto o todo certamente é dirigido por uma vontade e por um intelecto centrais; ou a atuação de uma orquestra na qual o oboísta ou o percussionista não tivessem nenhuma idéia da parte do violino ou do cello e, apesar disso, sob a batuta do maestro fossem levados a uma perfeita unidade de ação com eles. Entre esses dois se situaria o jornal cuja unidade externa de aspecto e significado provém sem dúvida de uma personalidade dirigente mas que se faz, em grande medida, de contribuições as mais diversas provenientes de personalidades totalmente estranhas umas às outras. Em termos absolutos, estes fenômenos correspondem ao seguinte modelo: através da atividade de diferentes pessoas surge um objeto cultural que como um todo, como uma unidade existente e atuante, não tem um produtor, não provém de uma unidade correspondente de um sujeito anímico. Os elementos se associaram segundo uma lógica e uma intenção formadora inerentes a eles, como realidades objetivas não dotadas por seus criadores. A objetividade do conteúdo intelectual que o faz independente de todo acolhimento ou não acolhimento recai aqui do lado de sua produção: não importa se os singulares o quiseram ou não, o produto acabado, em sua realização puramente corporal, com seu significado agora eficiente não alimentado por nenhum outro espírito, possui esta objetividade e pode transmiti-la adiante no processo cultural Ŕ a diferença com uma pequena criança que brinca com as letras e alcança, por acaso, um sentido é apenas de grau; este sentido em sua objetividade e concretude espiritual está nelas, mesmo que produzido pela mais total inconsciência. Visto mais de perto, porém, é apenas um caso extremo de um destino espiritual e humano geral, transcendendo também nesses casos a divisão do trabalho. A maioria dos produtos de nossa atividade intelectual contém em seu significado uma certa quota que não foi criada por nós. Com isto não estou me referindo a falta de originalidade, valores herdados, dependência de modelos; pois com tudo isso a obra, em seu conteúdo, poderia ter nascido de nossa consciência, mesmo que esta consciência só nos devolvesse dessa maneira o que recebeu tale quale. Mais ainda, na grande maioria de nossos produtos objetivos está contida uma parte de significado que pode ter saído de outros sujeitos, não introduzidos aí por nós. Naturalmente, isso não vale em lugar nenhum em sentido absoluto, mas relativo: nenhum tecelão sabe o SANTOS, Antonio Carlos (Tradutor). O conceito e a tragédia da cultura, de Georg Simmel. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 145-162, jan./jun. 2014. Página 158 que tece. O produto acabado contém acentos, relações, valores, de acordo com sua pura existência material, indiferente ao fato de o criador saber antes que este seria o resultado de sua criação. É um fato tão misterioso quanto indiscutível que a uma configuração material possa estar ligada um sentido intelectual, objetivo e reprodutível a qualquer consciência, que nenhuma consciência pôs ali mas que adere a mais pura, a mais própria realidade dessa forma. No que diz respeito à natureza, o caso análogo não apresenta nenhum problema: nenhuma vontade artística deu às montanhas do sul a pureza estilística de seus contornos ou ao mar revolto seu simbolismo perturbador. Mas em todas as obras do espírito há em primeiro lugar o puramente natural, na medida em que é dotado de tais possibilidades significativas, mas em seguida também o conteúdo intelectual de seus elementos e seu contexto. A possibilidade de retirar o conteúdo intelectual subjetivo é investido nele como uma formação objetiva difícil de ser descrita que deixou para trás totalmente sua origem. Um exemplo extremo: um poeta criou um enigma a partir de uma solução determinada; se alguma outra solução tão ajustada, tão plena de sentido, tão surpreendente quanto aquela primeira fosse encontrada, então ela seria igualmente “correta” e, apesar de estar distante do processo de formação do enigma, estaria nessa criação tão presente como objetividade ideal quanto aquela primeira palavra a partir da qual o enigma foi criado. Tão logo nossa obra esteja pronta, tem ela não apenas uma existência objetiva e uma vida própria que se desprendeu de nós, mas contém ainda neste ser ela mesma Ŕ como por graça do espírito objetivo Ŕ forças e fraquezas, partes constitutivas e significativas das quais somos inocentes e que muitas vezes nos surpreendem. Essas possibilidades e medidas da autonomia do espírito objetivo devem apenas deixar claro que mesmo lá onde foi criado pela consciência de um espírito subjetivo, após uma objetivação bem acabada, possui um valor independente dele e a chance de re-subjetivação; essa chance não precisa necessariamente se realizar Ŕ visto que, no exemplo acima, a segunda solução do enigma existe em sua espiritualidade objetiva ainda antes de ser encontrada e mesmo que isto nunca aconteça. Essa qualidade peculiar dos conteúdos culturais Ŕ que vale até aqui para os conteúdos singulares e, por assim dizer, isolados Ŕ é o fundamento metafísico da autonomia fatídica com a qual o reino dos produtos culturais não cessa de crescer e cresce, como pressão de uma necessidade lógica interna, um membro após o outro, muitas vezes quase sem relação com a vontade e a personalidade dos produtores e como que intocado pela questão de por quantos sujeitos e em que medida de profundidade e acabamento será acolhido e levado a seu significado cultural. O “caráter de fetiche” que Marx atribui aos objetos econômicos na época da produção de mercadorias é apenas um caso particularmente modificado desse destino geral dos conteúdos culturais. Esses conteúdos vivem Ŕ e cada vez mais com o crescimento da “cultura” Ŕ sob o paradoxo de que são feitos e destinados aos sujeitos, mas em sua forma intermediária de objetividade, que assumem para além e para aquém dessas instâncias, seguem uma lógica de desenvolvimento imanente e se alienam dessa maneira de sua origem assim como de sua finalidade. Não são efetivamente necessidades físicas que estão em jogo aqui, mas apenas necessidades culturais que certamente não podem ultrapassar os condicionamentos físicos. Mas o que gera os produtos do espírito aparentemente uns dos outros é a lógica cultural do objeto e não a das ciências da natureza. Aqui reside o fatídico imperativo da “técnica”, tão logo sua SANTOS, Antonio Carlos (Tradutor). O conceito e a tragédia da cultura, de Georg Simmel. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 145-162, jan./jun. 2014. 159 Página formação a tenha retirado do campo do consumo imediato. Assim, por exemplo, a fabricação industrial de muitos produtos manufaturados que requerem produtos secundários para os quais não há nenhuma necessidade; só a pressão para utilizar plenamente as instalações criadas obriga a isso; a série técnica exige de si mesma ser completada por membros que a série psíquica, a bem dizer definitiva, não requer Ŕ e assim nascem ofertas de mercadorias que suscitam, por sua vez, necessidades artificiais e, do ponto de vista da cultura dos sujeitos, sem sentido. Em muitos campos científicos não é diferente. A técnica filológica, por exemplo, atingiu, por um lado, um refinamento insuperável e uma perfeição metodológica, por outro, os objetos que a cultura espiritual teria interesse em analisar não crescem tão rápido e desta forma o esforço da filologia se converte com frequência em micrologia, em pedantismo e trabalho sobre o inessencial Ŕ por assim dizer, um caminho vazio do método, uma continuação da norma objetiva cujo caminho independente já não coincide com o da cultura como aperfeiçoamento da vida. Em muitos campos científicos nasce dessa forma aquilo que se pode chamar de saber supérfluo Ŕ uma soma de conhecimentos metodologicamente impecáveis, inatacáveis do ponto de vista do conceito abstrato do saber, que, no entanto, estão alienados da finalidade própria de toda pesquisa; quero dizer com isso não a finalidade externa e sim a ideal e cultural. Fomentada igualmente pelo favor econômico, a oferta enorme de forças que desejam a produção intelectual e frequentemente a ela estão devotadas levou a uma autovaloração de qualquer trabalho científico cujo valor muitas vezes não é mais do que uma convenção, quase uma conspiração da casta instruída para uma proliferação endogâmica do espírito científico cujos resultados são estéreis, tanto no sentido interno quanto no de seus efeitos. Aqui reside o fetichismo que desde há muito está associado ao “método” Ŕ como se o resultado de um fazer fosse valioso apenas pela correção do método; este é um meio muito perspicaz de legitimação e valoração de inúmeros trabalhadores que estão separados do sentido e do contexto do desenvolvimento do conhecimento, no sentido mais amplo possível. Claro que se pode argumentar que, por vezes, mesmo pesquisas aparentemente supérfluas impulsionam o desenvolvimento de maneira surpreendente. São acasos que acontecem também em outros campos e que não podem nos impedir de aceitar ou recusar a um fazer seu direito e seu valor segundo uma racionalidade hoje constituída embora não onisciente. Ninguém tomará como sensato perfurar a terra em qualquer lugar do mundo à procura de carvão ou petróleo, mesmo que não se possa desmentir a possibilidade de que se ache alguma coisa. Há um certo limite de probabilidade para a utilidade de trabalhos científicos que podem se mostrar infrutíferos em um entre mil casos, mas isso não justifica o gasto com os 999 esforços que não deram em nada. Do ponto de vista da história da cultura, isto é apenas um fenômeno particular do crescimento dos conteúdos culturais em um solo no qual são estimulados e acolhidos por outras forças e outras finalidades que não as culturais e no qual com frequência inevitavelmente produzem flores estéreis. É o mesmo motivo formal do desenvolvimento da arte quando, nele, a possibilidade técnica se emancipa da finalidade cultural da arte. Obediente apenas à lógica objetiva, a técnica se desdobra de refinamento em refinamento que são seus próprios aperfeiçoamentos e não mais aqueles do sentido cultural da arte. A especialização excessiva de que se reclama hoje em todos os domínios do trabalho e que impõe com inflexibilidade demoníaca sua lei ao desenvolvimento é apenas uma forma específica do destino geral dos elementos SANTOS, Antonio Carlos (Tradutor). O conceito e a tragédia da cultura, de Georg Simmel. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 145-162, jan./jun. 2014. Página 160 culturais: que o objeto tem sua própria lógica de desenvolvimento Ŕ que não é conceitual, nem natural e sim a de seu desenvolvimento como obra humana cultural Ŕ que o leva como consequência a se desviar da direção em que poderia se integrar ao desenvolvimento pessoal da alma humana. Por isso, essa discrepância não é igual àquela muitas vezes mencionada: com a transformação dos meios em fins, como nos mostram continuadamente as culturas avançadas. Pois isto é algo puramente psicológico, uma acentuação devida a acasos e necessidades anímicas, sem uma ligação sólida com o contexto objetivo das coisas. Aqui se trata exatamente disso, da lógica imanente das formações culturais das coisas; o ser humano se torna então o simples portador dessa pressão com a qual essa lógica domina os desenvolvimentos e os conduz como pela tangente da órbita pela qual teriam que ser reconduzidas à evolução cultural do homem vivo. Esta é a verdadeira tragédia da cultura. Pois como destino trágico Ŕ ao contrário de um destino triste ou destruidor vindo de fora Ŕ nós denominamos o seguinte: que as forças de destruição dirigidas contra um ser tenham origem nas camadas profundas desse mesmo ser; que com sua destruição um destino que provém dele mesmo se realize e seja, por assim dizer, o desenvolvimento lógico da estrutura com a qual o ser construiu sua positividade. Pertence ao conceito de toda cultura o fato de o espírito criar algo objetivo independente por onde passa o desenvolvimento do sujeito de si para si mesmo; mas por isso mesmo este elemento integrador que condiciona a cultura é predeterminado por um desenvolvimento específico, que sempre consome as forças do sujeito, que sempre os atrai para sua órbita sem os conduzir assim ao máximo de si mesmos: o desenvolvimento do sujeito já não pode tomar o mesmo caminho que o desenvolvimento do objeto; se o faz ainda assim, entra em uma rua sem saída ou no esvaziamento da vida mais íntima e mais própria. De maneira ainda mais positiva, porém, o desenvolvimento da cultura situa o sujeito fora de si mesmo em função da já mencionada falta de formas e de limites que alcança o espírito objetivo através do número ilimitado de seus produtores. Qualquer um pode contribuir à reserva dos conteúdos culturais sem levar em conta os outros contribuintes; essa reserva tem em cada época cultural uma coloração determinada, ou seja, um limite de qualidade interno, mas não igualmente um limite quantitativo, nada os impede de multiplicar-se infinitamente, livro após livro, descoberta após descoberta: a forma da objetividade como tal possui uma capacidade de realização ilimitada. Mas com essa capacidade, por assim dizer, inorgânica de acumulação se torna profundamente incomensurável com a forma de vida pessoal. Pois a capacidade de recepção da vida pessoal não é apenas limitada pela força e duração da vida, mas também por uma certa unidade e acabamento relativo de sua forma e por isso há uma escolha em um espaço determinado entre os conteúdos que se oferecem a ela como meio de seu desenvolvimento pessoal. Esta incomensurabilidade pode aparentemente não se tornar prática para o indivíduo que pode deixar de lado aquilo que seu próprio desenvolvimento não assimila. Mas não é tão fácil. Esta reserva do espírito objetivo, que cresce infinitamente, coloca exigências ao sujeito, desperta veleidades nele, agita nele um sentimento de incapacidade e impotência, amarra-o a um conjunto de relações de cuja totalidade não pode se abster, apesar de não dominar seus conteúdos singulares. Assim surge a típica situação problemática do homem moderno: o sentimento de estar rodeado de uma infinidade de elementos culturais que não são nem indiferentes, nem, SANTOS, Antonio Carlos (Tradutor). O conceito e a tragédia da cultura, de Georg Simmel. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 145-162, jan./jun. 2014. Página 161 no fundo, significativos para ele; elementos que como massa tem algo de sufocante, porque não os pode assimilar um por um, internamente, nem tampouco os recusar, pois pertencem potencialmente à esfera de seu desenvolvimento cultural. Poderíamos definilo com a inversão exata da frase que caracterizava os primeiros franciscanos em sua pobreza bem-aventurada, em sua libertação absoluta de todas as coisas que de alguma forma ainda conduzem o caminho da alma através de si e que o querem fazer por via indireta: Nihil habentes, omnia possidentes Ŕ ao invés disso, os homens de culturas mais ricas e sobrecarregadas são omnia habentes, nihil possidentes. importa é seu enraizamento profundo no centro do conceito de cultura. A grande riqueza que esse conceito realiza consiste no seguinte: no fato de configurações objetivas serem integradas como caminho ou meio ao processo de realização do sujeito, sem nada perder de sua objetividade. Se, do ponto de vista do sujeito, será alcançado o mais alto nível de realização é o que resta saber; para o propósito metafísico, no entanto, que procura tornar unificado o princípio do sujeito e o do objeto como tais, há aqui uma das maiores garantias contra a possibilidade de se reconhecer a si mesmo como ilusão. A questão metafísica encontra assim sua resposta histórica. O espírito atingiu nas formações culturais uma objetividade que o faz independente de todo acaso da reprodução subjetiva prestando, ao mesmo tempo, serviço à finalidade central da realização subjetiva. Enquanto as respostas metafísicas a essa pergunta tratam de suprimi-la ao declarar nula a oposição sujeito-objeto, a cultura mantém fortemente a oposição entre os dois partidos afirmando a lógica supra-subjetiva dos objetos intelectualmente formados com a qual o sujeito se eleva para além de si mesmo em direção a si mesmo. A capacidade fundamental do espírito: poder se separar de si mesmo, se colocar em face de si mesmo como um terceiro, criando, conhecendo, valorando, e só assim nessa forma alcançar a consciência de si mesmo Ŕ atingiu com o fato da cultura seu raio mais amplo, tensionou o objeto energicamente contra o sujeito para conduzi-lo novamente a este. Mas é precisamente nessa lógica própria do objeto, com a qual o sujeito se resgata como algo mais perfeito em si mesmo e para si mesmo, que se rompe essa integração dos partidos. O que essas páginas já levantaram antes: que o criador não costuma pensar no valor cultural e sim no significado objetivo da obra, circunscrito por sua própria idéia Ŕ isto nos leva, através de transições imperceptíveis de uma lógica de desenvolvimento puramente objetiva, a uma caricatura: a uma especialização separada da vida, na autosatisfação de uma técnica que já não mais encontra o caminho para os sujeitos. Essa objetividade facilita a divisão de trabalho que reúne em um produto singular as energias de todo um complexo de personalidades sem se preocupar se um sujeito pode desenvolver o que aí foi investido de espírito e vida segundo suas próprias exigências ou se apenas uma necessidade externa e periférica será satisfeita. Aqui reside a razão profunda do ideal de Ruskin de substituir todo trabalho em fábrica por trabalho artístico. A divisão de trabalho separa o produto enquanto tal de cada contribuinte singular, ele está ali em uma objetividade autônoma que o torna capaz ou de se integrar a uma ordem das coisas ou de servir a uma finalidade singular determinada; mas com isso perde esse atravessamento íntimo da alma que só um ser humano inteiro pode dar a uma obra como um todo e que sustenta a inserção na centralidade psíquica de outros sujeitos. Por isso, a obra de arte é de um valor cultural incomensurável, porque ela é inacessível a qualquer divisão de trabalho, ou seja, porque nesse caso (pelo menos no sentido agora essencial, SANTOS, Antonio Carlos (Tradutor). O conceito e a tragédia da cultura, de Georg Simmel. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 145-162, jan./jun. 2014. Recebido em: 15/06/2014. Aprovado em 15/06/2014. Página 162 deixando de lado interpretações meta-estéticas) a obra criada preserva em seu mais íntimo o criador. O que poderia passar por ódio cultural em Ruskin é, na verdade, paixão pela cultura: trata-se de anular a divisão de trabalho que torna o conteúdo cultural dessubjetivizado, que dá a ele uma objetividade sem alma que o arranca do verdadeiro processo cultural. E então se manifesta o desenvolvimento trágico que liga a cultura à objetividade de conteúdos que, por sua objetividade, estão comprometidos com uma lógica própria, subtraindo-os da assimilação cultural por outros sujeitos Ŕ isso se manifesta finalmente na multiplicação arbitrária dos conteúdos do espírito objetivo. Como a cultura não possui uma unidade formal concreta para seus conteúdos, cada criador colocando seu produto perto do produto do outro como em um espaço ilimitado, dá-se uma massa enorme de coisas, cada uma com a exigência até certo ponto justificada de ser considerada um valor cultural, fazendo nascer em nós um desejo de explorá-las como tal. O caráter informe do espírito objetivado como totalidade permite a ele um tempo de desenvolvimento capaz de deixar rapidamente para trás o tempo do espírito subjetivo. Mas o espírito subjetivo não sabe proteger completamente a coesão de sua forma dos contatos, das tentações e dos desvios causados por todas essas “coisas”; a supremacia dos objetos diante dos sujeitos, que se realiza em geral no percurso do mundo, elevada na cultura a um equilíbrio feliz, torna-se novamente sensível em seu interior através da infinitude do espírito objetivo. O que lamentamos como carga e sobrecarga de nossa vida cheia de coisas supérfluas das quais não podemos nos libertar, como a contínua “agitação” do ser humano cultivado que não leva a uma criação própria, como puro conhecimento ou gozo de milhares de coisas que nosso desenvolvimento não pode integrar a si e que estão nele como peso morto Ŕ todos esses sofrimentos especificamente culturais, muitas vezes formulados, não são nada além de fenômenos dessa emancipação do espírito objetivado. Que essa exista significa que os conteúdos culturais seguem uma lógica alheia à finalidade cultural, lógica que os distancia cada vez mais dessa finalidade sem que o caminho do sujeito seja aliviado desse fardo inadequado, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Ainda mais, como este caminho está condicionado como caminho cultural pela autonomização e pelo devir objeto dos conteúdos anímicos, surge então a seguinte situação trágica: a cultura, desde seus primeiros momentos de existência, abriga em si esta forma mesma de seus conteúdos cujo objetivo, como por uma inelutável necessidade imanente, é distrair, onerar, torná-los incertos e discordantes de sua essência profunda: o caminho da alma de si mesma como incompleta a si mesma como realizada. O grande empreendimento do espírito, ultrapassar o objeto como tal, criando a si mesmo como objeto, para retornar a si mesmo enriquecido por essa criação, é inúmeras vezes bem-sucedido; mas é preciso pagar essa auto-realização com o risco trágico de ver na autonomia do mundo criado por ele, e que a condiciona, uma lógica e uma dinâmica que desviam os conteúdos da cultura da finalidade da cultura com uma velocidade cada vez mais acelerada e com uma distância sempre maior. SANTOS, Antonio Carlos (Tradutor). O conceito e a tragédia da cultura, de Georg Simmel. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 145-162, jan./jun. 2014. VIDA EM POTÊNCIA: NIETZSCHE E AGAMBEN SOB A ÓTICA DE ASSMANN E BAZZANELLA Alexandra Filomena Espindola1 ______________________________________________________________________ Resenha de: BAZZANELLA, Sandro Luiz; ASSMANN, Selvino José. A vida como potência a partir de Nietzsche e Agamben. São Paulo: LiberArs, 2013. ______________________________________________________________________ Selvino José Assmann é doutor em filosofia, professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e tradutor de Giorgio Agamben. Também filósofo, Sandro Luiz Bazzanella é doutor em Ciências Humanas e professor da Universidade do Contestado (UnC). Juntos escrevem o livro A vida como potência a partir de Nietzsche e Agamben, publicado em 2013. Eles se dedicam a explorar a urgência de se discutir sobre a vida. Para isso, buscam como Agamben lida com o tema vida, contando inicialmente com o conceito nietzschiano de potência. Essa “conversa” entre Agamben e Nietzsche, mediada criticamente por Assmann e Bazzanella nos deixa ver, já no prefácio, escrito por Márcia Tiburi, que a palavra vida é geralmente utilizada sem gravidade e sem critério, como se falasse por si e significasse um universo indiscriminado de seres sem relação com a história. O que Assmann e Bazzanella vão nos mostrar é o contrário desse pensamento generalizante ao proporem olharmos para a história e entendermos qual vida está em pauta em momentos e pensadores específicos. Página 163 O livro A vida como potência a partir de Nietzsche e Agamben está dividido em três grandes capítulos, em que os autores abordam já de início a vida como ponto de inflexão entre esses dois pensadores; depois colocam em pauta os questionamentos de Nietzsche a Agamben sobre a história e o tempo; e por último discutem as formas de vida na contemporaneidade na concepção da grande política e da política que vem. Na introdução, os autores deixam claro que encontrar explicação, sentido e finalidade para a vida sempre foi uma necessidade humana, ou seja, a questão do ser e do devir toma centro das preocupações, principalmente, científicas e filosóficas. Enquanto Nietzsche aposta numa noção filosófica (artístico-trágica) para a vida humana, Agamben retoma a ideia antropológica de Aristóteles de homem animal político porque animal de linguagem. Contudo, o ponto de contato de Nietzsche e Agamben se mostra na visão da constituição de mundo, pois ambos acreditam nas relações de poder, na vida capturada pela política. Apesar de todas as tentativas de se definir a vida, Assmann e Bazzanella (2013, p. 20) esclarecem: 1 Doutora em Ciências da Linguagem pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). ESPINDOLA, Alexandra Filomena. Vida em potência: Nietzsche e Agamben sob a ótica de Assmann e Bazzanella. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 163-168, jan./jun. 2014. qualquer definição conceitual de vida implica na imposição de uma visão reducionista diante da multiplicidade de dimensões e possibilidades contidas nesse fenômeno passageiro, que se manifesta espacialmente e temporalmente em devir, „entre dois‟, o ser e o não-ser, a vida e a morte. A VIDA COMO PONTO DE INFLEXÃO ENTRE Página 164 O PENSAMENTO DE NIETZSCHE E AGAMBEN A primeira interrogação que Assmann e Bazzanella se deparam é como aproximar Nietzsche a Agamben uma vez que estes são pensadores de significativas diferenças conceituais e temporais. Uma maneira de aproximá-los é via reflexões que ambos fazem da condição humana de ser e estar no mundo, que resulta da apropriação da linguagem e da capacidade de significar, de simbolizar, de conceituar, pois “é a partir da condição de animais falantes que se pode pensar o próprio pensamento, o pensamento pensando o pensamento” (Ibidem, p. 35). Contudo, é preciso saber das limitações que a linguagem tem na pretensão de apreender o mundo, de compreender a realidade. Como a vida é o que os homens linguisticamente dizem o que é vida, a linguagem acaba por definir modos de existência ao conceituar a vida, pois estabelece e determina as relações humanas. Assmann e Bazzanella afirmam que “aquilo que se define como vida apresenta-se como forma de vida, como adequamento existencial ao contexto civilizatório em curso” (Ibidem, p. 47). Os autores nos lembram de que, para Freud, a civilização é uma camisa de força que reveste a vida, dando-lhe finalidade e sentido. Essas formas de vida constituídas no processo civilizatório pressupõem sofrimento, porque os modos de civilização estão acompanhados de adestramento dos impulsos vitais humanos, como por exemplo, a necessidade imanente de reinventar a própria existência. Em Nietzsche, temos uma forte crítica ao platonismo instaurado no pensamento ocidental, em que se lê a impossibilidade de conhecermos o mundo pelas sensações e percepções, uma vez que os sentidos são enganadores, mas a filosofia a marteladas de Nietzsche quebra com esse pensamento que defende a razão como a única e verdadeira maneira de entender e construir a realidade. Na modernidade, com a morte de Deus, nascem outros modos de transcendência (Estado, ciência, história, técnica etc.) que pretendem dar sentido à vida, oferecendo guias para os homens agora desamparados pela divindade e desejosos por dar sentido à própria existência. Agamben vê a possibilidade de sairmos do esquema metafísico pela consciência da necessidade de resgatar a experiência da linguagem, que significa ter “experiência com a Voz que funda o ser humano, que procura dizer o ser sem nada dizer, que diz algo sobre o mundo e a vida mantendo-os em sua condição sem conceito, inapreensíveis” (Ibidem, p. 53-54). Dessa maneira, a experiência da linguagem paralisaria o tempo e o progresso, e a nossa posição crítica, criativa e ética desestabilizaria o poder biopolítico disciplinante e normatizador, que massifica as vidas de acordo com a lógica da produção e consumo. Com a ideia de vida imanente, contingente e infinita Nietzsche também questiona o tempo e põe em jogo as forças que emanam da vontade de poder (da criação e recriação na imanência do devir), mas deixa evidente que as estratégias civilizatórias ESPINDOLA, Alexandra Filomena. Vida em potência: Nietzsche e Agamben sob a ótica de Assmann e Bazzanella. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 163-168, jan./jun. 2014. ocidentais tendem a domesticar o homem, a submetê-lo a formas-de-vida e, assim, apequenar sua existência. Nesse ponto, Agamben se apropria do debate nietzschiano sobre as formas-de-vida e percebe que a política na modernidade, ao não mais separar os conceitos aristotélicos de bios e zoé, invade a polis excluindo a vida humana da natureza e das necessidades desta. Por esse viés, Assmann e Bazzanella afirmam que o projeto civilizatório, de acordo com Nietzsche, faz do homem um animal de rebanho para torná-lo obediente aos padrões morais e sociais, reprimindo assim a potência de vida. Nesse sentido, Agamben entende que a política se apodera da vida, dando-se o direito de classificar, desqualificar e sacrificar a vida humana, transformando a vida em vida nua. Aqui a vida é protegida pela lei e, ao mesmo tempo, à margem da lei, que é a lógica dos Estados-nação, em que a condição de produção e consumo precisa dar manutenção ao mercado. Além desses vários pontos de contato, Assmann e Bazzanella (Ibidem, p. 87-88) apontam: “tanto em Nietzsche, quanto em Agamben constatamos esse movimento de tomar a vida como lócus de resistência a esses poderes de apequenamento da vida humana, como por outro lado o lócus da instauração de outras possibilidades e formas vitais”. A resistência necessária aos poderes é pontuada por Agamben, que indica a biopolítica como estrutura da política ocidental, cujo poder rebaixa a vida à vida nua, àquela que pode ser descartada na medida que não mais atende aos interesses administrativos e econômicos do Estado. Há entre a noção de vida de Nietzsche e Agamben uma sutil e importante diferença: enquanto, para Nietzsche, a vida é vontade de poder (potência); para Agamben, a vida é pura potência, potência do pensamento. Nesse ponto, eles se tocam novamente, pois nessa potência ou vontade de potência está o poder de criação, a potência estética de criar e de não-criar, de recriar e de não-recriar. Nietzsche concebe a vida como fenômeno estético, e Agamben como obra de arte, atividade de livre fruição. Assmann e Bazzanella (Idem) afirmam que a vontade de poder não quer dizer, para Nietzsche, domínio sobre os mais fracos, mas “a possibilidade do ser humano de realizar uma intensa experiência estética com a própria vida”. Já a vida como potência do pensamento é um constante vir-a-ser, é potencialidade e criatividade de si mesma. Além disso, a potência do pensamento poderia ser uma saída para a condição do homem na contemporaneidade, este que se tornou niilista ressentido, visto que vê desmoronar os sonhos civilizatórios que prometiam, através da força legisladora, a vida justa e feliz. Sem mais ilusões, o que sobra é a autoprivatização, os interesses particulares “a partir das pequenas verdades cotidianas e efêmeras da ciência, da técnica, da compulsiva produção e consumo de mercadorias” (Ibidem, p. 54-55). PARA UMA CRÍTICA DA FILOSOFIA DA HISTÓRIA Página 165 A PARTIR DE NIETZSCHE E AGAMBEN Nossa concepção de história está vinculada aos pressupostos da fé judaico-cristã, no tempo tripartido (passado, presente e futuro), possibilidade de mensurar e controlar o tempo. Para compreender como Nietzsche e Agamben lidam com a história, Assmann e ESPINDOLA, Alexandra Filomena. Vida em potência: Nietzsche e Agamben sob a ótica de Assmann e Bazzanella. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 163-168, jan./jun. 2014. Bazzanella buscam como eles lidam com o tempo, visto que sem tempo não há história. É na história que procuramos sentido e finalidade para a vida. Nietzsche somente concebe uma justificativa à história se esta estiver a serviço da vida, mesmo sendo a vida um evento atemporal, pois seu acontecimento não está vinculado à temporalidade logicamente determinada dos eventos históricos. Estabelecer marcos temporais é uma necessidade humana, e não da vida em sua totalidade. Dessa forma, a história se apresenta como manifestação pontual e contingente da necessidade humana, num tempo de realização vital que se manifesta na intemporalidade não-histórica do mundo (Ibidem, p. 104). Os gregos não interrogavam o senhor da história, mas o logos do cosmos, uma vez que se ocupavam em saber o porquê do sofrimento e da morte. Já a modernidade procura pelo sentido da vida, desnaturalizando e desdivinizando o cosmo, o mundo, a dinâmica vital e assumiu como tarefa encontrar um fundamento lógico, racional e científico que lhe conferisse garantias, certezas e segurança diante da realidade necessária e contingencial na qual se encontrava inserida (Ibidem, p. 106). A anunciação da morte de Deus, por Nietzsche, é lida por Agamben como necessidade de profanação da vida, ou seja, “devolver ao uso comum aquilo que foi sacralizado, retirado da comunidade dos seres humanos”, de acordo com Assmann e Bazzanella (Ibidem, p. 113). Esse retorno ao mundo dessacralizado significa também uma nova experiência com o tempo, que pode, como sugere Agamben, promover uma crítica do instante numa perspectiva messiânica, de Walter Benjamin: vivenciar o tempo que resta, pois a vida é o que existe neste instante imanente. Esse tempo tripartido foi o que fez com que deixássemos de vivenciar experiências vitais, pois a perda da noção de tempo gera uma rotina diária de massificação da produção e do consumo, deixando a vida para uma dimensão futura e a crença no progresso. Essa racionalidade administrativa da vida, desde a modernidade, é geradora de vida nua. Dessa maneira, Assmann e Bazzanella entendem que, já que toda concepção de história necessariamente dita um modo de experiência do tempo, a revolução, segundo Agamben, não seria mudar o mundo, mas sim a nossa relação com o tempo, pois o tempo que resta “é o único tempo real, o único tempo que temos, e fazer a experiência desse tempo implica em transformação integral de nós mesmos e do nosso modo de viver” (Ibidem, p. 148). O tempo que resta não significa, portanto, a aposta na salvação futura, uma vez que é presentidade e facticidade diárias em cada instante. Para Assmann e Bazzanella, o tempo que resta é a condição da experiência aqui e agora com a vida, é o tempo de dizer não. Página 166 Para Agamben, é na modernidade que nasce a necessidade de dar finalidade e sentido à existência, consequência da cisão entre humano e animal provocada pela linguagem, em que a potência humana pode ser experimentada. É na linguagem que o eterno pode ser contingente e o tempo ser passageiro. ESPINDOLA, Alexandra Filomena. Vida em potência: Nietzsche e Agamben sob a ótica de Assmann e Bazzanella. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 163-168, jan./jun. 2014. AS FORMAS DE VIDA NA CONTEMPORANEIDADE A PARTIR DA GRANDE POLÍTICA EM NIETZSCHE E DA POLÍTICA QUE VEM EM AGAMBEN Para compreender a política em Nietzsche e Agamben, Assmann e Bazzanella vão em Bauman, que aponta a civilização moderna como a que tornou possível o Holocausto. Nela ainda nasce o niilismo, o fim das utopias juntamente com a morte do sujeito histórico, do sujeito da experiência. Nesse tempo de produção e consumo, os sujeitos são retirados do âmbito público, das decisões políticas e colocados a serviço da administração jurídica, esta que, regida por interesses econômicos, faz viver ou deixa morrer em nome da legalidade política. Como saída para esse esquema, Agamben sugere deixarmos de lado as maneiras cristalizadas de pensamento, questionando, mobilizando, potencializando o pensamento Ŕ essa é a política que vem, a política que é a manifestação da experiência do pensamento, que é potencialidade de vida, de ser e de não ser. A grande política de Nietzsche aponta para o abandono de valores secularizados e para a potência de experiências, pois é no jogo de forças que a vida se renova. Essa grande política traz uma visão apolínea e dionisíaca de mundo; imbricadas, ambas as forças potencializam a vida, uma vez que, enquanto a função de Apolo é dar forma e harmonizar o cosmo, Dionísio viola o princípio individual e invoca a desestabilização através da vontade de viver, do êxtase, provocando, na deformidade, um estar fora de si. Com essa dupla, Nietzsche propõe reinventar a vida a todo instante, fazendo da vida uma obra de arte. A partir da grande política e da política que vem, Assmann e Bazzanella nos dão a chave para compreendermos que a vida na modernidade, uma vida regida pela biopolítica (controle que o Estado faz sobre a vida) e pela tanatopolítica (controle que o Estado faz sobre a morte), pode ser redefinida sem as amarras do pensamento estatal, religioso, econômico e científico. Assim como Agamben vê o Estado como controlador de formas de vida, Nietzsche o entende como um monstro (bando de bestas louras), que transforma os humanos em rebanho para que possa ordenar, regular e extirpar a particularidade de cada humano, de cada força. Isso não que dizer que Nietzsche apoie o anarquismo e o fim do Estado, o que ele defende é a justiça e o partido da vida. Nessa leitura de Nietzsche a Agamben, Assmann e Bazzanella (2013, p. 185) constatam que Página 167 A política que vem, de Agamben, apoiado em Nietzsche, é uma maneira de criticar a modernidade, a máquina antropológica que, ao mesmo tempo em que nos constitui como humanos, provê a biopolítica e justifica a tanatopolítica. Assmann e Bazzanella entendem que Agamben traz uma visão pessimista da política ocidental, mas também veem a possibilidade de a política que vem ser uma maneira de enfrentar os controles impostos pela soberania das instituições através da manifestação da experiência do pensamento. Esse poder soberano é que deixa a vida exposta aos campos de concentração. Em nome do direito, a biopolítica se apodera das vidas e as transformam em vida nua. ESPINDOLA, Alexandra Filomena. Vida em potência: Nietzsche e Agamben sob a ótica de Assmann e Bazzanella. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 163-168, jan./jun. 2014. nesses pressupostos biopolíticos da contemporaneidade convive-se com a constante e crescente necessidade de se redefinir a vida. Situada numa zona de indecidibilidade, a vida é requisitada em sua polissemia para as mais variadas finalidades. Apreendida por dispositivos científicos e técnicos, mas especificamente no campo da medicina, requer-se cada vez com maior intensidade que se estabeleça pressupostos que amparem questões da seguinte ordem: O que significa vida? Em que momento inicia a vida biológica? O que é a morte? Quando se pode afirmar que alguém está morto? Essas questões estão na base da política contemporânea, em que o aspecto biológico da vida humana define os imperativos biopolíticos, os poderes jurídicos que agem com a violência legitimada e soberana do Estado. É esse poder ordenador e qualificador que torna o homem um consumidor de produtos e serviços que prometem não a vida eterna, mas a saúde e a longevidade. Enquanto a fé nos especialistas e no poder do Estado se mantiverem, haverá espaço para a pequena política, a biopolítica e a tanatopolítica. A política que vem e a grande política são as possibilidades de força e resistência contra o controle das formas de vida e a condição meramente biológica do humano. Em contrapartida, é essa promessa por saúde, segurança e bem estar financeiro que apreende os sujeitos, tornando-os massas administráveis contemporâneas. É ainda a política que vem, de Agamben, e a grande política, de Nietzsche, que nos fazem exigir a vida no centro dos debates contemporâneos. Uma última aproximação entre Nietzsche a Agamben feita por Assmann e Bazzanella é quanto à concepção de vida como obra de arte por um cunho trágico e profano. A vida definida por Nietzsche coloca o homem além do próprio homem, um humano capaz de resistir aos valores institucionalizados e, assim, participar ativamente da experiência trágica da vida, que é o que Agamben também aponta para a possibilidade de experienciar a vida como obra de arte. Nas palavras de Assmann e Bazzanella: viver a vida na precariedade imanente e contingente do mundo exige dos seres humanos conceberem a vida como arte, como impulso criador e contínuo movimento em direção à experiência com o mundo em suas potencialidades vitais, com outros seres humanos que vivem e convivem nesse mundo no tempo presente (Ibidem, p. 190-191). Em Nietzsche, essa analogia com a arte compreende viver com a perspectiva do artista trágico, espírito crítico e livre que observa a vida e participa da constituição do mundo. A vida para Nietzsche é vontade de poder. Em Agamben, a arte abre possibilidades outras de pensar a vida, de viver outras formas de vida nesse tempo que nos resta. A vida para Agamben é potência do pensamento. Página 168 Recebido em: 15/06/2014. Aprovado em 15/06/2014. ESPINDOLA, Alexandra Filomena. Vida em potência: Nietzsche e Agamben sob a ótica de Assmann e Bazzanella. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 9, n. 1, p. 163-168, jan./jun. 2014.
Download