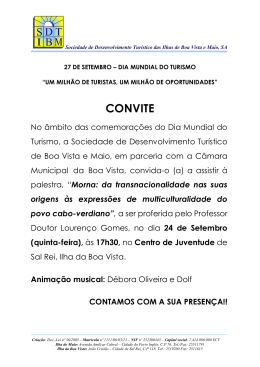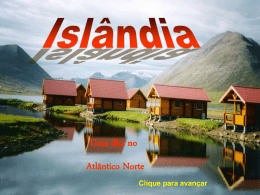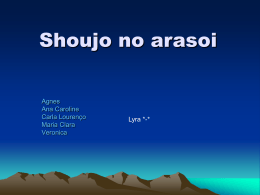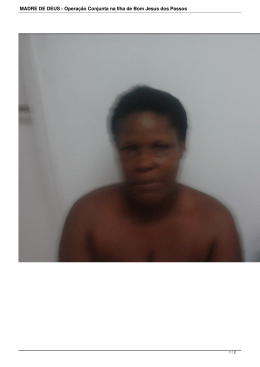Diário de Bordo do São José III (MCPUL – MA – Z6) do dia 19 de setembro de 2013. Começamos nossa viagem de volta da Ilha dos Lençóis às dez horas e cinco minutos da manhã de hoje. Como estamos na temporada dos grandes ventos, serão seis horas e meia de barco em igarapés e furos até Apicum Açu para evitar o mar aberto. Depois, serão mais cinco horas de estrada até Cururupu, duas horas de ferryboat até São Luis, duas horas de avião até Brasília e mais uma hora e meia de voo até São Paulo. Neste pequeno barco de pesca, além de mim e Ivan Grilo, estão os pescadores Bicho, João Carlos, Hélio, Tango e Nango, os professores Nina e Natanael, a zeladora da escola Silvinha e sua filha Silmara, além de Renata, Renan e Renato – respectivamente esposa e filhos de Nango, o dono do barco. Durante duas noites e três dias, eu e Ivan moramos numa pousada amarela feita de madeira e palha, que, na verdade, eram dois quartos na casa da família de Nango. Viemos até a ilha buscando depoimentos sobre algumas lendas locais que nos pareceram, lá no Rio de Janeiro, de frente ao laptop, muito interessantes às pesquisas recentes de Grilo. A História conta que em 1554 nasceu o Príncipe Dom Sebastião, neto do Rei Dom João III e esperado pelo povo português como “O Desejado”. Filho do Príncipe Dom João, falecido antes de seu nascimento, subiu ao trono lusitano aos 14 anos. Dez anos depois, organizou uma cruzada ao norte da África com 500 navios e mais de 20 mil homens. Enquanto acontecia o combate, uma névoa desceu sobre a região marroquina de Alcácer-Quibir e, ao se dissipar, Portugal havia perdido dez mil homens para a morte, e o jovem rei, surpreendentemente, desaparecera. Essa é a origem do mito do Sebastianismo, uma espécie de messianismo à lusitana baseado na crença de que, em alguma manhã no futuro, uma névoa entrará por Lisboa devolvendo ao solo português o Rei Sebastião, “O Encoberto” ou “O Adormecido”, que haverá passado todos esses séculos esperando a hora certa para voltar e salvar Portugal, construindo um reino de paz, riqueza e união. Acontece que Ivan Grilo passou os últimos anos pesquisando formas diferentes de lidar com fotografias de acervos institucionais e domésticos e, em importante parte de sua produção, sobrepôs superfícies não translúcidas às imagens apropriadas. Esse procedimento impedia que as imagens escolhidas por Grilo em longos e complexos processos de seleção fossem completamente vistas pelo público; porém, mais do que revelar parte da memória de uma instituição ou de uma família, Ivan estava interessado em alimentar nossa enorme e inevitável capacidade imaginativa. A partir de um dado momento, Ivan se lançou a pesquisar a ideia de névoa ou neblina e chegou a utilizar algumas vezes vidro jateado sobre a fotografia (às vezes apenas apoiado, outras vezes como parte da moldura). Pesquisando neblina, chegou até a história de Dom Sebastião. O curioso é que a população da Ilha dos Lençóis, composta por menos de 400 pescadores completamente isolados com suas famílias a 13 horas de São Luis do Maranhão, que já chegou a ter vinte por cento de albinos em sua formação, acredita que Dom Sebastião, o rei português desaparecido no Marrocos em 1578, reina na Ilha com seu castelo embaixo d’água. Sabendo disso, eu e Ivan achamos importante fazer essa expedição e, menos de 15 dias depois dessa ideia, estávamos reunidos no aeroporto de Campinas para iniciar nossa viagem. Assim que chegamos ao aeroporto de São Luis, fomos recebidos pelo motorista Patrick, que nos levaria até o porto de Apicum Açu. Seu primeiro ato foi nos entregar um envelope com alguns papéis contendo informações sobre a ilha e a região. Todos os impressos eram estampados com fotos de revoadas de Guarás, grandes pássaros muito vermelhos que se alimentam de pequenos crustáceos dos mangues da região. Pois uma pena muito vermelha fechava o tal envelope. Patrick fez questão de dizer: “Vocês têm de receber isso pra ir à ilha, mas precisam saber que essa não é uma pena arrancada de um Guará.” Eu bem entendi. Aceitei, guardei a pena com cuidado e é com ela que escrevo esse diário de bordo. A viagem de ida foi torturante. A paisagem que cortávamos e que nos cortava era enternecedora demais, mas o mar tinha mais buracos e quebra-molas do que a estrada destruída entre Cururupu a Apicum Açu. O barco balançou muito, nos jogou inúmeras vezes de um lado para o outro, e chegamos à ilha completamente encharcados. Além disso, carioca-pretinho-marrento, decidi fazer a travessia vestindo apenas uma bermuda (mesmo tendo feito atenção às mangas e calças compridas dos pescadores). Afinal: barco + sol = bermuda. Faltou apenas um Equador nessa equação. Assim que chegamos, cansados, molhados e queimados, percebemos que valeria a pena. Mas jamais poderíamos imaginar tudo o que aconteceria. Ainda nesse primeiro dia, com alguma ansiedade disfarçada, perguntávamos a todos sobre as lendas que afirmavam que Dom Sebastião vivia na ilha. Causando-nos uma enorme frustração, nos respondiam apenas não conhecer as histórias, não saber contar nenhum caso ou que nem mesmo acreditavam no mito do rei. Fomos dormir muito impressionados com a beleza da ilha: o mar era muito grande, as árvores, muito verdes, as dunas, altíssimas. Nossos quartos tinham mosquiteiros que não usamos, pois não parecia ter mosquitos por ali. As toalhas exibiam bordado o brasão da coroa portuguesa. Às quatro da manhã, acordei com uma ventania que fazia a casa tremer demais. Com toda aquela violência, a palha do telhado se levantava, deixando entrar areia e todo tipo de inseto vivo ou morto. Os mosquiteiros que não usamos serviam para não deixar o vento sujar a cama durante a noite. Tomando o café da manhã composto por frutas e tapioca, contei ter ouvido um cavalo passar muitas vezes na frente da casa na madrugada. Renata logo me respondeu que não havia cavalo na ilha, e Nango completou: “Mas você ouviu bem certo; era o cavalo do rei. A gente ouve muito por aqui.” Eu e Ivan paramos os talheres no ar e arregalamos os olhos. Essa era a primeira vez que nos falavam do rei, real, na ilha. Todos os outros à mesa continuaram a fazer o que faziam. Tentamos seguir com mais perguntas – sem sucesso. Ainda frustrados entre as pessoas, decidimos fazer uma trilha para conhecer e conversar com a própria ilha (afinal, ela é o grande personagem). Laílson foi o encarregado de nos guiar; começou o trajeto nos mostrando como chegar ao outro lado da enorme duna enquanto nos revelava que, de tempos em tempos, objetos dourados são desencavados da areia pelo vento. Talheres, joias, colares, moedas. “São parte do tesouro do Dom Sebastião. O castelo dele é bem aqui, debaixo d’água.” Saímos das dunas, entramos no mangue. Ele disse: “Por segurança, pisem apenas nas raízes”, antes de se embrenhar com rapidez suficiente para que o perdêssemos de vista em 15 segundos. Para desespero de Ivan (que aproveitava essa experiência no mangue para perder um conjunto de medos carregados da infância), dei um passo mais arriscado e minhas duas pernas afundaram de uma só vez na lama cinza cheia de caranguejos até quase a linha do quadril. Antes de sair do buraco, chequei rapidamente se o iPhone estava embaixo d’água ou no bolso de cima. No bolso de cima! Saravá, Amém, Senhor. Mais à frente, Laílson nos apontou uma “planta medicinal” e repetiu algumas vezes que aquela era uma planta e não uma erva. Eu e Ivan não pudemos evitar a expressão de susto quando assistimos Laílson dar, sem titubear, uma enorme dentada no caule, arrancando um pedaço da casca e grudando-o numa ferida que tinha na perna. “É ótimo pra cicatrização. Faz não inflamar.” Como deveriam, eu acredito em tudo. Ainda na trilha, Laílson nos ofereceu a frutinha de um cacto que ele afirmou ter o gosto da ilha (era algo entre a lichia e o coco), nos ofereceu um cipó com o cheiro da ilha (algo como cheiro de cipó), nos levou onde a duna está soterrando a floresta e pudemos ver a areia escorrer como água sobre as árvores. Caminhamos por uma longa praia em linha reta, para onde o mar traz restos de embarcações naufragadas, redes de pesca perdidas e toda a sorte de provas dos dramas do mar. Lá, nos mostrou as pequenas bases de pesca artesanal e nos contou que, devido ao vento, de seis em seis anos todos trocam suas casas de lugar, quando estas começam a ser engolidas pelas dunas. Pouco antes de voltar ao vilarejo, vimos as duas gigantescas unidades de energia eólica, construída pelo governo Dilma, trazendo energia elétrica para a ilha. Ao lado da base dos grandes postes, está o “Cajueiro dos Anjos”, onde estão enterradas as crianças da ilha que não resistiram ao parto ou que morreram antes dos 10 anos. Fazia um calor indescritível. Começamos nossa caminhada pela parte deserta da ilha às oito da manhã; não tinha uma nuvem no céu, e só retornamos ao vilarejo às duas da tarde. Exaustos, completamente empapados de areia e filtro solar, sentamos em bancos feitos de troncos de árvore em frente à mercearia da ilha para tomar uma cerveja antes do almoço. Aos poucos, as pessoas passavam, e nós as convidávamos para sentar conosco. Revelei a eles que eu tinha ouvido passar um cavalo na madrugada, e me contaram: “Uma senhora, das mais antigas aqui da ilha, vivia olhando tudo que passava em frente à casa dela. Numa noite, ouviu um canto se aproximar, foi até a janela e viu que se tratava de um grupo se aproximando fazendo orações. Uma das pessoas se aproximou dela e deu uma vela acesa para ela segurar. Quando ela piscou os olhos, estava segurando a perna de um cadáver.” Tivemos de ir almoçar, mas combinamos de voltar mais tarde para outra cerveja. Depois de comer uma deliciosa galinha caipira que pouco tempo antes passava por entre nossas pernas, nos convidaram para visitar um farol que fica numa ilha próxima. Para chegar à ilha do farol, era preciso ir de barco de pescador e depois remar numa canoa. Para que não ficássemos frustrados mais uma vez, nos avisaram que o farol estava quase caindo e que não poderíamos subir. Era um farol enorme, fálico como poucas coisas conseguem ser e listrado de branco e preto. Ao avistar a grande construção e suas rachaduras, Ivan disse: “Ia ser lindo ver esse farol cair.” Guardando o local, dois soldados da Marinha, que estavam lá, sozinhos, havia quase três meses. O nome da vila deles esculpido em pedra: “Tenente Álvaro – Hidrógrafo.” Durante dez anos de minha infância, eu dormi todos os dias com camisas brancas e idênticas, herdadas da época em que meu avô materno era um jovem no Exército. Nessas camisas brancas, que enrolavam meu corpo enquanto eu sonhava, estava escrito “Tenente Álvaro”. Um dos soldados veio me cumprimentar efusivamente: carioca de Campo Grande, Rodrigues. Ivan nem se mexeu e acenou de longe. Enquanto o segundo soldado mostrava um quadro emoldurado com os dados da história daquele farol, Rodrigues trocava de roupa para então nos convidar: “Vamos subir?!” Ao mesmo tempo, eu disse sim, e Ivan disse não. O soldado insistiu, nós subimos. No momento em que entrei pela porta de ferro oxidada e trancada com correntes, minha sensação era de que éramos três mortos. “Ia ser lindo ver esse farol cair” tinha dito Ivan havia oito minutos. Assim que entrei pela porta do farol, éramos três mortos. Nas paredes, rachaduras com dois dedos de largura. As vigas estavam completamente expostas e enferrujadas. Rodrigues se esforçava em ser cativante, e eu sentia que ele olhava e sorria demais para nós. Lá de cima, uma incrível vista da ponta da mata amazônica, de vários tipos de mangue, de revoadas de guarás, garças brancas, garças morenas, maritacas e papagaios, dos rios, do mar e, ao longe, na beira do horizonte, de uma grande duna. Em todo o tempo que passamos sobre a areia da Ilha dos Lençóis, não vimos o farol. Cantando como a sereia, Rodrigues nos convidava para subir cada vez mais alto. Escalamos o assustador caracol de concreto, e o soldado, sorrindo, nos indicou que não fôssemos na varanda, pois ela não era muito segura. Mesmo assim, nos convidou para subir mais uma escada, vertical, de ferro, que acabava em um buraco quadrado no teto com 50 cm em cada lado. Lá em cima, éramos nós três mortos e a lâmpada apagada. Perguntamos sobre as lendas locais, e Rodrigues nos respondeu: “Dizem que aqui é a ilha dos amores, mas não acredito nisso.” Nunca nos haviam dito que aquela era a ilha dos amores. Não existe essa lenda. Só para Rodrigues que, então, já nos convidava para dormir com ele na vila aquela noite. “Vai ter bolo!” Disse que poderíamos voltar a pé para nossa ilha de manhã. Saindo finalmente pela tal porta de ferro oxidada, o soldado quis nos mostrar uma jiboia de 8 metros que morava nas bases do farol. Agradeci e recusei o estranho convite. Descemos com a sensação de termos passado cinco minutos dentro da construção. Nossos guias disseram que foram cinquenta longos minutos. Na canoa da volta, Ivan me revelou que Rodrigues não conseguia disfarçar o encanto com o meio das minhas pernas. Eu, sinceramente, não havia percebido seu interesse nem havia entendido para onde as sereias nos convidam: subir em farol ruindo, conhecer uma jiboia de 8 metros, andar a pé entre duas ilhas num local onde a maré tem grandes variações. Rezei agradecendo à cera milagrosa de Santo Ulisses da Grécia. Antes de voltarmos para nosso canto na Ilha dos Lençóis, paramos em uma comunidade vizinha chamada Bate-Vento. Um senhor de 85 anos chamado Jacó (ou talvez esse fosse o nome de seu irmão) havia nos prometido um par de cocos por termos dado a ele uma carona de barco entre Apicum Açu e Bate-Vento. Nessa ilha, sem dunas ou mangues, há uma comunidade um pouco maior, com casas de alvenaria, nomes de políticos locais pintados nas fachadas (como em todo o interior do Maranhão) e uma atmosfera assustadoramente soturna. O ar parado do lugar contrastava com nossa experiência nas ilhas vizinhas e com o próprio nome desse vilarejo. Jacó, muito negro, muito magro, muito enrugado e com os olhos quase completamente brancos pela catarata, conversou conosco na beira de um largo e profundo poço. Com nossos rostos refletindo na água preta e viscosa, ele nos contou, com vergonha, que não poderia nos dar os cocos, pois não podia subir sozinho nos coqueiros de 7 metros de altura que ficam em seu quintal. Agradecemos por ter nos recebido e fomos embora para encontrar, em nossa ilha, o pôr do sol mais impressionante que já vimos. Depois do jantar, fiquei à mesa conversando com o pai de Nango. Ele é uma figura muito misteriosa que passou quase todo o tempo ao nosso lado sem falar uma única palavra. Percebi, sozinhos à mesa de jantar, que aquela seria minha melhor oportunidade. Maneco, como é chamado na família, enquanto fumava seu cigarro enrolado, respondia as minhas perguntas com “sim”, “não” ou nada dizia. Após alguns minutos de esforço, consegui descobrir que a comunidade da ilha era majoritariamente católica, com nenhum evangélico e um belo terreiro de candomblé do qual ele, Maneco, era o líder, pai de santo. Segundo Maneco, era o curador da ilha. Esse terreiro com ritos do tambor-de-mina fora fundado por um maranhense que “fez santo” na Nigéria e consagrou o barracão a Oxalá. Mesmo assim, a maior festa da ilha é para Oxóssi. Como se sabe, no sincretismo, Oxóssi é São Sebastião, e, na ilha, São Sebastião é comumente confundido com Dom Sebastião. Quando Maneco, amaciado, nos convidava para voltar à ilha em janeiro para a festa de Oxóssi, Nango entrou no cômodo após um banho de água de poço nos lembrando da cerveja prometida para essa noite na mercearia. Se Nango não tivesse chegado nesse momento, talvez Maneco tivesse tido tempo de nos contar sobre a Encantaria de Mina, que cultua voduns, pessoas que viveram, mas não morreram: se encantaram e voltam a esse plano no corpo em transe dos iniciados. Talvez, se tivesse tempo, Maneco nos explicaria como a presença do tambor-de-mina na matriz religiosa regional abria caminhos para a crença no reinado de Dom Sebastião. Talvez, ele até teria tido tempo de nos explicar que, na Encantaria de Mina (que tem culto até em São Paulo), existe a chamada “Família de Lençol” com os denominados encantados gentis: nada mais nada menos que Dom Sebastião, Dom Luís, Dom Manoel, Dom Felipe, Rainha Bárbara, Príncipe De Oliveira etc. se manifestando no corpo dançante dos iniciados. Mas não houve essa chance. Fomos à cerveja. Depois de muitas garrafas, éramos um grupo de seis homens e uma mulher. “Se me oferecem uma viagem ao Rio de Janeiro com avião e hotel pagos, eu digo muito obrigado. Mas não vou.” “Lá no Oriente Médio ninguém morre sozinho. É só 200 mortos, 500 mortos. Outro dia, no Egito, morreram mais de mil numa manifestação!” “Como vocês conseguem ter barba? Aqui na ilha ninguém tem barba.” “Como é encontrar os atores da Globo nas ruas do Rio?” Umas cervejas a mais e começam a nos contar histórias do Rei. “Uma vez, apareceu um homem e comprou vinte quilos de farinha. Mandou jogar tudo na água e desapareceu.” “Um dia, um homem sonhou e mandou que desmontassem uma casa que estava atrapalhando a carruagem do Rei de passar. Não desmontaram e sofremos um acidente em Cururupu em que quase morremos. Mostra a cicatriz pra eles, Laílson.”. Estava lá a cicatriz de 20 centímetros na coxa do homem. “No inverno, a terra treme e a areia engole bois inteiros que ficam apenas com o pescoço pra fora.” (Reparo, agora, no barco, que Nango não fez a barba hoje!) No caminho de volta para a pousada, sem que perguntássemos, um menino nos contou que foi preso por ter dedado outro menino. Pensamos que fosse “dedurado”. Não, era dedado mesmo. Já ao redor da mesa da casa, Renata nos contava como ela tinha sonhos premonitórios. Uma vez sonhou com um choro de Renato. Algumas horas depois, Renato tinha o pescoço atravessado por um ferro da cerca da casa. Quase morreu, mas o anjo do sonho ajudou. Outra vez, sonhou que Nango tinha outra mulher, baixinha e morena, enquanto ela paria Renan. Era verdade. Quando ela viu a mulher, soube quem era. Ela nos contava como rezavam e veneravam Dom Sebastião como fosse Deus. Quando dissemos que queríamos ir à duna naquela noite de lua cheia, nos disse que rezássemos, lá, para o Rei Sebastião. Eu, Ivan, a lua cheia, a ventania e a duna. Não precisamos muito da lanterna. De tão clara que era a noite, parecíamos andar sobre montanhas de talco lunar. Por completo acaso, chegamos à ilha nos dias de lua cheia. Dizem que durante a lua nova (chamada, aqui, de Luz de Escuro) tudo é mais assustador. Não sei como poderia ser mais assustador. Depois de alguns minutos conversando, sozinhos, enquanto nossos celulares buscavam algum sinal (só funcionavam em alguns poucos metros quadrados no topo do monte de areia), vi uma lanterna azul piscar. Era tão real que, de início, pensei que fosse alguém chegando. Não era. Logo entendi que era o Rei Sebastião se mostrando para a gente. Antes daquilo, achávamos que acreditávamos na lenda. A partir de então, tudo que ouvimos, mais do que narrativa, era real. Tão real quanto aquele vento que nos socava as costas. Daí em diante, o medo do absurdo tomou conta de nós dois. Algumas árvores à distância pareciam cavalos. Ou eram cavalos que não andaram na nossa direção. Ficamos alguns minutos decidindo se caminhávamos até o fim da duna ou não. O vento era forte demais e batia em nossas costas. Eu queria ir. Ivan não queria. Ivan quis ir. Eu dei para trás. Eu topei. Decidimos ir ao fim da duna. Andamos lentamente como se fôssemos entrar em um caminho sem volta. Não estávamos errados. Ao descer a última curva da grande duna, o vento cessou. Parou. Silêncio. Olhamos para trás, não podíamos mais ver o vilarejo. À frente, água escura nos separando de outra ilha. Sem o vento, não precisamos dizer uma palavra. Sentamos sobre aquele silêncio e o vento que não corria fazia parecer que o tempo tinha parado. Talvez tenha parado. Sentados, juntos, encarávamos a água escura da noite. Foi quando, então, entre nós e o azul marinho, surgiu uma figura no ar. Era Rei Sebastião, coroado em seu cavalo. Não. Na verdade, não era. Poderia ter sido. Mas a figura que apareceu entre nossos olhos e o mar surgiu e se desmanchou muito rapidamente. Fez questão de mostrar que poderia aparecer com a forma que quisesse. Mas não vimos o Rei em forma de Rei. Com o susto pela fagulha de fantasma sem forma, perdi a respiração por um tempo e os olhos encheram de água. Ivan perguntou se estava tudo bem. Eu, que não tinha tido medo de mangue, de louco, de bicho, de sol nem de naufrágio, fui frágil diante do Rei. Quem não é frágil diante do Rei? Mais dois minutos de silêncio com os olhos arregalados pedindo que tudo entrasse pelas pupilas e Ivan perguntou: “Você está vendo isso?” “O quê?”, perguntei eu, já acreditando que poderia, então, naturalmente ver o tal touro com estrela na testa de que eles tanto nos falaram. - A dobra do mar. Por mais absurdo que isso soe, estávamos eu e Ivan diante de uma parede d’água. Estávamos secos, mas a linha do horizonte estava acima de nós mesmos; a duna descia até embaixo do mar, e o local onde estávamos, sentados na coluna da duna, era para ser embaixo d’água. Estávamos diante de uma parede de água! Aquilo era muito mais absurdo do que um touro com estrela na testa. E era tão real que não havia mais medo. Depois de um tempo, andamos para trás com calma e lembramos que Renata nos dissera para rezar para o Rei Sebastião. No topo da duna, o vento voltara com toda a sua força. Ajoelhamo-nos. Vimos, ao longe, a luz do farol piscar pela primeira vez. Perguntei se Ivan gostaria de falar alto. Ele disse que não conseguiria. Eu tomei a palavra. Quando pensamos que já havíamos vivido de tudo, assim que eu comecei a agradecer, a areia da duna começou a subir, verticalmente, do chão para o céu, arrastando em nossos rostos, grudando em nossos céus da boca. Disse estar grato por termos chegado com segurança, por ele ter se manifestado para nós, por termos vivido esses dias na ilha em alegria. Pedi que nos levasse de volta em segurança até o porto de Apicum Açu. Disse que o reconhecia como soberano daquela ilha. - E vida longa ao Rei! Voltamos sem falar uma palavra. Os cachorros latiam para nós, a lua enorme mostrava o caminho e as aranhas que por ele andavam. Mais uma madrugada de ventania. Hoje de manhã, caminhando pela praia, nos preparando para entrar nesse barco para a volta, encontrei uma concha de ouro. Se isso tivesse acontecido no primeiro dia, teríamos achado muito impressionante. Nesse último dia, depois da noite passada, achamos natural. Diz a lenda que quem leva algo da Ilha dos Lençóis naufraga. Não tivemos dúvida do que fazer. Há alguns anos, um professor da UFRJ chamado Claudicélio Rodrigues da Silva decidiu fazer sua tese de doutorado sobre como a figura do Rei Sebastião na poesia oral local nutre imaginários por essas ilhas. Realizou um trabalho lindíssimo e conseguiu até mesmo construir, nessa ilha a 13 horas de São Luis, o “Memorial Dom Sebastião”. Fomos visitar o memorial nessa manhã antes de entrar no barco. Para nossa surpresa, uma biblioteca bem-montada é o primeiro cômodo da casinha vermelha. Não é à toa que Nango tinha um exemplar de A metamorfose na estante de casa. O povo da ilha tem mesmo o hábito de ler. Atravessando uma cortina de contas e conchas, chegamos a outra sala na qual fomos recebidos por uma estátua de mais de um metro e vinte centímetros de altura de São Sebastião. Sem as flechas. Aos seus pés, um alguidar (vasilha de barro redonda, utilizada comumente em ritos de religiões afro-brasileiras) onde os moradores da ilha colocam os talheres, joias e correntes de ouro encontradas na ilha. Eis o destino certo de nossa concha. Eu e Ivan paramos um tempo com o olhar fixo nas dunas e no tanto de areia levantada. Eu disse que se o Rei Sebastião sumiu em uma névoa, poderia facilmente reaparecer numa tempestade de areia. Ivan, então, lembrou que Alcácer-Quibir é uma região seca do Marrocos e que neblinas só acontecem em lugares úmidos e frios. Desde sempre, Dom Sebastião havia sumido numa nuvem de areia. E Portugal esperando uma névoa. Enquanto nos despedíamos de Laílson e Maneco, várias pessoas vieram pedir carona no barco onde comecei a escrever esse texto. Agora, já saímos da embarcação, já andamos seis horas de carro e duas horas de ferryboat. Já estamos quase chegando no aeroporto. É claro que a viagem foi cansativa, mas, por algum motivo, foi menos cansativa do que a ida. Eu e Ivan trocamos poucas palavras durante quase todo o trajeto. Quando sentamos lado a lado no ferryboat, começamos a conversar. Nesses dois dedos de prosa, percebemos que, como imaginamos, a viagem à Ilha dos Lençóis seria transformadora para a produção de Grilo. Com todo o vivido, ficou claro para nós dois que, mais do que um interessado em documentos e fotos de acervo, Ivan age como um grande contador de histórias. Antes, por vezes, Ivan se lançou sobre arquivos institucionais e domésticos para criar comentários e próprias versões sobre o objeto pesquisado com o uso da apropriação e da não exibição das imagens selecionadas. Agora, Ivan se debruça sobre o mundo, sobre o que vive, para então, se apropriando do que é vida e, por definição, inexibível, elaborar seus comentários e tecer suas versões. Já estou no Aeroporto de São Luis e percebo que esse texto é minha forma de contar o que vivemos nessa viagem e o que a Ilha dos Lençóis foi para nós. A exposição “Sentimo-nos cegos” é, sobretudo, a forma de Ivan Grilo. Bernardo Mosqueira
Download