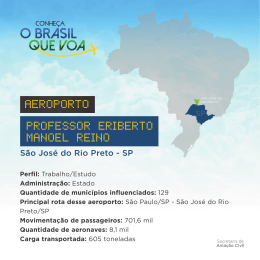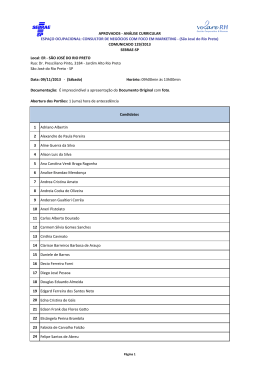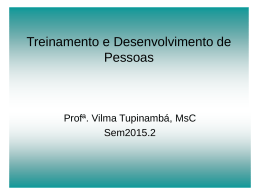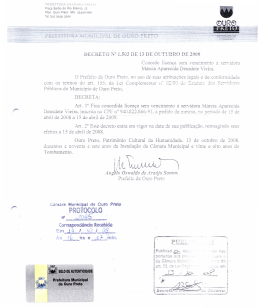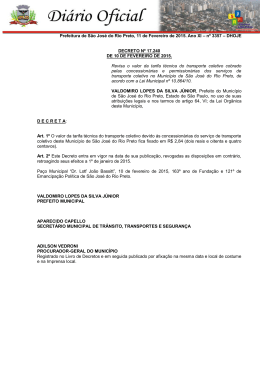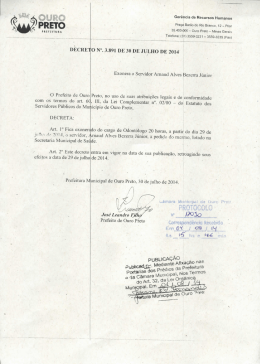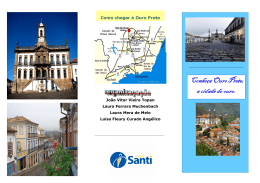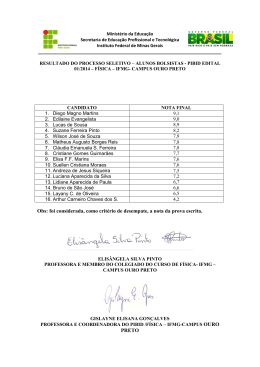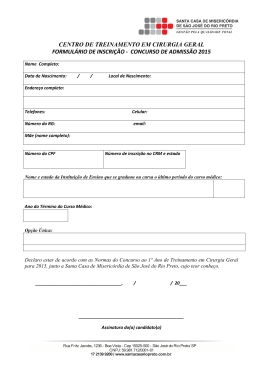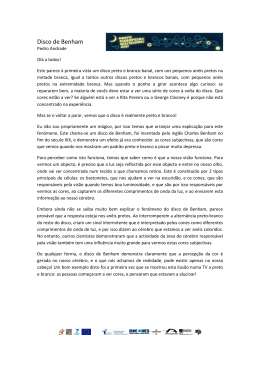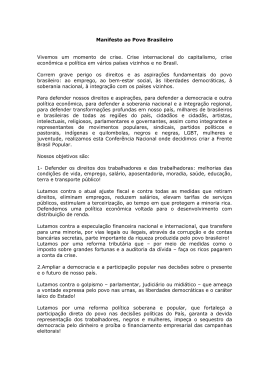A morte do país a preto e branco Era uma vez país a preto e branco. O seu povo vivia apático, numa letargia que espantava quem o visitava. Oiçamos o relato de Sybille Bedforf, uma viajante que conheceu o país em 1958: “A mim, [os seus habitantes] parecem-me sobretudo vagarosos, plácidos, amáveis, pacientes e lentos. Sobretudo, muito, muito lentos.” Dos seus dez milhões de habitantes, apenas uma pequena minoria possuía o estatuto de cidadão. E nela não existia uma única mulher. Era um país no masculino. Segundo o código civil "a administração dos bens do casal, incluindo os próprios da mulher e os bens dotais, pertence ao marido, como chefe de família". Esse conceito de “chefe de família” era relembrado em todas as escolas do país, onde a mulher era apresentada como criada do seu marido. A ideologia vigente tudo fazia para que a mulher sentisse a sua inferioridade como um privilégio. A elas, ricas ou pobres, inteligentes ou estúpidas, era apenas confiada uma única função: ser “a ânfora maravilhosa onde a vida se renova”. O código penal continha também aspectos discriminatórios. O adultério na mulher era “punido com prisão de dois a oito anos”. Já o “homem casado” que tivesse “manceba teúda e manteúda”, e apenas “na casa conjugal”, era “condenado a multa de três meses a três anos". Felizmente essas leis retrógradas já não existem. No entanto, nesse país, continuam a chamar criminosas às mulheres que interrompem voluntariamente a gravidez. Às mulheres, não aos homens! Esses, nessa situação, são todos fantasmas. No país a preto e branco não acontecia nada. Nada porque quem mandava impedia que se soubesse. Não havia presos políticos, nem abortos, nem droga, nem gripes, nem inundações, nem fome, nem mortalidade infantil, nem poluição, nem violações, nem fraude, nem crise, nem estudantes descontentes, não havia injustiças, nem repressões violentas, nem exilados, nem homossexuais, nem rigorosamente nada que pudesse por em causa a boa harmonia da população. As pessoas eram pobres e, muitas delas, analfabetas, mas isso era uma fatalidade que teriam que aceitar como uma dádiva divina. No livro de leituras da segunda classe, podia ler-se, a propósito de uma tal Joaninha: “Reza todos os dias as suas orações, almoça e vai para a escola. Pobrezinha, mas muito lavada, vestido sem nódoas nem rasgões, é um encanto vê-la, de olhos pretos, pele morena e cabelos lisos”. Bem-aventurados os pobrezinhos pois é deles o reino dos céus. Segundo Júlio Pomar, um ilustre pintor desse país (triste mister para quem é obrigado a viver a preto e branco): “O país vivia numa nuvem de merda com algodão em rama por fora. O que dava arranjo a certos que hoje ainda choram de saudades desse tempo”. A cor surgiu da forma mais brutal. O país entrara em guerra e os seus filhos conheceram o vermelho do seu próprio sangue. A guerra, que fora apresentada como justa e de curta duração, resistiu durante 13 longos anos. O regime, enquanto foi possível, tentou esconder essa realidade. Em Março de 1964, os jornais foram instruídos da seguinte forma: “Quanto aos acontecimentos da Niassalândia [Moçambique], eliminar as estatísticas que as agências estão fazendo sobre o total de mortos e feridos. Cortar todas as notícias relativas a violências executadas sobre os pretos pelos brancos. Não dar notícias sobre tiroteio ou fogo aberto sobre multidões a fim de evitar especulações. Não há inconveniente que se relatem violências exercidas pelos negros sobre os brancos nem que se diga que os motins são instigados pelos comunistas”. A consciência do vermelho fez com que muitos quisessem conhecer outras cores. Para isso partiram, aos milhões, para outros países e, de lá, começaram, aos poucos e de forma ingénua, a colorir o seu país de origem. Outros, que ficaram, e com igual coragem, inventaram novas tonalidades. Em programas de televisão e da rádio, nos versos dos poetas ou ainda no cinema produzido por uma certa Fundação, as cores foram surgindo timidamente. No entanto, numa manhã de Abril, o país acordou em ambiente psicadélico. De forma abrupta e desordenada todas as cores se misturaram. Tudo aconteceu de repente. Em dois anos viveram-se cinquenta. Poucos sabiam ainda pintar mas todos tinham pressa em aprender. Era a euforia total! Foram cometidos erros; fizeram-se coisas excepcionais. E o mundo, espantado, acolheu o país pária no seu seio. Esse país colorido, que é hoje o nosso, está mais bonito. O povo, habituado a que alguém decidisse por ele, tem agora a responsabilidade de conduzir o seu destino. A democracia, porém, a todos responsabiliza. Não há “eles”, apesar de muitos ainda não terem essa consciência, só há “nós”. Amanhã vamos comemorar a cor. Vamos “curtir” a liberdade e a democracia que nos foram confiadas. Mas, mais do que lembrar o tal Abril que já passou, o importante é saber olhar em frente e lutar por um Abril que tem que vir. Um Abril que aposte num ensino de qualidade, acessível a todos. Um Abril que combata o desemprego, a corrupção, a exploração salarial. Um Abril que confie e aposte na juventude e que recuse a exclusão. Hoje já não lutamos pela liberdade, lutamos pela qualidade. Adérito Araújo (Publicado no jornal “O Eco” em Abril de 2003)
Baixar