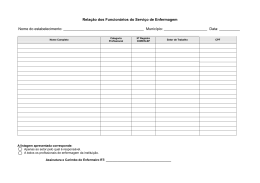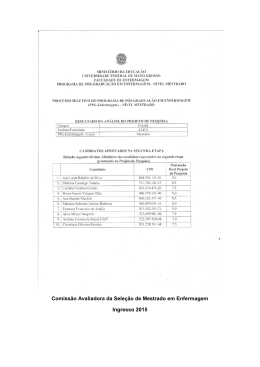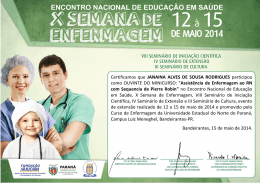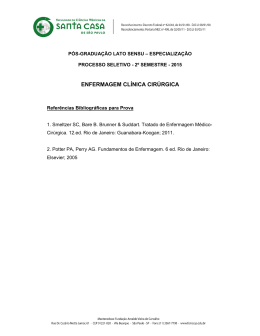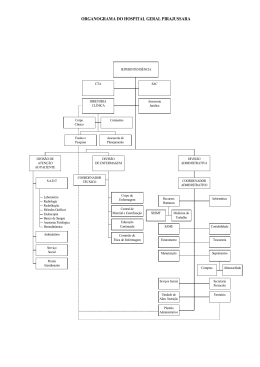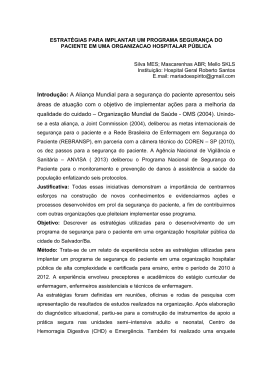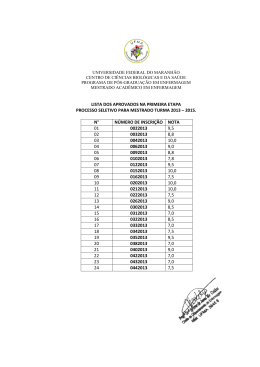i
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY
COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
ADRIANA AMARO ALVES DE CARVALHO
MÚSICA COMO ELEMENTO DO CUIDAR/CUIDADO DE ENFERMAGEM: UM
ESTUDO SOBRE O PACIENTE HOSPITALIZADO E SUA INTERAÇÃO COM A
MÚSICA
EEAN
UFRJ
2010
ii
ADRIANA AMARO ALVES DE CARVALHO
MÚSICA COMO ELEMENTO DO CUIDAR/CUIDADO DE ENFERMAGEM: UM
ESTUDO SOBRE O PACIENTE HOSPITALIZADO E SUA INTERAÇÃO COM A
MÚSICA
Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de
Pós-graduação
em
Enfermagem,
Escola
de
Enfermagem Anna Nery, da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à
obtenção do título de Mestre em Enfermagem.
Orientador: Profª. Drª. Maria José Coelho
Rio de Janeiro
Março, 2010
iii
MÚSICA COMO ELEMENTO DO CUIDAR/CUIDADO: UM ESTUDO SOBRE O
PACIENTE HOSPITALIZADO E SUA INTERAÇÃO COM A MÚSICA
Adriana Amaro Alves de Carvalho
Orientadora: Profª. Drª. Maria José Coelho
Defesa de Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Escola de Enfermagem
Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 26/03/2010, como requisito à
obtenção do título de Mestre em Enfermagem.
Aprovada por:
............................................................................................................
Profª. Drª. Maria José Coelho (EEAN/UFRJ)
Presidente
............................................................................................................
Prof. Dra. Vanda Lima Bellard Freire (EM/UFRJ)
1º Examinador
.............................................................................................................
Prof. Dra. Nébia Maria Almeida de Figueiredo (EEAP/ UNIRIO)
2º Examinador
.............................................................................................................
Prof. Drª Jaqueline Da Silva (EEAN/UFRJ)
1º Suplente
...........................................................................................................
Prof. Drª Ana Karine Ramos Brum (EEAP/ UNIRIO)
2º Suplente
Rio de Janeiro
Março, 2010
iv
Carvalho, Adriana Amaro Alves.
Música como Elemento do Cuidar/Cuidado de Enfermagem:
Um Estudo sobre o Paciente Hospitalizado e sua Interação com a
Música / Adriana Amaro Alves – Rio de Janeiro: UFRJ / EEAN,
2010. 139f.
Orientadora: Maria José Coelho.
Dissertação (mestrado) – UFRJ / EEAN / Programa de Pós
Graduação e Pesquisa, 2010.
Referências Bibliográficas: f. 126-133
1. Enfermagem. 2. Música Terapêutica.
3. Humanização
Hospitalar. I. Coelho, Maria José. II. Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Escola de Enfermagem Anna Nery, Programa de PósGraduação e Pesquisa. III. Título
CDD: 610.073
v
Veja
Não diga que a canção está perdida
Tenha fé em Deus, tenha fé na vida
Tente outra vez
Beba
Pois a água viva ainda está na fonte
Você tem dois pés para cruzar a ponte
Nada acabou, não não não não
Tente
Levante sua mão sedenta e recomece a andar
Não pense que a cabeça agüenta se você parar,
não não não não
Há uma voz que canta,
uma voz que dança,
uma voz que gira
Bailando no ar
Queira
Basta ser sincero e desejar profundo
Você será capaz de sacudir o mundo, vai
Tente outra vez
Tente
E não diga que a vitória está perdida
Se é de batalhas que se vive a vida
Tente outra vez
Raul Seixas/ Paulo Coelho/ Marcelo Motta
vi
DEDICATÓRIA
Dedico este trabalho ao meu companheiro Cleones Silva, que me apoiou e
ajudou durante toda essa jornada pelo encorajamento, solidariedade e
acolhimento.
vii
AGRADECIMENTOS
Sempre em primeiro lugar DEUS, por me tornar a pessoa que sou.
A minha família,
Maria Amaro, Francisco Carvalho, Daniel Carvalho.
Aos Amigos e irmãos de luta Flávia Mello, Rose Santos, Sandra Rosana,
Vladimir Oliveira, Heloisa Griese, Ana Angélica, Daniel Mendes, Maria Amália,
aos companheiros de trabalho da Coordenação Geral de Armazenamento.
Aos professores da Escola de Enfermagem Anna Nery da UFRJ, em
especial à professora Drª Maria José Coelho, orientadora deste trabalho, e às
professoras Drª. Nébia Figueiredo e Drª. Vanda Freire e Drª Karine Brum pelas
críticas enriquecedoras. À professora Drª. Márcia de Assunção Ferreira e a Drª
Marlea Chagas Moreira pelo incentivo tranqüilo, pela consultoria e ajuda na
aquisição da Bolsa FAPERJ aluno nota 10.
Ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho em especial ao Técnico
de Enfermagem José Clementino Neto e ao Hospital Geral de Bonsucesso, pelo o
aceite ao meu trabalho, a Coordenação de Atenção Comunitária e Voluntariado
(CAC) do Hospital Geral de Bonsucesso em especial Simone Corrêa V. de Oliveira
e a Simonsen dos Santos pelo apoio e o referencial para esse trabalho.
Aos pacientes que fizeram dessa pesquisa e o que de real ela se tornou.
A FAPERJ por ter acreditado nessa pesquisa e ter dado a oportunidade da
Bolsa de aluno nota 10.
viii
RESUMO
CARVALHO, A. A. A. Música como elemento do cuidar/cuidado: um estudo sobre o
paciente hospitalizado e sua interação com a música. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Escola de Enfermagem Anna Nery. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro. 2010
A proposta que aqui se apresentou como “Música como Elemento do Cuidar/Cuidado de
Enfermagem: Um Estudo sobre o Paciente Hospitalizado e Interação com a Música”
destinou-se a promover um cuidar/cuidados significativos que sejam funcionais e
provocadoras, referentes à aplicação da música para o paciente hospitalizado. As questões
norteadoras utilizadas como principio foram se existem abordagens terapêuticas através da
música nos ambientes hospitalares no município de Rio de Janeiro? Pode a música ter
relação com o cuidado de Enfermagem? O que desperta a música no paciente hospitalizado?
Partindo desses, surgiram os objetivos, buscar o que traz a música no ambiente hospitalar
para paciente hospitalizado e a correlação com o cuidado de Enfermagem; Fazer um
levantamento das instituições hospitalares que utilizam música; Caracterizar as respostas do
paciente hospitalizado e a relação com a música no ambiente hospitalar; Analisar a relação
música, paciente e Cuidado de Enfermagem durante a hospitalização. O estudo trouxe como
referencial teórico Coelho, com o conceito do cuidar/cuidado de enfermagem, Watson, que
conceitua o cuidado como maior valor que a enfermagem tem para oferecer à humanidade e
Freire, que nos fez entender em tese citada na revisão literária desse estudo, o que de fato é
música e, há quanto tempo a mesma nos acompanha e faz parte das nossas vidas. Pesquisa
do tipo qualitativo com análise temática. Os sujeitos da pesquisa foram pacientes internados
em Clínica de Ortopedia de dois hospitais públicos da cidade do Rio de Janeiro. Os
resultados concluíram a influência positiva da musica no hospital para o paciente durante a
internação, mostra a expressão de emoções e significação perante os pacientes internados. Os
resultados emergiram na pesquisa em 03 categorias dadas como principais, a primeira foi o
perfil da clientela que nos mostrou idade, profissão, estados civil entre outros aspectos, a
segunda categoria tratou o gosto musical do Paciente, trazendo a cultura a tona e mostrando
a diversidade do gosto musical e terceira categoria e ultima tratou da relação do paciente
internado com a música dentro do ambiente hospitalar, onde foi possível observar a
importância da terapia dentre os 50 pacientes entrevistados. Após essa pesquisa chegamos ao
número de 02 pacientes que nos disseram que a música não estaria causando nenhuma ajuda
naquele momento, totalizando 4% em contraponto com os outros 48 pacientes que
afirmaram positividade na terapêutica da música no ambiente hospitalar que totalizou 96%.
É de suma importância a questão da preferência musical de cada paciente internado, sendo
essencial para todos os momentos da existência e especialmente para o estabelecimento de
um relacionamento interpessoal enfermeiro/paciente adequado. Portanto, uma proposta de
música nos hospitais pode ser algo interessante, extremamente relevante e de baixo custo.
Recomendamos a continuação da pesquisa, no Estado do Rio de Janeiro, tendo que ter as
considerações que em outros Estados poderemos ter novos gostos musicais e diferentes
interpretações da música no ambiente hospitalar, é importante respeitar os 4% dos pacientes
que não acreditam que a música poderá ajudá-los no momento da internação, sugerindo desta
forma um fone de ouvido, e sugerimos para hospitais a terapêutica musical com profissionais
qualificados com a preocupação da preferência musical respeitando a individualidade de
cada um. Palavras Chaves: Enfermagem/Pacientes hospitalizados, Cuidar/cuidados de
Enfermagem, Música/Processo saúde/doença/cuidados, Musicoterapia, Musica\Cuidado,
Terapias alternativas.
ix
ABSTRACT
CARVALHO, A. A. A. Music as element of the take care/care: a study about the interned
patient and its interaction with the music. Dissertation (Master Degree in Nursing). Escola de
Enfermagem Anna Nery. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2010
The purpose that here is presented as “Music as Element of the Take Care/Care of Nursing:
A Study about the Interned Patient and Interaction with the Music” aimed to promote a
significant take care/care that are functional and provoker, referent to the music application
for the interned patient. The guiding questions utilized as principle were “Are there
therapeutic approaches through the music in the hospital environments in the Rio de Janeiro
county?” Can the music have relation with the Nursing care? What does the music arouse in
the interned patient? Starting from these, there came up the objectives, to search for what
brings the music in the hospital environment for the interned patient and the correlation with
the Nursing care; To do a raising of the hospital institutions that utilize music; Characterize
the interned patient´ s answers and the relation with the music in the hospital environment;
Analyze the relation music, patient and Nursing Care during the hospitalization. The study
brought as theoretical reference Coelho, with the concept of the take care/care of nursing,
Watson, who conceptualize the care as more value that the nursing have to offer to the
humanity and Freire, that led us to understand in thesis cited in the literary revision of this
study, what in fact is music and, how long does the same accompany us and is part of our
lives. Research of qualitative type with thematic analysis. The research´ s subjects were
patients interned in Orthopedics Clinic of two public hospitals of the Rio de Janeiro city. The
results concluded the positive influence of the music in the hospital for the patient during the
internment, shows the expression of emotions and signification before the interned patients.
The results emerged in the research in 03 categories given as the principal, the first was the
clientele profile that showed us age, profession, marital status among others aspects, the
second category treated the musical liking of the Patient, bringing up the culture and
showing the musical liking diversity and third category and last treated of the relation of the
patient interned with the music into the hospital environment, where it was possible
observing the therapy importance among the 50 interned patients. After this research we
reached to the number of 02 patients that told us that the music would not causing any help
in that moment, totalizing 4% in comparison with the others 48 patients that affirmed
positivity in the music therapeutics in the hospital environment that totalized 96%. And of
maximal importance the question of the musical preference of each interned patient, being
essential for all the existence moments and specially for the establishing of an adequate
interpersonal relationship nurse/patient. Therefore, a proposal of music in the hospitals can
be somewhat interesting, extremely relevant and of the low cost. We recommend the
continuation of the research, in the Rio de Janeiro State, needing to have the considerations
that in other States we can have new musical likings and different music interpretations in
the hospital environment, is important to respect the 4% of the patients that do not believe
that the music can help them in the internment moment, suggesting thus an ear phone, and
we suggest for hospitals the musical therapeutics with qualified professionals with the
preoccupation of the musical preference respecting the individuality of each one.
Key Words: Nursing/Interned patients,Take care/care of Nursing, Music/ Health/disease/care
process, Music therapy, Music/Care, Alternative therapies.
x
SUMÁRIO
CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
12
1.1 Situação a ser estudada.......................................................................................................12
1.2 Questões Norteadoras.........................................................................................................20
1.3 Objeto de Estudo................................................................................................................21
1.4 Objetivos.............................................................................................................................21
1.5 Relevância do Estudo..........................................................................................................21
1.6 Contribuição do Estudo.......................................................................................................23
CAPÍTULO II – REVISÃO DE LITERATURA
24
2.1 O cuidado de enfermagem..................................................................................................24
2.2 O cuidado de enfermagem e a Hospitalização....................................................................27
2.3 O cuidado de enfermagem/Hospitalização e a Música.......................................................30
2.4 Conhecendo a História da Música......................................................................................36
2.5 Dados Coletados Relacionados Música Cuidado...............................................................45
CAPÍTULO III - REFERÊNCIAL TEÓRICO
59
3.1 Cuidar/Cuidado de Enfermagem/Música para Paciente Hospitalizado.............................59
CAPÍTULO IV - REFERENCIAL METODOLÓGICO
66
4.1 A natureza da Pesquisa e o Modelo de Estudo...................................................................68
4.2 Instrumento de Coleta dos Dados.......................................................................................69
4.3 Critérios de Inclusão dos Sujeitos da Pesquisa...................................................................69
4.4 Análise dos Dados...............................................................................................................69
4.5 Implicações Éticas Legais...................................................................................................69
4.6 Cenário da Pesquisa............................................................................................................70
4.7 Comitê de Ética...................................................................................................................74
4.8 Coleta de Dados..................................................................................................................75
4.9 População da Pesquisa........................................................................................................76
CAPÍTULO V – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
77
1º Foco 5.1 Perfil Da Clientela......................................................................................77
2º Foco
5.2 Preferência Musical do Paciente.................................................................85
3º Foco
5.3 Relação do Paciente a Música nos Hospitais............................................ 99
CAPÍTULO VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS
121
6.1 Limitação do Estudo e Recomendações...........................................................................123
6.2 O processo de Materialização da Idéia da Dissertação de Mestrado...............................124
REFERÊNCIAS
126
xi
APÊNDICE
Apêndice A – Termo de Consentimento Livre Esclarecido....................................................133
Apêndice B – Diário de Campo..............................................................................................135
Apêndice C – Roteiro de Entrevista........................................................................................136
ANEXOS
Anexo A Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do HGB/RJ......................................138
Anexo B Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa HU/RJ..............................................138
Anexo C Proposta de Repertório...........................................................................................139
LISTA DE QUADROS
1- Artigo sobre a música como no cuidado............................................................................ 45
2- Artigos com a música como Intervenção nas clinicas........................................................47
3- Artigos que trazem a música como uma terapêutica..........................................................48
4- Artigos sobre a música como calmante...........................................................
50
5- Artigos sobre a música nas doenças crônicas
..........................................................52
6- Artigos que trazem a música para adolescentes
...........53
7- Artigos sobre música em intervenções de enfermagem
..........................................54
8- Artigos que trazem a música como aliada para o cuidar
......................................54
9- Artigos que trazem a música como recurso na percepção do paciente..............................56
10- Hospitais visitados para o desenvolvimento da Pesquisa...................................................71
11- Distribuição dos Pacientes com preferência pelo Samba/Pagode..........................
85
12- Distribuição dos Pacientes com preferência pela música Gospel..........................
88
13- Distribuição dos Pacientes com preferência pela música Hip-Hop...................................90
14- Distribuição dos Pacientes com preferência pela música Sertaneja....................................91
15- Distribuição dos Pacientes com preferência pela MPB..........................................
93
16- Relação dos Pacientes e efeito da música nos Hospitais................................................. 99
17- Relação dos Pacientes e Música nos Hospitais.................................................................103
18- Relação dos Pacientes e Música durante sua hospitalização........................................... 109
19- Relação dos Pacientes e Música como companhia.......................................................... 114
20- Relação dos Pacientes e Música como recurso para alegrar ......................................... 118
LISTA DE TABELA E GRÁFICOS
Gráfico 1 – Distribuição por ano das Publicações............................................................... 58
Tabela 1. Distribuição dos Pacientes Internados, sexo.............................................................78
Tabela 2. Distribuição dos Pacientes Internados, faixa etária...................................................79
Tabela 3. Distribuição dos Pacientes Internados, grau de escolaridade....................................80
Tabela 4. Distribuição dos Pacientes Internados, estado civil................................................ .81
Tabela 5. Distribuição dos Pacientes Internados, profissão....................................................82
LISTA DE FIGURA
1 – Roda de Samba....................................................................................................................88
2 – Coral Gospel.......................................................................................................................90
3 – Hip-Hop..............................................................................................................................92
4 – Violonista............................................................................................................................93
5 – MPB....................................................................................................................................98
12
CAPÍTULO I
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Canta, canta minha gente
Deixa tristeza pra lá
Canta forte canta alto
Que a vida vai melhorar.
MARTINHO DA VILA, (1974)
www.google.com.br
De acordo com a Norma Operacional Básica (NOB/96), a integralidade, um dos
princípios do Sistema Único de Saúde, exige novos padrões de relacionamento entre serviços,
profissionais e usuários que se efetivam através da relação entre os diversos atores com suas
diferentes perspectivas e interesses, no interior das instituições, nos vários níveis de atenção
do sistema de saúde (BRASIL, 1997).
A partir desta concepção como ponto de partida, o exercício da integralidade
pressupõe um olhar atencioso às diversas perspectivas que compõem o processo de produção
de saúde: dos usuários, dos grupos de profissionais, das instituições e serviços e do sistema de
saúde (RIBAS, 2002, p.2)
No processo de inter-relação destas perspectivas estão presentes demandas e ofertas
que revelam uma pluralidade de diferenças que, muitas vezes, se apresentam de forma
desarticulada e contraditória. O autor (RIBAS, 2002, p.2) acrescenta às relações entre
profissionais de saúde-instituição hospitalar, uma multiplicidade de saberes que se evidenciam
13
por expressar particularidades das diversas lógicas que orientam as profissões e as dinâmicas
dos serviços.
Nesta perspectiva, a integralidade supõe uma capacidade de agir através de equipes
multidisciplinares, nas quais haja uma efetiva conjugação dos diversos saberes e práticas. Em
especial, a gestão da instituição tem papel fundamental na maneira pela qual os profissionais
terão uma participação mais ou menos articulada e integrada.
Considerando o momento atual como de grandes transformações em todos os
segmentos da sociedade, todos os profissionais, em especial os enfermeiros e suas equipes,
que por tratarem da essência da profissão de Enfermagem que é o cuidado, precisam adotar
mecanismos que permitam a discussão sobre o cuidado prestado aos pacientes nos
estabelecimentos de saúde, bem como a necessidade de legitimar este como foco principal do
trabalho da equipe de enfermagem, o qual visa à valorização do ser humano em todas as
etapas de seu ciclo de vida, desde o nascer até o morrer.
Segundo Alencar, Lacerda e Centa (2005, p.27), em seu artigo “Finitude Humana e
Enfermagem: Reflexões sobre o (Des) Cuidado Integral e Humanizado ao Paciente e seus
Familiares durante o Processo de Morrer”, “ter cuidado com alguém ou alguma coisa é um
sentimento inerente ao ser humano, ou seja, é natural da espécie humana, faz parte da luta
pela sobrevivência e percorre toda humanidade”. A enfermeira realmente encara o cuidado
como ação humana, aliado ao saber biológico técnico e à aplicação impessoal do seu saber.
Ela considera o paciente e seus familiares em seu ciclo de vida, suas experiências, sua
integralidade e múltiplos aspectos e dimensões como seres humanos. O cuidar é a essência da
Enfermagem, o olhar para cuidar com eficiência e resolutividade deve envolver a ação do
cuidado prestado não apenas aos seus clientes/pacientes, mas também à família e outros
membros.
Minha vida profissional teve início na música, como vocalista de uma banda de
Música Popular Brasileira. Estive, desde 1995, cantando músicas Populares Brasileiras à noite
no Rio de Janeiro, em casas de show como, Scala, Asa Branca, Passeio Publico, entre outras.
No período de 2001 a 2002, resolvi estudar música na Escola de Música Villa Lobos no
centro do Rio de Janeiro onde estive por um ano fazendo teoria musical e ingressando em
aulas de Piano Clássico. No período de 1995 a 2007 a música era minha única fonte de
sustento e recurso. Em 2003, após decidir que iria cursar uma faculdade, tive que optar entre a
Faculdade de Música, e a de “Enfermagem”, profissão que eu muito admirava. Essa
admiração surgiu após conhecer uma enfermeira, minha vizinha e que falava do seu dia-a-dia
e das gratificações pessoais que essa profissão proporcionava ao poder fazer algo ao próximo.
14
Desta forma comecei a pesquisar assuntos relacionados à mesma, e a obter mais
conhecimentos sobre o ser humano como um todo, concluindo, por fim que o caminho
deveria ser a graduação em enfermagem.
No ano de 2003 comecei a cursar a Faculdade de Enfermagem, identificando-me com
o cuidado e a aproximação ao meu semelhante. Muitos aprendizados ocorreram durante o
período da minha graduação, estes somados à convivência no ambiente hospitalar e às muitas
observações feitas em estágios fizeram com que aprendesse coisas que viriam, mais tarde, a
mudar o curso de minha vida.
No período em que cumpria os estágios em Hospitais, recordei-me de uma aula que
havia tido no curso de música. Fomos orientados a tentar perceber naquele momento o
imperceptível, avaliar sons e situações os quais não fazíamos costumeiramente. O conteúdo
dessa disciplina se chamava Percepção, e através da apreensão desses conhecimentos pude
olhar para os pacientes e perceber o que de fato se passava; a escuta dos bips e som oriundo
dos aparelhos eletrônicos conectados aos pacientes me fazia perceber que mesmo estando ali
para estagiar, por alguns momentos sentia tensão e medo, já que o mundo lá fora me parecia
distante da realidade de um ambiente hospitalar.
De tais observações, emergiu o projeto de Monografia na Universidade Augusto
Motta, concluído em 2007. O projeto foi intitulado “Musica Terapêutica Hospitalar: Terapia
Complementar na Assistência de Enfermagem ao Cliente Hospitalizado”. Desse estudo
bibliográfico foram feitas muitas pesquisas, além de ter propiciado a descoberta da interseção
entre as áreas de música e enfermagem. Pode-se dizer que foi muito valioso perceber que
apesar da música e enfermagem parecerem mundos distantes, as mesmas andam
paralelamente e convergem para um único ponto: o bem estar e recuperação do paciente.
Esse estudo permitiu vislumbrar que sua continuidade levaria à descoberta de novos
conhecimentos para o mestrado através de um levantamento bibliográfico e sistemático, em
que 100% dos dados apontavam respostas positivas na relação música/paciente. Ao término
dessa pesquisa monográfica, comecei a aprimorar tais dados e planejar a sua continuidade sob
a perspectiva de um curso de mestrado.
Trabalhando atualmente como enfermeira na área de pronto - atendimento numa
região do município do Rio de Janeiro, inquietou-me, certo dia, a questão sobre o uso da
música nos hospitais. Com os conhecimentos adquiridos em relação à música e Enfermagem,
através de levantamentos bibliográficos realizados para minha Monografia, observei que a
música, além de trazer alegria, pode causar tristeza; além de recordações boas, pode trazer
lembranças ruins; e, da mesma forma que ela pode ser agradável poderá causar incômodo,
15
questões estas que foram discutidas no decorrer da minha pesquisa de graduação, com a
finalidade de chegar a um denominador comum e proporcionar ao paciente um ambiente de
conforto e longe de fatores de estresse e ruídos desagradáveis.
1.1 Situação a ser Estudada
www.google.com.br
Concepções advindas da área da Musicologia e Estética sobre a experiência musical
remetem ao fato de que a música tem um significado e este é comunicado para quem a faz e
para quem a ouve.
Meyer (1956), ao estudar o tema das emoções e significados e sua relação com a
música, retoma as conhecidas idéias estéticas que prevaleceram e ainda prevalecem sobre a
posição absolutista e referencialista do significado musical.
Reimer (1970), compartilhando das idéias de Meyer (1956), ressalta que os termos
“absolutismo” e “referencialismo” indicam “aonde ir” para encontrar o significado e o valor
da obra de arte.
Para o autor (REIMER, op.cit, p.17), a posição absolutista indica que a significação
musical encontra-se exclusivamente no próprio trabalho de arte, nas relações estabelecidas
intrinsecamente e na composição musical. Esta posição prima por um significado abstrato,
intelectual, intramusical. No absolutismo, complementa o autor, o significado da obra está
nela mesma, ou seja, é para ser encontrado dentro desta (REIMER, op.cit, 17).
Segundo Wazlawick (2007) a posição referencialista explica que a música comunica
significados que se referem ao mundo extramusical dos conceitos, idéias, emoções, eventos,
ou seja, significados que seriam encontrados fora da composição, fora das qualidades
puramente artísticas da obra.
A posição absolutista admite outras duas posições, a saber: a formalista e a
expressionista. O formalismo absoluto diz que o significado da música é puramente
intelectual, existindo a partir da percepção e da compreensão das relações musicais na
16
composição. Os sons na música significam “somente eles próprios” (REIMER, 1970, p. 20).
Por reconhecer e apreciar a “forma pela forma”, prima pelo aspecto do significado advindo de
uma compreensão intelectual-racional. “Os sentimentos e emoções definidos não são
suscetíveis de serem personificados na música. Ao contrário, as idéias expressas pelo
compositor são inicialmente e principalmente, de natureza puramente musical” (REIMER,
1970, p. 21).
O expressionismo vinculado ao absolutismo defende a idéia de que o significado da
música reside na percepção e compreensão das relações musicais do trabalho artístico, sendo
estas relações capazes de estimular sentimentos e emoções no ouvinte. Meyer (1956)
concorda com o formalismo quando diz que o significado e o valor da obra de arte devem ser
encontrados nas qualidades estéticas da obra. Apesar de rejeitar os significados extramusicais
do referencialismo, aponta que a relação da arte com a vida deveria ser reconhecida
(REIMER, 1970).
A transformação, no século XX, da música em bem de consumo (ADORNO, 1975)
criou diferenciações intensas entre o público, elitizou a chamada "musica culta" e intensificou
a passividade e a massificação dos ouvintes. Contudo, convivem com essa "música culta"
(também diversificada) diversas outras modalidades de música, da folclórica à música de
consumo, numa pluralidade de situações divergentes. A multiplicidade de situações da própria
"musica culta" pode ser ilustrada pelo trecho que se segue:
O espaço da modernidade é caracterizado, simultaneamente, pela riqueza e pela
diversidade da atividade musical. Os grandes centros culturais de então propiciaram
o surgimento de um número enorme de estéticas diferentes e, com freqüência,
divergentes, criando uma agitação de idéias sem paralelo na História da Música.
Pois, contrariamente a outros momentos da História, a modernidade definiu-se não
como um período de um estilo geral, característico de uma época, mas como de
vários estilos, e, em algumas de suas instâncias, o de várias linguagens (MORAES,
1983, p.12)
A diversidade de estilos, assinalada por Moraes, é, sem dúvida, uma característica da
época. Embora seja possível questionar em que medida teria havido homogeneidade, em
termos de "estilo geral, em épocas passadas da História, cabe destacar no presente momento,
a heterogeneidade musical do século XX.
Diante de um quadro tão heterogêneo, Adorno (1975 apud Candé1981, p.33),
distingue em nossa sociedade oito tipos de comportamento musical, que podem,
resumidamente, ser assim descritos:
17
1) o ouvinte ideal, a quem nada escapa, e a quem o compositor considera como o
único que pode compreendê-lo perfeitamente, graças a uma "audição totalmente adequada" e
a uma “escuta estrutural”;
2) o bom ouvinte, aquele que também escuta algo mais que fenômenos sonoros
sucessivos, compreendendo, perfeitamente, o sentido da música, embora de forma pouco
consciente, por não ser um técnico;
3) o consumidor de cultura, tipo especificamente burguês, que tende, hoje, a substituir
o bom ouvinte;
4) o ouvinte emocional, ao qual a música serve, essencialmente, para liberar os
instintos habitualmente rejeitados ou reprimidos pelas normas sociais;
5) o ouvinte rancoroso, que faz do tabu imposto ao sentimento a norma de seu
comportamento musical, sendo superficialmente não-conformista, refugia-se no passado, que
ele imagina mais puro;
6) o "expert" em jazz, que não é, necessariamente, um técnico, mas é, sempre, um
especialista;
7) o ouvinte de musica de fundo, totalmente submisso à pressão dos meios de
comunicação de massa;
8) o a-musical, indiferente ou hostil, que é aquele a quem a música é totalmente inútil
ou incômoda.
No contexto da relação da música e enfermagem passamos por teorias de diversos
autores, Coelho (1997), em sua tese “Cuidar/Cuidado em enfermagem de emergência:
Especificidade e Aspectos Distintivos no Cotidiano Assistencial”, afirma a relevância de
considerar a aplicação dos cuidados que visam à manutenção dos sinais vitais, à preservação
dos órgãos nobres - como o coração, o cérebro, rins e pulmão, à observação dos sinais e
sintomas e à sua evolução imediata.
Objetiva, ainda, proporcionar um ambiente adequado e o atendimento de necessidades
como alimentação, eliminações, posição anatômica e funcional, postura corporal correta,
repouso, vestuário, restrição mecânica cuidadosa e eficiente e assistência religiosa e familiar.
Tais cuidados são operacionalizados de forma técnica à execução de uma série de atividades
psicomotoras, subdivididas, compondo uma rede interligada de cuidados (COELHO, 1997).
A autora (COELHO, op.cit., p.33), afirma que a música, num ambiente de emergência,
tem como proposição interligar o ambiente interno ao externo. Afirma que as ocorrências da
emergência, freqüentemente, retiram as pessoas rapidamente do seu ambiente e de forma
18
brusca do convívio social, rompendo os laços afetivos, familiares, sociais e políticos
cotidianos.
Após o contexto acima, é importante salientar que essa dissertação foi desenvolvida na
prática da Música como apoio às terapias relacionadas à saúde para paciente hospitalizado,
com a seguinte questão:
Por que haveríamos de desejar ter música nos hospitais?
Em resposta simples a questão, poderia dizer que, a princípio, o faríamos para
distração dos pacientes, acompanhantes e funcionários, ou para tornar o ambiente hospitalar
mais agradável.
Essa seria uma das possibilidades, porque a hospitalização (admissão e permanência
em um estabelecimento hospitalar) constitui um momento de ruptura na vida das pessoas,
no qual os aspectos sociais e culturais, além dos biológicos e psíquicos, se encontram
comprometidos. Portanto, uma proposta de música nos hospitais pode ser algo interessante.
Durante a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 28 de Julho de 1914 e 11 de
Novembro de 1918, os hospitais dos Estados Unidos da América contratavam músicos
profissionais como algo com a finalidade de ajuda, observando-se o efeito relaxante e
sedativo nos doentes de guerra produzido pela audição musical. Porém, somente perto da
segunda metade do século XX, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), devido à
grande quantidade de soldados feridos e inúmeros traumas jamais vistos, é que houve um
início efetivo da utilização científica da música, originando a musicoterapia (VON
BARANOW, 1999).
Segundo Barcellos (1992) a música ainda é utilizada como recurso para a cura em
inúmeras tribos e outras sociedades não tecnológicas na Ásia, África, América, Oceania e
Europa. Para entender melhor é importante uma definição de música, segundo BRUSCIA
(2000):
A música é uma instituição humana na qual os indivíduos criam significação e
beleza através do som, utilizando as artes da composição, da improvisação, da
apresentação e da audição. A significação e a beleza derivam-se das relações
intrínsecas criadas entre os próprios sons e das relações extrínsecas criadas entre os
sons e outras formas de experiência humana. Como tal, a significação e a beleza
podem ser encontradas na música propriamente dita (isto é, no objeto ou produto),
no ato de criar ou experimentar a música (isto é, no processo), no músico (isto é, na
pessoa) e no universo (BRUSCIA, 2000, p.111).
19
De acordo com Barcellos (1992) o som é um dos elementos constitutivos primordiais
da música, juntamente com o ritmo, melodia e harmonia. Ele nos acompanha desde a vida
intra-uterina até a nossa morte, e embora, muitas vezes, não percebemos, fazemos parte de
uma paisagem sonora que ao mesmo tempo nos envolve e contamina, sendo portanto, o som,
um fenômeno físico ou uma forma de energia mecânica, resultante da vibração rápida de um
corpo, que se propaga num meio elástico e que se caracteriza, principalmente, por uma
sensação espacial, a sensação sonora, sendo este fenômeno capaz de impressionar o ser
humano, podendo ser percebido de duas formas: através do sistema tátil (vibração) e auditivo
(ondas sonoras).
O autor (BRUSCIA, 2000) fala a respeito da importância de se pensar sobre a
experiência sonora em geral sem esquecer a dimensão coletiva, as sensibilidades culturais ou
a percepção sonora, ressaltando que os sons musicais facilitam as relações interpessoais,
aproximando ou reaproximando os homens, levando-os a se agruparem. Os sons, agradáveis
ou não, quando produzidos pelos clientes são a sua expressão, o que ele deseja estar emitindo
ou é capaz de estar expressando no momento, sendo, portanto, material de trabalho.
VON BARANOW (1999) diz que a música atinge diferenciadamente áreas de nossa
psique que dificilmente são atingidas por outras fontes de estímulos, manifestando
sensibilidade, emoção, timbres diversos, ritmos, melodias e harmonias, numa espécie de
linguagem emocional, levando-nos a reagir numa grande e variável escala, em áreas e
percepções somente experienciadas através dela.
Nesse sentido, consideram-se diferentes autores com diferentes pontos de vista como
Oliver (2007) que, em seu livro “Alucinações Musicais” cita Mac Donald Critchley (1937),
um excepcional observador de síndromes neurológicas raras o qual menciona em seu artigo
pioneiro “Epilepsia Musicogênica” onze pacientes que sofriam de ataques epilépticos
induzidos por música.
O autor cita o caso de um eminente crítico musical do século XIX, Nikonov, como o
mais impressionante de todos. Este que sofreu o primeiro ataque durante a apresentação da
ópera o Profeta de Meyerbeer, foi se tornando, a partir daí, cada vez mais sensível à música,
até que por fim quase toda música, por suave que fosse, causava-lhe convulsões. “A mais
nociva de todas”, salientou Critchley, “era o chamado fundo ‘musical’ de Wagner, que
apresentava uma incessante e inescapável procissão sonora,”. Nikonov, profundo conhecedor
e apaixonado por música, acabou sendo forçado a deixar sua profissão e a evitar qualquer
contato com música (OLIVER, 2007, p.263). Quando ouvia uma banda de metais passando
pela rua, tapava os ouvidos e corria para a porta ou dobrava a esquina mais próxima. Adquiriu
20
verdadeira fobia, um horror por música, e o descreveu em um ensaio intitulado “Medo de
Música’ (OLIVER, 2007, p.263).
Flosdorf e Chambers (1973) em sua pesquisa “The day music died” citado na obra de
TAME (1997), descobriram que sons agudos projetados num meio líquido coagulam
proteínas. Uma recente mania de adolescentes consistia em levar ovos frescos a concertos de
rock e colocá-los à beira do palco. No meio do concerto, os ovos podiam ser comidos cozidos
como um resultado da música. Surpreendentemente, poucos afeiçoados ao rock perguntavam
a si próprios o que a mesma música poderia lhes causar em seus corpos.
Após as citações acima, é compreensível o fato de que, apesar de serem pesquisas
diferentes, pontos de vista diferenciados, todos indicam que, de alguma forma, a música pode
influenciar o quadro clinico de um paciente.
O autor (OLIVER, 2007) explica que existem vários estilos de músicas, algumas com
ênfase no ritmo rápido ou sincopado, outras lentas com ritmo regular. O ritmo da música
exerce, segundo ele, forte influência sobre as batidas do coração. Síncopes musicais também
refletem em síncopes das pulsações do coração.
Numa experiência dirigida por Salk (1982) em seu livro “O Que toda Criança Gostaria
que seus Pais Soubessem”, realizado em um berçário de hospital, tocou-se para recémnascidos um disco em que haviam sido gravados os batimentos cardíacos normais. A maioria
dos bebês acalmou-se e dormiu. Em seguida, fez-se ouvir a pulsação cardíaca acelerada de
uma pessoa excitada. Quando se tocou esta segunda, todos os bebês despertaram, quase todos
tensos e alguns chorando.
1.2 Questões Norteadoras
Partindo desse contexto e de uma visão direcionada ao cuidar/cuidado ao paciente
hospitalizado diante de cada informação colhida e de cada fato observado acrescido das
bibliografias revisadas, surgiram inquietações como questões norteadoras do presente estudo.
- Existem abordagens terapêuticas desenvolvidas através da música nos ambientes
hospitalares no município de Rio de Janeiro?
- Pode a música ter relação com o cuidado de Enfermagem?
- O que desperta a música no paciente hospitalizado?
21
1.3 Objeto do Estudo
Neste sentido, este estudo tem como objeto Música nas instituições hospitalares e o
processo do cuidado de Enfermagem ao paciente hospitalizado.
Sob o ponto de vista de Watson (1996), o paciente é o sujeito do cuidado de
enfermagem. Como tal deve-se considerar sua capacidade de questionar, de refletir, de
reivindicar seus direitos e suas necessidades. Assim, no espaço do cuidado, existe uma
transação de cuidado pessoa a pessoa, o que implica numa interação entre quem cuida e quem
participa do cuidado, partindo da premissa de que o enfermeiro não atua no paciente, mas com
o paciente. Por isso, a autora defende que o cuidado é relacional e recíproco.
Penso então que o cuidado deve valorizar os aspectos que se relacionam com a
subjetividade do homem, conforme preconiza o cuidado humano, na concepção de Watson
(1996), cujos atributos incluem a valorização do aspecto psicossocial do cuidado. A autora
defende a preservação da sensibilidade, da afetividade, da criatividade e da expressividade no
cuidado, além do desempenho de tarefas ou técnicas.
1.4 - Objetivos do Estudo
Partindo do contexto acima, para um cuidar/cuidado de enfermagem diferenciado, a
partir das referidas inquietações, surgem os seguintes objetivos:
Geral: - Buscar o que traz a música no ambiente hospitalar para o paciente
hospitalizado e a sua correlação com o cuidado de Enfermagem
Específicos:
- Realizar um levantamento das instituições hospitalares que utilizam música.
- Caracterizar as respostas do paciente hospitalizado e sua relação com a música no
ambiente hospitalar.
- Analisar a relação música, paciente e Cuidado de Enfermagem durante a
hospitalização.
1.5 - Relevância do Estudo
Domingo, 10 de janeiro de 2010, no segundo caderno do Jornal o Globo, na coluna
Gente Boa, de Joaquim Ferreira dos Santos, foi publicado o seguinte:
22
Viva Carioca/1
- “Alegria é o nosso melhor produto”. Diz o embaixador Jerônimo Moscardo (nascido
em Fortaleza em 06 de novembro de 1940, diplomata brasileiro, ele foi secretário particular
do presidente Castelo Branco de 1965 a 1967 e ministro da Cultura de 1 de setembro a 9 de
dezembro de 1993, foi embaixador do Brasil na Costa Rica, na Bélgica e representante
permanente junto à ALADI e à UNESCO, Atualmente presidente da Fundação Alexandre de
Gusmão (FUNAG) do Ministério das Relações Exteriores). Depois de enfrentar uma cirurgia
de emergência, pernoitava à espera de quarto na enfermaria do Copa d’Or quando ouviu, as
duas da madrugada, voz feminina cantando uma balada de Roberto Carlos.
Viva Carioca/2
- Ainda anestesiado, o embaixador pensou que já fossem anjos. Era a
enfermeira feliz. “Isso não acontece em lugar nenhum do mundo” diz Jerônimo, que teve alta
no mesmo dia dessa reportagem.
Quanto à música, muitos enfermeiros ou membros da equipe de enfermagem cantam
para seus pacientes durante o plantão, destaque que se faz para um técnico de Enfermagem,
do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que nos relata através de entrevista
realizada no dia 21/01/10 ás 11:30mim.
José Candido: A Enfermaria de Cuidados Intensivos (ECI) funcionava à época no
décimo primeiro andar, até um dia deixou de existir, infelizmente. Era geralmente na hora do
banho que eu permanecia por mais tempo e mais próximo ao paciente, ele tinha síndrome
anticorpo porta glicídio, que vai coagulando os vasos, então eles achavam que ele já tinha
feito um colapso cerebral e iria ficar vegetando, a equipe já havia desistido de investir grandes
coisas nele. Eu sou evangélico e à época cantava quando fazia os procedimentos, eu tenho
sempre esse hábito de ficar cantando, não que tenha uma boa voz, mas é que eu gosto de ficar
cantando quando estou cuidando dos pacientes, por hábito mesmo, foi quando comecei a
perceber que a música tinha efeito nele, quando eu cantava começava a chorar. Quando a mãe
dele cantava também chorava, sinal que ele sentia mesmo, mas só eu acreditava, pois apenas
lacrimejava, por isso esse fenômeno não tinha muito crédito, e, com o passar do tempo ele
começou a esboçar alguns movimentos faciais, foi acordando daquela sedação, e nesse
momento foi quando pedi a mãe do paciente para trazer um radinho para colocar, a mãe dele
trouxe e nós (o eu e a mãe) colocamos, e foi ai que descobri ele também era evangélico e
perguntei para ela qual música que ela cantava para ele, que fazia ele chorar muito e ela
cantou assim: “ ... ai Jesus ... senhor Jesus eu não quero ...” música evangélica, ai ele chorava
e as lágrimas escorriam, colocamos o rádio na estação que ele gostava de ouvir e ficava ali
23
direto, nesse momento a enfermeira que estava trabalhando comigo na época, ficou realmente
impressionada de como ele estava respondendo àquelas músicas, e sensibilizou todo mundo e
dessa forma permitiram que ficasse o radinho por todo o tempo a seu lado, ele ficou escutando
direto até acordar do coma, usava fone de ouvido, só para ele, pois não se sabia se o paciente
do lado iria gostar, esse paciente saiu da clinica bem, e até onde sei ele permanece bem.
Sempre canto para meus pacientes até hoje.
O que trago como relevância do estudo é a integridade nos aspectos físico e mental do
paciente, porque, por mais que profissionais que atuam no ambiente hospitalar se preocupem
com o aspecto mental sob a égide da humanização, o ambiente hospitalar com sua sonoridade
peculiar dos bips de monitores, alarmes de equipamentos entre outros, é sempre caracterizado
por certa tensão, doses variadas de sofrimento, dor, desafios na luta pela vida, dificuldades no
enfrentamento de perdas e da morte que levam a pairar no ar estados de ansiedade, depressão
e temor. Via de regra é assim, fazendo com que as pessoas tenham a sensação de um pulsar de
vida “lá fora” e dificuldades de percepção da vida que continua a pulsar ali dentro.
1.6 - Contribuição do Estudo
A música por muitos autores tais como Dobro (2000) Bruscia (2000) Ruud (1990),
entre outros, citados no decorrer desse estudo, é passível de uso no cuidado que é a essência
de enfermagem. Buscamos identificar a real ligação entre música e cuidado de enfermagem
ao paciente hospitalizado.
Como contribuição principal no cuidado para o paciente hospitalizado, tem-se, como
ponto de referência, um ambiente mais livre de fatores de estresse, destacando sempre a
questão do cuidado físico, mental e social. Além dessa, após a conclusão do estudo, tencionase divulgar em hospitais os resultados do que a música proporciona ao paciente hospitalizado,
além de elaborar projetos para um ambiente saudável nas enfermarias, de acordo com a
conclusão a que chegou este estudo.
Por fim, contribuir para o núcleo de pesquisa NUPENH/EEAN/UFRJ e para futuros
trabalhos relacionados à música, hospital e cuidado, trazendo resultados fidedignos para
apresentações em palestras à pacientes hospitalizados.
24
CAPÍTULO II
REVISÃO DE LITERATURA
2.1 O Cuidado de Enfermagem
www.google.com.br
A enfermagem, enquanto prática é tão antiga quanto a existência humana. No entanto,
apenas na segunda metade do século XIX se estabeleceu como profissão, a partir da atuação
de Florence Nightingale, na Inglaterra. Nessa época, ela proporcionou melhores condições de
higiene às instituições hospitalares, contribuindo para o melhor funcionamento dos hospitais e
a cura das pessoas. Seus ensinamentos foram aplicados com resultados fantásticos,
diminuindo drasticamente o índice de mortalidade da época, e esses ensinamentos foram
aprimorados e aperfeiçoados pelos seus seguidores (MOLINA, 2004)
COSTERANO (2001, p. 29), nos diz que: “ (...) ter cuidado com alguém ou alguma
coisa é um sentimento inerente ao ser humano, ou seja, é natural da espécie humana, pois faz
parte da luta pela sobrevivência e percorre toda a humanidade.”
O cuidado é o verdadeiro instrumento dos profissionais cuidadores, os enfermeiros,
atitude que vai além de executar técnicas ou administrar medicações. Significa colocar-se no
lugar do outro e perceber suas necessidades, tanto fisiológicas como emocionais, dar ao outro
25
conforto e segurança, para que este possa passar pelos “momentos difíceis” de forma mais
amena e tranqüila.
HORTA (1979, p. 3) faz as seguintes reflexões sobre a enfermagem:
(...) o Ser Enfermeiro é um ser humano, com todas as suas dimensões,
potencialidades e restrições, alegrias e frustrações; é aberto para o futuro, para
a vida, e nela se engaja pelo compromisso assumido com a enfermagem. Este
compromisso levou o a receber conhecimentos, habilidades e formação de
enfermeiro, sancionados pela sociedade que lhe outorgou o direito de cuidar de
gente, de outros seres humanos. Em outras palavras: o Ser Enfermeiro é gente
que cuida de gente.
A autora (HORTA,1979, p.3) considera que o Ser cliente ou paciente pode ser um
indivíduo, uma família ou uma comunidade; em última análise, são seres humanos que
necessitam dos cuidados de outros seres humanos em qualquer fase de seu ciclo vital e do
ciclo saúde - enfermidade.
A enfermagem é sinônima de cuidado, sendo este relacionado com o outro diante do
enfrentamento do processo saúde doença, e envolvendo aspectos políticos, econômicos,
sociológicos, antropológicos, psicológicos, históricos e clínicos biológicos (PERNA, 1997).
O referido autor afirma que quando nos referimos ao processo saúde doença devemos
ter claro que este envolve o físico e o psíquico, pois, o indivíduo é formado de corpo e mente.
O cuidado está relacionado com a maneira de lidar, de interagir, de assistir, de realizar e de
perceber o indivíduo como um todo, desde suas necessidades humanas básicas, até os
cuidados especializados, como também as suas angústias, medos e expressividades. Sabemos
que o profissional também está preparado para atuar na prevenção, através da orientação e
educação continuada para a comunidade, orientando para a saúde com o intuito de prolongar a
vida. Porém, a necessidade maior de atuação se dá diante da doença, pois o indivíduo na
grande maioria não “espera” e sim adoece, passando a necessitar de uma equipe de
enfermagem atuante no cuidado.
Na evolução histórica do cuidado de pessoas doentes, há registros de que tais pessoas
eram mantidas em locais úmidos, sem luz natural e sem higiene. Pode-se lembrar dos
sanatórios para os hansenianos da Idade Média, os quais eram ambientes insalubres, sem
ventilação, com iluminação insuficiente, leitos coletivos e higiene inadequada, representando
um grande risco à saúde. Noções de assepsia, embora rudimentares e empíricas, já
26
constituíam preocupações dos agentes da saúde desde a idade média, época em que se usava o
enxofre para evitar a propagação da peste bubônica (SANTOS 1997).
As transformações, no século XVIII possibilitaram que os hospitais exercessem ações
terapêuticas mais efetivas. Assim, iniciaram-se as práticas no cuidado com o controle de
transmissão das doenças contagiosas, controle este marcado pela mudança de um hospital
preparado para receber as pessoas destinadas à morte para um local de tratamento e cura
(RODRIGUES, 1997).
Mesmo com o objetivo de controlar a transmissão de doenças, era impossível controlar
a situação de insalubridade dentro dos hospitais, que persistiu até a metade do século XIX,
quando esse cenário começa a se modificar com a descoberta das bactérias por Pasteur, e os
conceitos de anti-sepsia, de Lister (HENSON, 1997).
No fim do século XX, o hospital contemporâneo se apresenta como uma instituição
preocupada com a promoção, recuperação e a reabilitação da saúde (BILGRIEN, 1999). Mas,
para isso, se faz necessário envolver diversos profissionais com saberes e práticas específicas,
com finalidade de proporcionar cuidado individualizado, buscando compreender o
diagnóstico, a terapêutica adequada, sem deixar de se preocupar com os fatores psicológicos,
sociais e humanizados.
Cuidar em enfermagem consiste em envidar esforços transpessoais de um ser humano
para outro, visando proteger, promover e preservar a humanidade, ajudando pessoas a
encontrar significados na doença, sofrimento e dor, bem como, na existência. É ainda, ajudar
outra pessoa a obter autoconhecimento, controle e auto-cura, quando então, um sentido de
harmonia interna é restaurada, independentemente de circunstâncias externas (WALDOW,
1998)
A autora (Waldow, 1998) afirma que o cuidado em enfermagem, nesta concepção de
colocar-se no lugar do outro, aproxima-se das idéias do humanismo latino, ao identificar os
seres humanos pela sua capacidade de colaboração e de solidariedade para com o próximo.
Deste modo, prestar cuidado quer na dimensão pessoal quer na social é uma virtude que
integra os valores identificadores da profissão da enfermagem. Assim, compartilhar com as
demais pessoas experiências e oportunidades, particularmente as que configuram o bem
maior, a vida, constitui um dos fundamentos dos humanistas, que se apresenta na essência do
cuidado de enfermagem.
Nesta linha de raciocínio, o cuidado de enfermagem se baseia em ações que se
estendem ao longo da construção da cidadania, porque potencializa a expressão do cidadão
em sua existência social. O cuidado ao longo da vida social fomenta a autonomia e dignifica o
27
ser, e quando se trata de readquirir a autonomia do ponto de vista do estar saudável, a
enfermagem promove e se insere na humanização da vida. Assim, o cuidado agrega uma série
de ações profissionais de natureza própria da enfermagem, que se concretiza em prática
multidisciplinar e com sustentação teórica apoiada, inclusive, em outras ciências. Isto se dá no
processo de interação terapêutica entre seres humanos, fundamentadas em conhecimento
empírico, pessoal, ético, estético e político com a intenção de promover a saúde e a dignidade
no processo de vida humana (PADILHA, 2003).
O cuidado de enfermagem consiste na essência da profissão e pertence a duas esferas
distintas: uma objetiva, que se refere ao desenvolvimento de técnicas e procedimentos, e uma
subjetiva, que se baseia em sensibilidade, criatividade e intuição para cuidar de outro ser. A
forma, o jeito de cuidar, a sensibilidade, a intuição, o 'fazer com', a cooperação, a
disponibilidade, a participação, o amor, a interação, a cientificidade, a autenticidade, o
envolvimento, o vínculo compartilhado, a espontaneidade, o respeito, a presença, a empatia, o
comprometimento, a compreensão, a confiança mútua, o estabelecimento de limites, a
valorização das potencialidades, a visão do outro como único, a percepção da existência do
outro, o toque delicado, o respeito ao silêncio, a receptividade, a observação, a comunicação,
o calor humano e o sorriso, são elementos essenciais que fazem a diferença no cuidado
(FIGUEIREDO, 1995).
Ao inserir o cuidado de enfermagem no âmbito político e ético, entende-se como parte
significativa na formação do enfermeiro o estudo das humanidades, em geral. Compreende-se
que uma formação humanística se contrapõe à mera operacionalidade e dá sentido existencial
ao cuidar. O cultivo das humanidades contribui para o hábito do pensamento crítico, sem o
qual o cuidado em enfermagem não pode sustentar-se como premissa de apoio a vida humana
associada. (WALTER, 1998).
Ao pensar no contexto desse cuidado tão importante para o cliente, engloba-se o
mesmo no ambiente hospitalar, durante uma hospitalização que, para o cliente, trata-se de um
ambiente estranho, o qual até aquele momento não fazia parte de seu mundo.
2.2 O Cuidado de Enfermagem e a Hospitalização
O ser humano tem necessidades fisiológicas, psicológicas, sociais e espirituais que
devem ser satisfeitas para que sobreviva. Sua capacidade de adaptação ao meio ambiente, que
está em constante mudança, depende de sua habilidade em identificar, examinar e enfrentar
28
problemas. Essa capacidade varia de indivíduo para indivíduo e em um mesmo indivíduo, de
época para época (SILVA; GRAZIANO, 1996)
Os autores afirmam que ao adoecer, sobretudo quando hospitalizado, o indivíduo é
destituído das posições que até então ocupava na sociedade e passa a participar de um grupo
social específico, de doentes internados, onde são impostos papéis caracterizados por
acentuada dependência: seu espaço físico é limitado, suas roupas e objetos pessoais retirados,
o horário de suas atividades lhes é imposto, entre outros aspectos.
Kamiyama (1979) lembra que em algumas situações hospitalares, a problemática
psico-social se agrava ainda mais, como por exemplo, no isolamento de indivíduos com
moléstias infecto-contagiosas.
Nessa dinâmica psico-social do doente hospitalizado, Kamiyama (1979) aponta para o
fato de que seu estado motivacional é especial, pois se caracteriza por insegurança ("o que vai
acontecer comigo"?), perda da independência (às vezes até para tomar banho!), perda do
poder (ter hora inclusive para comer!), perda da identidade ("o Sr. é o leito 21?"), do
reconhecimento social (é tratado por "senhor" independente de ser "doutor") e da auto-estima
(é difícil "se ver" com feridas, edemas, disfunções, incapacidades). Além disso, o paciente
hospitalizado sente falta de atividades, recreação e de relações sociais afetivas. Todos esses
aspectos são uma ameaça à sua identidade social.
Beland e Passos (1975) referem que cada pessoa traz para sua situação de
hospitalização:
•
Um conjunto de valores;
•
Um conjunto de expectativas;
•
Um código de comportamentos (entendido aqui como um conjunto
interiorizado de regras ou padrões que orientam sua conduta);
•
Costumes e rituais que observa e
•
Maneiras pelas quais se comunica com os outros.
Para satisfazer as necessidades aparentes ou não do indivíduo nessa área, Beland e
Passos (1975) relembram que 3 (três) perguntas são básicas à enfermeira: por que a pessoa se
comporta de uma determinada forma? Qual o objetivo desse seu comportamento? Como essa
informação pode ser usada na prática de enfermagem? As autoras afirmam que a falha na
identificação e interpretação do comportamento do paciente, pode ser uma fonte de tensão
psicológica para ele e para a própria enfermeira.
29
Segundo Silva e Graziano (1996), é bom lembrar que abordar e cuidar sob o ponto-devista dos aspectos psico-sociais dos pacientes hospitalizados hoje em dia, é um grande desafio
para a enfermagem e, especificamente, para a enfermeira, por vários motivos. Dentre eles,
pode-se citar:
•
A atual estrutura de atendimento à saúde não valoriza o homem de uma
maneira holística;
•
A abordagem dos aspectos psico-sociais do paciente exige um preparo
específico, por se referir a fenômenos mais "sutis" que os fisiológicos, gerando
ansiedade na enfermeira e, muitas vezes, frustração por não poder alterar as
condições que o paciente continua tendo que enfrentar durante todo seu
processo de convalescença (FERREIRA, 1992; SILVA, 1989).
•
A referida abordagem acima e o cuidado exigem a presença física da
enfermeira ao lado do paciente, mais tempo do que lhe tem sido possível,
independente do fato dela ter algum cuidado físico para ser desempenhado;
•
A enfermeira precisa ouvir mais criticamente o paciente e fazer uso de
questões abertas, que lhe permitam ajudá-lo a se expressar e entender as
"entrelinhas" do seu discurso, quando aparecem, por exemplo, os mecanismos
de defesa utilizados por ele;
•
É necessário que se faça a avaliação conceitual do que o paciente diz e do que
não diz, ou seja, dos sinais não verbais emitidos (seus gestos, expressões
faciais, posturas corporais, por exemplo).
De acordo com Blondis e Jackson (1982), o paciente hospitalizado perde o controle
sobre os parâmetros espaciais, o que pode levar ao estresse psicológico.
Allekian (1979) cita que a invasão do território e espaço pessoal do paciente pode
levar a reações adversas como ansiedade, inquietação, luta ou fuga. A reação geralmente
depende da percepção do indivíduo de tal situação que geralmente depende de uma
multiplicidade de fatores como necessidade individual, experiências anteriores de vida e
pressões culturais.
Segundo Dugas (1984), é necessário observar a distância entre o profissional e o
cliente; o enfermeiro deve conhecer e respeitar as variações da distância que deve ser mantida
nas diferentes situações de interação com o paciente, de forma que ambos se sintam
confortáveis.
30
Dentro do processo de comunicação, um dos aspectos básicos é a distância mantida
entre os interlocutores, pois a forma como um interlocutor se coloca, interfere no processo de
comunicação (SAWADA et al. 1998).
Os autores (SAWADA et al., 1998) lembram outro aspecto importante na
comunicação: o sentimento, já que conhecer o sentimento da outra pessoa em relação a
determinado evento faz com que a comunicação possa ser alterada, a fim de melhorar o
relacionamento.
A importância do conhecimento do sentimento do paciente hospitalizado frente à
invasão do seu espaço pessoal e territorial, nas situações ocorridas no hospital, está no
planejamento de uma distribuição de espaços nas unidades de internação, de modo que as
necessidades dos pacientes sejam atendidas no que tange à garantia de seu espaço, além de
contribuir para o alcance de maior contato humano em situações de alta tecnologia, que
interferem no bem-estar do paciente hospitalizado (SAWADA et al. 1998).
2.3 – O Cuidado de Enfermagem/ Hospitalização e a Música
O ser humano possui em sua vida no mínimo sete "dimensões": física, espiritual,
intelectual, social, profissional, afetiva e familiar. De todas as realizações do homem, a arte é
a que mais intrinsecamente permeia todas essas dimensões da existência humana (MILLECO
e BRANDÃO, 2001).
Assim como o percurso da história do homem há milênios, o autor citado diz que à
medida que ocorrem as lutas e realizações, se desenvolve do mesmo modo a arte, expressão
espontânea, necessidade da humanidade, floresce em tempos igualmente amplos. É uma
exigência a tal ponto irresistível de que não há momento do viver humano, por mais árduo que
possa ser que não se empenhe na criação artística.
Os autores (MILLECO e BRANDÃO, 2001) relatam que o mais próximo que se pode
chegar para alcançar uma definição da música é através do estudo da musicologia, que estuda
o ponto de vista histórico e antropológico da música, podendo até ser entendido como
historiador da música. A musicologia estuda a notação, instrumentos e teoria musical,
métodos didáticos, acústica, história da música e a fisiologia aplicada à técnica dos
instrumentos e suas evoluções.
Segundo os autores citados, a música continuou e continua ligada à arquitetura, ao
espaço (construído ou não), pois música não é só acústica e a acústica depende do meio onde
31
o som é produzido. Uma mesma música tocada em ambientes diferentes produz diferentes
significados. Cada instrumento ou estilo musical funciona de maneira ideal em determinados
tipos de ambientes arquitetônicos, pois, devem-se levar em consideração o volume sonoro e o
volume do ambiente, o eco (que pode ser prejudicial ou fundamental), a relação
músico/ouvinte e outros aspectos.
Tame (1997) destaca que os vários povos do passado tinham, de forma
impressionante, pontos de vista semelhantes em relação à música. Todos a concebiam como
arte de elevada importância prática, diferentemente da concepção atual. O que explica o autor
é comprovado historicamente em quase todas as civilizações avançadas da antigüidade: quer
se trate da Mesopotâmia, quer de outras culturas distantes uma das outras como a da índia e a
da Grécia, onde se afirmava ser a música uma força tangível capaz de ser aplicada com o fim
de criar a mudança, para melhor ou para pior no caráter do indivíduo e o que é mais
importante, na sociedade como um todo.
Segundo a filosofia dos antigos chineses, Tame (1997) explica que a música era à base
de tudo. Diziam que todas as civilizações se aperfeiçoam e se moldam de acordo com o tipo
de música que nelas se executavam.
Outro autor citado afirma que a história da China fala do imperador Shi Shum, que
passava revista em seu reino sem verificar livros de contabilidade dos dirigentes regionais,
sem observar o modo de vida da população, sem receber relatórios dos súditos, e sem
entrevistar funcionários, mas, sim, escutando as músicas que eram tocadas nas diversas
regiões do seu imenso reino.
O autor (CANDE, 2000) explica que não houve uma data precisa para o surgimento da
música, e, assim, os olhares em relação ao seu surgimento e permanência durante o percorrer
dos anos não se explica, pois há muito, a música já habita em nossas vidas, e, no tocante a
pesquisa, busca-se perceber sua ligação com o cuidado à vida.
Dessa forma, entendemos que a música pode ser usada como uma abordagem
inovadora do cuidar de forma organizada, de forma sistêmica, mas, ao mesmo tempo, criativa
(TAVARES et. al. 2002), pois facilita a conscientização de emoções, a comunicação
interpessoal e a possibilidade de se focalizar aspectos saudáveis do cliente numa unidade
hospitalar. Constitui, assim, um importante instrumento na redução da angústia causada pelo
isolamento da internação e na promoção da saúde do cliente.
Segundo Backes (2003, 41), “a música é uma preciosa alternativa terapêutica, capaz de
modificar atitudes e comportamentos, estado de ânimo e, sobretudo as relações interpessoais”.
Compreende-se, assim, que a influência da música é positiva no ambiente e contribui
32
de forma eficaz para que as relações interpessoais estabelecidas entre profissionais e pacientes
se desenvolva de forma mais saudável. A música terapêutica pode ser importante instrumento
na promoção de intervenções mais humanizadas em saúde, inclusive no que diz respeito à
assistência de enfermagem.
A música, como terapia complementar, constitui uma forma peculiar de intervenção
da enfermagem e favorece a emersão da dimensão espiritual humana negligenciada ou pouco
compreendida (...) a música enquanto intervenção de enfermagem merece ser alvo de
investigações futuras (DOBBRO, 1998)
A música, como cuidado, é denominada de música terapêutica, sendo utilizada para
dar conforto, ajudar no manejo da dor, da ansiedade ou do estresse (BRUSCIA, 2000).
Segundo o autor referido, a música, aplicada como terapia em saúde, possibilita uma
assistência diferenciada ao paciente, que passa a ser entendido como sujeito ativo dentro do
processo saúde-doença. Além disso, a música pode favorecer a recomposição do ser humano
como um ser integral, não apenas um mecanismo biológico composto por diferentes partes.
Neste sentido, Benenzon (1988) considerava a música terapêutica como a técnica em
saúde mais voltada à totalidade do individuo. Backes (2003) destaca ainda que a música pode
ser “um excelente subsídio para os tempos modernos, que são marcados pela busca de
alternativas que contemplem a pessoa na sua integralidade”.
Ao contrário do que acontece nas terapêuticas oferecidas pelo modelo biomédico de
saúde, os benefícios provenientes da ação da música terapêutica no organismo vão além das
dimensões físicas. Dessa forma, essa terapia torna-se bastante positiva, especialmente para o
paciente que se encontra hospitalizado e em estado de fragilidade emocional. “A música é
capaz de chamar a atenção para longe dos pensamentos que produzem a depressão e, uma vez
a impressão deixada na consciência, o humor deprimido pode ser substituído” (GIANNOTTI;
PIZZOLIG, 2004).
REMEN (1998) complementa tais considerações quando lembra que a confiança no
processo que provém do conhecimento e experiência pessoal é o verdadeiro alicerce da ajuda
e conforto que damos uns aos outros. Sem ela, todas as nossas ações são guiadas pelo medo.
O medo é o atrito em todos os processos de transição.
O autor citado afirma que como forma de cuidado a música é útil, eficaz e agradável,
pois traz prazer tanto a quem toca ou canta como para quem escuta. A música estimula
empatia, promovendo sintonia entre os participantes no momento de sua execução e tornando
permeável o compartilhamento de emoções, pensamentos e lembranças, desenvolvendo a
interação e facilitando o relacionamento entre os atores sociais envolvidos no processo,
33
enfermeiro/paciente.
Segundo Bruscia (2000 57p)
(...) quando os pacientes ouvem música, ocorre uma forma diferente de validação.
Algumas vezes, a forma como o paciente se sente é válida pelo o que a música está
expressando, quase como se a música dissesse: “É; essa é a forma como você está se
sentindo”. Algumas vezes a música valida por tranqüilizar e oferecer apoio. Ela cria
e mantém um ambiente envolvente, que nos faz sentir em segurança.
O autor (BRUSCIA, 2000, 57) explica que a música é um poderoso estimulante para a
imaginação. Podemos “viajar” por situações e lugares agradáveis embalados por ela, assim
como podemos reviver emoções e evocar lembranças quando escutamos músicas que estão
ligadas à nossa história pessoal e familiar. Ambos os processos podem sugerir situações
ligadas a aspectos saudáveis e a possibilidades diferentes, mudando o foco da doença para a
saúde. Pode-se levar o paciente refletir que a doença é somente uma circunstância, um aspecto
ou um momento, e não deve impedi-lo de sentir prazer.
Segundo Bruscia (2000), durante os primeiros anos do século XX, adquiriram-se, com
a música, maior força nos hospitais, como no retorno dos veteranos das I e II Guerras
Mundiais. Nesse período, o papel da enfermagem foi preponderante para a música terapêutica
e sua projeção.
O autor (BRUSCIA, 2000, p.60) diz que a música na prática de enfermagem tem sido
apontada também como recurso terapêutico complementar no manejo e controle da dor aguda
e crônica e abrangendo as dimensões físicas, mental/psicológica, social e espiritual:
•
Física: promove relaxamento muscular; quebra o círculo vicioso da dor por
aliviar a ansiedade e depressão e, portanto, altera a percepção dolorosa; facilita a participação
em atividades físicas de acordo com as possibilidades individuais.
•
Mental e psicológica: reforça a identidade e o cuidado; altera o estado de
ânimo do paciente; auxilia o paciente a lembrar de eventos significativos do seu passado;
promove a expressão não - verbal de sentimentos, inclusive inconscientes; favorece a fantasia.
•
Social: funciona como ponte entre as diferenças culturais e o isolamento;
promove a oportunidade de participação em grupo, o entretenimento e a diversão;
•
Espiritual: facilita a expressão de sentimentos espirituais e promove
conforto espiritual; auxilia na expressão de dúvidas, raiva, medo, questões relacionadas ao
significado da vida e sua finitude.
34
O autor (BRUSCIA, 2000) lembra que o uso de uma atividade musical no período da
internação leva ao relaxamento físico e mental por reduzir o estresse, a tensão e a ansiedade.
Estimula também o paciente a despertar a atenção, a estabelecer contato com a realidade ou
com o ambiente, a aumentar o nível de energia, a evocar atividade sensória e motora, a
aumentar as percepções sensoriais e a elevar o humor. Tanto o relaxamento como a
estimulação produz uma melhoria do estado de saúde de duas formas: preventiva – ao reduzir
riscos ou aumentar a resistência contra problemas de saúde; e paliativa – ao melhorar a
qualidade de vida de quem enfrenta uma condição de doença.
O conforto é um cuidado afetivo que permite ao cliente entrar em harmonia consigo,
com os outros e com o ambiente. Por isso, a importância de se manter um ambiente
confortável, com redução de ruídos. Assim, podemos incluir a música de fundo e a utilização
consciente e planejada da música. Ruído pode ser entendido como qualquer som que interfere
no ambiente. É o destruidor do que queremos ouvir. A música de fundo foi inventada para
homens com ouvidos (SCHAFER, 1991)
O autor acima citado afirma que os enfermeiros têm como prioridade sempre o
paciente e não as músicas, por isso, devem-se ter determinados cuidados ao colocar música
ambiente em unidade hospitalar, pois essa pode não fazer parte do universo sonoro do
paciente e acaba funcionando como mais um fator de estresse, mais um “ruído” entre tantos
outros.
Segundo Schafer (1991), o homem teme a ausência de som como teme a ausência da
vida... Pois, o último silêncio é a morte e que por isso, o som, com sua vibração preenche o
silêncio, afastando a percepção da morte. Mas, o que é som para uns pode ser ruídos para
outros. Testes científicos revelam que até breves períodos de conversas em voz alta são o
suficiente para afetar o sistema nervoso e assim provocar constrições em grande parte do
sistema circulatório.
O autor explica que escolher o som que nos cerca é escolher a maneira de cuidar:
ruídos ou sons agradáveis, qualquer música de fundo ou música escolhida com respeito ao
gosto musical do paciente. Decidir com quais sons nós, enfermeiros, vamos preencher nosso
ambiente de trabalho é escolher entre ser cuidadoso ou realizar um “(des) cuidado”
(SCHAFER, 1991, p.23).
Há algumas palavras que podemos relacionar ao cuidado: atenção, consideração,
reflexão, observação, escuta/audição, ser “todo ouvido”. E há palavras que podemos ligar ao
descuidado: indiferença, desatenção, displicência, “ surdez”. É interessante como o escutar
está ligado ao sentido de cuidado e o não escutar está ligado a um “descuidado” (SALLES,
35
2000, p.71).
Para Boff (1999), o grande desafio para o ser humano é combinar trabalho com
cuidado. Eles não se opõem, mas se compõem. Limitam-se mutuamente e, ao mesmo tempo,
se completam. Juntos, constituem a integralidade da experiência humana, por um lado ligada
à materialidade e, por outro, à espiritualidade. O equívoco consiste em opor uma dimensão à
outra e não vê-las como modo de ser do único e mesmo ser humano.
O autor (BOFF, 1999) traz outro aspecto importante da utilização da música e como
cuidado, a possibilidade que o paciente tem de participar deste cuidado, não só pela aceitação
ou não deste, mas através da escolha da música, do cantar ou cantarolar e batucar junto, e se
sentir à vontade, até de se movimentar ao som desta música.
Essa possibilidade do agir simultâneo, característica na utilização da música, leva ao
que cuida e ao que é cuidado um momento de intimidade e interação importante. Nesse
sentido, a música oferece os elementos de conforto encontrados em diversos estudos:
liberdade, integração, melhora do cuidado afetuoso, segurança/proteção e comodidade.
(ARRUDA; NUNES, 1998).
O ato de confortar tem valor para quem cuida e é cuidado e oferece a ambos a
oportunidade de crescimento e realização, mas, para isso, é necessário que ambos participem
de forma consciente deste ato (WALDOW, 2001).
A conscientização de ambos acerca deste processo pode promover novas percepções
do ser/estar cuidador ou cuidado, permitindo o desenvolvimento mútuo em direção a uma
condição mais saudável e integrada (BERGOLD, 2000).
O consentimento do paciente em relação à atividade musical é tão importante como o
constante questionamento do profissional de enfermagem quanto ao seu papel como cuidador
e sua forma de ver o paciente.
Segundo Giannotti e Pizzoli (2004), a música ajuda a estimular a imaginação, a
fantasia e a intuição e, assim, auxilia na integração das funções dos hemisférios direito e
esquerdo do cérebro. O sistema nervoso central capta o som. O som é emitido dentro da faixa
que o ouvido vai poder captar, pois quando o som é muito alto ou muito baixo, o ouvido tem
dificuldades de captação devido à intensidade ou não da sonoridade.
O sinal acústico captado produz ondas eletroquímicas que são traduzidas pelo órgão de
Corti situado na membrana basilar. Diversas áreas ao longo da membrana basilar servem
como analisadores de freqüência, distribuindo estímulos ao longo dessa membrana de tal
modo que diferentes células do órgão de Corti responderão a diferentes freqüências de sons.
Os sons de alta freqüência atuam mais perto da base da cóclea (janela oval), e os de baixa
36
freqüência próximos ao ápice (helicotinea) (RUUD, 1991).
O autor (RUUD, 1991) afirma que o córtex, região situada no lobo temporal,
correspondente a área de Brodmann, é o local onde se acredita que a música possa mudar
humores no consciente, estimulando a imaginação e o intelecto, e no inconsciente, agindo na
região talâmica onde são transmitidos as emoções e sentimentos. Os efeitos da música se
inter-relacionam com o tálamo, visto que transmitem sinais através das sinapses das regiões
mais inferiores, ou seja: partindo do encéfalo através da medula espinhal, antes de se
dirigirem ao córtex. Todos os sons sensoriais somestésicos oriundos do corpo são
transmitidos por meio do tálamo ao córtex somestésico.
O som é transmitido para o giro temporal superior também pelo tálamo (metatálamo).
O giro do cíngulo localizado em cada hemisfério, embora seja sabido que a área da música
está localizada no hemisfério direito, permite a associação entre as funções corticais cerebrais
conscientes e as funções comportamentais subconscientes do sistema límbico (RUUD, 1991).
Os sinais gerados no sistema límbico que vão para o hipotálamo podem modificar uma
ou todas as funções internas do corpo que são controladas pelo hipotálamo. O nível de
catecolaminas (compostos químicos, derivados do aminoácido tirosina), principalmente a
adrenalina, presente no sistema nervoso autônomo, reduz-se frente à música. A música
também influencia reduzindo o nível das catecolaminas presentes no sistema nervoso central,
baixando a pressão sobre as paredes dos vasos (FREGTMAN, 1989).
A música eleva a imaginação, que parece influenciar a rede do cérebro que determina
experiências emocionais (sistema límbico), onde os neuroquímicos liberam as endorfinas,
encefalinas, opióides endógenos naturais do corpo, aliviando a dor. A presença de
neuroquímicos naturais do corpo, como as endorfinas, encefalinas e a seretonina, têm um
papel fundamental na analgesia (BONNETT, 2003).
2.4 – Revisando brevemente a Historia da Música
A fim de ordenar e falar um pouco da historia da música em sua tese, consideraram-se
duas classificações -- uma, relativa às grandes fases em que, genericamente, se pode organizar
a história da música ocidental, e outra relativa à categorização das diversas funções sociais
passíveis de serem exercidas pela música.
A primeira classificação, acima referida, é a que Walter Wiora apresenta em seu livro
Les quatre âges de la musique (WIORA,1961, p.175). Nessa obra, Wiora distingue quatro
grandes fases na evolução da música ocidental, a saber:
37
a
1) 1 . Idade - a pré-história e seus prolongamentos entre os povos primitivos, e na
música popular arcaica de civilizações posteriores.
2) 2a. Idade - desenvolvimento da música entre as altas culturas antigas (Mesopotâmia,
Egito, Oriente, antigüidade greco-romana).
a
3) 3 . Idade - surgimento da música ocidental, ou seja, a arte musical ocidental a partir
da Alta Idade Média.
4) 4a. Idade - a idade da técnica e da indústria, localizada pelo autor no século XX.
A "primeira idade" da música, segundo a classificação de Wiora (1961), não foi
documentada em escritos - literário ou musical o que limita nosso conhecimento desse
período.
Freire (1992) afirma que os documentos básicos dessa fase pré-histórica são
instrumentos musicais, esculturas e pinturas, através dos quais podem ser levantadas hipóteses
que buscam reconstruir os acontecimentos musicais do período. Também têm sido úteis as
observações desenvolvidas em comunidades contemporâneas ágrafas, que permitem a partir
de comparações chegarem a algumas conclusões importantes sobre a pré-história musical da
humanidade.
Sobre a música da 1a. Idade, Menuhin (1981) afirma que a música é a nossa mais
antiga forma de expressão, mais antiga do que a linguagem ou qualquer outra forma de arte;
começando com a voz e com a nossa necessidade preponderante de nos darmos aos outros.
Referindo-se, ainda, à pré-história da humanidade, Menuhin (1981, p.5) relaciona caça e
música: “Do ritual da caça surgia a música; o arco podia produzir uma vibração melíflua.
Um ponto de vista amplamente defendido é de que o arco e flecha são ancestrais do violino”.
Freire (1992) nos traz um exemplo de associação entre caça, música e ritual aparece na
referência que Abraham (1986, p.17) faz a um desenho gravado em uma gruta magdaleniense,
datado de 13.500 A.C., que apresenta uma figura metade bisão, metade homem, que pode ser
interpretada como um caçador disfarçado, parecendo tomar parte em um ritual. Sobre ele há
um arco desenhado, e os musicólogos divergem sobre se tal imagem seria uma flauta ou um
arco musical, associando esse instrumento a rituais de magia.
A mesma autora nos mostra outra importante referência feita pelo autor é a associação
entre canto e fala, durante longo tempo, na pré-história da humanidade. Menuhin (1981)
observa que em certas partes do mundo, onde subsistem linguagens antigas (China, Vietnã,
algumas partes da África), a inflexão da fala e a da música permanece inseparável, embora
não idênticas. Apesar, porém, da intrínseca relação das duas, em tempos remotos, o autor
38
(op.cit., Menuhin,1981) assinala que há provas antropológicas de que o canto surgiu antes da
fala.
Ao examinar a segunda idade da música, a que se situa no contexto das antigas
civilizações (Mesopotâmia, Egito, Grécia, Oriente, Antigüidade Greco-Romana), observa-se
que a aproximação no tempo traz maiores facilidades ao exame deste período, tendo em vista
que é nele que a escrita começa a desabrochar, o que permite acesso a textos (inclusive
tratados teóricos musicais, em alguns casos, como China e Grécia), que nos possibilitam uma
compreensão um pouco mais clara.
Menuhin (1981), referindo-se a essa fase, afirma:
De acordo com descobertas recentes no Oriente Próximo, os primeiros símbolos da
palavra escrita começaram a aparecer há mais ou menos dez mil anos,
principalmente para facilitar o comércio. A escrita ajudou a separar a música da fala.
As palavras escritas na argila ou no papiro podiam transmitir rapidamente
mensagens simples, ao passo que a música estava vinculada à expressão de
sentimentos complexos (MENUHIM, 1981, p.6).
Wiora (1961) estabelece, para a segunda idade, uma divisão em três períodos: o
primeiro, envolvendo as altas culturas arcaicas; o segundo, começando com o nascimento da
teoria musical e com uma concepção filosófica da música, na Grécia e na China; o terceiro,
compreendendo a sobrevivência da Antigüidade no Oriente e o desenvolvimento posterior da
música nas culturas superiores dessa parte do mundo.
Candé (1981), referindo-se à civilização greco-latina, afirma:
Foi na Grécia onde, pela primeira vez a nível de consciência musical, apareceram a
ambição de criar e o gosto de escutar. Durante milênios a música viveu a eficácia :
religiosa, mágica, terapêutica, militar, se dirigia aos deuses e aos reis, aos poderes
visíveis e invisíveis. Entre os gregos se converte em arte, em uma maneira de ser e
de pensar: revela sua beleza ao primeiro público socialmente consciente. (CANDÉ,
1981, p.68)
O autor (1981) ainda aponta para o fato de que, sendo a música derivada do “ensino
das Musas", "requer uma instrução que não pode ser puramente estética: se converte em
disciplina escolar, em objeto de maestria, da medida de valores éticos, é uma ‘sabedoria”
(CANDÉ, 1981, p. 72)
Wiora (1961) aponta, também, para os diversos efeitos do canto entre os gregos: “O
canto culivava aos gregos nos festins, nos sacrifícios, nos jogos públicos, nos campos de
39
batalha e nos alegres banquetes. O canto os acompanhava ao reino dos mortos e adoçava os
terrores dos Infernos” (WIORA, 1961, p. 72).
Aspectos musicais, matemáticos e místicos se interligavam, e a fraternidade religiosa
fundada por Pitágoras buscava atingir, segundo Wiora (1961), a purificação da alma pela via
monástica e pela música, esperando escapar ao ciclo de migração da alma pela iniciação aos
mistérios dos números eternos e da harmonia cósmica.
Candé (1981) apresenta referências à concepção pitagórica de "boa música", com base
em relações matemáticas. O autor destaca que Aristóteles acrescenta às especificações éticas
da música (que por sua vez se relacionam a concepções matemáticas), a doutrina da Katharsis:
“Trata-se de um método psicoterápico por analogia, em que a música excita na alma enferma
sentimentos violentos que provocam uma espécie de crise que favorecem o retorno ao estado
normal” (Aristóteles, Política, VIII. 7).
Depois de absorvida pelo império romano, a música grega dá origem, segundo Wiora
(1961), a uma nova cultura musical, aparecendo em teatros, circos, distrações e danças - "a
esta passagem da música às massas, correspondia um gênero de música que se distanciava das
massas" (WIORA, 1961, p.86).
Menuhin (1981) assinala que quando Roma derrotou a Grécia, copiou-lhe a música,
juntamente com a arquitetura e a escultura, mas que "a importância da música diminuiu
muito, porque Roma orientava-se para a palavra, a lei e a espada” (MENUHIN, 1981, p.40).
Depois da queda da civilização romana, uma nova força cultural começou a emergir no
Ocidente - a Igreja Cristã.
Freire (1992) afirma que através dos romanos, que dominaram os gregos, a música
grega veio a constituir a base da música cristã primitiva, associada às práticas musicais e
religiosas dos judeus, que, por sua vez, herdaram características dos diversos lugares que
atravessaram e ocuparam em sua conturbada história.
Candé (1981), referindo-se à civilização Greco-Romana, afirma: “A partir da
conquista Romana, e, sobretudo, desde o advento do Cristianismo, a música já não se destina
ao povo, a não ser para sua edificação ou saúde. Durante séculos, a música ‘sábia ‘será
patrimônio da Igreja e dos poderes” .
O autor afirma que, na obra da maior parte dos autores, a música aparece como
elemento de luxo ou recreação, entre os romanos, não estando realmente integrada à cultura,
sendo que a profissão de músico não tem nenhum prestígio. Este assinala uma gradativa
separação entre músicos ativos e assistentes, executantes - criadores e ouvintes, no período
que abrange a maior parte das grandes civilizações da antigüidade e os primeiros séculos da
40
Era Cristã, embora a música permaneça, nesse período, sempre como uma manifestação
coletiva. No período de decadência da civilização grega, essa tendência de separação é
intensa, e a música se converte em arte de especialistas.
Outro destaque considerado pelo autor é que a especialização favoreceu a decadência
da música nesse período, e, citando Wiora (1961), refere-se à existência, entre os romanos, de
uma música fácil, para uso do povo. Havia, nessa fase, uma nítida separação entre música
popular e música culta.
Passando ao exame da terceira idade da música, segundo Wiora (1961), cabe
inicialmente situá-la, segundo o autor, a partir da Alta Idade Média, distinguindo-se pela
polifonia, pela harmonia, pelas grandes formas tais como a sinfonia, e outras características
desconhecidas anteriormente.
A terceira idade, tal como Wiora a delimita, corresponde à fase que muitos autores
caracterizam como de definição de uma música ocidental culta.
Leuchter (1946), no capítulo denominado "O nascimento da música culta no ocidente"
afirma:
As características, tanto espirituais como técnicas, da música oriental também o são
da primitiva música cristã. Não se havia constituído, contudo, uma música artística
de essência ocidental por haver achado o Ocidente sua expressão musical nas
melodias populares.
Coexistiram, pois, nos primeiros séculos dos Cristãos, duas correntes independentes:
a da música artística, como a eclesiástica, e a de caráter popular. Ao se confundirem
ambas, nascerá uma música artística genuinamente ocidental e não antes de haver
transcorrido dez séculos de história cristã (LEUCHTER, 1946, p.16).
O surgimento, pois, de uma música ocidental típica e seu desabrochar em diversas
formas, gêneros, técnicas e estilos é o que caracteriza, a partir da análise de Leuchter, a fase
descrita por Wiora (1961) como a terceira idade da música:
O que se entende por música ocidental não é toda a música da Europa desde a préhistória até nossos dias, é um encadeamento que aflora sob os Carolíngeos e se
prolonga até a época contemporânea. Desenvolvida pelos povos latinos e
germânicos, ela se estendeu sobre a Europa e sobre a Terra inteira. Ela não
representa (...) um tipo de cultura musical, (...) mas ela é um Gênero em si, bem
particular (WIORA, 1961, p.29)
Wiora (1961) também assinala a importância da terceira idade da música na
preparação da quarta idade, a atual.
41
O autor (Wiora, 1961, p.130) enfatiza, ainda, a peculiaridade da música ocidental,
demonstrável, segundo ele, pelo desenvolvimento da composição escrita e pelo fato de sua
teoria musical ser a base de todo ensino musical nos cinco continentes.
Freire (1992) mostra que a importante relação entre a Igreja, a música ‘ocidental’ (e
sua notação) e o ensino é ilustrada por Raynor (1981) no capítulo denominado "A Igreja
Medieval". Além de citar diversas escolas de canto ligadas a mosteiros e igrejas (tais como a
Schola Cantorum, em Roma, ou a Thomasschule, em Leipzig), o autor enfatiza a importância
do aprendizado da música anotada para que se tentasse uniformizar os cantos na Igreja. As
escolas de canto existiam, segundo Raynor, para preparar meninos em música antes de
examinar até que ponto e de que modo dar-lhes educação geral:
“Desse modo, em fins do século X o preparo musical de meninos convertera-se numa
necessidade litúrgica, e as escolas de canto tornaram-se uma forma de educação que era em
geral o primeiro passo para o eventual preparo ao sacerdócio” (RAYNOR, 1981, p.31)
A quarta idade da música é definida por Wiora (1961) como a idade de técnica e da
civilização industrial mundial.
Wiora (1961) assinala, inicialmente, a permanência de tendências anteriores na música
do século XX, quer na continuação do concerto público e na ênfase na perfeição técnica e na
integração, quer na prática musical de grupos neo-românticos, ou mesmo de Schöenberg, cuja
elaboração musical partiu da “desintegração” de elementos propostos por Wagner.
Leuchter (1947), analisando a passagem da música do século XIX para o século XX
afirma:
O problema que se colocou à música do incipiente século XX consistiu (...) em
encontrar a solução do antagonismo que , na arte “neo-romântica”, aparece entre
sua essência realista e sua aparência romântica. Quando em 1866 morre Liszt,
último dos grandes expoentes da música imperialista começa a manifestar-se uma
reação contra o espírito dessa arte, reação que se concretizou em várias correntes de
distinta índole. Mas, por mais opostas que pareçam as duas tendências fundamentais
de fins do século XIX: Naturalismo e Impressionismo surgiram, sem dúvida, de um
mesmo impulso: a oposição ao antagonismo neo-romântico (LEUCHTER, 1947,
p.169)
Wiora (1961) afirma, também, que o século XX representa uma ruptura de primeira
grandeza na história do mundo, o início de uma nova era na história da humanidade.
Harnoncourt (1988) aborda a modificação radical de significação da música nos
últimos dois séculos, deixando de ser o centro de nossas vidas (parte essencial delas),
deixando de ser a "linguagem viva do indizível", que só os seus contemporâneos podem
entender, tomando-se, no século XX, um ornamento (HARNONCCOURT, 1988, p.13).
42
Leuchter (1947) afirma que a tendência da música do século XX a uma "nova
objetividade" leva à busca de eliminação de todo tipo de impulsos extramusicais, e se opõe
tanto à música clássica, quanto à romântica e à neo-romântica. Conduz, também, à conquista
de novos meios de realização (LEUCHTER, 1947, p.170).
Freire (1992) Diz que outra tendência que Leuchter assinala na música da quarta idade
é a de um livre desenvolvimento das forças "motoras" da música, quer extraída de
“programas” independentes, até certo ponto, da mente e da alma humanas, quer emanadas da
música popular (em especial de seus ritmos), quer completamente independentes, recebendo
seus impulsos exclusivamente de si mesmas (LEUCHTER, 1947, p.173-75). A concepção
motora, segundo Leuchter, leva a música à desintegração completa das leis construtivas do
século XIX e conduz a um processo de objetivação, restituindo-lhe sua "autonomia" e abrindo
novos horizontes à produção musical.
Outro aspecto dual da música da quarta idade também abordado por Wiora é o da
retomada da música anterior, paralelamente à exclusão do passado na composição. Ou seja,
com o abandono da música de tradição oral, do folclore, das canções populares, desaparecem
as variações improvisadas, mas reproduzem-se ‘peças’, fixadas para sempre sobre partituras
ou sobre discos (WIORA, 1961, p.175).
À desaparição da tradição corresponde, contudo, à multiplicação de olhares
conscientes em direção ao passado, “a historização do passado do qual nós podemos somente
guardar uma imagem, mas que não é mais um elemento da nossa vida” (Wittram, apud Wiora,
1961, p. 175).
O desenvolvimento da musicologia e da mentalidade historicista na música é, segundo
Wiora, uma das características da música da quarta idade - “recolhem-se e editam-se
manuscritos de todos os séculos, cantos populares de todos os países, ressuscitam-se
instrumentos do mundo todo (...)” (Wiora, 1961, p. 176).
Outros exemplos desse processo são: a busca e a divulgação de cartas de músicos,
visando a ressuscitar a vida e o conhecimento dos grandes mestres; a busca de reconstituição
de textos musicais segundo o original exato, segundo a concepção e a interpretação exatas,
segundo a autenticidade da obra... (WIORA, 1961, p. 176).
A pesquisa folclórica também se expande, e compositores como Janacek ou Bartok
são, além de compositores, exploradores a serviço da ciência histórica (WIORA, 1961,
p.177).
43
A difusão mundial da música antiga se expande, também, na quarta idade, e KUTZ
APUD WIORA (1961) se refere a crianças negras da África do Sul cantando velhos madrigais
ingleses, e à difusão do cravo (ressuscitado na Europa há cerca de trinta anos) no Cairo, na
Batavia, em Singapura, Shangai, Tokio...
O rádio e o disco contribuem para isso, e
desenvolve-se a construção moderna de instrumentos antigos "o traço dominante consiste em
dar à música antiga novas concepções de existência" (WIORA, 1961, p. 177).
O desenvolvimento da consciência histórica musical leva a que os compositores do
século XX conheçam mais obras do passado do que os compositores dos séculos anteriores.
E aproveitam muitos deles, características dessas obras para, por renovação e acumulação,
chegarem a novos resultados. Wiora identifica três formas principais de aproveitamento: 1) de
estilos passados da música ocidental (Idade Média, Renascença, Barroco e Classicismo); 2) de
estilos de povos ocidentais e orientais das tradições escrita e oral; 3) de estilos arcaicos
renovados (como certas fórmulas de recitativos).
Fischer (S/D) aborda o reaproveitamento, no século XX, da música do passado como
um risco de levar à "imitação crassa", pois considera que a música ‘moderna ‘se alimenta de
um conteúdo perdido, de formas cuja significação e vigor não existem mais (FISCHER, S/D,
p. 223).
Paralelamente a esse processo de renovação da herança musical do passado, Wiora
(1961) assinala a ocorrência de um movimento contrário, uma forte exigência de romper
totalmente com o passado:
Embora todos os antigos mestre, os Josquin, os Bach, os Beethoven, combinassem
tendências conservadoras e progressistas, e mesmo atemporais ou transhistóricas,
hoje se estabelece como norma um progressismo, elemento parcial até então, e se
pretende compor excluindo o passado (WIORA, 1961, p. 181) .
Wiora (1961) ainda aborda a questão da organização, da industrialização e da
ideologização da vida musical, que, segundo ele, leva à formação de uma trama de aparelhos,
de máquinas, de empregados, de funcionários, de ideologias, de direitos de autores, etc,
interferindo na ‘Musa da Música’ e, freqüentemente oprimindo-a (WIORA, 1961, p. 199).
A quantidade crescente de organizações, instituições, congressos e festivais é, segundo
Wiora (1961), fator de diferenciação na música da nova idade para as precedentes.
O papel da indústria moderna, funcionando também como estrutura secundária na
vida musical contemporânea, é enfatizada pelo autor (WIORA, 1961, 1961) que assinala a
44
importância dos processos de massificação através da propaganda, assim como da literatura
de programa, da crítica, e outros.
Outras características contraditórias da música contemporânea abordadas por Wiora
(1961) são a desumanização e a regeneração do aspecto humano na música.
A desumanização é considerada evidente, pelo autor (WIORA, 1961), a partir de
vários aspectos: 1) substituição de intérpretes por aparelhos, o que se reflete, inclusive, no
declínio do uso da voz humana, no cultivo de uma atitude passiva (como a que se tem ao
apertar o botão de um rádio para ouvir música "pronta", ao invés de, por exemplo, cantar em
casa); 2) desaparecimento de relações humanas, como entre o músico e o ouvinte, em razão
do intermediário mecânico, entre o compositor e o mundo ambiente, etc.
Pela tecnicização, a maior parte das possibilidades que oferecia a música na
vida desapareceu. Na usina não pode se elevar nenhum canto de trabalho,
nas grandes vilas industriais não se pode formar nenhum canto de trabalho,
nas grandes vilas industriais não se pode formar nenhum ambiente musical,
como foi o caso de Nuremberg e Veneza. O sino da igreja foi o símbolo de
nossa antiga cultura; o da civilização industrial é a sirene da usina (WIORA,
1961, p. 204).
Concluindo seu exame acerca da quarta idade, Wiora considera que a tendência em
buscar ilimitadamente o novo na música, é utópica, pois não há terras novas a conquistar
indefinidamente. Para ele, a expansão musical tem limites definidos, e a ultrapassagem desses
limites pode conduzir a domínios vizinhos ao ruído...
Apesar dos modos de ouvir, típicos das massas atuais, não serem considerados
absolutamente novos por Adorno apud Wiora (1961), eles têm em comum o fato de que nada
do que atinge o ouvido foge do esquema de apropriação de valores.
Adorno relaciona a audição regressiva à produção, através do mecanismo de difusão, o
que, segundo ele, acontece precisamente através da propaganda, levando os ouvintes e
consumidores a um processo de identificação com o produto que lhes é imposto, fazendo-os
necessitar e exigir exatamente tal produto. O sentimento de impotência, diante de tal
mecanismo opressor, furtivamente, toma conta do publico, que não consegue se subtrair à
produção monopolista, e sucumbe dominado.
Novos modos de comportamento perceptivo são, então, desenvolvidos, e a
desconcentração é o meio através do qual, segundo Adorno, "se prepara o esquecer e o rápido
recordar da música de massas” (WIORA, 1961, p. 190).
45
2.5 Revisão de dados coletados através de pesquisa que relacionam música e
cuidado
Na busca da literatura relacionada à música ligada ao cuidado, foi possível encontrar
um acervo de estudos direcionados a diferentes padrões de pacientes e olhares diferenciados
para essa temática.
Os descritores usados foram: Musicoterapia, Música e Enfermagem e Música e
Cuidado. Neste levantamento, feito para atender à disciplina Cuidar/cuidado quando dela fiz
parte como aluna especial de mestrado, foi usado o recorte temporal de janeiro de 2003 à
novembro de 2008, que teve como critério a relevância com o trabalho referido.
Começamos o levantamento pelo descritor Musicoterapia na Base LILACS, no qual
encontramos os dados relacionados abaixo no quadro 1
Quadro 01
Artigos encontrados sobre a música como recurso no cuidado
Títulos
Autores
Ano
Vivências em contextos
Wazlawick, Patrícia
2006
coletivos e singulares onde a
música entre em ressonância com
as emoções
A música como recurso no
Ferreira, Caroline Cristina 2006
cuidado à criança hospitalizada: Moreira; Remedi Patrícia Pereira;
uma intervenção possível?
Lima, Regina Aparecida Garcia
de
Música
para
idosos
Leão,
Eliseth
Ribeiro; 2008
institucionalizados: percepção dos Flusser, Victor
músicos atuantes
Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde e LILACS
Os autores acima se referem à música como auxiliar nas diversas condições na vida
dos seres humanos, o primeiro buscando a emoção, o segundo enxergando a música como
diferencial para o cuidado e o terceiro atraído como ponto de partida para a percepção.
No primeiro dado, em “Vivências em contexto coletivos e singulares onde a música
entra em ressonância com as emoções”, foi possível observar que se trata do sentido expresso
nas narrativas que alguns jovens constroem sobre sua história em relação à música. O artigo
46
enfatiza que em suas vivências em situações concretas permeadas pela dimensão afetiva, os
jovens encontraram e vivenciaram a utilização viva da música, situações estas que deram
margem para a construção dos significados da mesma, em toda esta trama. Tais significados
são, principalmente, constituídos e construídos pelos sentidos envoltos em emoções,
sentimentos, desejos, vontades, interesses, motivações de sujeitos em constantes relações com
o contexto sócio-cultural.
Significados/sentidos que demonstram a utilização viva da música e a constante
movimentação de sujeitos envolvidos na atividade musical, constitue e também é constituinte
deles.
Traz,
durante
todo
o
tempo
considerável
importância
no
contexto
música/adolescente/saúde. O segundo artigo que traz “A música como recurso no cuidado a
criança hospitalizada: uma intervenção possível”, relata e trata a música como um recurso do
cuidado, faz um estudo bibliografico no qual os autores (enfermeiros), tiveram como objetivo
analisar a produção bibliográfica da enfermagem pediátrica quanto à utilização da música
como recurso terapêutico no espaço hospitalar, a fim de identificar o estado do conhecimento
desta área nesse campo.
Todos os resultados evidenciaram benefícios da música para a criança hospitalizada,
seus familiares e equipe de saúde e constatou-se que este recurso pode ser utilizado no espaço
hospitalar como uma intervenção de baixo custo, não-farmacológica e não-invasiva,
promovendo um processo de desenvolvimento que visa à saúde da criança, da família e dos
trabalhadores.
Na terceira análise “ Música para idosos institucionalizados: percepção dos músicos
atuantes”, trata-se da avaliação que os autores(enfermeiros) fizeram em um estudo qualitativo
que analisou a percepção dos músicos sobre a atividade musical junto a idosos
institucionalizados em Portugal e na França. Segundo eles a percepção dos idosos, assim
como de familiares, acompanhantes e profissionais de saúde envolvidos merece ser
investigada de forma a compor uma forma mais abrangente a especificidade da atuação dos
músicos nos hospitais. É importante destacar que trabalhos com música são realizados não só
em nosso país, mas em todo o mundo.
Após essa análise foram coletados mais dados com o descritor musicoterapia
conforme a demonstração no quadro 02.
47
Quadro 02
Artigos com a Música como intervenção nas clinicas
Humanização
hospitalar
Picado, Sandra Barros da 2007
infantil:
intervenções Rocha; El-Khouri, Roger Naji;
musicoterapêuticas
no
Centro Streapco, Priscila Tassara.
Clínico Electra Bonini
Musicoterapia clínica e sua
Souza, Márcia Godinho 2006
atuação na Casa Gerontológica de Cerqueira de; Assumpção, Martha
Aeronáutica Brigadeiro Eduardo Tannus Vianna; Landrino, Norma.
Gomes
O sonoro e o subjetivo: um
Bárbara, Bianca Bruno.
2005
estudo sobre o som desde seus
vestígios
iniciais
até
suas
traduções clínicas
Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde
Nos dois primeiros estudos, os pontos de relevância são as instituições/clinicas nas
intervenções as crianças hospitalizadas, no primeiro; o segundo traz uma abordagem da
música como atuação em casa de gerontologia; o terceiro aborda a relação entre o subjetivo e
o sonoro, fazendo um estudo sobre seus vestígios nas traduções clinicas.
Um
tratado
sobre
a
“Humanização
hospitalar
infantil:
nas
intervenções
musicoterapêuticas no centro clínico” (PICADO et al., 2007) mostra que os pesquisadores
fizeram uma intervenção através da música, utilizando uma equipe multidisciplinar para
promover a musicoterapia como recurso aplicável às crianças internadas em uma unidade de
pediatria hospitalar, dentro de um programa de humanização hospitalar infantil. Eles mostram
em todo decorrer do texto a música como um recurso capaz de interagir no processo saúde
doença, trazendo benefícios para a criança hospitalizada.
O segundo texto encontrado trouxe, num primeiro momento, uma apresentação do
trabalho da musicoterapia e tudo o que a ela se refere no atendimento ao idoso. O segundo
momento decorreu sobre conceitos teóricos da interdisciplinaridade e a interação da
musicoterapia na prática interdisciplinar. E, por último, trouxe alguns aspectos teóricos da
terapia de grupo. Portanto, possui três vertentes que convergem para um propósito único: o de
qualificar cada vez mais o atendimento ao indivíduo na terceira idade.
48
O terceiro artigo coletado vem trazendo a subjetividade, relacionada ao aspecto
sonoro, trazendo vestígios e traduzindo suas peculiaridades clinicas.
Buscamos mais dados científicos após analise, com o descritor musicoterapia como
demonstração no quadro 03.
Quadro 03
Artigos que trazem a música como uma terapêutica
Credibilidade e efeitos da
música
como
Fonseca, Karyne Cristine 2006
modalidade da; Barbosa, Maria Alves; Silva,
terapêutica em saúde
Daniela
Keylla
Gonçalves;
Virgínia
da;
Fonseca,
Siqueira,
Karina Machado; Souza, Marcus
Antônio de
A visita musical como
Bergold, Leila Brito
2005
estratégia terapêutica no contexto
hospitalar e seus nexos com a
enfermagem fundamental
O lugar da música no
Bergold,
Leila
Brito; 2006
espaço do cuidado terapêutico: Alvim, Neide Aparecida Titonelli;
sensibilizando enfermeiros com a Cabral, Ivone Evangelista
dinâmica musical
Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde
Esses dados retratam a música como um ator importante na modalidade terapêutica; o
primeiro quando cita seus efeitos da música na terapêutica, o segundo quando traz a música
como estratégia na terapêutica hospitalar e o terceiro para uma sensibilização no cuidado
através de dinâmica musical.
O primeiro texto encontrado se refere a “Credibilidades e efeitos da música como
modalidade terapêutica em saúde” (FONSECA et al., 2006) no qual é feita uma análise sobre
os efeitos terapêuticos e a forma como seus autores (musicoterapeutas) descrevem a
credibilidade e aceitação da musicoterapia por seus clientes. Verificou-se que a maioria dos
profissionais percebe a credibilidade de seus clientes quanto à capacidade da música em
transmitir sensações agradáveis e de atuar de forma eficaz no processo de cura de algumas
enfermidades.
49
O segundo vem trazendo a “Visita musical como estratégia terapêutica no contexto
hospitalar e seus nexos com a enfermagem fundamental” (BERGOLD, 2005), que mostra as
terapêuticas com nexos de enfermagem fundamental. Segundo a autora (BERGOLD, op.cit.,
2005), enfermeira, o estudo discutiu as visitas musicais na ótica do cliente hospitalizado e
suas implicações como estratégia terapêutica para a enfermagem fundamental.
Os sujeitos discutiram a influência positiva das visitas musicais na promoção do
conforto, bem-estar e da expressão de emoções que promoveram sua integridade e também o
resgate de sua autonomia pelo respeito ao seu estilo musical e estímulo à criação de recursos
próprios. Os sujeitos apontaram ainda a qualidade integradora das visitas musicais ao
estimular a comunicação e a interação entre os seus participantes e entre estes e a equipe de
enfermagem, promovendo a discussão sobre as implicações para o que é próprio e de interesse
da enfermagem fundamental.
No terceiro dado analisado “O lugar da música no espaço do cuidado terapêutico:
sensibilizando enfermeiros com a dinâmica musical” (BERGOLD et al., 2006), discutiu-se a
importância do espaço, da sensibilização dos profissionais, e das influências da música no
corpo. Além de descrever essas influências, o estudo objetivou analisar a aplicabilidade da
dinâmica de criatividade e sensibilidade (DCS) Corpo-Musical como forma de sensibilização
do enfermeiro quanto ao uso da música na sua prática de cuidar-ensinar.
O grupo concluiu que a música age sobre todo o corpo, mas cada estilo estimula mais
uma determinada região do cérebro. Sua influência está na dependência do contexto, estilo
musical e gosto do ouvinte. A pesquisa revelou o potencial da dinâmica como rico espaço de
educação dialógica, constituindo-se como estratégia importante na sensibilização dos
enfermeiros sobre as possibilidades da música como recurso terapêutico.
Deu-se continuidade à revisão em torno da música como fator presente em diversos
aspectos nessa área da saúde/cuidado, encontrando-se mais três dados científicos como
mostrado no quadro 04.
50
Quadro 04
Artigos que abordam a música com efeitos tranquilizantes
Efeito
terapêutico
da
Hatem, Thamine P; Lira, 2006
música em crianças em pós- Pedro I. C; Mattos, Sandra S
operatório de cirurgia cardíaca
Música é remédio para o
Todres, I. David
2006
coração
Musicoterapia e o cuidado
Pinho, Mariana Carvalho 2005
ao cuidador: uma experiência Caribé de
junto aos agentes comunitários de
saúde na favela Monte Azul
Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde (LILACS); Scielo
No primeiro artigo a relação musica e terapêutica é usada como fonte de cuidado à
criança durante o pós-operatório, buscando um conforto nas cirurgias cardíacas. O segundo
traz a temática da música com um remédio ao coração, mostrando os benefícios da mesma aos
pacientes. E o terceiro artigo aborda novamente o cuidado dessa música junto ao cuidador.
O primeiro aborda o “Efeito da música em crianças no pós-operatório de cirurgia
cardíaca” (HATEM; LIRA; MATTOS, 2006), que trata única e exclusivamente do efeito
terapêutico. A equipe multidisciplinar teve como objetivo verificar de forma objetiva e
subjetiva o efeito da música em crianças no pós-operatório de cirurgia cardíaca em uma
unidade de terapia intensiva cardiopediátrica, em conjunto com ações da prática convencional.
Os mesmos fizeram um ensaio clínico aleatorizado por placebo, no qual foram avaliadas 84
crianças, dentro da faixa etária de um dia a 16 anos, nas primeiras 24 horas de pós-operatório,
submetidas a sessão de 30 minutos de musicoterapia, utilizando música clássica e observadas
no início e fim das sessões quanto às seguintes variáveis: freqüência cardíaca, pressão arterial,
pressão arterial média, freqüência respiratória, temperatura, saturação de oxigênio, além de
uma escala facial de dor. No referido estudo, considerou-se o nível de significância estatística
de 5%.
A segunda análise nos mostra a música como medicamento: “Música é remédio para o
coração” (TODRES,2006), este estudo traz música não só como uma forma terapêutica, mas
como uma medicação. O autor, médico, afirma neste estudo que a música tem efeitos
benéficos para pacientes com dor, alivia a ansiedade pré-operatória nas crianças, age sobre o
sistema nervoso autônomo, reduzindo os batimentos cardíacos, a pressão arterial e a dor pós-
51
cirúrgica e também tem um efeito positivo nos pacientes que sofreram infarto agudo do
miocárdio. A música reduz a ansiedade e a dor após cirurgias de coração em adultos. Os
efeitos da música na redução da dor se explicam pela teoria do portal do controle da dor. A
música age como um estímulo em competição com a dor, distrai o paciente e desvia sua
atenção da dor, modulando, desta forma, o estímulo doloroso. A música diminui a confusão e
o delírio em idosos submetidos a cirurgias eletivas de joelho e quadril. Também auxilia na
redução de distúrbios de humor em pacientes submetidos a tratamento com altas doses de
quimioterapia seguido de transplante autólogo de células-tronco.
O estudo “Musicoterapia e o cuidado ao cuidador” (PINHO, 2005), teve como
objetivo conhecer a realidade de trabalho das Agentes Comunitárias de Saúde do Programa de
Saúde da Família, da Favela Monte Azul e compreender as razões que as levaram a
manifestar o que chamam de estresse. Os objetivos específicos foram: pensar como a
musicoterapia poderia contribuir como instrumento terapêutico e de intervenção nessa
realidade, bem como produzir subsídios que auxiliem na elaboração de novas estratégias de
atuação no campo da saúde mental, com essa população.
O grupo de Agentes Comunitário de Saúde que se tornou objeto de investigação foi
constituído de sete mulheres entre 22 e 45 anos. Tratou-se de uma pesquisa de abordagem
qualitativa, que se situou metodologicamente no campo da pesquisa - ação, caracterizando-se
como um estudo que tanto investiga quanto busca intervir na realidade investigada. Em
relação à musicoterapia, as integrantes do grupo de Agentes Comunitários de Saúde foram
unânimes em reconhecer o quanto importante essa experiência lhes havia sido, o quanto
foram ajudadas, e o desejo de que o trabalho tivesse continuidade. Isto aponta para uma
questão muito importante: o cuidador precisa ser cuidado.
Continuou-se o levantamento de pesquisas através do descritor musicoterapia, como
mostra o quadro 05.
52
Quadro 05
Artigo que aborda a música como auxiliar no tratamento da dor em doentes crônicos
Os efeitos da música no
escolar
cardiopata
durante
Brito Denyzia da Silva; 2005
a Farias Fernanda Anajás Caldas
punção venosa: estudo preliminar
Expectativas y evaluación
de
la
actividad
musical
González
de Ricardo;
pacientes del Hospital Psiquiátrico Humberto;
de la Habana
Menéndez, 2005
García
Goicolea
Penedo,
Maiza,
Sonia; Sánchez Pérez, María de
Jesús
The relationship between
music
and
Leão,
Eliseth
Ribeiro; 2005
muscoloskeletal Silva, Maria Julia Paes da
chronic pain
Musicoterapia y el niño
Sigren, Valeska
2003
sordo
Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde
Os dados dessas pesquisas trazem como referência, o efeito da música para os seres, os
pacientes cardiopatas, a expectativa das atividades em hospitais psiquiátricos com a música e
relação da música com a dor, trazendo, como último artigo nesse levantamento, a música para
crianças surdas.
Como referência na base de dados LILACS, encontramos 16 artigos que abordam o
tema em questão, podendo os mesmo ser diferenciados pelo ponto de vista e referencial dos
autores.
Ao refletir sobre a primeira pesquisa revisada, pode-se perceber que referência à
questão da vivencia, ressonância e emoção, diferentemente do segundo que já busca a música
como um recurso para o cuidado direcionado as crianças hospitalizadas, ao partir para analisar
o referencial do terceiro artigo na base LILACS, é clara a referência de percepção.
Dessa forma, podemos referir o quarto trabalho revisado com o objetivo da
intervenção, sempre utilizando a música atuante no conjunto de idéias. O quinto artigo traz
música e a terapia clinica como um fator relevante, o sexto artigo vem buscando um olhar
sobre a relevância da questão sonora do paciente. Os demais artigos trazem os efeitos
53
terapêuticos, terapêutica e os nexos com a enfermagem fundamental/música no espaço do
cuidado, sensibilização entre outros.
Essa terapêutica e o envolvimento música/cuidado são estudados por diversos
profissionais, que os trazem como foco de interesse, assim como sua visão perante a música e
o ser humano.
Após essa reflexão, continuaremos nas outras bases, usando o descritor Musicoterapia
na BDENF.
Quadro 06
Artigo que traz a música como recurso terapêutico em adolescentes
Títulos
A
Autores
no
com
Prática
de
terapias
alternativas
adolescentes grávidas
enfermagem
Saraiva Kaelly Virginia de
2
em Oliveira; Costa, Lígia; Ximenes, 003
Lorena Barbosa
Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde (BDENF)
Esse artigo trata das diversas práticas de enfermagem em adolescentes grávidas e
relaciona a música com uma das alternativas bem sucedidas.
Este estudo objetivou refletir sobre terapias alternativo-complementares de saúde
utilizadas com adolescentes grávidas como auxílio no enfrentamento da gravidez. Esse estudo
é uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso com uma adolescente grávida
acompanhada no Centro de Desenvolvimento Familiar (CEDEFAM), em Fortaleza.
Utilizaram-se a observação participante e diário de campo sobre a prática de enfermagem
realizada com sessões de terapias alternativas (musicoterapia e imaginação induzida),
aplicadas durante os últimos trimestres de gravidez.
Os diagnósticos de Enfermagem, segundo a North American Nursing Association
(NANDA) subsidiaram o plano de cuidados para as sessões. Os dados foram analisados de
acordo com registros de depoimentos, comportamentos e expressões não-verbais da
adolescente. Os autores observaram que essas terapias elevaram a auto-estima da adolescente,
minimizaram os fatores desencadeantes de estresse e contribuíram para a aceitação da
gravidez.
Esta dissertação buscou trazer um conhecimento diferenciado para a arte do cuidado
com o intuito de que os enfermeiros busquem aprender técnicas da terapêutica
54
alternativa/complementar, para utilizá-los em sua prática cotidiana de cuidar/cuidado.
Passaremos, a partir de agora para o próximo descritor revisado (música e enfermagem).
Quadro 07
Artigo que aborda a música em intervenções de enfermagem
Títulos
Música
Autores
removendo
barreiras
e
resistências
de
Marques
Ano
Filho,
Altino 2007
minimizando Bessa; Coelho, Cassiano Lara de
usuários
de Souza; Ávila, Lazslo Antonio
substâncias
A inserção da música no
Ravelli, Ana Paula Xavier
2005
Dyniewicz, Ana Maria
2004
ensino superior de enfermagem:
um relato de experiência
Reflexões
sobre
enfermagem por aproximações
com composições de Vivaldi
Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde
Os artigos encontrados abordam a música como um forte aliado na iteração e
minoração da resistência para os usuários de drogas, e, como referência, o segundo vem
analisando a música na inserção do ensino superior na enfermagem, e no terceiro traz
reflexões sobre a música de Vivaldi por aproximações.
No primeiro artigo, os autores sugerem que a música popular pode ser empregada com
a finalidade de remover barreiras, melhorando a comunicação com o usuário. Através de uma
canção composta com finalidade didática, foram analisadas motivações psicológicas e as
conseqüências já presentes ou futuras do uso de drogas.
O texto musical e uma abordagem psicanalítica foram apresentados aos alunos da
graduação de medicina e enfermagem da FAMERP, que responderam a um questionário
específico, e participaram de um grupo de reflexão. Ficou demonstrado que a apresentação de
música com finalidade didática é um recurso útil para a minimização das resistências,
facilitando a transmissão de conhecimentos para alunos. Acredita-se que a aplicação desse
mesmo método para grupos de risco possa ter efeitos benéficos em relação à redução de
danos. Música pode remover barreiras. Da mesma forma que textos musicais podem aliciar os
jovens para se iniciar no uso, podemos usar a mesma estratégia no sentido contrário. Estudos
55
sobre o uso da música como forma de remover barreiras deveriam ser estimulados.
No segundo encontra-se um estudo que afirma ser a música um Instrumento facilitador
do ensino-aprendizagem, sendo implementado em diversas áreas da educação. Este artigo
aborda um desses instrumentos, a música, que com seus elementos formais, serve como apoio
na prática pedagógica. Apresenta também um relato de experiência frente ao ensino superior
no curso de Enfermagem pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, inserindo a música
como veículo facilitador do ensino e da aprendizagem dos acadêmicos do primeiro ano do
curso.
Os textos referenciados acima mostram reflexões teóricas sobre a construção de
conhecimento da Enfermagem por aproximações com composições de Vivaldi. Pela literatura
em Enfermagem e outras ciências, os autores buscaram aproximações do saber e do fazer em
Enfermagem ao longo da história da profissão. A trajetória passa pelo paradigma dominante,
encaminhando-se para o emergente, mostrando aí, à luz da literatura, as perspectivas ao
futuro.
Quadro 08
Artigo que traz a música como uma aliada no cuidar
O lugar da música no
Bergold,
Leila
Brito; 2006
espaço do cuidado terapêutico: Alvim, Neide Aparecida Titonelli;
sensibilizando enfermeiros com a Cabral, Ivone Evangelista
dinâmica musical
O
lúdico
desenvolvimento
e
infantil:
o
Ravelli, Ana Paula Xavier; 2005
um Motta, Maria da Graça Corso da
enfoque na música e no cuidado
de enfermagem
Dinâmica musical: nova
proposta
metodológica
Ravelli, Ana Paula Xavier; 2004
no Motta, Maria da Graça Corso da
trabalho com gestantes em prénatal
Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde
Os três estudos acima tratam da música como forma de sensibilização no espaço
terapêutico “o cuidado”. O primeiro tratando cuidado terapêutico na sensibilização dos
enfermeiros, o segundo buscando o enfoque da música no cuidado ao desenvolvimento
56
infantil. O terceiro traz uma proposta metodológica no trabalho com gestantes.
Esse primeiro texto abordou “As influências da música no corpo” sendo este estudo
conduzido junto a um grupo de enfermeiros participantes de uma disciplina de PósGraduação. Além de descrever essas influências, o estudo objetivou analisar a aplicabilidade
da dinâmica de criatividade e sensibilidade (DCS) Corpo-Musical como forma de
sensibilização do enfermeiro quanto ao uso da música na sua prática de cuidar-ensinar.
Utilizou-se o Método Criativo-Sensível e o desenvolvimento da DCS na produção de
dados da pesquisa. As influências holísticas, lúdicas e mecânicas da música sobre o corpo
foram os temas gerados na discussão. O grupo concluiu que a música age sobre todo o corpo,
mas cada estilo estimula mais uma determinada região. Sua influência está na dependência do
contexto, estilo musical e gosto do ouvinte. A pesquisa revelou o potencial da dinâmica como
rico espaço de educação dialógica, constituindo-se como estratégia importante na
sensibilização dos enfermeiros sobre as possibilidades da música como recurso terapêutico.
Os autores buscam nesse estudo o mundo imaginário e o tratam como um fator de
grande importância para a compreensão e inserção da criança no mundo que a cerca. Sendo
assim, o cuidado de enfermagem lúdico surge, assegurando um cuidado integral e cuidadoso,
onde jogos, brincadeiras, cantos e danças estão presentes, para subsidiar o cuidado. Destacase a música e toda sua sonoridade envolvente e instrutiva, estando sua musicalidade inserida
em nosso meio. A criança se constrói como ser ao interagir com o outro e o mundo, sendo o
brincar necessário ao seu crescimento e desenvolvimento. Esse terceiro dado traz uma
abordagem da dinâmica musical como proposta às gestantes em pré-natal.
Quadro 09
Artigo que traz a música como recurso no processo de percepção do cliente
Títulos
Autores
Percepções de gestantes
Ravelli,
Ano
Ana
Paula
2004
sobre a contribuição da música no Xavier
processo
de
compreensão
da
vivência gestacional
Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde
Nesse artigo o foco é sobre o olhar da gestante na contribuição da música durante a
gestação e seus fatores.
57
Os autores tiveram como objetivo buscar a experiência de utilizar a música no
processo de ensino/aprendizado em pré-natal. Foram sete gestantes primíparas, vivenciando o
terceiro trimestre gestacional no pré-natal. O estudo foi desenvolvido na Unidade Básica de
Saúde e, no salão paroquial, ambos em Ponta Grossa, Estado do Paraná. Para a coleta,
utilizou-se a dinâmica de criatividade e sensibilidade denominada dinâmica musical;
entrevista semi-estruturada e observação. Revelaram-se seis categorias e subcategorias, a
saber: Desvelando Saberes; Ritos e Mitos da Família; Corporeidade e seus Significados;
Prazer; Percepções e Sentimentos acerca do Convívio no Grupo de Gestantes e Solfejar das
Participantes.
Os resultados revelaram que a música foi um recurso facilitador no processo
ensino/aprendizado, favorecendo educador/enfermeiro nas atividades educativas, promovendo
ambiente interativo e sonoro, propício à formação de vínculos, bem como educando/gestantes
na compreensão do processo gestacional vivido, sendo sujeitos e não objetos na prática
educativa.
Esse levantamento de diferentes estudos trouxe elementos para avaliação dos
profissionais envolvidos no assunto em pauta, música no cuidado ao paciente hospitalizado,
mostrando os diversos pontos abordados por cada autor.
Foi possível observar que nos descritores Musicoterapia, Música/Enfermagem,
Música/ Cuidado, obteve-se artigos que mencionavam o cuidar/cuidado envolvendo
música/paciente, sendo essas crianças, jovens, adultos e idosos.
O material encontrado veio ao encontro da relevância deste estudo, aprofundando o
conhecimento a partir de maneiras e olhares de outros autores, para encontrar elementos para
a pesquisa sobre a resolução Cuidado/Música.
Os textos revistos estão apresentados, a seguir, de acordo com o ano de sua publicação
como demonstra o gráfico 1.
58
Gráfico 1 Distribuição por ano das publicações
7
6
5
4
3
Ano
2
1
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Foram encontrados em 2003, dois estudos com relevância para a pesquisa, tratando a
música\como fonte de terapêutica ao paciente. Em 2004 foram localizadas três publicações
que metodologicamente trazem a contribuição da música e percepções como uma nova
proposta ao paciente.
Em 2005 atingiu-se o teto máximo de coleta, com sete artigos publicados,
focalizando o estudo do sonoro, terapêutico hospitalar com a música, o cuidador através da
modalidade musical, os efeitos da música nos pacientes cardiopatas, as expectativas com
pacientes psiquiátricos, propriamente, e a relação música/paciente.
No ano de 2006 obtiveram-se cinco estudos, os quais trazem a música como um
recurso ao cuidado na hospitalização, mostrando os efeitos que a música pode obter na
terapêutica aos diversos tipos de patologia, e abordando as emoções dos pacientes no contexto
coletivo.
Em relação ao ano de 2007 encontrou-se um artigo com relevância para a pesquisa,
tratando da música como um recurso na humanização em clinica. O ano de 2008
proporcionou uma publicação que abordava a percepção da música para músicos atuantes e
idosos.
Os estudos encontrados consideram que a intervenção da música, de uma forma geral,
traz benefícios tanto fisiológicos quanto psicológicos para indivíduos em faixa etárias
diversas, com demonstrações de um novo recurso para o cuidado diferenciado na área da
enfermagem.
59
CAPÍTULO III
REFERENCIAL TEÓRICO
Um homem também chora
Menina morena
Também deseja colo, palavras amenas
Precisa de carinho, precisa de ternura
Precisa de um abraço da própria candura
Guerreiros são pessoas
São fortes, são frágeis
Guerreiros são meninos do fundo do peito (...)
(GONZAGUINHA, 1983)
www.google.com.br
3.1 Cuidar/Cuidado de Enfermagem/Música para Paciente hospitalizado.
Esta dissertação trouxe como referencial teórico Coelho (1997) com o conceito do
cuidar/cuidado de enfermagem, Watson (1993), que conceitua o cuidado como maior valor
que a enfermagem tem para oferecer à humanidade e Freire (1992), que nos faz entender em
sua tese o que de fato é música, suas diferentes funções sociais e há quanto tempo esta nos
acompanha e faz parte das nossas vidas.
Estudos abordam como a música pode alcançar a mente do ser humano, e essa
concepção ligada ao cuidado pode trazer grandes contribuições para o paciente hospitalizado;
uma dessas teorias é a do tálamo, ou teoria Cannon-Bard de emoção. De acordo com ela, o
tálamo, “centro retransmissor de todas as emoções, sensações e sentimentos” (RUUD, 1990,
60
p.29), é a primeira região do cérebro a ser atingida pela música, estimulando o córtex cerebral
onde se integram os aspectos intelectuais de pensamento e raciocínio.
Sekeff (2002, p.109) acrescenta que:
(...) o tálamo é o lugar aonde chegam às sensações e emoções que se situam num
plano não consciente. Se nesse nível podemos
acompanhar uma
linha melódica assobiando ou tamborilando dedos inconscientemente, só podemos
apreciá-la conscientemente, em nível cortical.
Na arte do cuidar/cuidado, segundo Coelho (1997, p. 8), existem diversas maneiras
diferenciadas de cuidados, das quais temos que nos apropriar. Definiremos como
exemplificação, algumas dessas muitas técnicas de cuidado, para isso segue como principio,
suas definições:
Cuidar é o processo de expressão, de reflexão, de elaboração do pensamento, de
imaginação, de meditação e de aplicação intelectual, desenvolvido pela enfermeira, em
relação às ações mais simples até as mais complexas, e que requer um mínimo de condições
estruturais, ambientais e de recursos humanos que seja razoável para assegurar a
confiabilidade, a credibilidade dos atos/ações direcionados ao atendimento dos clientes nos
níveis imediato, mediato e tardio.
Cuidado é a ação imediata prestada pela enfermeira ou algum elemento de sua equipe,
técnico e/ou auxiliar de enfermagem, em curto espaço de tempo, desenvolvido em vários
momentos, envolvendo segurança e competência, aliadas à tecnologia específica que a
situação exige.
Cliente/Paciente é aquele que sofreu uma violência ou acidente físico e/ou orgânico, e
que traz consigo as suas características pessoais, familiares e sociais, necessitando,
urgentemente, do cuidar/cuidados de enfermagem para o atendimento das suas necessidades
humanas, a partir da prioridade de manter a vida e trazer o cliente de volta para sua realidadeou dar condições para que morra com dignidade.
Os três conceitos relatados acima descrevem as ações de enfermagem e, quem é o
cliente/paciente. Em relação ao cuidar, Coelho (1997) enfatiza a importância do processo de
mentalização e organização.
Em relação ao processo saúde e doença, em termos da determinação causal, pode-se
dizer, em síntese, que este representa o conjunto de relações e variáveis que produz e
condiciona o estado de saúde e doença de uma população, o que modifica diversos momentos
históricos, no desenvolvimento científico da humanidade (WATSON, 1993, 259-61p.)
61
A teoria mística sobre a doença explicava que os antepassados a julgavam como um
fenômeno sobrenatural, ou seja, ela estava além da sua compreensão do mundo, superada
posteriormente pela teoria de que a doença era um fato decorrente das alterações ambientais
no meio físico e concreto que o homem vivia. Em seguida, surge a teoria dos miasmas
(gazes), que vai predominar por muito tempo (WATSON, 1993, p.259-61)
Até que, com os estudos de Louis Pasteur na França, entre outros, vem a prevalecer a
“teoria da unicausalidade”, com a descoberta dos micróbios (vírus e bactérias) e, portanto, do
agente etiológico, ou seja, aquele que causa a doença.
Devido a sua incapacidade e insuficiência para explicar a ocorrência de uma série de
outros agravos à saúde do homem, essa teoria é complementada por uma série de
conhecimentos produzidos pela epidemiologia, que demonstra a multicausalidade como
determinante da doença e não apenas a presença exclusiva de um agente. Finalmente, uma
série de estudos e conhecimentos provindos principalmente da epidemiologia social nos
meados deste século esclarece melhor a determinação e ocorrência das doenças em termos
individuais e coletivo (WATSON, 1993, 259-61)
O fato é que se passa a considerar saúde e doença como estados de um mesmo
processo, composto por fatores biológicos, econômicos, culturais e sociais.
Acrescente-se o recente e acelerado avanço que se observa no campo da engenharia
genética e da biologia molecular, com suas implicações tanto na perspectiva da ocorrência
como da terapêutica de muitos agravos.
Desse modo, surgiram vários modelos de explicação e compreensão da saúde, da
doença e do processo saúde-doença, como o modelo epidemiológico baseado nos três
componentes – agente, hospedeiro e meio – considerado como fatores causais, que evoluiu
para modelos mais abrangentes, como o do campo de saúde, com o envolvimento do
ambiente (não apenas o ambiente físico), estilo de vida, biologia humana e sistema de
serviços de saúde, numa permanente inter-relação e interdependência (WATSON, 1993,
p.259-61)
De qualquer modo, o importante é saber e reconhecer essa abrangência e
complexidade causal: saúde e doença não são estados estanques, isolados, de causa aleatória,
não se está com saúde ou doença por acaso. Há uma determinação permanente, um processo
causal, que se identifica com o modo de organização da sociedade.
Coelho (1997, p. 78-155) descreve os cuidados de enfermagem e os conceitua em
tipologias de cuidados. No ambiente hospitalar o qual é o cenário de nossa pesquisa, Coelho
define quatorze tipologias de cuidados utilizadas, sendo descritas a seguir:
62
Cuidar Contingencial – Este tipo de cuidar/cuidados é construído durante momentos
em que se instala uma situação súbita ou episódica. Caracterizam-se pela atenção especial ao
aspecto biológico dos corpos dos clientes, exigindo procedimentos que integram os
instrumentos de Enfermagem, tais como a punção venosa periférica, a cateterização vesical e
o curativo de partes lesadas, dentre outros cuidados. A principal característica desse tipo de
cuidar são os modos e a tecnologia do cuidar como ato concreto. Cabe ainda uma atenção
especial ao que paralelamente a este é necessário: estar atento, como os aspectos subjetivos
que se encontram no ambiente e nos clientes, já que estes necessitam de observação
detalhada, a atitude de vigilância (“quase de um radar”) que cabe à enfermeira (COELHO,
1997, p.87).
Cuidar Contínuo – Estes cuidados têm a função de prevenção, manutenção da vida e
impedimento do surgimento de seqüelas que possam agravar o quadro do cliente. A
característica marcante desses cuidados é a de reconhecer os sinais e os sintomas pela
observação constante. Outro aspecto é o conhecimento da psiconeuroimunologia, rotas
biológicas que tornam a mente as emoções e o corpo intimamente interligados (COELHO,
1997, p.104)
Cuidar Dinâmica - É o cuidar/cuidados executado num contato relativamente curto e
rápido, ao tempo de permanência com o cliente, mas, ainda assim, intenso e direto em sua
execução. A distinção de cuidar/cuidados deve ser observada enquanto simultaneamente
chegam outros clientes, somando-se aos que já estão sendo cuidados. A vigilância dos
cuidados de enfermagem dinâmicos objetivos, a prevenção de danos e a identificação precoce
das anormalidades. (COELHO, 1997, p.98)
A utilização da música para o bem estar físico, emocional e mental é praticada desde
tempos antigos. Há milênios, os xamãs (médicos primitivos da sociedade) já usavam os sons
para tratamento do corpo e da alma. As sociedades davam maior importância aos cantos
mágicos do que às ervas medicinais (GRACIANOS, 2003).
A primeira utilização da música como forma de humanização e cuidado à saúde foi
relatada em 1859 por Florence Nightingale. Foi utilizada junto aos veteranos da I e da II
Guerras Mundiais. Através de duas enfermeiras musicistas dos EUA – Isa Maud Ilsen e
Harriet Ayer Seymor, que se valiam da música como recurso terapêutico para alívio da dor
física e emocional dos soldados feridos (DOBBRO, 2000)
A partir dos anos 40 do século XX, estudos científicos abordando a música como
recursos terapêuticos na Europa e Estados Unidos mostraram as primeiras bases de suas
63
práticas atuais, sendo que a observação do efeito da música entre os convalescentes de guerra,
principalmente os da Segunda Guerra Mundial (GRACIANOS, 2003).
Cuidar Expressivo – É a utilização dos seus sentidos, corpo sensitivo, através de uma
relação interpessoal, que contém a linguagem verbal e não verbal (COELHO, 1997, p.112)
É difícil encontrar uma única fração do corpo humano que não acuse a influência dos
sons musicais. A música afeta o corpo direta e indiretamente. Atua de forma direta sobre as
células e os órgãos que o constituem, e indiretamente, mobilizando as emoções e
influenciando em numerosos processos corporais que, por sua vez, propiciam relaxamento e
bem-estar (BACKS, 2003)
Nas últimas décadas vem se demonstrando os efeitos fisiológicos que a música produz
no organismo do ser humano, tais como alterações na freqüência cardíaca e respiratória,
alteração na pressão arterial, relaxamento muscular, aceleração do metabolismo, redução de
estímulos sensoriais como a dor e outros. Seu uso pode ser considerado como uma abordagem
não-farmacológica efetiva no controle da dor. Muitas pessoas relatam alívio da dor crônica
através da utilização da música, algumas com histórico de dez até vinte anos de sofrimento
(DOBBRO, 2000)
Cuidar Multifaces – Neste, o cuidar principal é escutar o outro, ter interesse em
conhecer a história de cada uma das pessoas que estão sendo cuidadas e fazer as devidas
conexões técnico-científicas. "Ouvir por detrás do que está sendo dito” (COELHO, 1997,
p.123).
Na Enfermagem, a música é utilizada como intervenção complementar para alívio da
dor e outros diagnósticos, como por exemplo, da angústia espiritual, de distúrbio do sono, de
desesperança, de risco para solidão, de isolamento social e de estresse (LEÃO, 2005).
Cuidar Mural - Sua criação é fundamentada na prevenção, na vigilância e na
situação- limite, proporcionando um esquema de ação ágil e seguro, num encadeamento
lógico e coerente de raciocínio, como exemplo, a Escala de Glasgow (COELHO, 1997, p.139)
Watson (1993, p. 259-61) considera o cuidado como maior valor que a enfermagem
tem para oferecer à humanidade, buscando mais conexões do que separações entre as partes
que compõem a totalidade da pessoa.
Acredita-se que, através do modo como fazemos o cuidado e como o recebe os
pacientes, auxiliamos pessoas a obter um alto grau de harmonia em seu self, para que possam
promover o autoconhecimento, a autocura ou obter sinais que são partes da vida.
O enfermeiro deve planejar intervenções não-farmacológicas como atividades de
terapia ocupacional, jogos, brincadeiras, ensinando o paciente a viver dentro dos seus limites,
64
convivendo com a doença, assumindo seus cuidados e controle do esquema terapêutico,
trazendo nesse contexto a música (CESARINO, 1998)
A música constitui parte da natureza e dos seres humanos, pois seus componentes
básicos como ritmo, melodia e harmonia são comuns à composição do nosso organismo. Essa
semelhança é evidenciada ao se observar o ritmo cardíaco, o sincronismo ao caminhar, a
melodia e o volume de nossas vozes ao falar (BACKS, 2003)
Segundo Coelho (1997), a causa da saúde/doença como expressão social/individual
pode ter a sua origem em fatores endógenos, relacionados ao aspecto clínico, através dos
processos biológicos, e em causas exógenas sociais construídas.
Partindo dessa definição, Coelho (1997) considera como tema central a ação da
enfermagem baseada no cuidado total da pessoa e, em princípio, significando manter
equilíbrio, com enfoque no campo da energia relacionada ao repouso, nutrição, exercício
adequado e integridade. Os aspectos envolvidos são:
a)
Estrutural: o corpo e o seu funcionamento, manutenção e recuperação da
estrutura do corpo, prevenção do colapso físico e promoção da cura.
b)
Pessoal: manutenção e recuperação da identidade e auto-estima do cliente.
c)
Social: reconhecê-lo como um ser social.
Outro nível de compreensão que se há de ter em relação ao processo saúde-doença é o
conceito do que é ser ou estar doente ou o que é ser ou estar saudável.
Watson (1993, p. 259-61), sem aprofundar as grandes discussões sobre esse tema, que
envolvem entre outras, como base de discussão preliminar e compreensão, as categorias da
“representação dos indivíduos” e a “representação dos profissionais” ou mesmo das
instituições de saúde, em um sentido mais pragmático, destaca que em toda população há
indivíduos sujeitos a fatores de risco para adoecer com maior ou menor freqüência e com
maior ou menor gravidade. Além do que, há diferenças de possibilidades entre eles de
“produzir condições para sua saúde” e ter acesso aos cuidados no estado da doença.
Há, portanto, grupos que exigem ações e serviços de natureza e complexidade variada.
Isso significa que o objeto do sistema de saúde deve ser entendido como as condições de
saúde das populações e seus determinantes, ou seja, o seu processo de saúde-doença, visando
produzir progressivamente melhores estados e níveis de saúde dos indivíduos e das
coletividades, atuando articulada e integralmente nas prevenções primária, secundária e
terciária, com redução dos riscos de doença, seqüelas e óbito (WATSON, 1993, p.259-61)
65
Desse modo, há que se compreender a outra dimensão, que é aquela que coloca o
processo de intervenção a serviço de um sistema de cuidados para a saúde para atender as
necessidades, demandas, aspirações individuais e coletivas, como um processo técnico,
científico e político. Político, no sentido de que se refere a valores, interesses, aspirações e
relações sociais e envolve a capacidade de identificar e privilegiar as necessidades de saúde
individuais e coletivas resultantes daquele complexo processo de determinação, e acumular
força e poder para nele intervir, incluindo a alocação e garantia de utilização dos recursos
necessários para essa intervenção.
Portanto, o saber e o fazer em relação à saúde da população mediante um sistema de
saúde é uma tarefa que implica a concorrência de várias disciplinas do conhecimento humano
e a ação das diversas profissões da área de saúde, bem como ação articulada entre os diversos
setores, que é requerimento para a produção de saúde (WATSON, 1993, p. 259-61).
Nesse contexto incluímos a música como um desses múltiplos saberes e diversidade
do conhecimento humano e relacionamos a mesma a um cuidar/cuidado diferenciado e tratado
pelas autoras acima.
Segundo Freire (1992), a música vive, no século XX e XXI, nas sociedades ocidentais,
uma situação inédita em sua história. Contraditoriamente, numa época em que os recursos
tecnológicos se multiplicam, e em que o acesso a ela se tornou bastante fácil, a música parece
esvaziada de seus significados e papéis mais expressivos.
66
CAPÍTULO IV
REFERENCIAL METODOLOGICO
www.google.com.br
A metodologia foi desenvolvida, baseada nos princípios de Enfermagem e os seus
respectivos cuidar/cuidados e a música no ambiente hospitalar, trazendo o compromisso éticolegal formulado na Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, sobre Diretrizes e
Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos.
4.1 A Natureza da Pesquisa e o Modelo de Estudo
Tratou-se de estudo exploratório e descritivo sobre “música como elemento do
cuidar/cuidado de enfermagem: Um estudo sobre o paciente hospitalizado e sua interação com
a música”. A natureza da pesquisa é qualitativa, pois a mesma favorece uma análise dos
fenômenos únicos, ajudando na compreensão de todos os fenômenos similares, nos
permitindo avaliar aspectos objetivos e subjetivos.
Optou-se pelo estudo exploratório e descritivo, pois o objeto música nos hospitais no
processo do cuidado ao paciente hospitalizado ainda busca conhecimento, sendo importante a
descrição detalhada das situações da pesquisa e as implicações no processo saúde/doença ao
paciente hospitalizado, sendo ele o foco principal dessa pesquisa, e tendo como prioridade
mostrar a realidade do que é estudado, inclusive o que não é visível.
Segundo Minayo (2003, p. 22), a pesquisa qualitativa se preocupa com um nível de
realidade que não pode ser quantificado, relacionado a um “espaço mais profundo das
67
relações, processos e fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis”.
Sobre esse tipo de pesquisa abordada nesse estudo, Bogdan e Biklen (1982, p.79)
discutem que este modelo apresenta cinco características básicas:
1.
A pesquisa qualitativa tem um ambiente natural como sua fonte direta de dados
e o pesquisador como o seu principal instrumento.
2.
Os dados coletados são predominantemente descritivos.
3.
A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto.
4.
O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção
especial pelo pesquisador.
5.
A análise de dados tende a seguir um processo intuitivo.
Segundo Minayo (2002), a pesquisa qualitativa é aquela que tem o ambiente natural
como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento-chave, o significado como
importância vital, a preocupação com o processo da investigação maior do que com o produto
e sua análise indutiva.
Com isso, diz-se que a abordagem qualitativa se aprofunda no mundo das origens das
ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e
estatísticas. Nos estudos qualitativos, o pesquisador é o principal instrumento da investigação.
Pesquisas qualitativas geram, tipicamente, um enorme volume de dados que precisam
ser organizados, compreendidos, isso se faz através de um processo contínuo em que se
procura identificar dimensões e relações, desvendando-lhe o significado. Este é um processo
complexo, não linear, que implica em um trabalho por completo.
Figueiredo (2004) compreende que uma pesquisa quando qualitativa não necessita de
uma estrutura fixa prévia, ou seja, de materiais previamente estruturados, porém deve ter um
máximo de envolvimento por parte do pesquisador, visto que dessa forma ela produz uma
grande quantidade de dados narrativos, dispensando amostras, pois o pesquisador qualitativo
deve evitar controlá-la para que o estudo continue no contexto naturalista.
Por atender essa objetividade e subjetividade é que o referido estudo adota a pesquisa
qualitativa, para que possamos analisar a relação da música para paciente, o paciente
hospitalizado.
68
4.2 - Instrumento de Coleta dos Dados
A análise, discussão e interpretação dos dados foram realizadas com base na entrevista
semi-estruturada que é definida como um processo de interação social entre duas pessoas na
qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do
outro, o entrevistado.
As informações foram obtidas através de um roteiro de entrevista, cujo conteúdo
possui uma lista de pontos ou tópicos previamente estabelecidos de acordo com a
problemática central da pesquisa, bem como de acordo com os objetivos específicos
previamente propostos. É importante que o entrevistador grave a entrevista, porém, o
entrevistado deve autorizar a gravação.
A técnica de coleta de dados (entrevista) contém quatro componentes que devem ser
explicitados nos procedimentos metodológicos, enfatizando-se suas vantagens, desvantagens
e limitações. São eles: a) o entrevistador; b) o entrevistado; c) a situação da entrevista; d) o
instrumento (roteiro) de captação de dados (HAGUETTE, 1995).
Tem a função de coletar informações de forma conversacional, formal ou
informalmente, de um indivíduo ou grupo, sobre uma determinada situação, fato ou
fenômeno. A entrevista deve ser realizada subsidiada por um roteiro previamente elaborado.
O roteiro de entrevista deve ser formulado a partir dos objetivos específicos e a sua estrutura
textual deve ser clara e objetiva, não permitindo dúvidas com relação ao que o pesquisador
deseja, em termos informacionais.
O roteiro de entrevista não deve ser elaborado com perguntas, mas sim por meio de
tópicos informacionais, de forma que o pesquisador os siga durante a conversa com o
entrevistado, uma seqüência lógica de raciocínio (VALENTIM, 2005).
Após essa definição, optou-se pelo uso da entrevista semi-estruturada que conduz às
questões propriamente ditas, abrangendo quatro tópicos: (1) dados pessoais do sujeito,
incluindo o codinome que este escolheria para ser referido no estudo; (2) roteiro específico,
sobre o gosto musical do paciente; (3) e a percepção da música como um fator agregado no
momento da internação.
Assim, a coleta de dados, obedeceu algumas etapas:
A)
Construção do roteiro para entrevista, autorização da chefia imediata,
esclarecimento sobre a pesquisa, garantia do anonimato do sujeito e implementação da
entrevista semi-estruturada gravada em um aparelho de MP3, a partir da concordância de cada
paciente participante, como mostra os anexos II e III.
69
B)
Diário de campo para registro de observações
C) No momento da entrevista o sujeito foi investigado se era apreciador de
música; em caso afirmativo, solicitávamos a sua preferência musical, e, em seguida e o
que a música poderia estar lhe trazendo naquele momento da internação.
4.3 Critérios de Inclusão dos Sujeitos da Pesquisa
O critério de inclusão foi estar dentro da variação de idade de 21 a 60 anos. O critério
usado foi que o paciente tivesse diagnóstico para internação de no mínimo uma semana ou
mais, independente de sua patologia, sendo importante que o mesmo estivesse orientado no
tempo e espaço, sendo capaz de verbalizar.
4.4 Análise dos Dados
A Conjuntura em Foco foi a de trazer, através da análise temática, a questão do uso da
música nos hospitais e sua referência no cuidado ao cliente. A análise temática "consiste em
descobrir os 'núcleos de sentido' que compõem a comunicação e cuja presença, ou freqüência
de aparição, pode significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido" Bardin, (1979
105p).
As entrevistas foram registradas através de gravação em áudio em um aparelho de
MP3 e transcritas na íntegra pela pesquisadora principal e autorizadas pelos participantes,
além de que os textos passassem por pequenas correções lingüísticas, porém, não eliminando
o caráter espontâneo das falas. Para o tratamento dos dados, a técnica da análise temática ou
categorial foi utilizada e, de acordo com Bardin (2002), baseia-se em operações de
desmembramento do texto em unidades, ou seja, descobrir os diferentes núcleos de sentido
que constituem a comunicação, e posteriormente, realizar o seu reagrupamento em classes ou
categorias. Além disso, a análise documental também esteve presente, para facilitar o
manuseio das informações, já que se constitui uma técnica que visa representar o conteúdo de
um documento diferente de seu formato original, facilitando na realização de consultas.
4.5 Implicações Éticas Legais e o Compromisso da Pesquisa
A Resolução 196/96 em seus parágrafos III.1 e III.2 diz: “As pesquisas envolvendo
70
seres humanos devem atender às exigências éticas e científicas fundamentais” (BRASIL,
1998).
III.1 - A observação dos princípios éticos na pesquisa implica em:
Consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvos e a proteção a grupos
vulneráveis e aos legalmente incapazes (autonomia).
Neste sentido, a pesquisa envolvendo seres humanos deve sempre tratá-los em sua
dignidade, respeitá-los em sua autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade;
Ponderação entre riscos e benefícios, tanto atuais como potenciais, individuais ou
coletivos (beneficência), comprometendo-se com o máximo de benefícios e o
mínimo de danos e riscos; Garantia de que danos previsíveis serão evitados (não
maleficência);
Relevância social da pesquisa com vantagens significativas para os sujeitos da
pesquisa e minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis, o que garante a igual
consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação
sócio-humanitária (justiça e eqüidade).
II.2 - Todo procedimento de qualquer natureza envolvendo o ser humano, cuja
aceitação não esteja ainda consagrada na literatura científica, será considerado como
pesquisa e, portanto, deverá obedecer às diretrizes da presente Resolução. Os
procedimentos referidos incluem entre outros, os de natureza instrumental,
ambiental, nutricional, educacional, sociológica, econômica, física, psíquica ou
biológica, sejam eles farmacológicos, clínicos ou cirúrgicos e de finalidade
preventiva, diagnóstica ou terapêutica.
Dessa forma, foram usados codinomes (nomes de Países) para os pacientes, garantindo
total privacidade com suas respostas. Os mesmos receberam um termo livre esclarecido onde
constava um resumo da pesquisa, como os objetivos detalhados, a justificativa e relevância da
pesquisa, explicando que o mesmo poderia, a qualquer momento, desistir da pesquisa sem
problema algum. Nesse termo consta o telefone e email da pesquisadora principal e do comitê
de ética do hospital no qual o paciente se encontra internado.
4.6 O Cenário da Pesquisa
Iniciou-se uma busca pelos hospitais no Município do Rio de Janeiro, para saber quais
usavam música como terapêutica para o paciente. Foram selecionamos 25 unidades
hospitalares de esfera pública para verificação.
Foram visitados os Centros de Estudos, nos dias 02 a 06 de setembro de 2008, para
obtenção de dados e referências de estudos para as pesquisas. As visitas ocorreram entre
09h00min as 16h00min, totalizando 35 horas semanais.
Foram visitados os hospitais referidos no quadro (1), e coletado os resultados das
informações descritas.
71
Quadro 10
Hospitais visitados para o Desenvolvimento da Pesquisa
HOSPITAIS
Albert Schweitzer
Álvaro Ramos
Cardoso Fontes
Carlos Chagas
Clementino Fraga Filho
TRABALHAM
MÚSICA
Não
Não
Não
Não
Sim
Hospital Do Câncer (INCA)
Servidores do Estado
Gafrée Guinle
Getúlio Vargas
Hospital da Lagoa
Pedro Ernesto
IASERJ
Fernandes Figueira
Nacional de Cardiologia
Hospital Ipanema
Lourenço Jorge
Miguel Couto
N. S. do Loreto
Paulino Werneck
Hospital Pedro II
Rocha Faria
Santa Casa de Misericórdia
Salgado Filho
Souza Aguiar
Hospital de Bonsucesso
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
COM FINALIDADE
Não
Não
Não
Não
Finalidades Terapêuticas
(Grupos fora das clínicas)
Finalidade Terapêutica
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Música levada às clinicas
através de voluntários
Fonte: Entrevista
Essas informações foram dadas pelos funcionários responsáveis pelos Centros de
Estudo de cada hospital, na data da coleta de dados, de acordo com as visitas aos Centros de
Estudos. Após esse levantamento, foi possível observar que nos hospitais públicos do Rio de
Janeiro, dos 25 hospitais visitados, três usavam músicas para seus pacientes como recurso
terapêutico, totalizando 14% no Município do Rio de Janeiro no período da coleta dos dados.
Com os respectivos resultados, verificamos a importância desses hospitais de grande
porte e a relação do cuidado aos seus pacientes, e optamos como cenário de pesquisa pelo
Hospital Geral de Bonsucesso (localizado na região AP3; este hospital está localizado
geograficamente no centro dos seguintes bairros: Ramos, Olaria, Manguinhos, Maré, Parque
72
União, Vila do João, Vila dos Pinheiros, Baixa do Sapateiro, Nova Holanda e próximo ao
intenso fluxo diário da Av. Brasil, linha amarela, linha vermelha e automóvel club), por ter
um sistema de som dentro do hospital nos corredores, que fica sintonizado em uma rádio que
transmite informação e música, e, além desse sistema é feito um programa, Música no ar,
através do qual é levada música através de voluntários a todas as clinicas do hospital.
A segunda opção foi o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho que tem como
característica o ensino e na área da saúde a pesquisa, e traz um trabalho com música que
acontece fora das clinicas, podendo haver uma comparação entre duas unidades de grande
porte e com trabalho com música diferenciado aos seus pacientes. Fizemos um levantamento
para a obtenção de dados dessas unidades de escolha como cenário da pesquisa.
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (HUCFF/UFRJ)
A obra para construção do HU iniciou em setembro de 1950, com a equipe chefiada pelo
arquiteto Jorge Moreira, e, devido à falta de recursos esta se prolongou até 1955, ano em que
foi interrompida. Com a intenção de conter 1800 leitos, construiu-se uma estrutura de 220.000
m2. Em 1967 foi organizada uma Comissão pelo então reitor da UFRJ, Raimundo Moniz
Aragão, com a intenção de reexaminar o projeto do hospital.
Na Escola de Enfermagem Anna Nery berço do Cuidado de Enfermagem a diretora no
ano de 1950 era Waleska Paixão. No ano de 1967, foi a gestão da Profª Maria Dolores Lins de
Andrade. E em 1978, no ano da inauguração do HU, a diretora era Cecília Pecego Coelho.
Em 1970, a UFRJ tinha como reitor Djacir Menezes e a Comissão de Implantação
decidiu que o Hospital ocuparia apenas 110.00 metros quadrados, isto é, metade da área total
da estrutura. As obras reiniciaram em Janeiro de 1971, sendo que, ao final de 1972, elas foram
interrompidas novamente, por falta de recursos. A retomada da obra se deu no reitorado do
professor Hélio Fraga, que em Setembro de 1973 reorganizou uma Comissão, tendo como
meta apenas a Implantação do Hospital Universitário.
A Implantação do HU foi feita em um momento político muito difícil. Em 01 de
Março de 1978 sob o governo do Presidente Ernesto Geisel, e tendo como Ministro do Estado
da Educação e Cultura o Senador Ney Braga e no reitorado de Luis Renato Caldas, o
Presidente da Comissão de Implantação, o professor Clementino Fraga Filho, foi finalmente
inaugurado o Hospital Universitário.
73
A Divisão de Enfermagem hoje têm 901 funcionários e 260 enfermeiros tendo como
sua primeira Diretora a enfermeira-professora da Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ
Hilnar Márcia de Menezes e Shirley Correia da Costa.
Nível de Atenção:
AMBULATORIAL
AMBULATORIAL
AMBULATORIAL
HOSPITALAR
Atividade:
ATENCAO BASICA
MEDIA COMPLEXIDADE
ALTA COMPLEXIDADE
MEDIA COMPLEXIDADE
Instalação:
SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO
SALA REPOUSO/OBSERVACAO – INDIFERENCIADO
CLINICAS BASICAS
CLINICAS ESPECIALIZADA
CLINICAS INDIFERENCIADO
OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS
SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL
SALA DE CURATIVO
SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS)
SALA DE GESSO
SALA DE IMUNIZACAO
SALA DE PEQUENA CIRURGIA
SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO – INDIFERENCIADO
CLINICAS BASICAS
CLINICAS ESPECIALIZADAS
Quantidade/Consultório:
1
2
22
27
23
3
1
1
2
1
1
2
1
22
27
Fonte: Site do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
Hospital Geral de Bonsucesso (HGB)
O HGB é o maior hospital da rede pública do estado do Rio de Janeiro em volume
geral de atendimentos, sendo categorizado como hospital geral com porta hospitalar de
emergência e reconhecido como Centro Regional Terciário. Além disso, é considerado
referência em oftalmologia, cirurgia de cabeça e pescoço, atendimento à gestante de alto risco
e atendimento de alta complexidade em transplante de rins, fígado e córnea.
O hospital conta com mais de 42 mil m2 de área construída, distribuídos em seis
prédios de quatro a sete pavimentos, além de outras cinco construções menores (depósito,
garagem, igreja, posto bancário, Projeto Acolhida), conforme planta-baixa a seguir.
74
Fonte: Site do Hospital Geral de Bonsucesso
4.7 Comitê de Ética
No dia 20/03/2009, às 14h00, a pesquisadora deste estudo esteve no Setor de
Ortopedia do Hospital Geral de Bonsucesso para conversar com o Chefe do Setor sobre o
processo de obtenção de aprovação da pesquisa, pois é critério do comitê de Ética que se
obtenha a assinatura do chefe do Setor para dar entrada no comitê. Nesse dia não foi possível
encontrá-lo, e pediram que esta voltasse no dia 24/03/2009 pela manhã. No dia 24/03/2009
esteve novamente no Setor e a secretaria disse que o responsável pelo setor estava em
cirurgia, sem hora para ser liberado, pedindo que esta voltasse no dia 13/04/2009. No
13/04/2009, esta conseguiu falar com o chefe do Setor, que se mostrou muito solicito, leu o
resumo da pesquisa e assinou o termo de liberação para o comitê de ética.
No mesmo dia, a pesquisadora esteve no Comitê de ética com a documentação para
ser entregue, seguindo os requisitos retirados no site do Hospital Geral de Bonsucesso,
levando consigo a assinatura do chefe do Setor de Ortopedia, como requisito para aceitação
do projeto pelo Comitê. Ao chegar ao Comitê de Ética, foi informada de algumas mudanças,
dentre elas, a de que o próprio não poderia aceitar a assinatura do Chefe do Setor em uma
carta de aceite, pois estes haviam elaborado um formulário que deveria ter a assinatura do
chefe do Setor, assinatura da Orientadora e assinatura da coordenadora da UFRJ.
Após essas assinaturas, a pesquisadora teria que responder a um questionário que
deveria ser entregue primeiramente no Setor Centro de Estudos para avaliação e só após,
75
seguiria para o Comitê de ética. Iniciou-se, a partir daí, a busca pelas assinaturas, as quais
foram obtidas em sua totalidade no dia 12/05/2009.
A pesquisa foi enviada ao Centro de Estudo do Hospital Geral de Bonsucesso no dia
12/05/2009, como critério de requisito do hospital para conferência da documentação e
assinaturas, e foi encaminhada para o Comitê de Ética pelo Centro de Estudos no dia
03/06/2009, sendo aprovado na data de 10/07/2009.
A pesquisadora esteve no dia 07/05/2009 no Setor de Ortopedia para obter a assinatura
do Chefe de Ortopedia, e foi informada que ele se encontrava em reunião e sem uma hora
definida para acabar; retornou no dia 12/05/2009 e conseguiu encontrar-se com o chefe do
setor, que assinou inclusive a carta de aceite da pesquisa. No Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho, a pesquisa foi enviada ao Comitê de Ética no dia 12/05/2009,
ficando com pendências a serem discutidas na reunião do dia 02/06/2009, para revisão de
normas, as quais foram respondidas no dia 03/06/2009 e entregues para nova avaliação,
ficando, porém, novamente em pendências por requisição dos dados alterados nas pesquisas
para serem impressos para confirmação das alterações, os quais foram respondidos no dia
04/06/2009. Foi aprovado na reunião de 23/07/2009.
O período decorrido a partir da data de entrega do projeto ao comitê de Ética até a sua
aceitação foi de 60 dias, e dessa forma, tornou-se necessário fazer alterações no cronograma
do projeto que foi aprovado no dia 12/07/2009. A entrega do projeto foi feita somente em
Março, devido ao mês de Janeiro ter sido de férias para os comitês e para alguns profissionais
dos hospitais, além de feriados no mês de fevereiro, como o período de Carnaval. Durante
esse período, aproveitou-se para fazer as revisões sugeridas pela banca na aprovação do
projeto.
4.8 Coleta de dados
No primeiro momento da entrevista os sujeitos foram indagados sobre a apreciação de
música, em caso afirmativo, solicitávamos a sua preferência musical, e, em seguida o que ele
achava que a música estava lhe trazendo naquele momento da internação. Contamos com os
dados do prontuário do paciente entrevistado e o Diário de Campo, para complementação das
informações colhidas no dia -a -dia.
No dia 12/07/09, começamos a coleta dos dados comparecendo ao Setor de
Coordenação de Atenção Comunitária e Voluntariado, que desenvolve projetos de cunho
pedagógico e social nas diversas clínicas e serviços do Hospital Geral de Bonsucesso.
76
A referida Coordenação promove o Projeto “Música no Ar” que tem o objetivo,
segundo a coordenação do Setor, de proporcionar música para alegrar e descontrair o
ambiente hospitalar, levando alegria para usuários, acompanhantes, familiares e profissionais,
com intuito de amenizar um pouco a sua dor.
A primeira visita ao Hospital Clementino Fraga Filho ocorreu no dia 25/07/2009, para
informações e avaliações do pacientes de ortopedia. Constatou-se que a clinica de ortopedia
do Hospital Clementino Fraga Filho, não dispõe de trabalhos desenvolvidos com música nas
demais clinicas. É importante ressaltar que, ao contrário do Hospital Geral de Bonsucesso, na
clinica de ortopedia do Hospital Clementino Fraga filho é comum encontrar-se pacientes de
urologia, ortopedia, entre outras clinicas.
A coleta foi realizada do dia 11/08/2009 a 20/12/2009, sendo feita no Hospital Geral
de Bonsucesso. A entrevista semiestruturada foi composta de 13 perguntas das quais 10 delas
foram retiradas do prontuário do paciente. As três perguntas restantes foram de âmbito
pessoal de cada paciente, relacionando-se à música.
Os dados coletados levaram em média 20 minutos por paciente, totalizando 1100
minutos. Essas coletas foram gravadas no aparelho de MP3 e transcritas na integra pela
pesquisadora principal.
Cada categoria de Cuidados e Caracterização foi demonstrada utilizando programa de
Computador Word em versão 2000 e Microsoft Word versão 2000. Os itens abordados nos
instrumentos de coletas de dados foram apresentados através de quadros, sendo argumentados
e contra-argumentados.
4.9 População da Pesquisa
Essa pesquisa foi realizada com 50 pacientes de ambos os sexos, internados há mais de
uma semana com patologias diferenciadas. Dos 65 pacientes convidados para participar da
pesquisa, 50 aceitaram, os 15 restantes pediram para que participassem num outro dia, por
estarem indispostos para falar naquele momento, e quando procurados num outro momento,
os mesmos já haviam tido alta, o que impossibilitou uma nova tentativa de coleta.
Para um maior conhecimento do sujeito entrevistado dessa pesquisa, os dados desses
pacientes foram distribuídos em tabelas para obter-se, ao final, uma análise desse grupo. Tais
resultados da distribuição da população entrevistada com o perfil do paciente internado são
mostrados a seguir no próximo capítulo.
77
CAPITULO V
ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
www.google.com.br
1º FOCO - PERFIL DA CLIENTELA
Várias teorias tentam explicar como a música pode alcançar a mente do ser humano;
uma delas é a teoria do tálamo, ou teoria Cannon-Bard de emoção (RUUD, 1990). De acordo
com ela, o tálamo, “centro retransmissor de todas as emoções, sensações e sentimentos”, é a
primeira região do cérebro a ser atingida pela música, estimulando o córtex cerebral onde se
integram os aspectos intelectuais de pensamento e raciocínio (RUUD, 1990, p.29). Sekeff
(2002, p.109) acrescenta que: “(...) o tálamo é o lugar aonde chegam às sensações e emoções
que se situam num plano não consciente.”
Se nesse nível é possível acompanhar uma linha melódica assobiando ou tamborilando
os dedos inconscientemente, só podemos apreciá-la conscientemente, em nível cortical.
A música se relaciona com a mente humana, pois responde às necessidades do
indivíduo por meio de gratificação e auxilia na defesa contra forças diversas, como a
ansiedade e o medo. Ela age na percepção, integrando e associando experiências e induzindo
uma ação. Atua no equilíbrio afetivo e emocional, estimula a criatividade, a inteligência e a
memória, aumentando a capacidade de atenção.
Para Aristóteles, a música tem diversas funções, já que pode servir para a educação,
para o repouso da alma e, principalmente, para proporcionar a 15ª catarse; trata-se de uma
78
forma de purificação espiritual e expurgação moral dos espectadores tocado pelas paixões que
movem os personagens de uma tragédia (CATARSE, 1998, p.1249).
Abaixo trazemos a distribuição da população entrevistada com o perfil do paciente
internado.
Tabela 1 - Distribuição dos Pacientes Internados, segundo sexo.
Sexo
Fi
F%
Feminino
17
34%
Masculino
33
66%
Total
50
100%
Fonte: Entrevista
Na tabela 1, pode-se observar a prevalência do sexo masculino, correspondendo a 66%
(Fi=33) das coletas, já o sexo feminino, aparece com 34% (Fi=17).
Segundo Backes, (2003) a música constitui parte da natureza dos seres humanos, pois
os componentes básicos como ritmo, melodia e harmonia são comuns à composição do
organismo humano. Essa semelhança é evidenciada ao se observar o ritmo cardíaco, o
sincronismo ao caminhar, a melodia e o volume de vozes ao falar.
As ondas são captadas pelo pavilhão auricular e chegam ao conduto auditivo e ao
tímpano, cujas vibrações atingem o ouvido médio, onde são convertidas em impulsos
nervosos. Esses impulsos caminham até o cérebro pelo nervo vestíbulo-coclear que entendem
tais estímulos como som. O deslocamento das vibrações sonoras no líquido cérebro-espinhal e
nas cavidades de ressonância do cérebro determina um tipo de massagem sônica que, segundo
a qualidade harmônica do som, produz efeitos positivos ou negativos, benéficos ou não ao
sistema psico-bioenergético. As fibras nervosas convertem o som captado em estímulo
nervoso propriamente dito (BONTEMPO, 1994)
Zillman e Bhatia (1989) investigaram os efeitos de associar a atração heterossexual
aos estilos musicais, e concluíram que o gosto musical influencia a atração interpessoal, bem
como a percepção e a avaliação da personalidade alheia. Alguns estereótipos associados a
certos gêneros musicais foram encontrados, o que levou os autores a concluir que o gostar e a
atração interpessoal estão relacionados às respostas individuais aos estereótipos. Segundo os
autores, os estereótipos associados à música, como estratificação social e status nada mais
são do que esquemas cognitivos que passam pelo viés de categorias impostas social e
culturalmente, aparentam ser determinantes nas atitudes interpessoais.
79
Tabela 2. Distribuição dos Pacientes Internados, segundo faixa etária
Faixa etária (anos)
Fi
F%
21-35
13
26%
36-49
19
38%
50-64
18
36%
Total
50
100%
A tabela 2 demonstra que (Fi=13) dos pacientes internados tem entre 21 e 35 anos,
correspondendo a 26%; (Fi = 19) estão na faixa entre 36 e 49 anos, correspondendo a 38%;
(Fi=18) deles têm de 50 a 64 anos, correspondendo a 36%.
A música age sobre a cultura a qual lhe dá a forma e da qual deriva, ao mesmo tempo
em que se insere na estrutura dinâmica onde ela própria se formou (TOMATIS; VILAIN,
1991). Está inserida nas várias atividades sociais, das quais decorrem múltiplos significados.
A cultura dá os referenciais, bem como os instrumentos materiais e simbólicos de que cada
sujeito se apropria para criar, tecer e orientar suas construções - neste caso, as atividades
criadoras e musicais.
Quando se vivencia a música, se estabelece uma relação com a matéria musical em si
(resultado da relação de seus elementos) e com toda uma rede de significados construídos no
mundo social.
Com relação à linguagem musical interna é necessário considerar variantes básicas
relacionadas com a linha melódica e o ritmo, como timbres, texturas, etc. A(s) melodia(s)
principal (is), os motivos musicais, o andamento, os ritmos e a harmonização, são elementos
da linguagem musical que podem ser analisados isoladamente e nas relações entre si, pois têm
discurso e características próprias que normalmente apontam indícios importantes e
determinantes para sua compreensão (MORAES, 2000)
Mas eles também devem ser compreendidos na lógica do desenvolvimento da visão de
mundo do autor que está, obviamente, vinculada também aos aspectos sociais e culturais de
um determinado gênero e estilo. Além disso, a forma instrumental, os tipos de instrumentos e
seus timbres, a interpretação e também os arranjos de um dado documento sonoro contêm
indicações fundamentais para compreender a música em si mesma e nas suas relações com as
experiências sociais e culturais de seu tempo. Todos esses elementos geralmente não são
difíceis de perceber na canção popular - pois de certo modo eles devem se colocar de maneira
80
simples e clara para o ouvinte - e formam uma estrutura organizativa inteligível para o
investigador (MORAES, 2000)
Tabela 3. Distribuição dos Pacientes Internados, segundo grau de escolaridade
Grau de escolaridade
Fi
F%
Ensino fundamental
31
62%
Ensino médio
11
22%
Ensino superior
08
16%
50
100%
Total
Fonte: Entrevista
A tabela 3 demonstra que (Fi=31) dos pacientes internados tem o ensino fundamental,
correspondendo a 62%; (Fi=11) pacientes tem o ensino médio, correspondendo também a
22%; (Fi=08) tem o ensino superior correspondendo a 16%.
A atividade musical, enquanto integrante de uma cultura, criada e recriada pelo fazer
reflexivo-afetivo do homem, é vivida no contexto social, histórico, localizado no tempo e no
espaço, na dimensão coletiva, onde pode receber significações que são partilhadas
socialmente, e sentidos singulares que são tecidos a partir da dimensão afetivo-volitiva e dos
significados compartilhados. Desta forma, falamos de vivências coletivas e singulares da
música, sempre em meio ao contexto histórico-social (MORAES, 2000)
Entendendo a música como um fazer construído pela ação do sujeito em sua relação
com o contexto histórico-cultural, entendemos o sujeito como constituído e constituinte do
contexto no qual está inserido.
De acordo com Zanella (1999, p.153), "todo indivíduo enquanto ser social insere-se,
desde o momento em que nasce, em um contexto cultural, apropriando-se dele e modificandoo ativamente, ao mesmo tempo em que é por ele modificado...".
As manifestações culturais derivam da atividade humana conjunta, assim como as
características singulares do sujeito, sendo social e historicamente constituídas. As atividades
culturais contribuem, em relação às significações engendradas e apropriadas pelos sujeitos
que as executam, para a constituição dos sujeitos (ZANELLA, 1999).
O expressionismo, segundo Meyer (1956) vinculado ao absolutismo defende a idéia de
que o significado da música reside na percepção e compreensão das relações musicais do
trabalho artístico, sendo estas relações capazes de estimular sentimentos e emoções no
81
ouvinte. O autor é favorável ao formalismo quando lembra que o significado e o valor da obra
de arte devem ser encontrados nas qualidades estéticas da obra.
Os expressionistas absolutos acreditam que "os significados emocionais expressivos
emergem em respostas à música e que estes existem sem referência ao mundo extramusical de
conceitos, ações e estados emocionais humanos" (MEYER, 1956, p. 04).
Tabela 4. Distribuição dos Pacientes internados, segundo estado civil
Estado Civil
Fi
F%
Casado (e união estável)
39
78%
Solteiro
11
22%
Total
50
100%
Fonte: Entrevista
Na tabela 4, constata-se que 78% (Fi=39) dos pacientes internados são casados, 22%
(Fi=11) são solteiros.
Segundo Maheirie (2003, p.150),
(...) as músicas, na medida em que provocam no fisiológico determinadas reações,
podem, a partir daí, nos remeter a estados emocionais intensos, em que só as ações
poderão lhes dar uma significação. Esta, não sendo estabelecida a priori na música,
também não o é nas emoções, posto que o que nos emociona não emocionará
necessariamente os outros.
Em termos de construção social do significado musical, Martin (1995, p.57) aponta
que "os significados da música não são nem inerentes nem reconhecidos intuitivamente, mas
emergem e se tornam estabelecidos (ou transformados, ou esquecidos) como uma
conseqüência das atividades de grupos de pessoas e contextos culturais particulares". As
pessoas, em grupos, em relações, de acordo com contextos históricos, culturais e pessoais,
atribuem e constroem significados à música a partir de suas vivências e experiências.
Salienta Martin (1995), que os sujeitos, como seres humanos criadores e sociais
dotam as coisas, e neste caso, também os sons e a música de significados, em um processo no
qual a construção da realidade acontece nos níveis coletivo e individual.
82
Tabela 5. Distribuição dos pacientes internados segundo profissão.
Profissão
Fi
F%
Estudante
03
06%
Domestica
09
18%
Auxiliar de serviços gerais
05
10%
Motorista
02
04%
Autônomo
17
34%
Marceneiro
02
04%
Consultor de seguro
01
02%
Soldador
01
02%
Professor
02
04%
Pintor
03
06%
Musico
01
02%
Mecânico
02
04%
Vendedor
02
04%
Total
50
100,0%
Fonte: Entrevista
A tabela 5 mostra que 10% (Fi=05) dos pacientes internados são Auxiliares de
Serviços Gerais; 18% (Fi=09) exercem a atividade de domesticas; o maior número dos
entrevistados totalizando 34% (Fi=17) é autônomo, as demais profissões (estudantes,
motorista, marceneiro, soldador, consultor de seguros, professor, pintor, musico, vendedor)
totalizam 100% (Fi=50).
Segundo Tekman e Hortaçsu (2002), a preferência por determinados estilos musicais é
preponderante na configuração da identidade pessoal e social. De acordo com esses autores,
os indivíduos utilizam a música com propósitos avaliativos no processo de identificação
grupal, sugerindo a importância desse veículo de comunicação de massa em diversas
situações em que o adolescente se encontra no dia–a–dia, permeando seu relacionamento
83
interpessoal e, inclusive, influenciando a escolha do vestuário e a atração e rejeição por
determinados grupos.
Quanto ao protagonismo da música nas culturas juvenis, Pais (1998, p.104) assinala
que "as preferências musicais são acompanhadas de atitudes específicas que reforçam – mas
também ultrapassam – os gostos musicais". O autor acima citado explica que a música, o
vestuário, a aparência ou a linguagem são "elementos simbólicos" que dão coerência interna
aos grupos, servindo para formar e consolidar uma identidade grupal e, conseqüentemente,
diferenciações com outros grupos. Na sua análise, a música é considerada um "signo juvenil
geracional", pois seria universal aos grupos de jovens, em oposição aos "signos juvenis
grupais" que seriam elementos peculiares a certos grupos, agindo como diferenciadores.
Sendo assim, um determinado estilo musical, como o heavy metal ou o punk rock, pode agir
como "signo de diferenciação grupal" por se opor a grupos que atribuem à preferência
musical um papel crucial nos processos de formação de identidade social.
Embora a música, como aqui vem sendo ressaltada, tenha um efeito sobre o
comportamento das pessoas, parece evidente que os estilos têm efeitos variados. Nesse
sentido, faz–se necessário conhecê–los.
O estudo de Ferreira et. al. (2002) ao sinalizar os cuidados fundamentais na ótica do
cliente refere que estes se organizam em um tripé que engloba a dimensão físico-biológica, a
dimensão social e a dimensão subjetiva. Com efeito, as visitas musicais, segundo os
participantes da pesquisa, abrangem essas três dimensões, com destaque para a dimensão
social que são os cuidados que mantém sua identidade social, e para a subjetiva, que valoriza
o sujeito na sua dimensão humana.
Segundo Ferreira (2005, p.14-15) há ainda teorias que afirmam que tudo pode produzir
som, por ser formado de átomos que também produzem sons ao se movimentarem, numa
espécie de dança. Dessa forma, a cada momento os átomos produziriam um tipo de música,
ora sutil, ora mais densa, com poderes construtivos ou destruidores. É o fenômeno da taça de
cristal que se estilhaça ao som intenso e agudo de uma nota. A própria Bíblia conta o episódio
em que a muralha que cercava a cidade de Jericó caiu ao som de gritos e trombetas dos
guerreiros israelitas. Se o poder da música atinge a matéria, é também evidente sua influência
sobre os seres vivos. Até mesmo animais e plantas sofrem alterações em seu desenvolvimento
quando submetidos a algum tipo de música.
Em uma composição, diversos elementos são combinados formando o estilo de uma
obra musical. A maioria deles está presente em todos os períodos da história da música,
apesar de se verificar o destaque vez ou outra de um desses componentes. O que se percebe é
84
que esses elementos constituintes da música, principalmente o ritmo, a melodia, o timbre e a
harmonia, intensidade, andamento são capazes de afetar todo o organismo humano, de forma
física e psicológica.
Ferreira (2005, p.18) afirma que através de tais elementos o receptor da música
responde tanto afetiva quanto corporalmente. Para melhor entender a repercussão desses
elementos sobre o homem, é essencial que se faça um apanhado sobre suas principais
características para identificar o quê nelas pode estimular os mais diversos comportamentos.
O ritmo é considerado segundo o autor (FERREIRA, 2005), como um elemento prémusical, já que pode existir sem que haja música propriamente dita. Ele corresponde aos
diferentes modos de agrupação dos sons em relação à sua duração e acentuação, organizando
vibrações. Sua ação se estende por toda a natureza física, atingindo circulação, respiração,
oxigenação, digestão, operações mentais, pulsações e movimentos. Afeta o humor e produz a
excitação corporal nas mais diversas situações (FERREIRA, 2005)
No primeiro momento apresentamos os tipos de músicas eleitas pelos pacientes
durante a coleta dos dados, e, em segundo momento a sua principal resposta sobre o
efeito/sentimento da música para si (FERREIRA, 2005)
85
2º FOCO - PREFERÊNCIAS MUSICAIS CITADAS PELOS PACIENTES
São apresentados no quadro 11, os pontos comuns e diferenciais de cada participante e
suas preferências musicais. Dos cinqüenta pacientes entrevistados, todos citaram suas
preferências musicais, até mesmo os que afirmaram não terem preferência e gostarem de tudo
um pouco, acabaram revelando no decorrer da entrevista os nomes de seus cantores e estilos
preferidos.
Quadro 11
Distribuição dos pacientes com preferência pelo Samba/Pagode
PARTICIPANTES
(codinomes)
CHINA
FRANÇA
URUGUAI
CAMARÕES
TEMPO
DE PREFERÊNCIAS MUSICAIS
INTERNAÇÃO
UM MÊS
Pagode! Zeca Pagodinho, gosto de
músicas antigas, internacionais,
gosto de todas.
UMA SEMANA
Pagode, eu gosto, como Alexandre
Pires.
DUAS SEMANAS
Pagode, musicas nacionais, Fábio
Junior, gosto do grupo Roupa
Nova, dentre outros...
DUAS SEMANAS
Gosto de Pagode como Sorriso
Maroto, Charme, Forró Moderno
como Calcinha Preta! Mais o que
eu gosto mesmo é do Kennedy.
Aquele saxofonista.
...Quando
eu podia dançava, agora estou sem
possibilidades, sinto falta.
COLOMBIA
TRÊS SEMANAS
IRLANDA
UM MÊS
LÍBIA
TRÊS SEMANAS
OMÃ
UMA SEMANA
Gosto de Pagode, Romântico,
Funk, evangélica... Música boa.
Mais de Pagode, como Zeca
Pagodinho.
Gosto de Pagode. Do grupo Sorriso
Maroto e Funk de qualquer um.
Não uso música para relaxar. É
para curtir mesmo. Hip-Hop
também é bom, e Charme.
Gosto de Pagode Sorriso Maroto,
mas ouço todos os ritmos. Gosto
mais de Pagode porque é romântico
e eu gosto de música romântica
como Roupa Nova e vários outros.
Gosto de todos os ritmos. O que me
atrai mais é o Pagode Romântico e
86
MOÇAMBIQUE
UM MÊS
GANA
TRÊS SEMANAS
MANDAGASCAR
DUAS SEMANAS
SRI LANKA
UMA SEMANA
ARUBA
DUAS SEMANAS
BULGARIA
DOIS MESES
COSTA RICA
TRÊS SEMANAS
o Hip-Hop. As letras da música
passam uma reflexão, fico muito
ligado nas letras. Fico pensando nas
coisas. Coisas boas!
Olha, eu gosto de todo tipo de
música, mas de preferência, um
bom samba. Já fui baiana de escola
de samba, minha vida toda brinquei
muito carnaval. Minha paixão era o
carnaval.
Gosto de ouvir música da Alcione,
e do Zeca Pagodinho, e também
Cristiane Delgado, Manuel de
Costa...
Pagode, gosto de vários grupos, um
pouco de tudo...
Eu sou da antiga, então minha
música é o samba... Zeca
Pagodinho, Dudu Nobre e outra
rapaziada que tem por aí...
Nossa música, gosto de muitas...
mas em especial adoro um
pagodinho...Funk, essas coisas que
rolam na rádio
Musica... Nossa para mim é tudo...
Adoro dançar... Por isso adoro
músicas alegres... Adoro um
pagodinho... Tipo Alcione, Zeca
Pagodinho e esses grupos mais
românticos.
Eu só gosto de Samba, mais esses
Sambas originais.. Não gosto
desses pagodes novos que estão
rolando... Gosto de chorinho
Fonte: Entrevista
Bergold (2005) afirma que, muitas vezes, a enfermeira se defronta com sentimentos
ambivalentes, divididas entre realizar sua atividade profissional dentro das normas
estabelecidas pela instituição hospitalar, e, ao mesmo tempo atender o desejo do cliente que
devido à sua singularidade não se enquadra em um determinado ‘padrão’ pré-estabelecido.
Um ponto instigante é a reflexão feita sobre o fato de que, sendo a enfermaria um
espaço coletivo, o respeito à singularidade de cada cliente torna-se uma questão complexa,
contudo, existem possibilidades para a saída deste impasse, e que foram desveladas na críticareflexiva dos participantes deste estudo (BERGOLD, 2005).
87
O autor (BERGOLD, 2005) afirma que a música, devido à sua influência no
desenvolvimento psicossocial e possibilidade de promover a integração, deve ser valorizada
como recurso expressivo que pode ser utilizado pela enfermagem para humanizar o ambiente
hospitalar.
Nesse sentido, esse relatório teve como princípio uma revisão sistemática sustentada
por um tripé: Enfermagem, Música e Hospitalização. A partir desse tripé foi possível
encontrar um acervo de estudos direcionados a diferentes padrões e olhares para essas três
temáticas. Os estudos encontrados consideram a intervenção de uma forma geral da música
como benefícios tanto fisiológicos quanto psicológicos, para indivíduos em faixa etárias
diversas, trazendo demonstrações de um novo recurso para o cuidado diferenciado na área da
enfermagem.
Os grupos de preferências musicais foram citados no decorrer das entrevistas como
mostramos abaixo divididos em 05 categorias.
Pagode: Ex: Alexandre Pires, Zeca Pagodinho – Referidos por três pacientes, com
idades diferenciadas. O Pagode não é exatamente um gênero musical, na verdade, era o nome
dado às festas que aconteciam nas senzalas e acabou se tornando sinônimo de qualquer festa
regada a alegria, bebida e cantoria, originado no Rio de Janeiro a partir da cena musical do
samba conforme a Enciclopedia Livre/pagode, (2009).
Fonte: images.google.com.br/images
Von Baranow (1999) diz que a música atinge diferenciadamente áreas de nossa psique
que dificilmente são atingidas por outras fontes de estímulos, manifestando sensibilidade,
emoção, timbres diversos, ritmos, melodias e harmonias, numa espécie de linguagem
88
emocional, levando-nos a reagir numa grande e variável escala, em áreas e percepções
somente experienciadas através dela.
Segundo López (1998) o efeito da música sobre o corpo é de sensibilização, pois ele
responde concretamente de uma maneira viva e participante, não se fechando em si mesmo,
mas se comunicando e se entregando.
Von Baranow (1999) comenta que o corpo humano foi o primeiro produtor de sons, a
primeira fonte sonora, o primeiro instrumento musical na expressão de ritmos e sons
variáveis, na percussão corporal ou na execução de diferentes instrumentos, sendo que todo
esse fazer sonoro-corporal gera movimentos que se unem ao tempo e ao espaço, buscando a
livre expressão e a espontaneidade, gerando prazer na comunicação, ajudando o ser humano a
tornar-se mais natural, seguro e flexível.
Quadro 12
Distribuição dos pacientes com preferência pela música Gospel
PARTICIPANTES
TEMPO
(codinomes)
INTERNAÇÃO
IRÃ
UM MÊS
DE PREFERÊNCIAS MUSICAIS
Gosto mais de evangélica e de
outras
músicas
também,
como
músicas Românticas.
JORDÂNIA
DUAS SEMANAS
Ouço louvores. Os louvores a gente
está entoando para Deus, não é?
Um crente entoa louvores para
Deus; eu me sinto bem entoando
louvores.
JAPÃO
UM MÊS
Música Gospel! Cassiane, Elane
Martins,
Cléber
Lucas,
Matos
Nascimento.
PORTUGAL
DUAS SEMANAS
Evangélica, cantora Ludmila
SURINAME
UMA SEMANA
Eu gosto de musica de igreja,
pagode, assim... eu... gosto de
89
qualquer “um” se for de igreja!
ARGELIA
DUAS SEMANAS
Sou evangélica, gosto de musica
que tenha sentidos para mim, só
isso... tem que ter sentido, apenas...
BRUNEI
TRÊS SEMANSA
Gosto de música evangélica, que
me façam ter esperança de que vou
melhorar logo...é muito difícil está
aqui.
Fonte: Entrevista
Gospel/Evangélica: Ex: Cassiane, Elane Martins, Cléber Lucas, Matos, Ludmila,
todos os estilos românticos. Referidos por dois pacientes, com idades diferenciadas. Música
gospel (do inglês, gospel; em português, "evangelho") é uma composição escrita para
expressar a crença individual ou de uma comunidade com respeito à vida cristã, assim como,
de acordo com seus gêneros musicais variados, que também oferece uma alternativa, ao povo
cristão, a música secular convencional. Conforme enciclopedia Livre/gospel, (2009).
Fonte: images.google.com.br/images
Segundo Ferreira (2005, p. 23-24) a música feita para se atingir à fé não era tão
popular como algumas produzidas hoje em dia, com direito até a gravação de DVD, numa
espécie de “show cristão”. A Igreja chegou até mesmo a proibir, algumas vezes, a utilização
90
da polifonia e do canto coral, pois acreditava que isso poderia retirar a atenção da fé, pois
dava mais destaque à voz.
Platão, que também defendia a idéia da música como método de cura para o corpo e
para a mente, chegou a ser radical em determinados aspectos ao recomendar o uso da música
também na educação dos jovens (SEKEFF, 2002, p.94). Para ele, apenas dois tipos de canções
poderiam ser usados no desenvolvimento do caráter de uma pessoa: as tranqüilas ou as vivas.
Quadro 13
Distribuição dos pacientes com preferência pelo Hip Hop
PARTICIPANTES
(codinomes)
BRASIL
TEMPO
DE PREFERÊNCIAS MUSICAIS
INTERNAÇÃO
UMA SEMANA
Só Hip Hop! É um gosto meu! Cris
Brown... Só Hip Hop
ARGENTINA
DUAS SEMANAS
Eclético! Hip Hop, Hard Hot, gosto
de Skank, MPB eu gosto da Marisa
Monte, rock até MPB, Pop nacional
e internacional.
ZAMBIA
DUAS SEMANAS
Gosto de ouvir Hip-hop. Já gostei
muito de Funk, mas quando era
mais novo, mais agora só Hip-hop,
os clipes são bonitos e maneiros.
Fonte: Entrevista
As músicas voluptuosas, lânguidas e todas as outras deveriam, segundo Platão, ser
banidas pelo Estado, pois trariam a corrupção e até a efeminação dos jovens. Portanto, só
deveria permanecer a música que promovesse um ambiente tranqüilo para a fé, meditações e
preces, ou a excitante que suscitasse a guerra, o espírito de justiça, essencial para o
desenvolvimento do gênio e índole dos jovens. Além, é claro, de melhorar sua saúde.
Hip Hop: Cris Brown - Referido por dois pacientes, com idades diferenciadas. O hip
hop é um movimento cultural iniciado no final da década de 1970 nos Estados Unidos como
forma de reação aos conflitos sociais e à violência sofrida pelas classes menos favorecidas da
sociedade urbana. É uma espécie de cultura das ruas, um movimento de reivindicação de
espaço e voz das periferias, traduzido nas letras questionadoras e agressivas, no ritmo forte e
intenso e nas imagens grafitadas pelos muros das cidades Conforme a Enciclopedia Livre/hip
hop (2009).
91
Fonte: images.google.com.br/images
Relatos nos trazem música de diversas maneiras, e alguns autores (BRUSCIA, 2000;
SEKEFF, 2002) tentam explicar esse poder que nos acompanha, sem deixar vestígios de seu
surgimento.
De acordo com Bruscia (2000) a comunicação musical é diferente da comunicação
verbal, tanto em conteúdo quanto em processo, ou seja, não somente no que pode ser
comunicado com segurança, mas também na forma como se comunica. O autor (BRUSCIA,
2000) acrescenta que o que se comunica através da música, nem sempre se está apto a
comunicar com palavras, e vice-versa; e nem sempre se pode utilizar as formas pelas quais se
comunica musicalmente para a comunicação verbal, e vice-versa, sendo assim a comunicação
musical não pode ser substituída por nenhuma outra modalidade de interação e comunicação.
Na realidade, o som eletrônico é capaz de fazer o que nunca qualquer outro
instrumento ou qualquer som tradicional fez ou seria capaz. Pode simular reproduzir, criar
atmosferas, gerar múltiplas subdivisões... é capaz, enfim, de reproduzir todos os sons da
natureza, desde aqueles do universo fetal até o som das esferas (SEKEFF, 2002, p.87).
Quadro 14
Distribuição dos pacientes com preferência pela música Sertaneja
PARTICIPANTES
TEMPO
DE PREFERÊNCIAS MUSICAIS
INTERNAÇÃO
ÁFRICA
DUAS SEMANAS
Daniel, sertanejo.
INGLATERRA
DUAS SEMANAS
Gosto de qualquer gênero, sendo
bem melodiosa,
estilo Roberto
92
Carlos e Sertanejo.
BELIZE (3)
TRÊS SEMANAS
Seresta; música do passado. E
incluindo alguns sambas bons aí do
passado.
BENIM (4)
UM MÊS
Sertanejo, Clássico, um bom Forró,
um bom Samba.
KIRIBATI (5)
UMA SEMANA
Gosto de Sertanejo! Leandro e
Leonardo, essas músicas assim...
ANTARCTIDA (6)
UMA SEMANA
Eu vou dizer o que realmente eu
gosto Ta!Adoro brega...tipo assim
Roberta Miranda, Sertanejo.
Fonte: Entrevista
Sertanejo: Zezé de Camargo, Luciano, Daniel - Referido por dois pacientes, com
idades diferenciadas. No Brasil, denomina-se música sertaneja o estilo musical
autoproclamado herdeiro da "música caipira" e da moda de viola, que se caracteriza pela
melodia simples e melancólica; muitas vezes é chamada de música do interior. Hoje em dia, o
termo música sertaneja vem, aos poucos, sendo substituído pelo termo música country devido
à influência da música country norte-americana que a indústria brasileira está usando como
novo segmento comercial na televisão e na indústria de gravação conforme Enciclopedia
Livre/música sertaneja, (2009).
Fonte: images.google.com.br/images
93
Penso, algumas vezes, que a música, ao suscitar valores individuais, também foi
utilizada diversificadamente com o intuito de atingir um número maior de adeptos, seja na
religião, na política, no trabalho, na guerra, na revolução... No caso dos escravos, por
exemplo, essa foi uma das maneiras encontradas para apaziguar os ânimos, evitando atritos.
Nessas situações, a intenção é convergir sentimentos colocando todo o grupo social em busca
de um mesmo ideal. A música tem mesmo esse poder de mobilização quando vivenciada
coletivamente.
Nesse caso, é comum que ela apresente
(...) uma linha melódica simples, caráter afetivo (possibilitando transformar-se
prontamente em canção de luta); é dinamogênica, dotada de élan e “força”
emocional; frases curtas, no geral estribilho e estrofes; fácil memorização, ritmo
vivo, “contagiante”, refletindo a era das máquinas e induzindo fisiologicamente;
harmonia simples, sem rebuscamentos (SEKEFF, 2002, p. 80).
Quadro 15
Distribuição dos pacientes com preferência pela MPB
PARTICIPANTES
(codinomes)
URUGUAI
TEMPO DE
INTERNAÇÃO
DUAS
SEMANAS
PREFERÊNCIAS
MUSICAIS
MPB
músicas
nacionais,
Fábio Junior, gosto do grupo Roupa
Nova, dentre outros
VENEZUELA
UMA
SEMANA
CHILE
UMA
SEMANA
Música lenta, estilo lenta!
Roberto Carlos, Roupa Nova
Meu
negocio
é
mais
sentimental, mais amorosa. O que é
bom! Ouço dia e noite lá em casa.
A música só me dá prazer, gosto e
música romântica, estilo Roberto
Carlos, tudo que fala de sentimento.
ROMENIA
DUAS
SEMANAS
Gosto de música ambiente,
de preferência MPB. Uma batida
mais suave, Djavan, Cássia Eller,
Legião Urbana, Cazuza....
Não
gosto de Funk. Até ouso Pagode ou
94
Forró, o Funk de antigamente até
dava pra se escutar! Claudinho e
Bochecha...
Eu fico meio injuriado
com esses Funks de hoje em dia,
com os caras que ganham dinheiro
com o Funk. Existem alguns tipos
de música que eu não posso nem
falar. Não rola! Não rola! Eu tenho
vergonha de escutar uma música
dessa na frente de gente decente de
família. Dizem que o Funk é
cultura! Eu não vejo muito por esse
lado.
Sinceramente eu não ouço
música Evangélica. Não que eu não
goste.
Eu
ouviria
a
evangélica, o Funk não!
música
Sem
comentários.
TAILÂNDIA
UMA
SEMANA
Eu se tiver que gostar eu
gosto de qualquer uma. Desde que
seja música que não fere meu
ouvidos então... de certa forma
gosto de Música Popular Brasileira,
João Bosco, Chico Buarque.
SUIÇA
UMA
SEMANA
Música romântica, todas as
músicas
eu
gosto,
minha
preferência é romântica. Eu gosto
de Roberto Carlos e outros aí que
no momento eu não me lembro.
Erasmo Carlos tem umas músicas
muito bonitas. Gosto de Forró,
Pagode, Funk, meu negócio é
95
música.
TANZANIA
DUAS
SEMANAS
Rock,
Soul
e
música
romântica. Forró eu não gosto
muito não. Pagode eu não gosto
muito não. No lado do Rock eu
gosto muito do grupo NX0. Os
caras são legais eu gosto do som
deles.
ZIMBABUE
UM MÊS
Eu
gosto
de
música
romântica, a maioria. Não gosto de
Funk, Forró, Pagode. Sou mais as
músicas do meu tempo, procuro
sempre as emissoras que passam as
músicas antigas. Gosto do Roberto
Carlos e outros cantores que no
momento eu não me lembro, são
tantos né!
MALASIA
UMA
SEMANA
MPB: Axé, Pagode, Forró,
música romântica de tudo um
pouco.
BOTSUANA
TRÊS
SEMANAS
Bem sou de uma cultura
bem eclética, então os ritmos que
me atraem são: Jazz, Bolero,
Tango, Valsa, Forró, Vaneirão,
ritmos mais suaves. Bob e Dance
muito
pouco.
Não
sou
muito
chegado a Funk e Pagode, porque o
Pagode
de
hoje
ele
dá
um
pouquinho assim muito meloso e o
Funk assim sai um pouco da cultura
pra pornografia vandalismo; então
96
hoje em dia já não está assim tão
bom Funk e Pagode como era
antigamente. Música romântica é
boa até certo ponto, mais se for
Pagode eu não sou muito chegado
não. Música internacional também
melhor ainda porque apesar de
agente não entender um pouco
quando a gente não sabe inglês,
espanhol o ritmo é bem dançante e
todos curtem.
BURKINA
TRÊS
SEMANAS
Gosto de MPB, gosto da
“Ana” da Isabela Taviani e outros
cantores da MPB.
LESOTO
UM MÊS
Eu gosto de MPB, a musica
popular brasileira eu gosto muito!
Mas, eu gosto de outros estilos
também...
gosto
do
Djavan,
Roberto Carlos, esses cantores mais
antigos eu gosto de ouvir.
SAARA
DUAS
SEMANAS
Gosto de música MPB!
Gosto de forró! Banda “Calypso”,
Bonde
forró,
Beto
Barbosa,
Calcinha Preta, gosto de sertanejo e
pagode, as vezes escuto Funk
TAIWAN
TRÊS
SEMANAS
TUVALU
Eu gosto de MPB! Chico
Buarque, Roberto Carlos...
DUAS
SEMANAS
Quando ouço música, fico
mais
tranqüila,
principalmente
música romântica como o grupo
Roupa Nova.
97
ANDORRA
UMA
SEMANA
Musica tem muito haver
comigo,
gosto
muito
do
romantismo, Elimar Santos é o meu
preferido
ANGOLA
UMA
SEMANA
Musica, sim gosto bastante
e o meu cantor preferido é Fábio
Junior, adoro as músicas dele.
ARABIA
SAUDITA
DUAS
SEMANAS
Gosto de tantas músicas.
Musicas românticas, que tenham
letras bonitas, estilo Maria Rita e
Tânia Maria, Elis Regina..não sei te
explicar nem dizer porque, mais
adoro
mesmo
musicas
sem
internacionais,
saber
falar
inglês...adoro esse tipo de música
CROÁCIA
UM MÊS
Gosto de MPB...Como Ana
Carolina, Marisa Monte...só isso!
Fonte: Entrevista
Música Popular Nacional/ Ecléticos: Skank, Marisa Monte, Roberto Carlos, Fábio
Junio, Roupa Nova. Referido por três pacientes, com idades diferenciadas. Música popular é
qualquer gênero musical acessível ao público em geral para entretenimento e disseminado
pelos meios de comunicação. Distingue-se da música folclórica por ser escrita e
comercializada como uma comodidade, sendo a evolução natural, na era da globalização, da
música folclórica, que seria a música de um povo transmitida ao longo das gerações.
(Enciclopedia Livre/Música popular).
Fonte: images.google.com.br/images
98
Além de pensar em quem produz a música, que parece ter sempre alguma intenção ou
mensagem, deve-se considerar o receptor.
Mesmo sem ter consciência de como ou porque os componentes básicos da música
podem afetar o organismo humano, é natural que o ouvinte escolha, de forma certeira, o que
ouvir; ele geralmente sabe reconhecer o que determinado som pode lhe proporcionar. Nesse
sentido, podem-se encontrar músicas para relaxar, namorar, estudar, elevar o ânimo
(FERREIRA, 2005, p.25)
Até sons do dia-a-dia também têm sua funcionalidade, e o ouvinte identifica
naturalmente um significado comum pré-estabelecido. Assim, campainhas alertam a chegada
de alguém.
A escolha de um toque no celular, além de identificar a personalidade e o ânimo do
proprietário, dá a ele a possibilidade de associar diferentes sons para cada pessoa que ligue
para seu telefone, revelando muitas vezes suas impressões a respeito das pessoas que o
cercam.
Se passearmos por alguns instantes nas ruas, poderemos observar pessoas conectadas à
música através de aparelho de MP3 ou até mesmo celulares.
Segundo Ferreira (2005, p.26), não há dúvida de que, ao apetite do consumidor,
importa menos o sentimento, em virtude do qual nasce a obra de arte, do que o sentimento que
a obra produz, a ganância em termos do prazer que ele persegue. Este valor prático do motivo
da arte sempre foi solicitado, mesmo na época do iluminismo vulgar. Se todos esses fatores
forem considerados, poder-se-á perceber que essa é a forma pela qual a abstração musical
começa a se concretizar mesmo que em sentimentos, sejam eles pessoais ou coletivos.
Trazer percepções, buscar o lado do mais intimo das sensações dos entrevistados é um
fator possível quando se fala em música, o que pode ser observado pelas respostas obtidas, já
que todas foram positivas. Considerando todos esses fatores, pode-se perceber que essa é a
forma pela qual a abstração musical começa a se concretizar mesmo que em sentimentos.
99
3º FOCO. RELAÇÃO DOS PACIENTES E MÚSICA NOS HOSPITAIS
O quadro abaixo traz a relação do paciente com a música durante a sua internação, os
quadros foram divididos de 10 em 10 pacientes totalizando o número de 50 para melhor
analise da pesquisa.
Quadro 16
Relação dos pacientes e os efeitos da música nos hospitais
CHINA
Deixaria o “cara” mais calmo, mais
tranqüilo, eu acho que sim!
PORTUGAL
A música mexe com o espírito, e
por isso ela traz esperança, traz mansidão,
traz auto-controle, traz o auto-domínio, te
leva para momentos de refrigério, porque a
música é prioridade, mesmo sendo música
secular a prioridade é mexer com o espírito
de todos!
FRANÇA
Iria distrair meu tempo, eu ia ficar
menos tempo sem fazer nada... aí me
ajudaria a tranqüilizar, acalmar...é isso!
JAPÃO
“Ela” seria para mim, aqui na
minha internação... já que estamos no leito
não é? Por eu ser cristão, ela me traz uma
auto-estima para poder colocar minha vida
em dia, já que eu estou encima de um
leito... ela também traz animação para o
meu coração, porque estar em cima de um
leito não é fácil! Então pra nós que somos
cristãos ou aquele que também não o é, é
muito bom a música! Tanto a música
evangélica quanto a música que bate no
coração de cada um!
BRASIL
Seria melhor minha recuperação!
100
Seria bom! Eu ia ficar mais calmo... Eu
iria me distrair...
ARGENTINA
Acho que a música ajuda passar o
tempo,
(...) você se distrai... você pode
ficar escutando aquilo que você gosta...é
mais agradável! Faria bem com certeza
URUGUAI
Com certeza a música nos ajudaria
a melhorar... A música ajuda a pessoa a
relaxar “ estar ouvindo uma musiquinha”
distrai um pouco mais e passa o tempo...
Com certeza a musica é muito importante!
VENEZUELA
Eu acredito que a música... vamos
dizer assim: quando a gente está nervoso
ela relaxa um pouco... eu, principalmente
no caso, se vou fazer uma cirurgia e fico
com aquilo na cabeça e a música ajuda a
relaxar e a gente fica um pouco mais
calmo, vamos dizer assim!
AFRICA
Alegria, descontração para a gente
dentro do hospital, você fica aqui dentro
sozinha muito triste principalmente quando
não tem um acompanhante, então você
tendo aqui... uma pessoa vindo cantar,
descontrai tua cabeça! Não fica tão
“assim” sabe? Entendeu? Por isso que eu
gosto da música!
ÍNDIA
Acho que tira até a dor do paciente
que está aqui, é muita solidão durante a
internação, é muito ruim! a música vai
101
melhorar muito! A música é muito
importante!
Fonte: Entrevista
Após refletir sobre os resultados das entrevistas, pode-se observar que os discursos
acima se referem com freqüência a esperanças, solidão, e trazem a música como algo ao qual
pudessem se agarrar para melhorar o quadro de sentimentos que estão vivendo no momento.
Segundo Bergold (2005, p.23) a possibilidade terapêutica da música já é cogitada
desde o início da organização da enfermagem como profissão, em 1859, quando Nightingale
(1989) se referia aos seus efeitos benéficos. Apesar de não identificar esses efeitos, ela citava
a voz e os instrumentos de sopro e cordas como benéficos pelo seu som contínuo, enquanto o
piano teria o efeito contrário por não ter continuidade sonora. Citava também o órgão como
um instrumento que acalma sensivelmente, independente da associação que se possa fazer
com o sentido da melodia.
O tipo de música produzido por cada civilização costuma refletir e sugerir a realidade
do local. Em sociedades pastoris, por exemplo, a inspiração pode vir da própria “paisagem
sonora”, usando um termo de Schafer (1991, p.73), formada pelos sons dos pássaros ou do
sopro do vento. Através de seus cantos, flautas e assobios, os pastores construíram um som
referencial de campos e pastos.
Os pastores tocavam flauta e cantavam uns para os outros a fim de fazer passar as
horas solitárias, (...) e a música delicada de suas canções constituem talvez os primeiros e
decerto os mais persistentes arquétipos sonoros produzidos pelo homem. Séculos de flauta
produziram um som referencial que ainda sugere claramente a serenidade da paisagem
pastoril (...). O solo de instrumento de madeira sempre retrata a pastoral, e esse arquétipo é tão
sugestivo que mesmo uma orquestra grandiloqüente como Berlioz, reduz a sua orquestra a um
dueto entre o corne inglês e um oboé solista para docemente conduzir ao campo (SCHAFER,
1991, p.73).
O relato do quarto paciente do quadro acima deixa bem clara a questão da baixa autoestima, pela ruptura das coisas que deixou fora do ambiente hospitalar, quando diz:
A música traz para mim uma auto-estima, para poder colocar minha vida em
dia, já que eu estou em cima de um leito... ela também traz animação para o
meu coração porque estar em cima de um leito não é fácil! (Japão)
102
Segundo Bergold (2005), o interesse da enfermagem pela música como um recurso no
cuidado tem aumentado e pode ser constatado nos estudos que apontam suas diversas
contribuições junto ao cliente, como trazer conforto, diminuir a dor, facilitar a comunicação e
a relação cliente-enfermeiro, tornando o cuidado mais humanizado.
A autora acima (BERGOLD, 2005, p.263) afirma que o êxito dessas experiências nos
leva a acreditar na importância de sensibilizar os enfermeiros quanto à possibilidade do uso da
música na sua prática do cuidar, considerando que
A música, assim como o cuidado, não devem ser vistos como prerrogativas de uma
determinada profissão, mas sim de qualquer profissional da saúde que, no
atendimento ao cliente, esteja preocupado em fazê-lo de forma respeitosa, com
conhecimento científico e valorizando a construção de subjetividades inerentes ao
afeto e à criatividade.
Após refletir sobre as entrevistas citadas, observa-se que o grande desconforto
manifestado pelo cliente que se encontra internado é o tempo, o tempo que não passa. Pode-se
constatar tal fato pelo seguinte relato:
Iria distrair meu tempo, eu ia ficar menos tempo sem fazer nada... Dessa
forma me ajudaria a tranqüilizar, acalmar... é isso! (França)
Segundo Lustosa (2007), o adoecer constitui-se em um fenômeno subjetivo, vivido de
maneiras variadas, com significante influência cultural e ambiental, atribuindo formatações
distintas, para cada pessoa. Cada cultura influencia na maneira de perceber, reagir e
comunicar a doença, que se constitui em um fenômeno complexo, multideterminado,
multifatorial e raramente previsto. Além destes importantes aspectos, a doença representa um
ataque à estrutura da personalidade e à estrutura familiar, além de determinar uma crise
acidental na existência do ser humano.
A autora (LUSTOSA, 2007) afirma a doença, além de uma crise, determina à
interrupção do previsto, a desordem do costumeiro, a urgência do enfrentamento do duvidoso,
do temível, do desconhecido. Instala-se, quase sempre, uma crise (Krisis= decisão),
determinando um momento complicado na vida de qualquer um.
Esta crise trazida pelo advento de uma doença sustenta uma ruptura com o estilo de
vida anterior, uma perda do conhecido andamento da vida como ela era, uma situação de
risco, uma mudança não buscada, significando, muitas vezes, uma transição importante e
significativa, até mesmo para a morte, o que, em nossa cultura, assusta sobremaneira. Esta
conclui que:
103
Apesar de o adoecer ser parte integrante da vida do humano, não é sempre que se
inclui na vida de cada ser . A surpresa com o defrontar-se com um parente próximo
com necessidade de atendimento médico, deixa claro esta cisão entre saúde e
doença, binômio inseparável quando se fala de vida. Grande parte da população não
está preparada para o não funcionamento orgânico adequado, e a estrutura
psicológica, em muitos casos, se abala frente a esta experiência existencial: o
adoecer (LUSTOSA, 2007, p.6)
Segundo o site Psicologia (2009), para o paciente, o perceber-se internado, na maioria
das vezes, significa ter piorado, pois alguém determinou sua hospitalização. Na atuação da
Psicologia Hospitalar deve ser compreendido que com essa indicação de internação, muitas
vezes o paciente se vê perdido, não entendendo ao certo o porquê tem que ficar internado,
percebe que sua opinião sobre seu próprio destino está ameaçada, e sente que está perdendo o
controle sobre si e sobre o seu corpo. Para o paciente, a hospitalização ganha novas dimensões
no contexto existencial e pode provocar diversos sentimentos como: frustração, hostilidade,
culpa, negação, impotência, regressão, dependência, ansiedade, desconfiança, fobias,
insegurança, desamparo, depressão.
Apresentamos, neste momento mais um quadro das entrevistas realizadas nos
Hospitais ao paciente hospitalizado e sua referência a música.
Quadro 17
Relação dos Pacientes e a Música nos Hospitais
CAMARÕES
Não acho que poderia me ajudar!
Porque a gente sente tanta dor que não
gostaria de estar ouvindo música. Não me
ajudaria a distrair e nem relaxar. Só uma
televisãozinha mesmo é que seria bom.
CHILE
Ajudaria. Só não estou com meu
toca-fitas aqui para não incomodar o
pessoal da clínica. Então... para não
incomodar não trouxe! Mas, que está
fazendo falta, isso está! Mesmo colocando
baixinho, acho que poderia atrapalhar...
104
Então vamos respeitar o terreno dos
outros! Se é uma fase passageira!
Sugerir um ritmo é difícil, porque
cada cliente tem um gosto. O meu... casa,
por
exemplo...
Roberto
Carlos,
principalmente
com
Elimar
São
Santos.
músicas amorosas. Qualquer ritmo serve
para alegrar! Agora minha preferência é
outra. O que eu gosto mesmo é de Elimar
Santos. Minha filha... nosso jogo é dez a
dez, escancarando de vez. Desejo que você
seja
muito
feliz
na
sua
pesquisa.
Recomendo que ouça música: O pequeno
Burguês de Martinho da Vila, que fala
sobre a faculdade. “Livros tão caros, não
tem dinheiro para pagar!” Me esqueci do
resto. “Mas o diretor careca, aquele velho
muito duro... Me deu canudo. Um canudo
de papel...”
COLOMBIA
No momento ajudar , ajudaria. Mas
para distrair, passar o tempo.
A
assistência aqui é boa, mas tendo uma
musiquinha. Pelo menos me distrairia
mais, e às vezes passa mais o dia. Fico
mais a vontade e o tempo seria mais curto.
IRÃ
Sim,
no
momento
que
estou
internado no Hospital gosto de ouvir
música. A música nos traz uma boa
sensação, nos faz refletir no momento que
estamos internados. Faz-nos sentir bem,
entendeu? A música traz uma sensação boa
105
de estarmos no leito. Faz-nos refletir mais,
faz a gente ficar mais calmo e mais
tranqüilo. Uma boa música para o Hospital
seria a Evangélica e internacional.
INGLATERRA
Tira-nos da solidão no momento que
não tem ninguém ao nosso lado. É..
resumindo, é o que sinto no momento.
IRLANDA
Ajuda porque fico ouvindo rádio
aqui. O tempo passa mais rápido. Porque
não tem nada para fazer aqui.
JORDÂNIA
Olha... depende do tipo de música
não é? Tem música que relaxa, tem música
que irrita. Risos...
Se eu sou
evangélico eu gosto de música evangélica.
Mas a maioria não gosta muito. Agora a
música que eu acho que iria agradar muito
a todos, seria a música clássica, bem
baixinha e suave. É uma coisa que relaxa.
Não sei se ajudaria durante o tratamento.
Mas ajudaria a passar o tempo pelo menos.
É um tédio ficar aqui a doa.
LÍBIA
Acho que sim! Eu ouço música
todos os dias, ela ajuda a passar o tempo e
me distrai, desse modo me ajudaria
enquanto estou internada.
OMÃ
Passa o tempo, e me traz boas
lembranças, isso ajuda!
ROMENIA
A música não me traria benefícios
na minha recuperação, pois estou muito
106
concentrado na cirurgia. A música aqui
está sendo mais um passatempo. Eu quero
mesmo é ser operado para ir embora para
minha casa, me recuperar lá. Quando
estiver
na
minha
casa
vou
assistir
televisão, ler jornal e entrar na internet.
A música ou relaxa ou ajuda a
deixar a gente mais injuriada, isso vai de
cada um
Fonte: Entrevista
Pesquisas na psicologia, assim como na antropologia da música, têm demonstrado que
a música é percebida e respondida de maneira bem individual ou relacionada às normas de
uma determinada cultura. O significado que as pessoas extraem da música, os valores que lhe
atribuem e as ações que se seguem a partir de sua influência não são previsíveis no sentido
etnocêntrico (...). Embora pessoas pertencentes à mesma cultura possam demonstrar reações
semelhantes ou atribuírem o mesmo significado a determinadas peças musicais, há uma
evidência crescente de que a prática da aberrante decodificação de símbolos está se tornando
comum dentro da cultura musical (RUUD, 1990, p.31).
O autor conclui que o resultado disso é a padronização de gostos e idéias. A música,
que antes afetava individualmente, agora tenta convencer coletivamente como produto. Seu
objetivo principal é atingir a massa, manipulando pensamentos e gestos. A música é então
popularizada. Ela começa a perder um pouco o seu sentido e objetivo iniciais. Passa a
obedecer a moldes que determinam como e para quê ela deve ser produzida.
Após a entrevista penso que o gosto musical seja algo de grande relevância, pois os
clientes, em todas as entrevistas, de alguma forma, demonstraram suas preferências musicais,
e alguns deles até afirmaram gostar apenas de um gênero musical.
No decorrer das entrevistas, detectei, com freqüência, certa carência nos clientes, o
que pode ser mostrado pelo seguinte relato em destaque:
Nos tira da solidão no momento que não tem ninguém ao nosso lado
(Inglaterra).
A solidão é uma palavra que, muitas vezes, escutei durante as entrevistas, e como a
definição de solidão se torna complexa, já que a mesma é um sentimento subjetivo, pedi,
107
algumas vezes, para que os clientes me definissem tal sentimento, o que não foi possível, pois
eles só me diziam que era ruim ficar ali, sozinho.
Segundo Valiate (2000) o ambiente hospitalar é conhecido pela sociedade como um lugar
frio, onde as pessoas não desejam permanecer por muito tempo. A estadia em hospitais,
principalmente os que têm uma situação financeira precária, é muito difícil e dolorosa.
Segundo Nightingale (1989), a utilização da música como um recurso para o cuidado
de enfermagem em nosso país tem ocorrido de forma mais estruturada recentemente. No
entanto, como possibilidade terapêutica, a música já é cogitada desde o início da organização
da enfermagem como profissão, quando Nightingale se referiu aos seus benefícios.
Apesar de não explicitar esses efeitos, ela citava a voz, os instrumentos de sopro e de
cordas como benéficos pelo seu som contínuo. Essas afirmações apontaram, à época, para
uma percepção das possibilidades de utilização terapêutica da música no hospital. Contudo,
ela concluiu que o seu uso generalizado estaria fora de questão devido ao alto custo financeiro
que isso acarretaria.
Bergold (2009) explica que atualmente, o desenvolvimento tecnológico facilita o
acesso à música, possibilitando a sua presença no ambiente hospitalar. Entretanto, o que mais
parece contribuir para a sua utilização hoje é a evolução da concepção do cuidar em
enfermagem. Os questionamentos, ora feitos pelos profissionais de enfermagem acerca de sua
práxis prioritariamente sustentada em tecnologias duras e leve-duras, resultaram na ampliação
de suas possibilidades de atuação, aproximando-os mais do cuidado humanizado.
Segundo Chagas (2008) a Enfermagem, ao mudar seus parâmetros acerca do cuidado,
procura atender o homem em sua integralidade, e para isso, busca em outras disciplinas
recursos que possam ampliar sua prática. Uma dessas disciplinas com as quais a Enfermagem
encontra afinidade é a musicoterapia, pois esta também busca uma visão holística do homem
para atendê-lo de forma abrangente. Cabe ressaltar que a própria musicoterapia é híbrida, pois
se baseia tanto na arte, por meio da música, quanto na ciência, com os fundamentos
terapêuticos da utilização desta. Na atualidade, com a mudança da concepção do que é o
cuidado de enfermagem, alguns enfermeiros brasileiros desenvolveram atividades musicais na
prática ou investigaram a utilização da música como um recurso para a assistência dentro de
uma visão holística do ser humano. É o que pode ser percebido na seguinte afirmação:
A música ou relaxa ou ajuda a nos deixar mais injuriados, isso vai de
cada um (Romênia)
108
A mesma disse após o termino da entrevista, que adorava música, mas, a internação
estava deixando-a incapacitada em relação a muitos aspectos, e que a música, não era
necessariamente, uma coisa que lhe fizesse falta naquele momento.
Bergold (2009) relata que a expressão de sentimentos, positivos ou negativos, é
considerada como um fator de cuidado, pois melhora o nível pessoal de percepção além de
facilitar a compreensão do comportamento que é gerado a partir desses sentimentos. A
expressão destes e a consequente compreensão podem facilitar a comunicação e interação
entre o cliente e a enfermagem.
Dando seqüência às entrevistas realizadas ao paciente hospitalizado e sua referência a
música, é mostrado, a seguir, o quadro 18.
Quadro 18
Relação dos Pacientes e a Música durante o período de sua hospitalização
ZAMBIA
Gosto de música! Muita coisa. A
música evita que a gente pense na vida
direto, nas coisas difíceis... Só nas coisas
boas e relaxa muito. Com certeza, a música
me faria muito bem, durante a internação!
Muitas coisas são bem melhores com a
música por que... não sei, a música deixa
você bem, o pensamento fica melhor, fica
mais alegre. A música para o hospital tem
que ser bem suave, e não muito pesada.
TAILÂNDIA
Eu não digo que não gosto, mas
atualmente eu não tenho tempo para
escutar. Sou deficiente visual e atualmente
a gente escuta o repórter. Uma vez ou
outra se escuta umas músicas antigas que
não se lembra muito. Olha... eu sou muito
fechado, não é? Pode até ser que traga
algum benefício, distrai um bocado.
SUIÇA
Adoro música... dá animo para
109
vida. Música desperta para tudo, se você
acorda triste e ouve uma música que você
gosta evidentemente terá mais animo para
o dia, entendeu? Com certeza! Dá ânimo
para você se recuperar, quando uma pessoa
não ouve nada fica triste, de mal com a
vida, já a música anima a vida, anima a
pessoa. Acho que a música romântica
agradaria a todos no Hospital.
MOÇAMBIQUE
Gosto muito!
Porque é uma das
coisas boas de serem ouvidas para
esquecer e passar os momentos do dia-adia e passa mais rápido ouvindo música
né! Vai sim! Porque quando se ouve
música, se desliga dos problemas do dia-adia, ainda mais num lugar como esse, não
é?. Então, às vezes eu prefiro ficar
escutando uma música do que ficar vendo
uma televisão. Na televisão você ainda
acaba pensando, não? E a música envolve
de uma tal maneira que você... você vai
longe, não é?Você esquece a vida. Acho
que uma música clássica seria mais
adequada para um Hospital, e não essas
músicas que os jovens gostam. Eu, quando
quero ouvir minhas músicas tenho que
ficar sozinha em casa.
... As músicas da
minha época são verdadeiras poesias...
você lendo parece que está lendo um
poema. E agora nada rima com nada. Até
para fazer um enredo de escola de samba é
difícil, porque para cantar é difícil a
sintonia da frase.
110
TANZANIA
Amo música! È a minha vida,
minha profissão. E eu gosto muito de
expressar meus sentimentos através da
música. O que eu passo para as pessoas
através do meu contra-baixo. E através
dessas pessoas, elas sentem tocar a música
e entra para igreja. Fará muito bem durante
a minha internação! Por isso eu trago o
meu laptop pra escutar música, eu acho
que é a hora que dá pra distrair. Você sente
mais é isso.
ZIMBABUE
Gosto Muito de música. Música
boa, não é? Desde pequena eu gosto de
música, eu gosto de cantar. Em casa eu
vivo cantando, não consigo ficar com a
boca parada, não! A música transmite um
bem-estar. Faz parte da vida! Não creio
que fará bem não. Até as músicas que eu
ouvi no momento em que estive aqui eu
quero esquecer, por que eram muito
chatas. Se eu trouxesse meu radinho ia ser
diferente. Iria trazer um poço de conforto.
É uma distração. Quanto mais aqui, que a
gente não vê nada...
A música ajuda a trazer um
momentinho de alegria para a gente.
MALASIA
Gosto de música! Descontrai, não
é? E a gente se sente bem escutando... é
uma sensação boa não tem como explicar.
Traz, com certeza, uma melhora
111
durante a internação. Relaxa não é? Dá
uma relaxada e é bom ouvir. Para dormir é
bom, dá um sossego...
BELIZE
A música consegue distrair a gente,
é um consolo e alegria também. Ah pode
fazer bem! Não só para mim que estou nas
vésperas de ir embora, mas para os que
vão vir é bom! Uma musicazinha ambiente
é ideal. Traria alento por que nessa hora
assim, a gente fica... fica meio nervoso,
não é?
BENIM
Gosto de música! Simplesmente
gosto. Música no hospital traria alegria.
Sei lá... alegria, é muito bom música. O
tempo ficaria melhor, passaria mais rápido
BOTSUANA
O ritmo, a dança, a cultura, tudo
que se envolve com o termo musical me
faz gostar de música. Principalmente
música clima, que seja MPB, que traria
mais tranqüilidade ao paciente. Poderia
fazer com que ele medite mais, pense mais
em algumas coisas, traria mais calmaria
para o espaço. E geralmente eles trazem
televisão aí começa um jogo de futebol e
fica neguinho lá: eh! eh! eh! Vai! Não sei o
que. Isso aí não traz nada de tranqüilidade.
Jornal o tempo todo falando de droga,
prostituição, briga, discussão, alagamento.
Só coisas ruins, só notícias ruins que traz o
jornal. Então é uma coisa assim que...
A música eu acho que facilitaria muito
melhor
a
recuperação
do
paciente.
Ajudaria muito mais... coloca uma MPB,
112
um Djavan, uma Marisa Monte, tem que
ser uma coisa mais calma, mais suave.
MPB básico, clima de Supermercado, põe
na JB. Já música clássica é muito forte,
então as pessoas que não entendem de
música ficam assim: o que é que é isso.
Instrumental só se for harmônico, ou seja,
se for maresia de mar. Quer lembre
oceano, que lembre
cachoeira, quer
lembre canto de pássaros. Agora nada de
Orquestra muito forte, porque irá deixar o
paciente agitado e confuso.
Fonte Entrevista
De acordo com Moran (1998) a comunicação envolve trocas de interação que
permitem aos indivíduos se perceberem, se expressarem, relacionarem uns com os outros,
ensinar e aprender. Comunicar, diz o autor, é entrar em sintonia, aproximar, trocar, dialogar,
expressar, influenciar, persuadir, convencer, solidarizar, tornar transparente.
As pessoas se comunicam para se inserirem, serem aceitas e interagirem em vários
espaços significativos e em vários tipos de comunidade, pois a comunicação caminha na
direção da inclusão de pessoas diferentes, na aproximação de mais pessoas, mais grupos, ou
seja, no estabelecimento de vínculos, ela representa para o indivíduo o maior dos desafios,
porque é só na relação com os outros que os problemas não resolvidos na psique individual.
Rector e Trinta (2003) explicam que a comunicação é a própria prática cotidiana das
relações sociais: conservar aparências e guardar distâncias; vestir a roupa da moda; adotar tal
ou qual atitude em relação a esta ou aquela pessoa; falar num certo tom de voz e assim por
diante, sendo muitas e diversificadas as situações de comunicação, portanto, comunicar é
manifestar de uma presença na esfera da vida social.
Chiavenato (1980) se refere à comunicação afirmando ser a mesma um processo de
passar informação e compreensão de uma pessoa para outra. Senso assim, fala o autor, toda
comunicação envolve pelo menos duas pessoas, a que envia e a que recebe, tratando-se de
uma área na qual o indivíduo pode fazer grandes progressos na melhoria de sua própria
eficácia, existindo uma profunda relação entre motivação, percepção e comunicação.
113
Nesse contexto da comunicação pode-se refletir sobre os momentos da internação,
solidão em que a pessoa fica num espaço que não é o seu e dependente de pessoas que até o
momento não faziam parte da sua vida. Trago destaque para a fala de Moçambique quando
afirma:
Gosto muito! Porque é uma das coisas boas de ouvir para esquecer e passar
os momentos do dia-a-dia que passa mais rápido ouvindo música não é! Vai
sim! Porque ouvindo música, nos desligamos dos problemas do dia-a-dia
ainda mais num lugar como esse não é? Então às vezes eu prefiro ficar
escutando uma música do que ficar vendo uma televisão. Na televisão você
ainda acaba pensando não é?. E a música te envolve de tal maneira que você,
você vai longe não é? Você se esquece da vida. Acho que uma música
clássica seria mais adequada para um hospital, e não essas músicas que os
jovens gostam. Eu quando quero ouvir minhas músicas tenho que ficar
sozinha em casa.
... As músicas da minha época são verdadeiras poesias
você lendo parece que está lendo um poema. E agora nada rima com nada.
Até para fazer um enredo de escola de samba é difícil, porque pra cantar é
difícil, a sintonia da frase (MOÇAMBIQUE)
Bergold (2009) destaca que a enfermagem não faz apenas parte do ambiente
hospitalar. Ela pode ser considerada o próprio ambiente, já que é responsável por grande parte
de sua organização. Assim, se a enfermagem é parte do ambiente, é necessário que se focalize
nele, assumindo que sua atitude pode fazer diferença e buscando alternativas para construir
um ambiente mais saudável, promovendo dessa forma a recuperação do paciente
Lucena e Goes (1999) complementam tais considerações ao lembrarem que a
comunicação na área da saúde é uma estratégia de uso constante no cotidiano do enfermeiro.
Quando a comunicação faz parte do dia-a-dia do trabalho do enfermeiro, o paciente passa a
vê-lo como uma pessoa capaz de ajudá-lo em todos os momentos, além do que, isto irá
possibilitar uma recuperação mais rápida para o paciente.
Espera-se que toda atuação da enfermagem deva ocorrer de maneira compreensiva,
privilegiando o paciente como centro da assistência já que este profissional surgiu da
necessidade de se ter pessoas cuidadoras dos doentes. Neste modelo, o terapeuta desenvolve
um relacionamento estreito com o paciente; utiliza a empatia para perceber os sentimentos do
paciente e utiliza o relacionamento como uma experiência interpessoal corretiva (RIBEIRO,
2005, p.36).
Segundo Furegato (1999), todo o contato que a enfermagem tem com o paciente
deveria ser terapêutico, o que implica ajudar o paciente no momento em que ele necessita de
cuidados profissionais do enfermeiro e sua equipe.
114
A enfermeira deve ter consciência de tudo o que está acontecendo, para que o paciente
a veja como uma pessoa na qual ele pode confiar, pode se abrir e contar tudo o que está
acontecendo consigo naquelas circunstâncias, já que ela é uma pessoa como ele
(STEFANELLI, 1993).
Retornando para as entrevista nos hospitais, foi possível observar que as afirmativas se
repetiam quando a questão tratada era a música no ambiente hospitalar, como demonstra o
quadro abaixo.
Quadro 19
Relação dos Pacientes e a Música como Companhia
BURKINA
Gosto de música! É bom para mim,
eu me sinto bem, é por isso! Adoraria com
certeza!
Trazer coisas boas pra mim!
Porque eu ia ficar me lembrando das coisas
passadas, e isso ia me fazer vencer e sair
daqui entendeu? Ia melhorar, é isso que
pode acontecer!
GANA
Música me ajuda! A música me
ajuda muito porque me faz esquecer
algumas coisas, ajuda bastante! Esquecer
os problemas! Porque eu estou internado
aqui! Porque eu me sinto muito sozinho
aqui! Ficar aqui sozinho sem ter ninguém é
muito difícil! E a música ajudaria.
KIRIBATI
Gosto de música! Porque faz bem
para o espírito...
Seria bom sim! Seria
legal ter músicas no hospital! Acho que o
ambiente seria melhor! Com certeza, ia
melhorar ia lembrar de coisas boas da
minha vida...
115
LESOTO
Quando estou escutando musica,
ela faz bem para o meu ser, minha alma,
ela me dá paz interior... Sinceramente a
música acalma, e você sabe que esse
ambiente aqui é um tanto pesado, mas eu
sei que preciso ficar aqui pra melhorar, é
um ambiente de médico, enfermeiro
cuidando da gente para nossa melhora, mas
o ambiente em si fica muito monótono e a
música faz lembrar minha residência
minha casa, o ambiente ficaria mais
agradável, por isso que eu acho importante,
se eu estive escutando uma musica seria
bom nesse ambiente triste.
MADAGASCAR
Com certeza a música é uma ótima
aliada! Porque anima a pessoa não é?
Ajuda a pessoa quando ela está estressada,
mal-humorada, ela fica mais distraída... Eu
acho que a música iria ajudar os pacientes
a melhorar porque no hospital a gente fica
meio jogada num canto, aí ao escutar uma
música já vai se animar, vai conversar com
o colega do lado, acho que vai ficar
animado e vai ser melhor para o paciente...
SAARA
Acho que com a música seria bom
não é? A pessoa ia ficar mais alegre, eu
ficaria mas alegre e só isso.
SRI LANKA
A música em um hospital vai dar
uma força! A pessoa, só de ouvir as
116
melodias já se distrai mais, esquece um
pouquinho da dor, eu acho muito bacana!
SURINAME
Com a música eu melhoraria, e
minha recuperação seria mais rápida!
Acredito nisso.
TAIWAN
Iria trazer mais “Entretenimento”,
divertimento, ficaríamos mais à vontade,
nos divertiríamos melhor, por exemplo,
pelo menos isso, não é? Para todos os
pacientes seria ótimo! Será bom, sim pra
minha recuperação.
TUVALU
Música, ela tranqüiliza... Eu gosto
bastante... mas...não seria no ambiente
hospitalar...pois eu gosto de um tipo e
outra pessoa pode gostar de outro...bom de
repente radinhos...seria bom
Fonte Entrevista
Tais relatos mostram claramente a questão do ambiente hospitalar e o tempo que esse
cliente fica afastado desse pulsar de vida lá fora durante a internação, após a ocorrência
inesperada de uma doença, interrompendo-lhe o curso de algo que estava sendo feito. As
palavras de Taiwan afirmam: “Iria trazer mais “Entretenimento”, divertimento, a gente iria se
sentir mais a vontade, se divertir melhor, por exemplo, pelo menos isso não é? Para todos os
pacientes seria ótimo! Será bom para minha recuperação”.
A ruptura entre o espaço e o tempo na produção e consumo da música é um marco do
século XX, ocasionada pela gravação sonora. Suas conseqüências podem ser sentidas nos
planos artístico, cultural, social e econômico. Torna-se importante então recapitular a
evolução do sistema de gravação e reprodução da música, considerando três etapas principais:
a mecânica, com o fonógrafo, a magnética, com a fita cassete, e a digital, com os CD’s.
(FERREIRA, 2005, p.51).
O surgimento dos veículos de comunicação de massa é de extrema importância para a
utilização da música como instrumento de persuasão. Primeiramente com o rádio, a música
passa a ser reconhecida como um produto de consumo. E, como tal, ela começa a ser
117
produzida e veiculada para ser vendida, consumida por um público cada vez mais
influenciado pela mídia (ALMEIDA, 2002, p.23).
O enfermeiro deve tratar o paciente, colocando-se no lugar deste, tentando entendê-lo
e ajudá-lo a controlar seu medo advindo da dor causada pela doença. Stefanelli (1993) relata
que, se o enfermeiro se empenhar a cada dia no que faz, logo estará compreendendo melhor o
paciente, ajudando-o a se aceitar na sua enfermidade, buscando ficar bem consigo mesmo
para obter uma recuperação mais eficaz.
Furegato (1999) observou que dependendo do tipo do relacionamento enfermeiropaciente estabelecido, poderá ocorrer atos de iatrogenia, isto é, quando o profissional mantém
um relacionamento inadequado, podendo até aumentar o estresse da condição já vivida da
doença pelo paciente. A rotina mecanizada, a falta de planejamento das atividades que
redunda na escassez de tempo e a falta de reflexão acerca de sua prática desencadeiam essa
dificuldade (ZINN; SILVA; TALLES; 2003).
O ser enfermeiro requer muita atenção, habilidade e cuidado “a enfermagem precisa
assistir os pacientes com ética e dignidade, utilizando conhecimentos científicos e éticos
sendo criativa, procurando utilizar este atendimento, com menores riscos” (RIBEIRO, 2005,
p.38).
Buscou-se documentar mais registros de pacientes que confirmaram a teoria do bemestar trazido pela música no ambiente hospitalar, observando sempre a questão da preferência
de cada um como se segue no quadro abaixo.
Quadro 20
Relação dos Pacientes e a Música como Recurso para Alegrar
BURKINA
Música...
Eu
gosto,
derrepente
como ficamos muito sozinhos e só algumas
vezes
alguém
fala
comigo,
uma
musiquinha me faria bem... Eu gostaria de
ouvir música no hospital sim!
GANA
Nosso seria ótimo! Mais depende
da música eu só gosto de pagode e
sambinha, se fosse outro tipo....seria chato.
KIRIBATI
Sempre trago meu Mp3, já estive
interada outras vezes e vou te falar isso que
118
me salvou da solidão...aqui é um ambiente
muito
triste...sei
lá
....derrepente
se
tivéssemos música ou televisão seria muito
bom
LESOTO
Eu gosto muito de música
em
todos os mementos, seria bom sim ter
música aqui e me faria bem...não sei para
os outros mais para mim seria bom! É isso!
MANDAGASCAR
Adoro música, na realidade, adoro
dançar..musica
alegra...contagia
a
gente...eu acredito que faria muito bem.
SAARA
Musica aqui no hospital...acho que
ia depender da música....se eu pudesse
escolher seria bom...pois gosto de alguns
tipos e outros não...derrepente faria bem
sim.
SRI LANKA
Para mim música no hospital seria
ótimo,
ajudaria
e
muito
na
minha
recuperação, pois me deixaria distraída e o
tempo passaria mais rápido
SURINAME
Música
para
mim
é
tudo....derrepente o que ta faltando no
hospital
é musica....muito,bom...musica
boa ,romântica ou lentinha, para não
atrapalhar quem ta dormindo. Me faria
muito bem...faria eu relaxar.
TAIWAN
Trazer música para o hospital
deixaria a gente mais alegre...eu adoro
música, me faria distrair, por que a gente
fica muito tempo à toa, seria muito bom.
TUVALU (10)
Musica,
nossa
seria
ótimo...eu
adoro dançar, apesar de não poder...só em
pensar que vou logo ficar boa....musica me
119
ajudaria a passar o tempo e pensar em
coisas alegres...me faria muito bem....seria
ótimo.
Fonte entrevista
Ao observar a respostas dos entrevistados podemos notar a grande aceitação por um
ambiente mais saudável e próximo do cotidiano retirado de suas vidas pela hospitalização.
Sekeff (2002, p.77) se refere à emergência de material inconsciente, a partir de um estímulo
musical, como uma saída emocional mediante à “experiência estética, musical, experiência
que integra a totalidade do sujeito, envolvendo seu corpo, mente e emoções”.
Bergold (2005) afirma que a audição musical produz relaxamento físico e mental, pois
reduz o estresse, a tensão e a ansiedade. Produz, também, efeito estimulante: desperta a
atenção, promove contato com a realidade ou com o ambiente, aumenta o nível de energia,
estimula atividade motora, aumenta as percepções sensoriais e eleva o humor.
Bruscia (2000) afirma que tanto o relaxamento como a estimulação pode melhorar o
estado de saúde de duas formas: preventiva (ao reduzir riscos ou aumentar a resistência contra
problemas de saúde) e paliativa (ao melhorar a qualidade de vida de quem enfrenta uma
condição de doença). Assim, a música é um recurso terapêutico através do qual se pode
promover a melhora na condição de saúde do cliente tendo em vista sua natureza holística.
No contexto das considerações dessa música tão inerente ao ser humano em seu mais
intimo, Jourdain (1998, p.410), quando se refere à esta, não o faz só como uma ‘linguagem’
das emoções, mas também como uma ‘linguagem’ do movimento físico. Ele afirma que
nossas musculaturas são usadas para representar a música, modelando as características mais
importantes dos padrões musicais através de movimentos físicos.
Contemplando a afirmação acima, Arruda e Nunes (1998) complementam: 1)
‘liberdade’ para fazer coisas que deseja; 2) ‘integração’ como estado de harmonia entre corpo,
mente e espírito; 3) ‘melhora’ percebida como a sensação de sentirse bem; 4)
‘segurança/proteção’ que envolve sentir-se protegido com as pessoas ao seu redor, sentir que
tem condições de sobreviver; 5) ‘cuidado’ inclui poder contar com alguém, gostar dos
profissionais de saúde, ser bem tratado; 6) ‘comodidade’ relaciona-se com obtenção de
condições ambientais favoráveis.
Para Watson (1996), a enfermeira deve se esforçar para estar dentro da estrutura de
referência do outro, numa busca mútua pelo sentido e totalidade do ser. Para a autora, essa
busca inclui medidas de conforto, controle da dor, um senso de bem-estar e/ou transcendência
120
espiritual do sofrimento. A autora postula a importância de visões ampliadas da pessoa, o que
implica nas unidades mente corpo e espírito. O cuidado promovido através do encontro
cliente-enfermeira ocorrido em sintonia pode expandir a consciência e potencializar a cura
através de um sentimento de bem-estar, de reintegração.
Não há como não notar a importância e a influência que o ambiente traz para o
paciente internado, que, muitas vezes, cita em seus relatos através da entrevista o quanto se
sente sozinho, nesse contexto, a música lhe traria um ambiente mais agradável e com menos
estresse, conduzindo-o assim a um mundo do qual está afastado, por sua hospitalização.
Chaves e Ide (1995, p.173) também se referem à vivência da hospitalização,
mostrando que além do aspecto do sofrimento do doente decorrente da crise orgânica, dos
medos e da sensação de vulnerabilidade perante a impossibilidade de controle sobre o seu
corpo, sua vontade e seu destino, há conseqüências da hospitalização sobre o psiquismo do
doente “intensificando o sofrimento inerente ao desequilíbrio orgânico inicial”.
Como diz Beuter (2004, p.153), o lúdico “rompe com a ordem instituída no hospital
que valoriza a rigidez e a seriedade como elementos indispensáveis à conduta profissional”.
Essa transgressão à ordem instituída, se, por um lado, pode mostrar-se útil para os clientes
internados, no sentido de humanizar o ambiente, tornando-o mais agradável e facilitando a
integração, por outro pode incomodar alguns profissionais acostumados a essa ordem.
121
CAPÍTULO VI - COSIDERAÇOES FINAIS
www.google.com.br
Como forma de cuidado a música é útil, eficaz e agradável, pois traz prazer tanto para
quem a toca ou canta, como para quem a escuta. A música estimula empatia, promovendo
sintonia entre os participantes no momento de sua execução, tornando permeável o
compartilhamento de emoções, pensamentos e lembranças, devolvendo e facilitando o
relacionamento entre os autores envolvidos no processo, nesse estudo paciente/enfermeiro,
desse modo entende-se que a influência da música é positiva no ambiente hospitalar,
contribuindo de forma positiva para as relações interpessoais estabelecidas entre profissionais
e pacientes, desenvolvendo um relacionamento saudável entre ambas as partes.
Por ser uma onda sonora, a música tem grande penetração, não podendo ser ignorada
tão facilmente como outros estímulos, e assim facilitando a auto-expressão pelo ato de cantar,
batucar ou se movimentar através de um ritmo, facilitando também a percepção e a validação
de sentimentos ao se criar identificação com o que se houve, sendo através da letra ou
melodia.
Os sujeitos das pesquisas descrevem que ao escutarem música o corpo vibra, as
emoções surgem e os pensamentos trazem o passado para o presente numa conexão extra
muro hospitalar, trazendo uma experiências de prazer, saúde, vida, e experimentação de
sensação de tranqüilidade e segurança.
Nesse contexto, entendemos que a música e o seu uso como estratégia junto ao
cuidado de Enfermagem, são importantes na humanização durante a internação hospitalar.
122
Nesta situação, o paciente sente-se isolado e inseguro por estar em um ambiente estranho,
causador de ruptura na sua rotina diária que ameaça os seus sentidos de forma plural, como
pessoas e espaços desconhecidos, ruídos desagradáveis, cheiros estranhos, iluminação por
muitas vezes constantes, conversas incompreensíveis, entre outros. Nesse contexto a se
colocar em prática música respeitando a individualidade de cada paciente, diminui-se os focos
de ruídos e ainda proporcionamos uma sensação de familiaridade.
Os relatos expressam claramente que o uso de uma atividade musical no período da
internação leva ao relaxamento físico e mental por reduzir o stress, a tensão e a ansiedade em
que o paciente se encontra. Estimula também a despertar a atenção, a estabelecer um contato
com a realidade ou com o ambiente ao qual estava habituado. Devido a isso, a vibração e som
da música acabam por preencher o silêncio afastando de alguma forma a sensação de medo
daquele ambiente.
Não se pode esquecer que todas as características da música que aumentam o conforto
do paciente, também podem produzir efeitos benéficos na equipe de saúde composta por
Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Médicos, Administrativos entre tantos
outros presentes no momento da execução musical, seja tocando ou ouvindo. Nesse sentido, a
música funciona como uma forma de autocuidado que pode auxiliar na prevenção do stress do
profissional.
Esse estudo apresentou uma modalidade terapêutica não convencional que podemos
utilizar no cuidado de enfermagem ao paciente hospitalizado, pois como mostra o resultado
dessa pesquisa, através da música somos capazes de abrir novas dimensões em nós mesmos
que podem até passar despercebidas em nosso cotidiano.
Nos resultados emergiram da pesquisa três categorias dadas com principais: a primeira
foi o Perfil da clientela, a segunda categoria tratou o Gosto musical do Paciente e a terceira
categoria e última tratou da Relação do paciente internado e sua relação com a música dentro
do ambiente hospitalar.
Como pontos de partida foi feito um levantamento do perfil da clientela para
conhecimento da população participante da pesquisa, na qual se chegou à verificação da
diversidade cultural existente nos hospitais.
Quanto ao gênero musical houve predominância nos ritmos seguintes: Músicas
Nacionais Românticas totalizaram 38% das preferências dos pacientes, pagode/samba foi a
segunda preferência musical citada com 30%, tivemos a música evangélica totalizando 14%, a
música sertaneja totalizando 12% das preferências musicais e, finalizando essas preferências,
o hip-hop com 6%.
123
A terceira categoria trouxe a aceitação de a música no ambiente hospitalar, na qual se
obteve 96% das respostas positivas do número de entrevistados, ficando 4% com aceitação
duvidosa, trazendo a música como algo não tão importante naquele momento, onde foi
possível observar que 96% dos pacientes acreditam em benefícios ligados a música no
ambiente hospitalar durante a internação, sendo apenas 4% contra essa prática no ambiente
hospitalar.
Através dos 50 pacientes entrevistados, dois nos disseram que a música não estaria
causando qualquer ajuda naquele momento, totalizando 4% do número da pesquisa em
contraponto com 48 que positivaram esse estudo, totalizando 96%.
Observou-se, de acordo com os resultados apresentados, ser de suma importância a
questão de ser levado em conta a preferência musical de cada paciente internado, sendo
essencial para todos os momentos da nossa existência e especialmente para o estabelecimento
de um relacionamento interpessoal enfermeiro/paciente adequado. Portanto, deve-se inserir na
avaliação/admissão do ciente, elementos sobre preferências musicais e o recurso da música
para alívio dos processos “negativos” da hospitalização, ou seja, como recurso de bem-estar.
Tal proposta de inserir música nos hospitais pode ser algo interessante, extremamente
relevante e de baixo custo. Quanto â Enfermagem e o desenvolvimento dos seus cuidados
junto ao paciente hospitalizados o repertório pode ser utilizado durante os cuidados de
Contingencial (Situações súbitas ou episódicas), Continuo (Prevenção, Manutenção da vida e
impedimento de seqüelas que possam agravar o quadro clinico dinâmico), Dinâmico (Cuidado
Curto e Rápido), Expressivo (Sentidos, Corpo Sensitivo, através de uma relação interpessoal e
contém a linguagem verbal e não verbal), Multiface (Escutar o Outro, ter interesse em
conhecer a historia de cada paciente) e Mural (Exposição do repertório em local visível para
pacientes e profissionais de Saúde).
6.1 Limitação do Estudo e Recomendações
A limitação do estudo se deu pelo prazo em que o mesmo teve que atender aos
critérios para defesa da pesquisa, e a quantidade de entrevistados que totalizou um número de
50 pessoas. Recomenda-se a continuação da pesquisa, devido à mesma ter sido realizada em
apenas dois hospitais e somente no Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, torna-se
necessário conhecer e considerar preferências e diferentes interpretações da música no
ambiente hospitalar dos outros Estados para que se possa compreender e respeitar os 4% dos
pacientes que não acreditam que a música poderá ajudá-lo no momento da internação.
124
Como uma onda, o uso da música vai contagiando até onde o seu som alcança,
humanizando e democratizando os espaços do hospital. Ao ouvi-la, os sujeitos ficam
envolvidos pela emoção, rompendo assim com as hierarquias sociais e profissionais,
quebrando resistências e sentimentos do presente e do passado, pois a música mexe com
nosso corpo, nossa cabeça, de forma intensa a nos proporcionar conforto e sensação de bem estar.
6.2 O processo de Materialização da Idéia da Dissertação de Mestrado
A partir do estudo sobre o Paciente Hospitalizado e sua Interação com a Música, foi
possível observar a necessidade da música no cotidiano do ambiente hospitalar, para trazer
conforto, motivação, bem estar.
Diante destas observações a idéia da Dissertação se Materializou na forma de uma
proposta de CD com repertório em anexo de acordo com o gosto musical de cada paciente,
respeitando seus espaços e momentos.
O CD é composto de 25 músicas divididos em 05 estilos musicais de acordo com
gosto musical de cada paciente, sendo o mesmo dividido em: Samba/Pagode,
Gospel/Evangélico, Hip-Hop, Sertanejo, MPB.
125
REFERÊNCIAS
ADORNO, T.Refléxions en vue d´une sociologie de la musique. Musique en Jeu, v. 1, p. 516, 1972.
ALENCAR,S.C.S. , LACERDA, M.R., CENTA,M. L. Finitude Humana e Enfermagem:
Reflexões sobre o (Des) Cuidado Integral e Humanizado ao Paciente e seus Familiares
durante o Processo de Morrer.Fam.Saúde Desenv., Curitiba, v.7, n.2, p.171-180,
maio/ago.2005
ALMEIDA, M.R. Quando a música fala: a produção de sentido em
Fantasia. Juiz de Fora, Faculdade de comunicação, 1.sem. 2002.
ALLEKIAN, C.I. Anxiety due to territory and space intrusion questionaire. In: Instruments
for measuring nursing practice and other health care variables. USA: Department of
Health, Education, and Welfare, 1979. v.1, p.100-105.
ARRUDA, E.N.; NUNES, A.M. Conforto em enfermagem: uma análise teórico-conceitual.
Texto Contexto Enfermagem. v.7, n.2, p.93-110, mai/ago. 1998.
BACKES, D.S. et al. Música: terapia complementar no processo de humanização de uma CTI.
Revista Nursing, São Paulo, v.66, n.6, p.35-42, 2003.
BÁRBARA, B.B. O sonoro e o subjetivo: um estudo sobre o som desde seus vestígios iniciais
até suas traduções clínicas.2005- Dissertação (Mestrado em Medicina Social), Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.
BARCELLOS, L. R. M. Música e Terapia. Cadernos de Musicoterapia I. Rio de Janeiro:
Enelivros, 1992.
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1979. 105p.
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Trad. Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro.Lisboa:
Edições 70, 2002.
BELAND, I.; PASSOS, J. Enfermagem clínica. São Paulo, EPU/EDUSP, 1995. p.380-419:
BERGOLD,L.B. A visita musical como estratégia terapêutica no contexto hospitalar e seus
nexos com a enfermagem fundamental. 2005 – Dissertação (Mestrado em Enfermagem),
Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
2005.
BERGOLD, L.B.; ALVIM, N.A.T.; CABRAL,I.E. O lugar da música no espaço do cuidado
terapêutico: sensibilizando enfermeiros com a dinâmica musical. Texto Contexto Enferm.,
Florianópolis, v.15, n.2, p.262-9, 2006.
BERGOLD, L.B.; ALVIM, N.A.T. Visita musical como uma tecnologia leve de cuidado Texto
contexto - enferm.,Florianópolis,v .18, n.3 Florianópolis, jul/set. 2009.
126
BLONDIS, N.M.; JACKSON, B.E. Non verbal communication with patients: back to the
human touch. New York: John Wiley, 1982.
BODGAN, R. ; BIKLEN, S. Qualitative research for education: An introduction to theory
and methods. Boston: Allyn and Bacon, Inc. 1982.
BONTEMPO M. Medicina natural. São Paulo: Nova Cultura; 1994.
BEUTER, M. Expressões lúdicas no cuidado: elementos para pensar/fazer a arte da
Enfermagem – Tese (Doutorado em Enfermagem), Escola de Enfermagem Anna Nery, Rio de
Janeiro, 2004. 177p.
BILGRIEN, MV. Solidarity. A principle, an attitude, a duty? New York: Peter Lang; 1999.
BRASIL.Ministério da Saúde.Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Saúde/NOBSUS96, Brasília: Ministério da Saúde, 1997.
BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas
envolvendo seres humanos: RESOLUÇÃO Nº- 196, DE 10 DE OUTUBRO DE 1996 DO
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1998.
BRITO,D.S.; FARIAS, F.A.C. Os efeitos da música no escolar cardiopata durante a
punção venosa: estudo preliminar. 2005 .
BRUSCIA, K. Definindo Musicoterapia. 2 ed. Rio de Janeiro: Enelivros, 2000.
CANDÉ, R. Historia universal de la musica. Madri: Aguillar, 1981.
CAPRA, F. Sabedoria incomum. São Paulo : Cultrix, 1988
CESARINO CB; Casagrande LDR. Paciente com insuficiência renal crônica em tratamento
hemodialítico:atividade educativa do enfermeiro. Rev Latino-Am Enfermagem, Ribeirão
Preto, v.6, n.4, p.31-40, 1998.
CHAGAS, M, PEDRO R. Musicoterapia: desafios entre a modernidade e a
contemporaneidade. Rio de Janeiro: Bapera; 2008.
CHAVES, E.C.; IDE, C.A. Singularidade dos sujeitos na vivência dos papéis sociais
envolvidos na hospitalização. Rev. Esc. Enf. USP. v. 20, n. 2, p. 173-179, ago 1995.
CHIAVENATO, I. Administração de Recursos Humanos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1980.
COELHO, M. J. Cuidar/Cuidado em enfermagem de emergência: especificidade e
aspectos distintivos no cotidiano assistencial. 1997. Tese (Doutorado em Enfermagem) –
Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil,
1997. 10-49p.
COSTENARO, R. G. S.; LACERDA, M. R. Quem cuida de quem cuida? Quem cuida do
cuidador? Santa Maria: Unifra, 2001.
127
DOBRO, E. R.L. A música como terapia complementar. 1998. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem) – Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, Universidade de São
Paulo, 1998.
DOBBRO E.l; LOPES, M; FERREIRA, I. O som e a cura. Rev. Medicis, n.3, p. 8-11, 2000.
DUGAS, B.W. Enfermagem prática. Rio de Janeiro: Interamericana, 1984.
DYNIEWICZ, A. M. Reflexões sobre enfermagem por aproximações com composições de
Vivaldi. Acta paul.enferm.,São Paulo, v.17, n.1, p.95-101, jan/mar.2004.
FACOM, Mimeo. Projeto Experimental do Curso de Comunicação Social. 2005, 105 fl.
p,14-80.
FERREIRA, C.C.M.; REMEDI, P.P.; LIMA, R.A.G. A música como recurso no cuidado à
criança hospitalizada: uma intervenção possível? Rev. Bras. Enferm., Brasília, v.59, n.5,
,p.689-93, 2008.
FERREIRA, T. T. Música para se ver. Juiz de Fora: UFJF, FACOM, 1.sem.2005, 105 fl.
Mimeo. Projeto Experimental do Curso de Comunicação Social.
FERREIRA N.M.L.A. Assistência emocional - dificuldades do enfermeiro . Rev. Baiana
Enf., Salvador, v.5, n.1, p.30-41, 1992.
FERREIRA, M.A. et al. Cuidados fundamentais de enfermagem na ótica do cliente: uma
contribuição para a Enfermagem Fundamental. Esc. Anna Nery R. Enfermagem, v. 6, n.3,
p.387-396, dez.2002.
FIGUEIREDO, N. et al. A dama de branco transcendendo para a vida/morte através do toque.
In: MEYER, D., WALDOW, V.; LOPES, M. (orgs.). Marcas da diversidade: saberes e
fazeres da enfermagem contemporânea. Porto Alegre: Artmed, p. 137-169,1998.
FIGUEIREDO, N.M.A.; MACHADO, W.C.A.; PORTO, I.S. Dama de Negro X Dama de
Branco: o cuidado na fronteira vida / morte. Rev Enferm UERJ, Rio de Janeiro, v.3,n.2,p.13949, out.1995.
FONSECA, K.C. et al. Credibilidade e efeitos da música como modalidade terapêutica em
saúde. Revista Eletrônica de Enfermagem, Goiânia, v.8, n.3, p.398-403, 2006.
FUREGATO, A. R. F. Relações interpessoais terapêuticas na enfermagem. Ribeirão Preto:
Scala, 1999.
FREIRE, V.L.B. Música e Sociedade. Séries Teses 1, Rio de Janeiro: ABEM,1992.
GRACIANO R. A música na prática terapêutica. Rev Curso Prat Canto, n.2, p.44-5, 2003.
GIRARDI, G. Para que serve a música? Superinteressante, São Paulo, ed.203, p.74-79., ago.
2004.
HORTA, V. A. Processo de enfermagem. São Paulo: EPU, 1979.
128
HAGUETTE, M. T. F. Metodologias qualitativas na sociologia. Rio de Janeiro: Vozes;1995.
HATEM, T. P; LIRA, P. I. C; MATTOS, S. S. Efeito terapêutico da música em crianças em
pós-operatório de cirurgia cardíaca. Jornal de Pediatria, RJ, v.82, n.3, p.186-92, 2006
HENSON RH. Analysis of the concept of mutuality. Image: Nurs Scolarship, v.29, n.1, p.7781, 1997.
JOURDAIN, R. Música, Cérebro e Êxtase – Como a música captura nossa imaginação. Rio
de Janeiro: Objetiva, 1997. 441 p.
KAELLY, V.0.S; COSTA,L.; XIMENES,L.B. Prática de enfermagem com terapias
alternativas em adolescentes grávidas. Nome da revista, cidade, v., n., p. , 2003
KAMIYAMA, Y. Assistência centrada na identidade social - aspectos psico-sociais do
cuidado de enfermagem ao paciente com hepatite infecciosa. 1979 – Tese (Livre Docência)
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1979, 191p.
LARSON, B. The Day Music Died. Bob LarsonMinistries, 1973. In: TAME, D. The Secret
Power of Music, Destiny Books, 1984, p.34.
LEÃO, E.R.; FLUSSER, V.Música para idosos institucionalizados: percepção dos músicos
atuantes. 2008 (Completar dados)
LEÂO ER, et al. Uma canção no cuidar: a experiência de intervir com música no hospital.
Revista Nursing, São Paulo, v.82, n.8, p.129-34, 2005.
LEÃO, E.R.; SILVA, M.J.P, The relationship between music and muscoloskeletal chronic
pain. Online Brazilian Journal of Nursing [online] 2005 April, v.4, n.1, Available in:
www.uff.br/nepae/objn401leaoetal.htm
LÓPEZ, A. L. L. A Influência das Músicas Infantis no Desenvolvimento Psicomotor da
Cariança. Revista Brasileira de Musicoterapia. UBAM, ano III, n. 04, p. 05-26, 1998.
LUCENA, A. de F.; GOES, M. O. de. O processo de comunicação no cuidado do paciente
submetido ao eco-stress: algumas reflexões. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre,
v. 20, p. 37-48,1999. Número especial.
LUSTOSA, M.A. A família
Janeiro jun. 2007.
do paciente internado, Rev. SBPH, v.10 n.1 Rio de
MAHEIRIE, K. Processo de criação no fazer musical: uma objetivação da subjetividade, a
partir dos trabalhos de Sartre e Vygotsky. Psicologia em Estudo, v. 8, n. 2, p. 147-153, 2003.
MARQUES FILHO, A.B; COELHO, C.L.S; ÁVILA,LA. Música removendo barreiras e
minimizando resistências de usuários de substâncias. Revista SPAGESP, Ribeirão Preto, v.8,
n.1, jun.2007
MARTIN, P. J. Sounds and society. Themes in the sociology of music. Manchester:
Manchester University, 1995.
129
MENÉNDEZ, R. G.; et al. Expectativas y evaluación de la actividad musical de pacientes del
Hospital Psiquiátrico de la Habana. 2005.
MEYER, L.B. Emotion and meaning in music. Chicago: The University of Chicago, 1956
GIRARDI, G. Para que serve a música? Superinteressante, São Paulo, ed.203, p.74-79., ago.
2004.
MINAYO, M. C. S. O Desafio do Conhecimento. São Paulo: Editora Hucitec/Rio de Janeiro:
ABRASCO, 2002
MINAYO, M.C. de S. (Org..). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 22. ed. Rio de
Janeiro: Vozes, 2002, 74p
MOLINA, M.A.S. A essência da profissão de Enfermagem é o cuidado, 2004,pag.284
MORAN, J. Mudanças na Comunicação Pessoal: gerenciamento integrado da comunicação
pessoal, social e tecnológica (Coleção: comunicação e estudos). São Paulo: Paulinas, 1998.
MORAES, J. J. Música da modernidade. São Paulo: Brasiliense, 1983.
MORAES, J. J. O que é música. São Paulo: Brasiliense, 1989.
MORAES, J.G.V. História e música: canção popular e conhecimento histórico. Rev. bras.
Hist.,v.20, n.39, p.203-221, 2000.
NIGHTINGALE F. Notas sobre enfermagem: o que é e o que não é. São Paulo : Cortez; 1989
PADILHA, M.I.C.S et al. Programa de pesquisas colaborativas de avaliação das práticas
de cuidado de profissionais de saúde em serviços hospitalares de Florianópolis/SC.
Florianópolis: 2003. Relatório de Pesquisa vinculado ao Plano Sul de Pesquisa e PósGraduação
em
parceria
doMCT/CNPq.
PAIS, J. M. Culturas juvenis. Imprensa Nacional Casa da Moeda. Lisboa, 1998.
PERNA, P.O. O Processo saúde doença . Curitiba: UFPR, 1997.
PICADO, S.B.R.; EL-KHOURI, R.N.; STREAPCO, P.T. Humanização hospitalar infantil:
intervenções musicoterapêuticas no Centro Clínico Electra Bonini. 2007.
PINHO, M.C.C. Musicoterapia e o cuidado ao cuidador: uma experiência junto aos agentes
comunitários de saúde na favela Monte Azul. 2005.
Psicologia Hospitalar - O Medo de ser hospitalizado - Medo da hospitalização, March 2, 2009
– 5:35 pm, www.psicologiananet.com.br
RAVELLI, A.P.X. A inserção da música no ensino superior de enfermagem: um relato de
experiência. Ciênc.cuid.saúde, Maringá, v.4, n.2, p.177-181, maio/ago2005.
RAVELLI,A.P.X.; MOTTA,M.G.C. O lugar da música no espaço do cuidado terapêutico:
sensibilizando enfermeiros com a dinâmica musical.
130
RAVELLI,A.P.X; MOTTA,M.G.C.CORSO,M.G. O lúdico e o desenvolvimento infantil: um
enfoque na música e no cuidado de enfermagem. Rev.bras.enfermagem, Brasília, v.58, n.5,
p.611-613, set/out.2005.
RAVELL,A.P.X.; MOTTA,M.G.C. Dinâmica musical: nova proposta metodológica no
trabalho com gestantes em pré-natal. Rev.gaúch.enferm., Porto Alegre, v.25, n.3, p.367-376,
dez;2004.
RAVELLI, A.P.X. Percepções de gestantes sobre a contribuição da música no processo de
compreensão da vivência gestacional. 2004 – Dissertação (Mestrado em Enfermagem),
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola de Enfermagem, Porto Alegre, 2004.
RECTOR, M.; TRINTA, A. R. Comunicação do Corpo. São Paulo. Editora Ática, 2003.
REIMER, B. A philosophy of music education. New Jersey: Prentice-Hall, 1970.
RIBAS, E. O Cuidado Integral na Instituição Hospitalar. Belo Horizonte: Editora Instituto
Félix Guatarri, 2002.
RIBEIRO, M. I. L. C. A teoria, a percepção e a prática do relacionamento interpessoal.
2005. 106f. Tese (Doutorado em Enfermagem Psiquiátrica)-Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, Ribeirão Preto, 2005.
RODRIGUES E. A. C.; et al. Infecções Hospitalares: prevenção e controle. São Paulo:
SARVIER, 1997
RUUD, E. Caminhos da Musicoterapia. São Paulo. Summus, 1990. p.29,107
SACKS, O. Alucinações Musicais. São Paulo:Companhia das Letras,2007.
SALK, L O que toda criança gostaria que seus pais soubessem.Tradução Luiza Machado da
Costa. 13 ed. Rio de Janeiro: Record, 1982
SANTOS N.Q. Infecção Hospitalar Uma Reflexão Histórico-Critica. Florianópolis: Ed.
UFSC, 1997.
SAWADA, N.O.; GALVÃO, C.M.; MENDES, I.A.C.; COLETA, J.A.D. Invasão do território
e espaço pessoal do paciente hospitalizado: adaptação de instrumento de medida para a cultura
brasileira. Rev.latino-am.enfermagem, Ribeirão Preto, v. 6, n. 1, p. 5-10, jan. 1998.
SCHAFER, M. O ouvido pensante. São Paulo: Editora Universidade Estadual Paulista, 1991,
p. 23, 399, 73.
SEKEFF, M.L. Da música, seus usos e recursos. São Paulo. Editora UNESP, 2002. 172 p.
SILVA, M.J.P.; GRAZIANO, K.U. A abordagem psico-social na assistência ao adulto
hospitalizado. R,ev.Esc.Enf.USP, São Paulo, v.30, n.2, ago. 1996.
SILVA,A. Percepção dos Enfermeiros a respeito do apoio emocional òferecido aos
131
pacientes cirúrgicos. 1989 – Dissertação (Mestrado em Enfermagem), Escola de Enfermagem
da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1989. 103 p.
SOUZA, M.G.C.; ASSUMPÇÃO, M.T.V.; LANDRINO, N. Musicoterapia clínica e sua
atuação na Casa Gerontológica de Aeronáutica Brigadeiro Eduardo Gomes.2007.
STEFANELLI, M. C. Comunicação com paciente: teoria e ensino. 2.ed. São Paulo: Robe,
1993. 200p.
VALIATE , F.F.; TOZZI.V.L
A busca da humanização no ambiente hospitalar através
dos “Especialistas do Riso”, 2000.
VON BARANOW, A. L. V. M. Musicoterapia: Uma Visão Geral. Rio de Janeiro: Enelivros,
1999.
SALLES, R. et al. Um encontro pelo afeto: sensibilizando a formação do cuidador.
Apresentado no Congresso Brasileiro de Enfermagem, Recife, 2000, e no Congresso D’Alass,
Lyon – França, setembro 2001.p. 65-73
SEKEFF, M.L. Da música, seus usos e recursos. São Paulo. Editora UNESP, 2002. 172 p.
SIGREN, V. Musicoterapia y el niño sordo. Revista Médica. Las Condes, v.14, n.1, Enero,
2003.
TEKMAN, H.G.; HORTAÇSU, N. Music and social identity: stylistic identification as a
response to musical style. International Journal of Psychology, v. 37, n.5, p. 227–285, 2002.
TODRES, I. D. Música é remédio para o coração. J.pediatr., Rio de Janeiro, v.82, n.3, p.16668, May-June, 2006.
TOMAMATIS, A. A. ; VILAIN, J. O ouvido à escuta da música. In: RUUD, E. (Org.),
Música e saúde . São Paulo: Summus, p.113-132, 1991.
VALENTIM, M. L. P. (Org.). Métodos qualitativos de pesquisa em Ciência da Informação.
São Paulo: Polis, 2005. 176p. (Coleção Palavra-Chave).
VON BARANOW, A. L. V. M. Musicoterapia: Uma Visão Geral. Rio de Janeiro: Enelivros,
1999.
WAZLAWICK, P; CAMARGO, D.; MAHEIRIE, K. Significados e sentidos da música: uma
breve “ composição” a partir da psicologia histórico-cultural. Psicologia em Estudo, Maringá,
v.12, n.1, p.105-113, jan/abr.2007.
WATSON,J. Watson’s theory of transpersonal caring. In: WALKER,P. ; NEUMAN,B.(orgs.).
Blueprint for use of nursing models: education, research, practice and administration.
New York. N & N Press, 1996. p.141-184.
WAZLAWICK, P. Vivências em contextos coletivos e singulares onde a música entre em
ressonância com as emoções. Psicol.argum. , Curitiba, v.24, n.47, p.73-83, out-dez.2006.
132
ZANELLA, A. V. Aprendendo a tecer a renda que o tece: apropriação da atividade e
constituição do sujeito na perspectiva histórico-cultural. Revista de Ciências Humanas,
edição especial temática, 145-158, 1999.
WALDOW, VR; LOPES, MJM; MEYER, D.E. Maneiras de cuidar, maneiras de ensinar.
Porto Alegre: Artes Médicas; 1998.
WALTER N. Humanism: finding meaning in the Word. New York: Prometheus Books; 1998.
ZILLMAN, D. ; BHATIA, A. Effects of associating with musical genres on heterosexual
attraction. Communication Research, n. 16, p. 263-288, 1989.
ZINN, G. R.; SILVA, M. J. P. da; TALLES, S. C. R. Comunicar-se com o paciente sedado:
vivência de quem cuida. Revista Latino – Americana de Enfermagem. Ribeirão Preto, v.11,
n.3, p.326-332, maio/jun. 2003.
SITES CONSULTADOS
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pagode_(m%C3%BAsica) disponível sob a licença Creative
Commons Attribution/Share-Alike License, 5/09/2009.
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_gospel, disponível sob a licença Creative
Commons Attribution/Share-Alike License, 5/09/2009.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Funk, disponível
Attribution/Share-Alike License, 5/09/2009.
sob
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hip_hop, disponível
Attribution/Share-Alike License, 5/09/2009.
sob
a
licença
a
licença
Creative
Commons
Creative
Commons
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular, disponível sob a licença Creative
Commons Attribution/Share-Alike License, 5/09/2009.
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_sertaneja, disponível sob a licença Creative
Commons Attribution/Share-Alike License, 5/09/2009.
133
Apêndice A
Termo Consentimento Livre e Esclarecido
Você foi selecionado (a) e está convidado (a) para participar da pesquisa intitulada:
“Musica nos hospitais: música no processo saúde doença no cuidar/cuidado ao paciente
hospitalizado”, que tem como objetivos: relacionar quais hospitais públicos da capital do Rio
de Janeiro de pequeno, médio e grande porte utiliza música no ambiente; relatar qual música é
colocada no ambiente hospitalar; definir qual é propósito da música colocada nos hospitais;
apontar qual profissional é o responsável pela escolha da música colocada; descrever o que
traz essa música para o paciente hospitalizado; analisar como a música atua no processo saúde
e doença no cuidado ao paciente hospitalizado. Para facilitar o entendimento, cabe informar
que: o primeiro objetivo, já foi efetuado, no qual foram pesquisados os hospitais públicos do
município do Rio de Janeiro de pequeno, médio e grande porte, e chegamos ao número de 20
hospitais pesquisados dos quais quatro usam música no ambiente hospitalar. Após
levantamento escolhemos o Hospital Geral de Bonsucesso, devido ao sistema de som nos
prédios do hospital e ao trabalho que é desenvolvido em todas as clinicas com música; o
segundo objetivo, relatar qual música é colocada no ambiente hospitalar; e o terceiro
objetivo, definir qual é o propósito da música colocada nos hospitais; quarto objetivo,
apontar qual profissional é o responsável pela escolha da música colocada; quinto objetivo,
descrever o que traz essa música para o paciente hospitalizado; sexto objetivo, analisar como
a música atua no processo saúde e doença no cuidado ao paciente hospitalizado. Suas
respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será
divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Assim, cada pessoa envolvida receberá
outro nome fictício (fantasia) para a identificação do que foi dito. Os dados coletados serão
utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas
científicas.
A sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a
responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar o seu consentimento. A sua
recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição, bem
como não prejudicará seu tratamento e/ou atendimento Sendo assim, sua participação nesta
pesquisa consistirá em responder a entrevista, que será gravada em MP4. Os dados resultantes
134
da entrevista serão destruídos após cinco anos do término da pesquisa. Além disso, sua
participação, também, consistirá em permitir a observação do seu dia-a-dia, especificamente
das suas ações e dos seus relacionamentos.
Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Os riscos
relacionados com a sua participação são, significativamente, restritos, podendo ocorrer no
âmbito das emoções, já que não temos como prever na totalidade o efeito que cada pergunta
pode causar, apesar destas não terem um cunho inquisidor ou, ainda, um formato compatível
com alguma forma de constrangimento. Caso ocorra alguma situação de muita emoção, ela
será respeitada pela pesquisadora e você será acolhido com carinho e atenção.
Os benefícios relacionados com a sua participação são: permitir uma melhor
compreensão sobre os efeitos da música, no que se refere ao vivido na relação saúde/ doença.
Isso pode ajudar na compreensão da música terapêutica ao paciente. Além disso, por tratar
esse estudo da questão do conhecimento e, por conseguinte, envolver a aprendizagem
humana, pode motivar os participantes no sentido de uma busca pelo entendimento das coisas
que estão ao seu redor.
Você receberá uma cópia deste termo, onde consta o telefone, e-mail e o endereço
da pesquisadora e telefone e email do comitê de ética do hospital do qual o paciente está
internado, podendo o mesmo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou
a qualquer momento.
Esse termo consta a assinatura do pesquisador principal com telefone e email para
dúvidas futuras como demonstração abaixo:
______________________________
Assinatura do Participante
-_________________________
Assinatura do Pesquisador
Email: [email protected]
(21) 8332-1850
135
Apêndice B
Entrevista semi-estruturada ao Paciente
01) Sexo: ( ) masculino
( ) feminino
02) Nome: ____________________________________
03) Idade: ______
04) Estado civil: ( ) solteiro ( ) casado ( ) concubinato ( ) divorciado ( ) viúvo
05) Moradia (localização): ____________________________________
06) Escolaridade: ___________________________________________
07) Profissão: ______________________________________________
09) Tempo de internação: ___________________________________
10) Patologia: ___________________________________
11) Você gosta de música?___________________________________
12) Que música você gosta de ouvir?
13) Você acredita que a música durante sua internação pode trazer o que a você?
136
Apêndice C
Entrevista semi-estruturada ao Responsável pela Música no ambiente
Hospitalar
01) Profissão: _________________________________
02) Quais os critérios da escolha da música, para colocá-la no ambiente hospitalar?
03) Quais tipos de música são colocadas no ambiente hospitalar?
04) Quem escolhe a música a ser colocada no ambiente hospitalar?
05) Qual a relação da música com o cuidado?
06) Qual o propósito de colocar música no ambiente hospitalar?
07) Existem critérios de horários e dias da semana, para a colocação dessa música?
A
Download