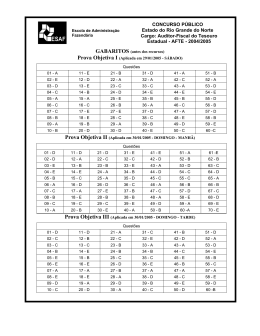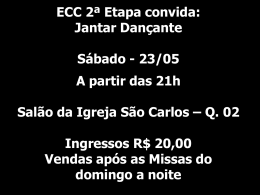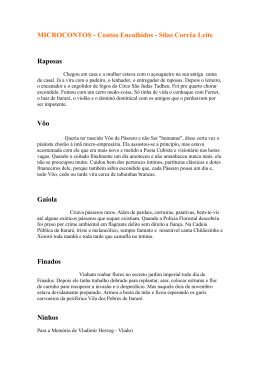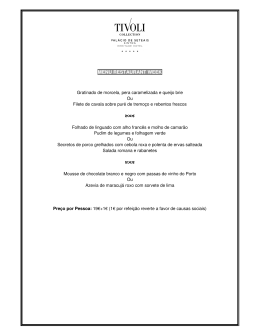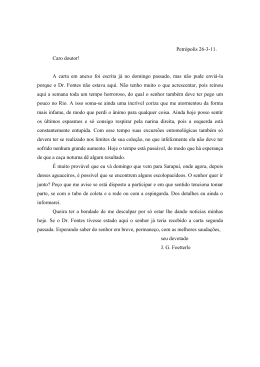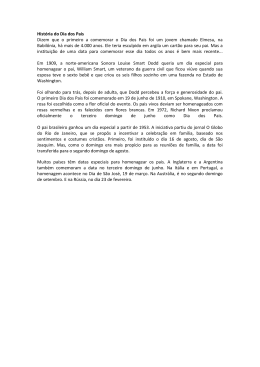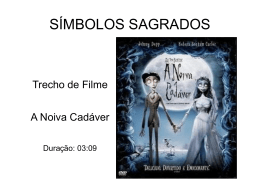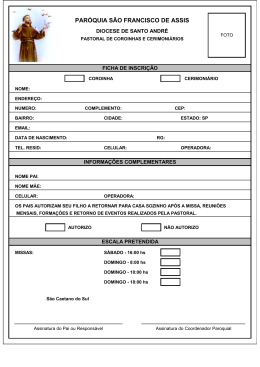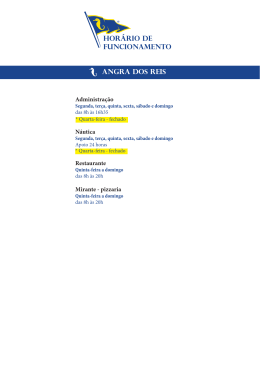– Foi o veneno que fez isso – comentavam. Não havia tábuas para o caixão. O corpo de Giácomo foi envolvido num lençol branco e acomodado no seu leito de morte. – Descanse em paz! – disseram os homens antes de cobri-lo de terra. Uma cruz marcou a sepultura. Para Giácomo Fardini, a vida parara ali, à sombra daquela cruz e daquelas matas, mas a rotina de nossa vida retomou seu curso. A trilha foi se alargando dentro da floresta e a estrada se assentando cada dia um pouco mais. Quase um ano, entretanto, ainda decorreria até que nossos homens alcançassem o núcleo colonial. Foram recebidos com festas pelos imigrantes que os haviam antecedido, responsáveis pela picada primitiva, origem daquela estrada. E assim chegou o dia de nossa mudança – a última, diziam – para o núcleo Antônio Prado. – Sairemos domingo – informou Arthuro. – É bom arrumar logo tudo, não deixar para a última hora. Naquela noite, custei a pegar no sono. Olhos abertos, acompanhava a luzinha de um vagalume que se movimentava, marcando sua presença dentro da casa. E pus-me a pensar na mudança e na próxima caminhada. Com certeza não seria melhor do que a última, aquela que fizéramos para vir até aqui. Mais mato? Bichos? Cobras? Saruês, como aquele que comeu metade dos pintinhos? Por mim ficaria aqui mesmo, de uma vez. Não é um paraíso, mas temos boa água, tão clarinha que a areia do fundo parece lavada. Quando fico a olhar o córrego, tenho vontade de bocejar e de estirar o corpo, imitando seu espreguiçar. É assim que ele segue até onde um corte abrupto no chão o faz cair, a prumo, de grande altura. Sua água, tão clarinha, ao saltar para o abismo cobre a cimeira de pedra e vai se alargando à medida que cai, sempre mais leve e espumante, até bater lá no fundo, desfeita em tufos de borrifos brancos, dando a ilusão de um bonito véu de noiva. E esse foi o nome que lhe demos, naquela primeira vez em que a vimos, surgida de repente, no inesperado além da curva. Domingo levantaremos, inda uma vez, nosso acampamento, em busca de um novo pouso. E “Véu de Noiva” ficará aqui, neste mesmo lugar, a cantar sempre a mesma canção, com ressonâncias diferentes ao sabor do vento que sopra. XIX Despertamos ao cantar do galo, naquele dia, domingo, de nossa mudança. Enquanto os homens arreavam e carregavam os animais, nós, as mulheres, coávamos café e preparávamos a primeira refeição e a matula para levar. Viramos a polenta sobre a tábua e espalhamos as tigelas pela mesa. O cheirinho de café coado atraiu a turma toda. Cada um que chegava cortava sua fatia de polenta e deitava-a numa tigela, despejando por cima café com leite e saindo a comer, para o terreiro. – Nada melhor que um naco de polenta quente, com leite e café, para aquecer a gente – comentou Landa, engolindo o primeiro bocado. – Será que aonde vamos encontraremos fubá? – Não se preocupe. Deve haver algum polaco por lá – falei para irritá-la. Landa detestava polacos, depois que aleijaram sua cabra de leite, na roça de milho. A mesma cabra que ela comprara deles. – Não fale nessa gente. Não é preciso ser polaco para ter um moinho rodando, um quintal com galinhas e porcos no chiqueiro. 35
Baixar