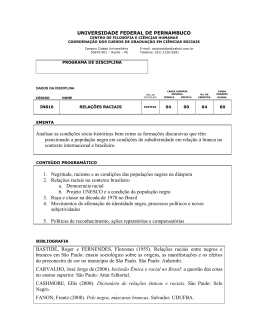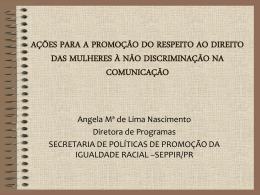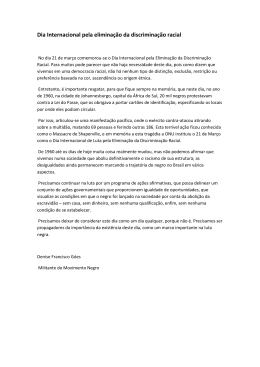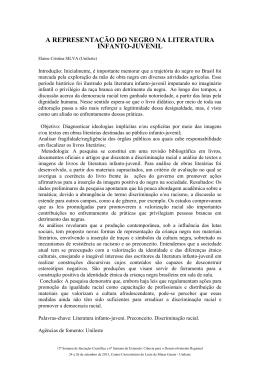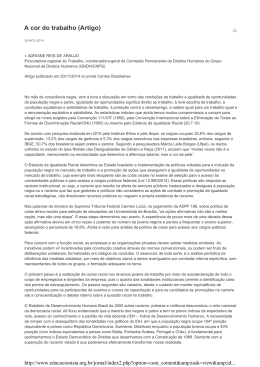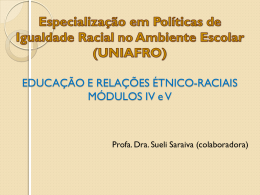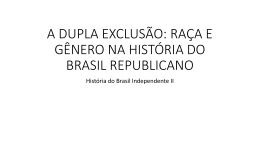RACISMO, AUTOCONCEITO E AUTOESTIMA À LUZ DA PSICOLOGIA E DOS DIREITOS HUMANOS Rebeca Oliveira Duarte 1 Introdução Desde o debate constituinte da década de 1980, que culminou com a promulgação da Constituição Federal de 1988, vem-se reestruturando o debate acerca das identidades formuladas em sociedade quando, resultante de uma acepção material de igualdade, exige-se a ação do Estado em implementar políticas focalizadas nas desigualdades historicamente construídas. O papel assumido por certos grupos subalternizados – negras(os) 2 , indígenas, mulheres – precisa necessariamente resgatar o sentimento de pertença individual e coletiva para a definição das demandas e exigibilidade de direitos por tais segmentos. A questão é que quando, além da dimensão de classe para análise das desigualdades sociais, os movimentos negro e feminista levantam as dimensões de raça e gênero como estruturantes das relações de poder, vem a reboque do discurso o conflito sobre as relativas identidades, sob essas dimensões, se essencialistas ou construtos ideológicos. Além disso, por uma orientação formalista de cunho liberal, o individualismo sobreposto às demandas coletivas circunscreve tal debate às perspectivas de mérito pessoal e livre iniciativa como sendo fundamento da própria humanidade, assim albergado nos valores “cívicos” e no ordenamento jurídico positivado. O resultado é o escamoteamento do debate racial e feminista por, teoricamente, não existirem diferenças, visto que “somos todos iguais” desde que as constituições brasileiras adotaram o princípio de igualdade formal do liberalismo político. A partir dessa problematização, venho desenvolvendo no campo das ciências humanas uma pesquisa sobre os comportamentos do Estado, da sociedade e dos 1 Pesquisadora em Ciências Humanas do Núcleo de Pesquisa e Estudos Afrobrasileiros – NUPEAB – da organização da sociedade civil Observatório Negro e ativista do Movimento Negro. Graduada em Direito e mestre em Ciência Política na UFPE, é doutoranda em Psicologia Cognitiva no PPG em Psicologia Cognitiva da Universidade Federal de Pernambuco, bolsista do CNPq, com orientação do Prof. Dr. Antonio Roazzi. 2 Assumo a linguagem do reconhecimento de gênero, i.e., considerando homens e mulheres na pluralidade humana. 2 indivíduos, enquanto dimensões humanas articuladas e em interação necessária, na desconstrução/reconstrução das identidades raciais brasileiras – especificamente a identidade racial negra. Iniciei investigando a participação do direito na elaboração identitária da população negra e negro-mestiça no Brasil, construindo, a partir disso, uma proposta de sistematização das elaborações identitárias, aqui especificamente raciais e negras, através da análise das constituições brasileiras, ainda lançando mão de outros documentos jurídicos pertinentes em confronto com aspectos históricos da construção do termo “raça”. Em seguida, associei o debate sobre identidade e reconhecimento realizado no campo da filosofia política, contextualizando-o nas argumentações contra e a favor das ações afirmativas para a população negra. O aprofundamento desse tema necessitava, a meu ver, de um retorno ao ponto inicial – o sujeito negro –, desta vez propondo uma busca às origens subjetivas da construção da identidade racial, do processo de formações conceituais acerca da raça e identidade, e o papel e os impactos do racismo nesta construção. Com a imagem de um espiral em mente, tal “retorno” ao sujeito como ponto de partida precisa significar, para um propósito em contribuir com a erradicação do racismo, um passo a frente nas minhas elaborações teóricas sobre o tema. Portanto, proponho aqui uma abordagem no campo das ciências humanas que faça dialogar suas diversas áreas; particularmente, lanço mão dos estudos em direitos humanos, ciências sociais e psicologia, por compreender crucial a interseção dessas áreas para buscar algumas respostas nas investigações sobre a Identidade Racial. Aspectos conceituais: por que falar em “raça” no diálogo acerca das identidades O processo de constituição de identidades raciais nas Américas, necessariamente, se inicia com o tráfico escravista. Cerca de doze milhões de africanas(os) foram sequestradas(os) e capturadas(os) na costa da África para a escravização, entre 1500 e 1870, sendo que mais de um milhão e meio de africanas(os) morreram durante a passagem entre a África e o continente americano e outros milhares ao desembarcar. Essa migração oceânica, segundo Blackburn (2003), tenha sido voluntária (dos colonizadores europeus) ou forçada (das/os africanas/os 3 sequestradas/os), colocou grupos humanos anteriormente distantes em estreito contato, o que trouxe a necessidade de se elaborar novos sistemas de atribuição de identidade. Assim, nas teorias raciais associadas à escravidão nas plantations americanas foram as características isoladas de cor da pele e fenótipo que serviam como critérios de raça, até então com um sentido amplo que envolvia a origem e o meio, abrangendo a família e parentesco, a natureza e a cultura, tradições e religiosidade (Blackburn, 2003). A população africana vinda em regime de escravidão não era observada pelos traficantes em suas diferenças étnicas, mas identificada em sua totalidade por suas características físicas, sendo as(os) africanas(os) registradas(os) de forma genérica e não condizentes com sua origem 3 . Diante desse impacto no contraste entre grupos humanos completamente diversos, causado pela expansão colonialista do século XVI, as relações interraciais e interétnicas foram definidas a partir das posições de dominação e subalternidade, e estabelecidas enquanto objetos de um ordenamento jurídico que vincularia tais posições aos grupos e confeririam o caráter racial da escravidão. Através das codificações, aquelas relações eram regidas no sentido de identificar os povos subalternizados ao Império Português. As Ordenações Afonsinas, vigentes de 1446 a 1447, excluíam do acesso aos cargos públicos, eclesiásticos e a títulos honoríficos os descendentes de mouros e judeus; as Ordenações Manuelinas, vigentes de 1514 a 1521, estenderam as restrições também aos descendentes de ciganos e indígenas, e as Ordenações Filipinas, promulgadas em 1603, acrescentariam os negros à lista de exclusão. Pombal revoga as restrições aos descendentes de judeus, mouros e indígenas em 1776, mas as mantém em relação aos descendentes de africanos (Mattos, 2000). Era o pré-requisito da limpieza de sangre para os ocupantes de cargos públicos 4 (Blackburn, 2003). Havia uma diversificação da escravidão na Europa e as subalternidades dos vários povos não-europeus, não-brancos e não-cristãos. Eram os racismos europeus. Por serem muitas as subalternidades – no tocante à sua composição étnica, religiosa e as relações econômicas dali desenvolvidas –, a escravidão que nelas se baseava tinha um 3 Nei Lopes (1988) nos dá o exemplo daqueles africanos comercializados na Costa de Guiné – todo o território que vai hoje do Senegal ao Gabão –, que eram dados como Sudaneses, como “peças da Guiné”, mas, na realidade, eram originários de Angola e do Congo. Mary Karasch afirma que “os estrangeiros raramente usavam grupos étnicos específicos, reinos ou estados da África, mas tendiam a repetir o que os seus informadores cariocas lhes contavam sobre as nações. Em outros casos, identificavam os portos comerciais de escravos na África, como Cabinda ou Benguela, como uma nação africana” (In SILVA [org.], 2000: 129). 4 Considerando que, neste sentido, apenas os homens eram considerados, permanecendo as mulheres das diversas raças e etnias ainda em posição de completa opressão. 4 caráter também diverso do que foi nas Américas; aqui, o caráter racial da escravidão desenvolveu-se particularmente em relação às/aos africanas/os, e, em 1713, ele já estava estabelecido nas terras americanas (Blackburn, 2003). Por essa análise, as características diferenciadas do escravismo no continente americano não se davam apenas por ter mudado inteiramente as relações sociais a partir de uma nova escravatura em que o ser humano tornou-se “moeda” para os novos processos econômicos. Deu-se também pela formação de novas percepções de identidade. O escravizado das Américas “viu-se preso em sistemas de identificação e vigilância sociais que o marcaram como negro, e que regulamentaram cada ação sua” (Blackburn, 2003: 18); não se via mais, assim, inserido numa identidade que o coletivizava etnicamente, sendo-lhe difícil estabelecer identidade com aqueles que falavam línguas diferentes e que, a despeito de serem aprisionados no mesmo navio ou senzala, poderiam a qualquer instante ser vendidos ou mortos. Da mesma forma, os racismos derivados desses novos sistemas de classificação racial foram construindo e aprimorando a identidade da comunidade colonial e escravocrata como cristã, branca e européia. Essa identidade era o que – apesar das identidades nacionais continuarem a gerar guerras e conflitos entre os povos europeus – justificava a não-escravização de súditos de outro monarca ou cidadão de outro estado (Blackburn, 2003). Com o rompimento das identidades étnicas, a/o negra/o africana/o escravizada/o nas Américas, qualquer que fosse sua etnia de origem, passou a ser classificada/o, primordialmente, por suas características fisiológicas, em particular a cor da pele, tipo de cabelo, estatura, larguras de nariz e boca. A partir disso, começou-se a formular o critério da raça para a sujeição generalizada da pessoa negra ao ordenamento jurídico escravista, na relação dos países colonizadores com os colonizados, embora este critério tenha se tornado um conceito apenas no século XIX com o apoio dos estudos franceses sobre raça 5 . 5 Em 1795-1798, Pierre Cabanis redigia obra em que se via o “físico” determinando o “moral”. Trazia a relação entre raças e qualidades, embora não a detalhasse na obra. Em 1832, Victor de l'Isle (Sociedade Etnológica de Paris) propunha uma acentuação das diferenças raciais, de modo que não se pudesse mais invocar a igualdade, que supunha gerar a crise européia. Sobre isso, Saint-Simon já afirmara em 1803: “Os revolucionários aplicaram aos negros os princípios de igualdade: se tivessem consultado os fisiólogos, teriam aprendido que o negro, de acordo com sua organização, não é suscetível, em igual condição de educação, de ser elevado à mesma altura de inteligência dos europeus” (Apud POLIAKOV, 1974). Essas teorias francesas terão forte impacto no Brasil através das ideias do “Conde” de Gobineau (1816-1882) e o seu “Ensaio sobre a desigualdade das raças humanas”. Sua missão diplomática no Brasil em 1869 estabeleceu uma grande influência em D. Pedro II. 5 O Branco como Modelo Humano e Civilizador O racismo, ideologia que prega a superioridade de uma raça sobre as outras, adota no Brasil características bastante peculiares. Tais peculiaridades começam pelo processo colonizador e escravista nas Américas, diferenciado de outros períodos históricos e de outras regiões e continentes. Diferentemente da escravidão entre os gregos, por exemplo, que não era motivada pela diferença racial, mas étnica, a escravidão da idade moderna “encontrou no racismo uma justificativa ideológica” (Gorender, 2000: 55), porque fora baseada na inferiorização das pessoas negras e indígenas. A extinção da escravatura formal em 1888 não erradicou tal ideologia; pelo contrário, renovou-a mediante teorias racistas de grande impacto no pensamento político, social e jurídico do país. Autores como Euclides da Cunha, Raimundo Nina Rodrigues, Sílvio Romero e Oliveira Viana, acompanhando teses já trazidas ao Brasil por Gobineau, sustentaram teorias que adotavam posições racistas e a defesa de um “clareamento” da população. Isso viria a contribuir com a grande imigração européia ocorrida principalmente entre as décadas de 1820 e 1920, constituindo um verdadeiro projeto de embranquecimento do país. Ainda com o advento da tese opositora ao enfoque racista de extinção gradual do ser negro/indígena, reconhecida mais tarde como tese da “democracia racial”, o projeto de embranquecimento manteve-se sob o discurso de louvação da mestiçagem como identidade do povo brasileiro. Isso porque, no discurso da propagação da mestiçagem, classificou-se meramente como “popular” as características sociopolíticas do povo negro: negava-se, assim, as identidades de tal povo, defendendo um processo de integração ou assimilação em que, diante das medidas eugenistas da Era Vargas e do período militar nas décadas de 1960/70 e início dos anos 1980, quer dizer integrar ao branco “civilizador”. A ação persecutória do Estado faz criminalizar os segmentos negro e indígena por sua situação social e por suas manifestações culturais e religiosas (Nascimento, A., 1982; Lopes, 1988; Moura, 1994; Silva JR., 1998; Santos, H., 2003; Nascimento, E. 2003; Duarte, 2004). Como alerta Gorender, apesar de em nosso país não se ter legalizado uma segregação no aspecto espacial e institucional, no Brasil pós-escravidão o racismo colocou a população negra em aglomerações de favelas e bairros de periferia. Tal estruturação, adquirindo aspecto difuso, “dificultou o desenvolvimento de uma atitude combativa da própria população negra diante das discriminações costumeiras que lhe 6 eram impostas, na vida cotidiana” (Gorender, op. cit.: 60). Por ser costumeira, a discriminação racial entrou no repertório de “brincadeiras” e expressões racistas, diariamente solapando-se a dignidade humana da pessoa negra, desde a infância. E é essa manifestação “costumeira” que caracteriza o racismo brasileiro, focando exatamente a desconstituição de sua humanidade. Como categoria estrutural de nossa sociedade, o racismo impõe ao sujeito negro um modelo de identificação normativo, que é o modelo branco, a idealização da brancura. Sobre isto, o psicanalista Jurandir Freire Costa alerta que a violência racista é exercida, antes de tudo, pela “impiedosa tendência a destruir a identidade do sujeito negro”; assim, pensar sobre essa identidade, para a pessoa negra, redundará sempre em sofrimento. O pensamento constrói “espaços de censura à sua liberdade de expressão e, simultaneamente, suprime retalhos de sua própria matéria” (apud Moura, M. J., 2001). Acobertado por práticas culturais, o racismo busca associar os aspectos fenotípicos a elementos desumanizadores da pessoa negra. O conceito de raça, desestabilizada a noção meramente biológica, se faz sobre as construções sociais acerca da variação fenotípica que diferencia os grupos humanos no processo histórico brasileiro, tendo por base os confrontos do colonialismo. Assim, em relação ao povo negro, essas construções carregam necessariamente a identificação da variação fenotípica que dizem respeito à origem africana, imagem, representações sobre o corpo negro, história, tradições, símbolos e significados, relações entre grupos, estereótipos e também os estigmas, preconceitos e discriminações. Historicamente, enquanto ideologia de opressão, o racismo está voltado à desagregação do sujeito oprimido, primordialmente, em sua representação humana. No Brasil, o racismo original fundamentou um país em que as distinções raciais servem à subalternização do povo negro e indígena, através de suas identificações, identidades e pertencimentos raciais. 2. A contribuição da Psicologia: a autoestima como suporte identitário As indagações sobre identidade e pertencimento tornam o tema étnico e racial historicamente recorrente no conjunto das ciências humanas. As perspectivas antropológicas, sociológicas e políticas se somam, se relacionam e dialogam com as perspectivas da psicologia. A contribuição das pesquisas psicológicas nessa área está, 7 fundamentalmente, sobre as dimensões indivíduo-grupo que constituem as conceituações de identidade, categorização e autocategorização, autoconceito e autoestima, pertença e preferências raciais. Identidade Tajfel (1981) contribuiu com uma das definições de identidade social mais sustentadas por pesquisadoras e pesquisadores da temática racial na psicologia, desde que, ao conceituar a identidade social como a parte do autoconceito do indivíduo que se deriva do reconhecimento de filiação a um (ou vários) grupo social, juntamente com o significado emocional e de valor ligado àquela filiação, chega à definição de identidade racial como a parcela do autoconceito da pessoa que deriva do conhecimento da sua pertença a um grupo racial, juntamente com o valor associado àquela pertença e o significado emocional que ela possui. Não obstante o autoconceito seja referenciado como um constituinte da identidade social, derivado de um ato pessoal de conhecimento, Tajfel também vê como necessário o reconhecimento, por parte dos outros, do indivíduo como membro de um determinado grupo. Desse modo, “a pertença do indivíduo a um grupo atinge seu significado, no processo de comparação social (conflitos sociais)”, e assim “existiria uma tendência dos indivíduos a manter ou acentuar a auto-estima pela valorização da identidade social”. Por essa perspectiva, pensa-se a “identidade como produto social, resultante de conflito, envolvendo discriminação, exclusão social, exploração e opressão individual e coletiva” (Oliveira e Camino, 2005: 03). Deschamps e Moliner (2009), propondo que a base do sentimento de identidade é a percepção de semelhanças e de diferenças, conceituam identidade pelo postulado da aparente dicotomia e da complementaridade entre as identidades social e pessoal. O que pretendem com este conceito, ao recuperarem e avançarem sobre as definições de William James e G. Mead sobre o si-mesmo e o mim (me), é demonstrar um processo de articulação, organização e síntese dos aspectos pessoais e sociais da identidade: enquanto a identidade social “remete ao fato de que o indivíduo se percebe como semelhante aos outros de mesma pertença (o nós), mas ela remete também a uma diferença...em relação aos membros de outros grupos...(o eles)”, realizando um duplo movimento (endogrupo / exogrupo), a identidade pessoal indica o reconhecimento que um indivíduo terá de sua diferença em relação aos outros; ou seja, sendo idêntico a si mesmo no tempo e no espaço, se especifica e se singulariza em relação aos outros, 8 tornando o indivíduo “semelhante a si mesmo e diferente dos outros” (2009: 23-24). Essa distinção de social e pessoal será a imagem da dualidade entre indivíduo e sociedade, entre diferença e semelhança; sendo a identidade social um sentimento de semelhança com outros e a identidade pessoal um sentimento de diferença em relação a esses outros, a identidade enfim é concebida “como um fenômeno subjetivo e dinâmico resultante de uma dupla constatação de semelhanças e diferenças entre si mesmo, os outros e alguns grupos” (Deschamps e Moliner, op.cit.:14). Oliveira e Camino (2005), citando Ellemers, Kortekaas e Ouwerkerk (1999), abordam essa consciência da pertença de um indivíduo a um grupo social enquanto a dimensão cognitiva da identidade social, consciência essa realizada pela autocategorização; além da dimensão cognitiva, a identidade social possui, para os autores, uma dimensão avaliativa, representada pela autoestima, e uma dimensão emocional, pelo envolvimento afetivo com o grupo. Categorização e Autocategorização Almir e Zilda Del Prette afirmam que “a formação da identidade está relacionada a processos cognitivos de busca de compreensão de ambiente” (2003: 127). Portanto, ao organizar seu ambiente, o indivíduo separa objetos ou pessoas com base em características comuns. Nesse sentido, Bruner (1951) já registrava, como processos essenciais nos movimentos de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, os de discriminação e os de categorização, sendo a categorização um procedimento que permite discriminar diferentes objetos equivalentes e formar agrupamentos em classes de objetos, pessoas e acontecimentos. O ato de categorizar, para Bruner, em muitas situações se cumpre sem qualquer correspondência verbal, sendo altamente eficaz para a facilitação dos processos adaptativos, reduzindo a complexidade do meio ambiente; permitindo a identificação dos objetos que nos cercam na condição de membros de uma classe; reduzindo a necessidade constante e contínua de aprendizagem; fornecendo sugestões para atividades instrumentais e permitindo que essas se ordenem e relacionem classes de eventos. Vale ressaltar que, ainda para esse autor, a categorização implica a seleção de atributos – toda e qualquer característica discriminável passível de variações discrimináveis – e, por consequência, a efetuação de inferências. A respeito dessa perspectiva, Deschamps e Moliner afirmam que o processo de categorização “permite, pois, a decupagem do entorno, reagrupando os objetos que são 9 ou que parecem ser semelhantes uns aos outros em certas dimensões”; a categorização terá “sua função no papel que ela desempenha na sistematização do entorno, sua decupagem e sua organização”, do qual decorre uma simplificação para que as características dos estímulos devem poder ser modificadas para se integrarem às estruturas existentes. Portanto, “através da categorização, as semelhanças ou as diferenças entre os objetos categorizados se tornam mais marcantes do que são na realidade”; enfim, “a categorização, por sua função de sistematização do entorno, nos mostra um mundo mais estruturado, mais bem organizado, portanto, mais explicável e controlável, mas também simplificado”, tendo por efeitos principais a “percepção do aumento das diferenças intercategoriais (efeito de contraste ou de diferenciação cognitiva) e das semelhanças intracategoriais (efeito de assimilação ou de estereotipia cognitiva)” (Deschamps e Moliner, 2009: 29-31). Para Tajfel, no caso da classificação de pessoas, as categorizações estarão relacionadas a diferenciais de valor. O processo de categorização referente a pessoas é uma categorização social, em que os sujeitos estão no interior de uma rede de categorias. Desse modo, as pessoas são ao mesmo tempo sujeitos e objetos da categorização. Em Deschamps e Moliner, o processo de categorização interviria na percepção das características dos grupos e acentuaria as diferenças possivelmente existentes entre membros de grupos sociais diferentes, ainda minimizando as diferenças entre os membros de um mesmo grupo. A categorização racial, portanto, refere-se à capacidade de distinguir as pessoas em termos de suas características fenotípicas racializadas, como a cor de pele, tipo de cabelo e estrutura facial, constituindo no primeiro passo na formação de atitudes raciais, negativas ou positivas (Grupo de Pesquisa em Comportamento Político/UFPB, s/d). A autocategorização racial é o conhecimento do indivíduo de sua pertença a determinado grupo racial; como acentuam Oliveira e Camino (2005), o aspecto do reconhecimento externo deverá desempenhar um papel forte no processo de autocategorização racial. Porém, no caso da sociedade brasileira, em que o discurso da mestiçagem e da democracia racial ainda são dominantes, o conhecimento do indivíduo sobre sua pertença racial nem sempre coincide com o que as outras pessoas atribuem a ele. De um lado, pela manutenção do ideal mestiço, em que o negro torna-se “moreno”, “mulato” (Oliveira, 2004); e, sobretudo, o que é comprovado pelos resultados de diversas pesquisas psicológicas, a ideia de inferioridade e a desumanização da pessoa 10 negra prejudica a formação de um autoconceito positivo por parte desta (França e Monteiro, 2004; Oliveira e Camino, 2005; Fernandes, Almeida e Nascimento, 2008). Autoconceito e autoestima Autoconceito é a avaliação que a pessoa faz de si mesma, constituindo num “construto complexo”, que é definido, “de forma geral, como o conjunto de características ou atributos que utilizamos para descrevermos a nós mesmos” (Roazzi e Nunes, 2006). Ainda surge a noção da “autoimagem”, considerada sinônima de autoconceito, mas sendo enfatizado nesta o aspecto social de sua formação, enquanto a autoestima será abordada em termos de atitude valorativa que o indivíduo desenvolve acerca de si mesmo (Oliveira, 2009). Para Turner, o autoconceito em si é um conceito amplo que tem por componente cognitivo a identidade social (In Del Prette e Del Prette, 2003). Por outras abordagens, como a de Ellemers, Kortekaas e Ouwerkerk, seguidas por Oliveira e Camino (2005), associando ainda à de Marinho (1992, citado por Roazzi e Nunes, 2006), o autoconceito traz a autoestima como componente avaliativo: a autoestima é uma autoavaliação valorativa ligada à percepção que o meio possui sobre a pessoa. Considera-se haver uma diferenciação na autoestima em diferentes grupos racializados, “já que a mesma é construída na relação com o outro e seu contexto” (Oliveira e Camino, 2005: 04). A construção social acerca do conceito de raça no Brasil indica historicamente um locus da opressão racista: a imagem e o corpo da pessoa negra, compreendendo-a num conjunto indissociável às suas manifestações intelectuais, culturais e espirituais. O custo emocional do racismo, usando uma expressão de Neuza Santos Souza, está na destruição do sentimento positivo de uma pessoa negra por si mesma, ainda mais quando sua identidade histórico-existencial é completamente invisibilizada através da negação do ser negro em sua perspectiva política e cultural. A relação entre o sentimento por si, a autoestima, e o fortalecimento político e econômico é indissociável, porque, tendo de se livrar “da concepção tradicionalista que o definia econômica, política e socialmente como inferior e submisso, e não possuindo uma outra concepção positiva de si mesmo, o negro viu-se obrigado a tomar o branco como identidade”. Essa identidade tomada, no entanto, é constantemente desmentida ao ser a pessoa negra sempre identificada como o outro no interior das relações interpessoais e das relações sociais (Souza, 1983: 19). 11 O resultado é a rejeição “levada ao nível do desespero” (Souza, op.cit.: 35), iniciada desde a infância, que violenta o corpo físico – esse corpo locus da violência simbólica e concreta do racismo: (...)me achava muito feia, me identificava como uma menina negra, diferente: não tinha nenhuma menina como eu. Todas as meninas tinham o cabelo liso, o nariz fino. (...) Depois eu fui sentindo que aquele negócio de olhar no espelho era uma coisa ruim. Um dia eu me percebi com medo de mim no espelho! Tive uma crise de pavor. (Luísa, In Souza, 1983: 35). Eu sou preta tenho o cabelo duro Os meninos diram saro de mim só porque eu sou preta (...) A Ana é diferente de mim ela tem cabelo grande Ela é morena eu sou preta os meninos agaram ela... (Alc, In Oliveira, 2009: 48) (Entrevistador pergunta à criança “o que você gostaria de mudar em seu rosto?”:) O cabelo, a cor e o tamanho, porque não gosto muito de ser preto, é uma cor cinzenta. (In Oliveira e Camino, 2005). No processo de construção da identidade, o corpo é para a pessoa negra um suporte. A cor da pele, os formatos de nariz, boca e a textura do cabelo são fortes ícones identitários. Contudo, esses ícones se apresentam socialmente como uma forte ameaça identitária por ser visto como algo negativo – por exemplo, o tal “cabelo ruim” –, fortalecendo-se assim como uma marca de inferioridade (Gomes, 2002). 2.1. Racismo, rejeição e autoestima na infância Crescentemente, as(os) pesquisadoras(es) em Psicologia e em Educação vêm investigando o autoconceito e a autoestima na escola e suas relações com o desempenho escolar da(o) educanda(o). Nesse sentido, o problema do racismo em sala de aula propõe uma problemática complexa, em que aspectos da identidade racial são 12 motivações para sucessos ou fracassos no contexto escolar, tanto por gerarem sentimentos de baixa autoestima e autodesvalorização quanto por naturalizarem atos de rejeição/discriminação por parte de colegas e professoras/es. Os estudos psicológicos vêm colaborando na demonstração desse dado, já percebido pela experiência, através de investigações na área da autocategorização, autoconceito e da autoestima como seu componente avaliativo, em crianças e jovens negras(os). Segundo Oliveira e Camino (2005), essas investigações, anteriores à década de 1980, demonstravam que crianças de status social alto tinham mais aceitação da categorização social convencional, enquanto crianças de status social baixo demonstravam rejeitar a categoria socialmente convencionada. Com base nos diversos estudos nesse sentido (Clark et. al., 1947; Katz, 1983; Milner, 1973, 1983, 1984) os autores afirmam que, enquanto nas crianças de grupos de alto status a autocategorização é forte, nas crianças de grupos de baixo status apresentam uma tendência à rejeição da categoria de pertença. Buscando aprofundar a reflexão sobre o modo pelo qual a criança se vê e se avalia na escola, Ivone Martins de Oliveira (2009) desenvolveu pesquisa em 1990 numa sala da então 3ª. série de uma escola municipal em Campinas, com crianças entre 10 e 13 anos, para procurar responder à indagação de como as crianças discriminadas racialmente viviam as situações discriminatórias, e se essas situações interferiam na elaboração da imagem que a criança faz de si mesma na escola. Observou, inicialmente, que as descrições de si mesmos e os aspectos mais ressaltados nessas autodescrições diziam respeito aos atributos físicos referentes à cor de pele, cor e tamanho dos cabelos, cor dos olhos, idade, estatura e peso. Ressalvou as enunciações acerca de duas alunas consideradas “pretas” pelos colegas, recebendo, por estes, chamamentos como “noite”, “escuridão” e “feia”. Percebeu, na contrapartida das enunciações dessas alunas discriminadas, a perspectiva da voz de quem sofre a discriminação e que, com a interrelação com outras diferentes vozes, levou a autora a buscar sair do que considerou uma “visão ingênua que tem atravessado os estudos realizados a respeito da noção de autoconceito no universo educacional”. Tal noção se apoia na redução da linguagem a um instrumento de comunicação, tomando o sujeito como origem dos sentidos produzidos no momento em que se enuncia, isentando-se o contexto. As identidades, para a autora, devem ser examinadas sob a compreensão dos problemas resultantes do embate das diferentes vozes, nos modos de interação social e histórica, mediados pela linguagem e permeados pelo ideológico (Oliveira, 2009: 110-111). 13 Uma pesquisa referencial no tema foi realizada por França e Monteiro em Sergipe (2000), analisando o efeito da cor da pele e da idade sobre a identidade e a preferência raciais. As autoras demonstraram que havia uma forte tendência ao “branqueamento” entre as crianças sergipanas, influenciadas pela idade – ou seja, a preferência do “mulato” pelo branco e do negro pelo “moreno”. Enquanto as crianças negras de 5 a 8 anos afirmaram não gostarem de ser negras, as “mulatas” percebiam sua identidade racial num meio termo entre positiva e negativa, e as crianças brancas, independentemente da idade, possuiam uma identidade racial positiva (In Oliveira e Camino, 2005). Para a confirmação das seguintes hipóteses: do branqueamento na autocategorização racial já proposto por França e Monteiro; da atribuição de características favoráveis às figuras brancas e desfavoráveis às figuras negras pelas crianças; e da baixa autoestima entre crianças negras, Oliveira e Camino realizaram uma pesquisa semelhante com crianças brancas e negras entre 9 e 12 anos na cidade de João Pessoa, Paraíba (2005). Avaliando os aspectos da categorização e preferências raciais, através de desenhos, histórias e perguntas sobre autocategorização baseada em figuras de crianças brancas e negras, questões abertas sobre a satisfação da criança com sua aparência física (autoestima e avaliação emocional da pertença), obteve-se a confirmação da tendência ao branqueamento na autocategorização racial: das crianças negras assim definidas pelos entrevistadores, apenas 6,3% escolheram figuras negras como suas semelhantes, enquanto a porcentagem das que se identificaram com as figuras “morenas” e brancas foi de 70,8% e 22%, respectivamente. No que se referia à preferência racial, foi destacado que tanto as crianças brancas quanto as negras tenderam a escolher as figuras brancas nas situações favoráveis socialmente. Com relação à autoestima, as entrevistas demonstraram uma grande dificuldade das crianças negras em se verem como tais, apesar de saberem que eram negras. Isso fica explícito quando 13% das crianças negras escolheram uma figura branca como sua semelhante, justificando sua escolha pelo fato dela ser “bonita”, e 30,8% a escolheram por ela ser branca. Entre as respostas, a expressão do desejo de semelhança com a imagem branca: “Porque é uma cor bonita”; “Porque ela tem o cabelo loiro, os olhos azuis e a pele branca”; “Porque é uma cor bonita, ser branco é a cor de Deus”. Desse desejo de semelhança ao branco, decorre necessariamente o desejo de mudar seus traços raciais: “Eu queria ser galego, de olhos azuis”; “A cor, porque é negra”; “Mudar pra 14 branco”; “O nariz, porque é muito achatado e eu não gosto” (Oliveira e Camino, 2005: 09). 2.2. Comportamento assertivo e luta por direitos De fato, fica demonstrado que a relação com o próprio grupo racial por parte das crianças negras pequenas fica extremamente prejudicado pelo racismo, atingindo sua autoestima e forçando-as a assumir um ideal de branqueamento. Como reforçam Almir e Zilda Del Prette, o “indivíduo social, ou cultural, possui interfaces que tanto o separam como o aproximam dos demais”, interfaces essas que são dadas “pelo tempo” e resultam “em uma história pessoal/social” (Del Prette e Del Prette, 2003: 126). Vimos que as crianças negras pesquisadas demonstraram certo afastamento de seu próprio grupo racial pela tendência de negação às suas próprias características raciais, decorrente do racismo. No entanto, nenhum grupo social discriminado persistiria sem aspectos de resistência (Young, 2000; Santos, B. 2003), o que nos faz admitir a existência de interfaces que aproximem, de algum modo, o sujeito negro de seu grupo, já que “É no grupo que ele (o indivíduo) internaliza as noções (crenças) de mobilidade ou estratificação, estabelece expectativas de auto-eficácia”, e é, também, “a base para a formação de sua identidade social, juntamente com as crenças e comportamentos a ela associados” (Del Prette e Del Prette, op.cit: 127). Os autores, acompanhando Tajfel (1978, 1981), enfatizam que, por consequências do reconhecimento de pertença a um grupo, temos: a) a busca do indivíduo por um novo grupo se este contribuir para melhorar os aspectos positivos de sua identidade social; b) se possível, o indivíduo abandona o grupo que não contribui positivamente para a sua identidade; ou c) se isto (b) não for possível, ou o indivíduo reinterpreta os atributos do seu grupo, ou se esforça para melhorar a sua posição na sociedade. Isso nos leva a refletir sobre o que esses autores tratam do pensar e agir assertivamente. Agir assertivamente significa “defender-se em uma situação de injustiça ou, no mínimo, buscar restabelecer uma norma que, quando rompida, causa algum tipo de prejuízo a pessoa ou ao seu grupo”; assim, as pessoas tendem a agir assertivamente 15 quando desenvolvem a crença de que os eventos que lhes ocorrem são injustos (Del Prette e Del Prette, op.cit.: 131). 3. Concluindo por uma defesa: a Lei nº 10639/03 como meio de reinterpretação dos atributos raciais entre crianças negras e brancas A reinterpretação dos atributos raciais é a chave que nos leva a examinar a importância de se trabalhar no contexto escolar os aspectos da identidade racial e seus impactos sobre o autoconceito e a autoestima das crianças. Relembrando o construto histórico-social de raça, vimos que esta diz respeito não a uma noção meramente biológica, mas se faz sobre as construções sociais acerca da variação fenotípica que diferencia os grupos humanos no processo histórico brasileiro, tendo por base os confrontos do colonialismo e adquirindo novos contornos a partir das reelaborações estruturais do Estado. E serão essas construções sociais que indicarão historicamente um locus da opressão racista: a imagem e o corpo da pessoa negra, compreendendo-a num conjunto indissociável às suas manifestações intelectuais, culturais e espirituais, bem como ao contexto político-econômico das desigualdades sociais vivenciadas. Compreender esse construto histórico-social é fundamental para, em primeiro lugar, evitar-se o escamoteamento da questão racial pela justificativa da inexistência de raças humanas na perspectiva biológica, justificativa que, embora apoiada numa “verdade científica”, é negadora do conflito faticamente existente nas racializações ideológicas. Compreendendo a necessidade desse debate na educação formal, a discussão sobre o combate ao racismo e acerca da visibilização positiva da população negra na atividade escolar resultou na Lei nº 10.639/03, que altera a Lei nº 9.394/96, determinando a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afrobrasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares. Isso inclui “o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil” (L9394, art.26-A, caput e §1º). 16 Tem-se, com isto, uma possibilidade concreta de ativar, em sala de aula, uma reinterpretação dos atributos raciais, não apenas entre as crianças, mas também entre educador(a) e educandas(os). Os atributos negros, por esse propósito, são referenciados não mais sobre as construções sociais acerca das variações fenotípicas de base colonialista – isto é, a(o) negra(o) vista(o) como inferior, “ruim”, feio, restrita(o) à exploração de seu trabalho produtivo e reprodutivo – mas devem ser (re)elaborados pelo viés de um sujeito social atuante na formação da sociedade nacional. Por essa reelaboração dos atributos do grupo racial negro, compreendem-se do mesmo modo as reelaborações do autoconceito da criança negra, consequentemente, de sua identidade social racial e da sua autoestima, resgatando-as de um processo de rejeição e desfavorabilidade. Mas não somente. Pensando nas concepções de identidade, autoconceito e autoestima como um processo que não se isola no sujeito, mas que se constituem pelas interações sociais e históricas, também a criança branca poderá reelaborar seu autoconceito e sua autoestima não mais os ancorando sobre noções de superioridade racial, em que os atributos raciais brancos são os desejáveis por serem os “melhores” e os mais “belos”. Nessas novas interações, crianças negras e crianças brancas reconstroem suas relações, possibilitando uma diminuição de atitudes discriminatórias em sala de aula. De modo geral, concluo que promover essa reelaboração possibilita estimular uma atitude assertiva por parte das crianças negras, que as coloque efetivamente como sujeitos de sua história e garanta a elas as condições para uma participação ativa e livre de estereótipos no contexto escolar. A Lei nº 10.639/03, vista por esse ângulo, instiga educadoras(es) a contribuírem no combate ao racismo e na peleja pela igualdade racial no Brasil, assim como garante às crianças negras o seu direito humano à educação na perspectiva mais ampla e profunda do termo. REFERÊNCIAS BARTH, F. (1998), Grupos Étnicos e suas Fronteiras, In Teorias da Etnicidade. Tradução Elcio Fernandes. São Paulo: UNESP. 17 CABECINHAS, R. (2004), Representações sociais, relações intergrupais e cognição social. Paidéia, 14(28), 125-137. CARNEIRO, S. (2002-A). Focalização X Universalização. In Revista Negra Afirma On-Line, www.afirma.inf.br, capturado em abr/2003. ________________.(2002-B). A Dor da Cor. In Revista Negra Afirma On-Line, www.afirma.inf.br, capturado em abr/2003. _________________.(2002-C). Ideologia Tortuosa. In Revista Caros Amigos. São Paulo: Casa Amarela. DELL PRETTE, A. & DEL PRETTE, Z. (2003), Assertividade, sistema de crenças e identidade social. In Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 9, n. 13, p. 125-136. DESCHAMPS, J. & MOLINER, P. (2009), A Identidade em Psicologia Social. Tradução de Lúcia M. Endlich Orth. Petrópolis, RJ: Vozes. DUARTE, R. O. (2003), Manual Sobre Discriminação Racial – A Perspectiva dos Direitos Humanos. Recife: Djumbay. _________________. (2004), Direito e Negritude: a contribuição do Direito da Construção/Descontrução da Identidade Negra. Monografia do Curso de Especialização em Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba. _________________. (2006), “Nos Alicerces do Mundo”: o Dilema e a Dialética na Afirmação da Identidade Negra. Dissertação de Mestrado em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. FERNANDES, S. C. S. & ALMEIDA, S. S. M. & NASCIMENTO, Conceição B. S. (2008), Análise do preconceito racial em uma amostra de crianças brancas de 5 a 8 anos de idade. PSICO, v. 39, 441-447. 18 FRANÇA, D. X. & MONTEIRO, M. B. (2004). A expressão das formas indirectas de racismo na infância. In Análise Psicológica, 4 (XXII): 705-720. GOHN, M. da G. (2001), História dos Movimentos e Lutas Sociais – A Construção da Cidadania dos Brasileiros. São Paulo: Edições Loyola. GONZALEZ, L. (1979), Cultura, Etnicidade e Trabalho: Efeitos Lingüísticos e Políticos da Exploração da Mulher. Capturado em julho de 2006, In Memória Lélia Gonzales, www.leliagonzalez.org.br. ________________. (1985), Mulher Negra. Capturado em julho de 2006, In Memória Lélia Gonzalez. GORENDER, J. (2000), Brasil em Preto & Branco. São Paulo: SENAC. Grupo de Pesquisas em Comportamento Público. Projeto Racismo e Auto-Estima, Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes/Depto. de Psicologia. LOPES, N. (1988), Bantos, Malês e Identidade Negra. Rio de Janeiro: Forense Universitária. MOURA, Clóvis (1983). Brasil: Raízes do Protesto Negro. São Paulo: Global. ______________ (1994). Dialética Radical do Brasil Negro. São Paulo: Anita Ltda. ______________ (2003). Na Encruzilhada dos Orixás – Problemas e Dilemas do Negro Brasileiro. Maceió: Universidade Federal de Alagoas. MOURA, M. de J. (2001). Responsabilidade Civil por Danos Morais nos Atos de Racismo in Dano Moral nos Atos de Racismo. Olinda: Djumbay. MUNANGA, K. (1999). Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil – Identidade Nacional versus Identidade Negra. Rio de Janeiro: Vozes. 19 NASCIMENTO, A. do (org). (1982), O Negro Revoltado. 2a. Edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. NASCIMENTO, E. L. (2003), O Sortilégio da Cor – Identidade, raça e gênero no Brasil. São Paulo: Summus. OLIVEIRA, F. (2004), Ser negro no Brasil: alcances e limites. (2004), Estud. av., 2004, vol.18, no.50, p.57-60. ISSN 0103-4014. OLIVEIRA, T. A. C. & CAMINO, L. (2005), Processos de Exclusão Racial e AutoEstima. Grupo de Pesquisa em Comportamento Político, UFPB – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. PENNA, A. G. (1999), Introdução à Psicologia Cognitiva, 2ª Ed. Ampl. – São Paulo: EPU. PEREIRA, C. & TORRES, A. R. R. & ALMEIDA, S. T. (2003), Um estudo do preconceito na perspectiva das representações sociais: análise da influência de um discurso justificador da discriminação no preconceito racial. Psicologia: Reflexão e Crítica, 16(1), 95-107. POLIAKOV, L. (1974), O Mito Ariano – Ensaio sobre as fontes do racismo e dos nacionalismos, São Paulo: Perspectiva. ROAZZI, A. (1995), Categorização, formação de conceitos e processos de construção de mundo: procedimento de classificações múltimas para o estudo de sistemas conceituais e sua forma de análise através de métodos multidimensionais. Cadernos de Psicologia, 1. ROAZZI, A. & FEDERICCI, F. & WILSON, M. (2001), A estrutura primitiva da representação social do medo. Psicologia: Reflexão e Política. 14 (1), 57-72. 20 SANTOS, B. de S. (org). (2003), Reconhecer para Libertar: Os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. SANTOS, H. (2003), A Busca de Um Caminho Para o Brasil. A Trilha do Círculo Vicioso. São Paulo: SENAC. SILVA JR. H. (1998), Crônica da culpa anunciada, in A cor do medo: homicídios e relações raciais no Brasil. Dijaci David de...[et al.] organizadores. Brasília: UnB; Goiânia: UFG. SILVA, N. F. I. (2001), Consciência Negra em Cartaz. Brasília: UnB. SODRÉ, M. (1999), Claros e Escuros – Identidade, Povo e Mídia no Brasil. Petrópolis/RJ: Vozes. SOUZA, N. S. (1983), Tornar-se Negro – ou as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascenção social. Rio de Janeiro: Graal. TAJFEL, H. (1978), Differentiation between social groups: Studies in the social psychology of intergroup behavior. London: Academic Press. __________. (1981), Human Groups and Social Categories: studies in Social Psychology. Cambridge: Cambridge University Press. YOUNG, Í. M. (2000), La justicia y la política de la diferencia. Trad. de Silvina Álvarez. Madrid: Cátedra/Universitat de Valência/Instituto de la Mujer.
Download