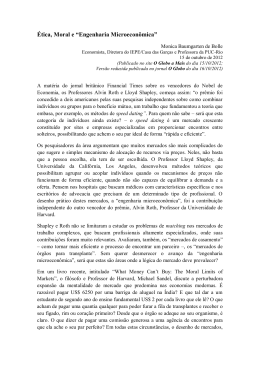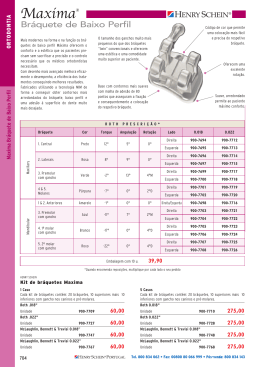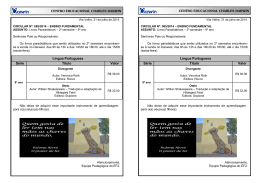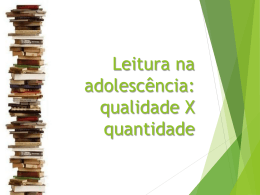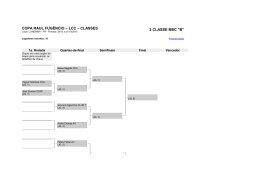“Escrever esgota-nos, atira-nos abaixo” Aos 78 anos, continua a ser um dos mais importantes escritores vivos; o seu penúltimo livro, “A Humilhação”, chega agora às livrarias. O Ípsilon bateu-lhe à porta em Manhattan, e passou uma hora dentro deste apartamento com vista para a cabeça de Philip Roth, com vista para mais de meio século de história americana. Tiago Bartolomeu Costa, em Nova Iorque Philip Roth (Newark, 1933) gosta de se confundir com a sua obra. Ao longo de mais de 50 anos de escrita, e após 31 livros publicados, o mais respeitado autor norte-americano, eterno candidado ao Nobel da Literatura, tem na escrita a sua única razão de existir. Não gosto do tempo de espera entre um livro e outro. Escrevo porque é essa a minha vida. “A Humilhação”, o seu 30.º livro, publicado em 2009, saiu por estes dias para as livrarias portuguesas com edição da Dom Quixote. Depois desse já publicou outro, “Nemesis”, que terá tradução portuguesa em 2012, e, dir-nos-á no fim da conversa, ainda não sabe sobre o que será o próximo mas anda a escrevê-lo há quatro meses. O Roth que nos recebe no seu apartamento é um homem envelhecido, mas de espírito atento. Mexe-se repetidamente na cadeira, diz-nos que já foi nadar, que o faz todos os dias, e que precisa de andar. A energia que ganha, garante, dá-lhe forças começar a escrever às oito da manhã. Parar para nos receber foi uma excepção. 6 • Sexta-feira 15 Abril 2011 • Ípsilon O seu apartamento no Upper West Side, em Nova Iorque, perto do Museu Americano da História Natural, é luminoso mas está praticamente vazio. Vive aqui seis meses e passa os outros seis no Connecticut, onde tem uma casa de campo. Recebe-nos descalço, como quem passou o dia ocupado com outras coisas, suficientemente à vontade para brincar com o seu estatuto: é um dos mais importantes escritores vivos, e o único a ter, em vida, a sua bibliografia completa editada em versão definitiva pela Library of América. É o mais importante reconhecimento para um autor que sempre disse haver uma contradição entre a liberdade da escrita e as distinções dadas pelos governos. Roth prefere distanciar-se disso tudo. Até de si mesmo: “A fama é uma distracção sem valor”. Depois de um corredor pequeno que separa a entrada da sala, e onde se vêem caricaturas suas feitas ao longo dos anos, a casa divide-se em três zonas. Divisões pequenas. À esquerda um pequeno escritório, à direita o quarto, com uma cama que ocupa toda a divisão, separada da sala por uma porta de correr. Na sala, como se estivesse ain- da na indefinição de quem acabou de chegar ou se prepara para partir, há duas áreas. Junto ao quarto, um sofá e uma cadeira reclinável ladeiam uma mesa baixa onde estão duas versões de “O Terceiro Homem”, filme de Carol Reed, e livros de Primo Levi e Edna O’Brien. Tem um plasma e uma aparelhagem grande que competem com a vista sobre a cidade (foi daqui que feita a fotografia destas páginas). Mas o essencial está do outro lado desta sala de poucas e vazias paredes (pendurado, só um antigo mapa de Manhattan, amarelecido pelo tempo). Uma complexa mesa de trabalho, com um computador de ecrã elevado, onde Roth trabalha de pé. Não há livros seus, nem muitos mais livros na sala – ao lado da cadeira onde se senta, está apenas um enorme álbum do pintor canadiano Philip Guston, marcado com pedaços de folhas –, e a mesa está limpa. No dia em que o entrevistámos, Roth tinha em casa um mestre de obras que lhe estava a resolver um problema com os cortinados da casa de banho. “Há 20 anos que aqui venho. É um bom homem”, diz-nos. “Depois diga-me o que é que aconteceu”, NANCY CRAMPTON A minha avó dizia que o que tinha acontecido antes da chegada aos EUA pertencia ao passado e, por isso, vivi sem ter de me relacionar com a pesada herança judaica. Ser judeu era, para mim, mais uma forma de ser América Sobre a condição judaica Philip Roth junto à grande janela do seu apartamento do Upper West Side, em Nova Iorque, onde passa metade do ano: foi aqui que o encontrámos numa tarde do início deste mês Ípsilon • Sexta-feira 15 Abril 2011 • 7 ORJAN F. ELLINGVAG/ DAGBLADET/ CORBIS atira-lhe Roth antes de ele se ir embora. “Anda a dar-me conselhos sobre esta mulher com quem estou a sair”, explica o mestre de obras. “E segue-os?”, perguntamos. “Ele é um homem sensato”, responde-nos. Philip Roth conselheiro sentimental: não é um papel que o vejamos a interpretar. “Dá-lhe conselhos sobre mulheres?”, perguntamos ao escritor. “Ele é um bom rapaz, mas esta mulher é mais velha”, responde. É a única referência, ao longo de toda a conversa, às mulheres, pedra de toque da recepção à sua obra, vista como misógina, um universo onde as mulheres são figuras secundárias e dispensáveis. “Disparates. Não trato melhor os homens.” Ao longo dos anos, este e outros ataques colocaram-no numa posição de permanente defesa. Philip Roth foi, desde cedo, um dos mais polémicos autores da segunda metade do século XX. De origem judaica, dedicou-se a desmontar os arquétipos: da religião, das relações entre homens e mulheres, do sonho americano, da sexualidade, da ficção. Os seus primeiros contos, e livros como “Goodbye Columbus” ou “O Complexo de Portnoy”, em que desestruturava o frágil edifício da família judia, estabeleceram-no desde logo como iconoclasta. Hoje recebo prémios da comunidade judaica, mas quando comecei a escrever houve ataques sérios à minha pessoa. Quem os fazia não conseguia decidir-se se o que eu dizia era ou não baseado em experiências que tinha tido. Era a única preocupação que tinham. Foram ataques muito sérios e vis de pessoas que não sabiam como é que eu vivia, qual era a minha realidade e muito menos o que era uma obra de ficção. Lançaram toda a artilharia pesada em cima de mim. Acusaram-me de ser anti-semita. Eu não tinha muito mais de 20 anos. Foi muito duro e desagradável. É muito desagradável. Quando lhe perguntamos se os ataques tinham alguma coisa a ver com o facto de não pertencer à elite judia norte-americana, conta que só escreveu sobre o que conhecia. Mas “Goodbye Columbus”, o seu primeiro livro, escrito em 1959, é uma desmontagem dos arquétipos das famílias judias de classes média-alta e alta, resumidos numa rapariga ideal, Brenda Patimkin, que se revela uma desilusão para o idealista Neil Klugman, de origens mais humildes. Não fui atacado por causa do meu contexto social ou do lugar de onde vinha, mas por causa do meu trabalho. Sim, os meus pais não eram ricos. Aliás, nunca conheci nenhum judeu rico quando era novo. Não era religioso, nunca fui. A minha avó costumava dizer que o que se tinha passado antes da chegada deles aos Estados Unidos pertencia ao passado e, por isso, vivi sem ter de me relacionar com a pesada herança judaica e a permanente memória dessa história. À minha volta nunca vi qualquer sinal da tradição judaica, nem cabelos caídos em cachos, nem homens de barba, nem vestes pre8 • Sexta-feira 15 Abril 2011 • Ípsilon tas. Ser judeu era, para mim, mais uma forma de ser América. Sabe, eu era demasiado pequeno quando a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Tinha oito anos quando os Estados Unidos entraram na guerra contra o Japão, em 1941, mas sei que os judeus americanos passaram um mau bocado durante a guerra. O meu irmão, mais velho cinco anos, quando foi para a marinha, em 1946, falava de algum anti-semitismo, mas eu era demasiado pequeno para me lembrar. Não duvido que existisse. Há uma história, aliás, com o filho de uma família amiga dos meus pais, que, mesmo depois de a guerra ter acabado, foi atirado borda fora do barco onde todos regressavam: um dos tipos começou a implicar com ele por ser judeu. Houve uma grande pressão anti-semita a partir da década de 30, que teve proporções à escala mundial, e a América era parte disso. Durante a guerra, a segregação era muito forte. E foram precisos 50 anos para as mudanças serem ser radicais. Mas foi assim que a América foi construída. É este o contexto de “A Conspiração contra a América”, livro em que Roth homenageia os seus pais e as escolhas que eles fizeram, reinventando a história da América. É um inteligente fresco histórico que equaciona a hipótese de o Presidente Franklin D. Roosevelt ter perdido a reeleição para Charles A. Lindbergh, o aviador que atravessou o Atlântico e que era amigo pessoal de Hitler. Roth leu num livro que o Partido Republicano tinha considerado Lindbergh, nos anos 40, para candidato presidencial contra o democrata Roosevelt, e escreveu, à margem do que estava a ler, “e se?”. Em “A Conspiração contra a América”, Herman Roth, personagem inspirada no pai do escritor, é levado a considerar a deslocalização do seu trabalho como vendedor de seguros para o interior dos EUA, coagido pelos simpatizantes nazis que, entretanto, tinham ocupado os principais cargos políticos do país, dada a aliança dos EUA com a Alemanha de Hitler. O discurso final desse pai, que se vê cada vez mais isolado, fala do significado da história feita em cada casa. Ele fala da importância de cada uma das nossas escolhas e de como, por mais pequenas que as nossas vidas sejam, têm uma importância histórica semelhante à da História que fica nos livros. Nesse livro Roth conta o que se teria passado se a História tivesse sido diferente. E fá-lo sob a perspectiva de um miúdo, com o seu nome. O que queria contar não podia ser contado com a nostalgia do passado. Tinha de ser um miúdo a falar, com tudo o que isso implica. Eu estava na idade certa para ser um pequeno patriota. Na escola ia todas as semanas para um auditório cantar canções para os serviços militares: a canção para a marinha, a canção para o exército, a canção para a força aérea... Participava em missões de angariação de fundos para as tropas e para o que chamavam Aos 78 anos, Roth, já não faz questão de sair à rua para se manifestar: “Fi-lo nos anos do Vietname, mas prefiro escrever a marchar. Mas marcho. Se for preciso, marcho” de esforço da guerra, com recolhas de latas, por exemplo. Tinha missões. Essencialmente, fiz o que me era pedido quando era miúdo, até deixarem de mo pedir. Nesse sentido, nunca fui rebelde. O que as pessoas escreveram, dizendo que eu comecei a transgredir, é uma invenção. E um ataque sério, vil e pessoal. Em 1974, Roth defendia-se numa carta publicada em “Reading Myself and the others”: “Ao longo dos anos, quaisquer actos sérios de rebeldia nos quais me possa ter envolvido como romancista foram certamente mais direccionados aos limites da minha própria imaginação e ao modo como me exprimo do que aos poderes que ambicionassem qualquer espécie de controlo no mundo”. Hoje diz, ao falar da sua infância, que veio de “uma classe média-baixa que conseguiu, com os anos, tornar-se de classe média”. A minha escola, onde eram todos judeus, produziu muitos miúdos espertos que foram para a universidade. Fomos a primeira geração a consegui-lo. O meu pai nem o liceu fez. Era filho de imigrantes, nasceu em Nova Jérsia. No tempo dele, dois em cada três alunos nunca passavam além do oitavo ano. Ele trabalhou numa fábrica e, já mais velho, começou a fazer alguns biscates como electricista, até se tornar agente de seguros para a Metropolitan Life Insurance, ascendendo ao escalão máximo que era, na altura, permitido a um judeu. Os judeus são presença fundamental na sua obra. O modo como lidam com o passado, a noção de territorialização dos judeus norte-americanos de segunda geração, os conflitos com a tradição e o debate sobre o lugar de Deus são a espinha dorsal da obra de Roth, mesmo que sempre tenha dito “não ter no corpo um único osso religioso.” É a partir da relação de recusa com um corpo vitimizado que Roth estabelece o perfil do novo homem em construção numa América que se diz igualitária. Ao longo da sua obra, desdobrou-se em diversos alter-egos que serviram para desenvolver diferentes linhas de pesquisa. Com Nathan Zuckerman, aspirante a escritor, reflectiu, em nove livros, sobre o processo de emancipação e construção de um autor na América do século XX. Com David Kepesh, professor universitário, parodiou a literatura (“The Breast”, “The Professor of Desire”, “O Animal Moribundo”) e cruzou-a com Nem no tempo do [George W. Bush] eu pensei que a liberdade estivesse em causa (...). A América é a mais livre sociedade para escritores que se possa imaginar. Não me imaginava a viver noutro sítio Sobre a América vejo como uma vantagem, porque não se cai na auto-censura. Roth cita de memória uma conferência de Georges Steiner nos anos 80, em que o crítico literário francês afirmou que “a literatura morreu e só pode existir em países onde os autores sofram algum tipo de pressão ou repressão”, e indigna-se: “Como é que se pode dizer uma coisa destas? Na [antiga] Checoslováquia, vi pessoas a serem realmente atacadas, perseguidas e obrigadas a fazer outro tipo de trabalhos porque estavam impedidas de escrever. Pode dizer-se que tinham algum prazer nisso em nome da causa da literatura? Eu fiz muitos amigos e escrevi sobre isso [“The Prague Orgy”, pequeno livro em que Nathan Zuckerman se envolve numa enredada história pessoal durante um congresso de escritores perseguidos], e envolvi-me em muitas actividades para os ajudar. Não faz qualquer sentido para mim admitir que aqueles que são perseguidos, isolados e difamados estejam a ajudar a literatura ou a melhorar a escrita. E o contrário também deve ser verdade, imagino. Não é função da literatura ser política, nem a missão do escritor ser político. Que podemos realmente fazer? Nada.” Hoje diz que não se envolve em manifestações nem acredita em grandes causas. territórios reais, eminentemente eróticos, contaminados por essa mesma literatura (Milan Kundera descreveuo como “o grande historiador do erotismo americano, o poeta da estranha solidão do homem abandonado ao seu corpo”). As suas intervenções biográficas, sejam elas reais (“Património”, “The Facts”), ficcionais (“My Life as a Man”, “Deception”), ou simples recolhas de textos e entrevistas (“Reading Myself and others”, “Shop Talk”), revelam um homem que buscou a realidade através da ficção. As personagens são as suas marionetas. Ele é o ventríloquo. Não por acaso, em “O Teatro de Sabbath”, um antigo marionetista judeu protagoniza uma história que explora, de forma sarcástica e cruel, a ficcionalização do mito judeu numa Nova Iorque também ela a braços com uma História inventada, em parte, a partir da ideologia judaica. Ficcionalização e mitologia são aliás, ao longo dos seus livros, fontes primordiais de inspiração. E, pelo caminho, é a própria história da América, a pequena e a grande, que vai contando. Roth não recusa pertencer à geração que teve de responder à ideia de construção do sonho americano. Os autores americanos são regionalistas. Eu próprio, ao situar os meus livros em Newark, o sou. Como é que se pode falar da ideia de América como um todo? A História é uma coisa fugaz. Eu não conhecia outra realidade, era feliz e, por isso, talvez não fosse muito consciente das consequências do que escrevia. E ainda bem. Talvez existam algumas pessoas que acreditem em consequências, eu não. Nunca foi muito importante pensar nisso. Nunca foi importante pensar no que o leitor quer ler. Isso é da sua responsabilidade. Quando escreveu “O Complexo de Portnoy”, fantasia sexual em que deitava por terra os mitos judeus acerca do corpo, Roth foi ao mesmo tempo incensado pela critica e transformado num bode expiatório do mal-estar social em relação aos judeus. As confusões entre o autor e o protagonista marcaram, indelevelmente, o seu percurso. Numa carta que recebeu após a publicação de “O Complexo de Portnoy”, uma leitora insurgiase contra o modo como Roth tratava a sua própria família. Num texto de 1974, o autor cita esta carta para exemplificar aquilo que hoje apelida de “contos de fadas”: “Das centenas de cartas que recebi após a publicação do livro, houve uma de uma mu- lher de East Orange, Nova Jérsia, que afirmava ter conhecido a minha irmã quando eram colegas de carteira no liceu de Weequahic, em Newark, onde as crianças da família Portnoy iam à escola. Ela lembrava-me de como a minha irmã era uma menina doce, adorável e educada, e tinha ficado chocada com o modo descuidado como eu tinha escrito sobre a sua vida íntima, especialmente com as piadas sobre a sua infeliz tendência para ganhar peso. Ora, uma vez que, e ao contrario de Alexander Portnoy, eu nunca tive nenhuma irmã, assumo que a senhora se esteja a referir a qualquer outra rapariga judia com um problema de peso.” O exemplo prova apenas, segundo Roth, que as pessoas dizem o que for preciso só para dizerem alguma coisa. Posso dizer que fiquei impressionado e surpreendido pelas consequências que, é preciso dizer, são banais quando comparadas com consequências reais pelas quais passam outros escritores, como os que conheci nos regimes comunistas da antiga Europa de Leste. Quando se escreve, está-se de tal forma envolvido na escrita, a fazê-la, a criála, que não se pensa que alguém vá ler e pensar o que quer que seja... E isso eu Não gosto de me manifestar. Fi-lo nos anos do Vietname, mas prefiro escrever sobre isso a marchar. Mas marcho. Se for preciso, marcho. A única causa pela qual a literatura deve lutar é a própria causa da literatura. E essa é uma batalha perdida, parece. Daqui a uns anos duvido que a literatura continue a ser algo importante. Ler livros será um gesto, e uma escolha de uma minoria. A literatura não pode competir com nada. Nem com o cinema, nem com a televisão, e muito menos com a Internet. Precisa de tempo. E ou o leitor se compromete com o que está a ler, da mesma forma que o escritor se compromete com o livro, ou não acredito que se possa sequer ler. Ler é um exercício de atenção. Tal como escrever. Pelo envolvimento que exige, escrever não deixa espaço para mais nada. Eu sou, resumidamente, alguém que passa o dia a escrever. Quando falámos, Barack Obama tinha anunciado, dias antes, a sua recandidatura, mas aguardava-se a aprovação do orçamento de Estado para 2011. O impasse nas negociações entre democratas e republicanos tinha levado à hipótese de fecho do Governo federal, entretanto resolvido através de um acordo que prevê cortes históricos nas contribuições do Estado para reformas em diversas áreas. podia. Tornou-se num mesmo desafio livro após livro. E mesmo que pudesse fazer alguma coisa, o que seria? Há muitas vozes na sociedade, do lado certo, que podem falar. Roth, apoiante de Obama desde a primeira hora, faz uma avaliação muito positiva do seu primeiro mandato. E depois acrescenta: qual é a alternativa? Os outros são horríveis, horríveis. Eram-no há cem anos e são-no agora. Faltam-lhes estrutura, entendimento e compaixão humana. Mas digo isto e nem no tempo do [George W.] Bush eu pensei que a liberdade estivesse em causa. Ninguém se meteu no meu caminho, nem no caminho de alguém que eu conheça. Ninguém se censurou. Não acho que exista um autor na América que censure uma palavra do que escreve. Talvez existam autores comerciais que cortem no que escrevem, para servir vários públicos, mas é a mais livre sociedade para escritores que se pode imaginar. Não me imaginava a viver noutro sitio. A América é, de facto, o território que Roth tem vindo a desenhar ao longo dos anos. Quando regressou de Inglaterra, em meados de década de 80, depois de lá viver 12 anos por causa do casamento com a actriz Claire Bloom [que escreveu uma biografia, “Leaving the doll’s house”, onde disseca essa casamento, tema sobre o qual Roth jamais fala em público, dada a violência a que ambos foram sujeitos], estava sedento pela América. Escreveu três livros, a sua trilogia americana (todos editados em português: “Pastoral Americana”, “Casei com um Comunista” e “A Mancha Humana”) que marcaram o regresso a Nathan Zuckerman, figura central na sua obra e seu duplo. “Interessavame usar a sua inteligência, a sua historia, e especialmente a sua cabeça, os seus olhos, a sua voz para falar do que queria. Não os seus genitais, não a sua vida, só isto, a cabeça, a mente”. Zuckerman é aqui o narrador, e a sua história cruza-se com as das outras personagens. Em “Pastoral Americana”, observa a falência do sonho americano através de uma família (ele um famoso jogador de beisebol na escola, ela uma misse da cidade) cuja filha é acusada de ter participado em manifestações violentas na segunda metade da década de 60. Em “Casei com um Comunista”, usa as suas memorias de infância para relatar o O que se vive agora não é um desastre, são diatribes políticas. Não é da minha responsabilidade o que se passa. Não estou no negócio da política, estou no negócio dos livros. Da minha geração, dos nascidos nos anos 30 e 40, talvez um por cento sejam escritores. A missão era escrever o melhor que Ípsilon • Sexta-feira 15 Abril 2011 • 9 que aconteceu a um famoso actor de folhetins radiofónicos que se casa com uma estrela em ascensão quando esta o denuncia por conspiração comunista. E em “A Mancha Humana”, é o “affair” Bill Clinton-Monica Lewinsky que serve de detonador para uma reflexão sobre uma América a braços com a denúncia, a suspeita e a acusação fácil. Zuckerman, tal como Roth, vai de aspirante a escritor (“The Ghost Writer”) a autor acossado pelo sucesso de um livro (“Zuckerman Unbound”) e pelos problemas que isso traz à sua vida pessoal (“The Anatomy Lesson”) e a activista político (“The Prague Orgy”). Numa entrevista publicada em 1985, explica: “Ainda que para alguns leitores possa ser desconcertante desembaraçarem a minha vida da de Zuckerman, a dele é uma biografia imaginária”. A verdade é que, por duas vezes, Roth cruzou a fronteira da realidade, transformando-a em ficção. Em “Património”, apresentado como “uma História verdadeira”, contava a doença do pai e o modo como se projectava nela. Escrito de forma crua, demoramos a admitir que não seja ficcionado. Mas é a mais biográfica das suas obras, mais até do que “The Facts”, onde se concentra nos primeiros anos da sua vida de escritor a braços com o sucesso e o escândalo. Roth acredita que “O Fantasma Sai de Cena” será o fim de Nathan Zuckerman. Como os primeiros cinco livros deste ciclo não se encontram editados em português, escapa-nos o essencial desta vida ficcionada e, sobretudo, o modo como tudo é lógico e sequencial. Até para o autor. Neste último volume, Zuckerman é um velho escritor com problemas na próstata, forçado a defender a distinção entre ficção e realidade perante as intenções de um jovem idealista que insiste em biografar o escritor que teve como modelo, no início da sua carreira. Pelo meio, Zuckerman encontra a sua fantasia amorosa, Amy Bellete, a rapariga que no primeiro livro ele achou ser Anne Frank, e que se tornaria o seu primeiro e sério amor. É como se Roth abraçasse uma causa que nunca foi a dele, a da redenção judaica, através de uma revisão do percurso da sua personagem (e da sua própria evolução). Neste livro, Amy é, também ela, velha, e morrerá com um tumor cerebral. Às acusações de que era mais uma forma de Roth se vingar das mulheres e, no caso, da única que não cedeu ao charme de Zuckerman, Roth diz agora: Não foi o Zuckerman que lhe deu o tumor, fui eu. Tive uma amiga que, por causa de um tumor cerebral, teve alguns problemas mentais. Ocorreume que era assim que a Amy Bellete devia morrer, destruída e doente, e não como a menina bonita que foi. O que dizem não é se não uma interpretação fácil das coisas, feita por quem não tem nada para dizer. Chegado ao fim desse ciclo, Philip Roth tinha já iniciado um outro, com 10 • Sexta-feira 15 Abril 2011 • Ípsilon Sobre o suicídio Philip Roth em 1960, com os outros dois premiados do National Book Award (Robert Lowell e Richard Ellmann, da esquerda para a direita): ao vencer com “Goodbye, Columbus”, Roth, então com apenas 27 anos, tornou-se o mais jovem vencedor de sempre do prémio Esgota-nos, atira-nos abaixo. Esse compromisso, que Roth não rejeita comparar com a entrega religiosa, é feito frase a frase. Gosto de fazer, pelo menos, uma página por dia. Quando começo nunca tenho nada. O livro educa-me. E à medida que vou entrando, vou conhecendo melhor o próprio livro; o que me é sugerido, é-o à medida que o vou escrevendo. A frase é a unidade de progresso. Podia ser pior e ser uma só letra. Tudo o que tento fazer é ligar uma frase à outra e tentar que produzam um sentido. Procuro fazer uma frase o melhor que consigo. E perceber isso é um trabalho tão complexo que não pode ser distraído por nada. Estou constantemente a regressar a essas frases. Revejo parágrafos uma e outra vez. E quando termino nunca está pronto. Fecho a página para esse esboço. E depois faço outro esboço, E posso ir de quatro a dez esboços por livro. Os outros vão para um arquivo. Mas nada lhes acontece. “Todo-o-mundo”, pequena novela sobre o envelhecimento que começava no funeral de um homem sem nome. “Não há qualquer nostalgia sobre o envelhecimento. As pessoas preparam-se para a vida de certa forma, e têm certas expectativas acerca das dificuldades que vêm com a vida. Depois ficam cegas pelo presente, a história surge-lhes das formas mais diversas, para as quais não há qualquer preparação.” Antes de “Todo-o-Mundo”, já “Património” e “O Fantasma sai de cena” tinham tido o envelhecimento como tema. E, em “The Anatomy Lesson”, Roth projecta pela primeira vez no seu protagonista o mesmo tipo de problemas físicos que o vão assaltar: um grave problema de costas que o leva, ainda hoje, a ter de escrever de pé. “Fui chamado para me alistar em 1955, apesar de a Guerra da Coreia ter acabado em 1953, mas diagnosticaram-me graves problemas nas costas e fui dispensado, depois de meses no hospital. Andei semanas a limpar o chão junto das camas dos mais desgraçados, sem conseguir olhar-lhes no rosto, mas a saber que me tinham posto ali com uma razão”, conta em “My Life as a Man”, romance inspirado em factos reais, como o primeiro casamento falhado e os efeitos disso na sua vida. Os delírios pelos quais passou no hospital voltarão a surgir em “Indignação”. Os auto-reenvios são uma constante da sua obra, que ao longo dos anos Roth foi arrumando em blocos (“Livros de Zuckerman”, “Livros de Kepesh”, “Livros de Roth”, “Miscelânia”, “Outros livros”). Agora que escreveu “Nemesis”, criou mais um bloco em que juntou “Todo-o-mundo”, “Indignação”, “A Humilhação”: “Nemeses: short novels”. Claro que de vez em quando há semelhanças, mas espero que não muitas vezes. E se houver, pior para mim. Quando escrevo não penso nos outros livros. Isso é uma ficção inventada por quem lê, como se a vida fosse linear e tivesse um só sentido. Tento não ler o que escrevi. O problema é que não suporto os livros depois de escritos. Esqueço-me deles até certo ponto. Às vezes tenho que lá ir, por causa de conferências, mas apenas para poder responder adequadamente. O que me interessa é sempre o próximo livro. Não gosto do vazio entre um livro e o outro e nunca começo um livro sem fazer outro. Há uns anos tentei fazê-lo, mas nunca consegui. Em “A Humilhação”, Roth parece colocar Simon Axler, um actor que se sente incapaz de continuar a representar, à beira do precipício e do bloqueio. Queria fazer um livro em que uma personagem cometesse suicídio. A tarefa era convencer o leitor a acreditar que o suicídio era verdade. E que, já agora, era merecido. Era essa a minha tarefa enquanto escritor. Inventei-o para chegar lá. Foi assim que foi traduzido? Não reflecte exactamente o sentido do livro. Ele não se sente humilhado. O sentimento é mais de modéstia ou humildade. Ele é Simon Axler, actor de grandes papéis, como Prospero, o protagonista de “A Tempestade”, de Shakespeare, que se sente incapaz de voltar a representar e que, após um desastre amoroso, decide suicidar-se. Roth diz que pensou várias vezes no suicídio e nunca o fez porque prefere viver. Seria idiota. Mas tive alguns amigos que o fizeram. Todos os que cometem suicídio têm uma escolha, que é sair disso, mas não conseguem. E diz também que o mais estimulante na escrita do livro foi convencer o escritor a encontrar argumentos para justificar, desde o início, que no fim ele se vai suicidar. Era importante que essa decisão ocorresse não como consequência do abandono da rapariga, mas porque estava premeditado, tal como avisa Tchékhov: ‘se uma espingarda aparece no primeiro acto, ela deve ser usada’. E é a sua vida com a rapariga que espoleta o desejo de se matar, não é o facto de se achar incapaz de representar. Esse é o primeiro choque. Pensarse-ia, se fosse escrito de outra forma, que, por ele não conseguir ficar com a rapariga, não conseguiria representar e matar-se-ia. Mas agradava-me a ideia de ela chegar e fazer isso acontecer. E por causa da sua vida, deixa-o, ele fica desfeito e perdido, e mata-se. Como sempre. Esta desmontagem da sequencia narrativa é aliás característica em Roth. Em “The Counterlife”, o protagonsta, Zuckerman, morre num capítulo, para noutro aparecer vivo. Em “Operation Shylock”, Roth segue um duplo seu até Praga para se perder, como Kafka, nos meandros de uma complexa operação policial, deixando de saber se é o verdadeiro Roth. E em “The Facts”, coloca uma personagem, novamente Zuckerman, a comentar a vida do próprio autor. Esta recusa dos modelos clássicos de narrativa, respondendo ao desafio de criação de uma nova forma de compromisso com a sua missão de escritor, é feita à margem do que possa interessar aos leitores. Não sinto nenhuma dependência em relação aos meus leitores. Esse é o trabalho deles. E não leio o que é escrito sobre mim, tento evitar tudo isso. E pode-se evitar cerca de 80 por cento. Depois há sempre um amigo que envia alguma coisa por email, mas não estou interessado nisso. Todos têm opiniões e todos temos de viver com elas. Há sempre artilharia pesada que é lançada sobre ti. Mas os teus amigos sabem quem és, e tua família sabe quem és. Nada mais importa. Mas é claro que não é fácil. Não é para mim e não imagino que seja para alguém. Muitas profissões são um peso, esta é uma delas. É um peso que exige muito compromisso. Com os anos, centenas de caixotes acumulados por Roth têm seguido para a Biblioteca do Congresso, que está a arquivar o espólio do escritor (correspondência, esboços e textos diversos). Para Roth, é um alivio poder libertar-se de tudo isso. Eu não acho que aquilo tenha algum interesse, mas eles pagam-me para eu lhes dar aquela merda acumulada em caixotes. E eu envio. A cada cinco anos. Eles guardam, arquivam, põem em ordem, anotam. Acho que é uma grande perda de tempo, mas é uma belíssima instituição. Para Roth, publicado o livro, o trabalho está completo: “O livro que publico é o livro que eu gostava que fosse publicado, nada mais.” Roth diz que tem dois executores testamentários responsáveis pelo seu legado depois de morrer. Não me interessa o que vão fazer, o que está estipulado é que, sendo pessoas de confiança, saberão fazer o que for melhor. Eu sou muito céptico quanto ao valor destas coisas, mas cada autor tenta ter um arquivo. Devia queimar todas as minhas coisas? Não sei. Penso no Kafka, mas o [editor] Max Brody fez um trabalho importante e nobre, ao não queimar o trabalho de Kafka. Consegue imaginar um mundo sem Kafka? Um mundo sem Kafka, dizemoslhe, seria um mundo sem “The Breast”, nitidamente inspirado em “A Metamorfose”: um professor de literatura, David Kepesh, acorda um dia para perceber que se está a transformar num seio. Mas e um mundo sem Philip Roth? Eu posso imaginar o mundo sem Philip Roth, ia sair-se bem. Eu sou só um tipo que escreve livros. É mais do que suficiente. Ver crítica de livros na pág. 34 e segs. BETTMANN/ CORBIS Suicidar-me seria idiota. Mas tive alguns amigos que o fizeram. Todos os que cometem suicídio têm uma escolha, que é sair disso, mas não conseguem
Baixar