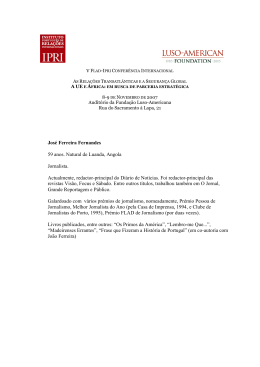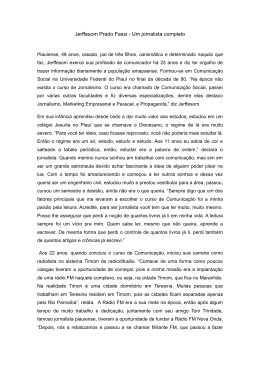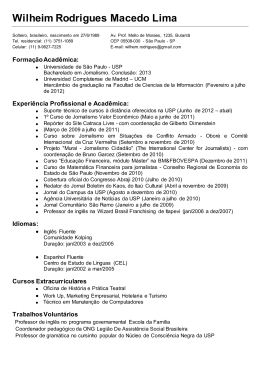José Carlos de Vasconcelos As novas tecnologias são óptimas, mas não mudam o essencial do jornalismo Adelino Gomes Jornalista sempre, e escritor. Também advogado e também dirigente partidário e deputado, durante alguns anos. Marcas cujo carácter polémico esta entrevista tenta aprofundar. José Carlos de Vasconcelos - 40 anos de intensa actividade editorial, mas também de gestão enquanto membro de uma sociedade de redactores, com uma passagem graciosa pela televisão, em pleno PREC. E uma militância sindical permanente. Palavras-chave: censura, subserviência, arrogância, Sindicato, Coimbra, Diário de Lisboa, incompatibilidades Póvoa, Começamos — quase inevitável, entre jornalistas com entrevistas no currículo — por uma lamentosa troca de impressões sobre as partidas que os gravadores pregam a quem neles confie demasiado. Partidas graves quando, para maior azar, o entrevistador tenha saído com fraca memória. Mas a conversa queda-se longamente logo no primeiro item do guião, que manda apurar alguns dados identitários. No caso, a pública ligação de José Carlos de Vasconcelos à Póvoa de Varzim. Lapidarmente definida por ele próprio no livro o mar a mar a Póvoa, que citará, volta não volta, ao correr da evocação das raízes: «Freamunde é a minha terra onde nasci e a Póvoa de Varzim a minha terra onde não nasci». A explicação mais simples é de ordem familiar: o pai, professor, ensinava no Liceu da Póvoa e era na Póvoa que vivia. Freamunde, onde aliás nasceu a família toda e onde mantém casa, aparece-lhe no bilhete de identidade porque o nascimento ocorreu em Setembro, data em que ainda se estava nas chamadas férias grandes. É na Póvoa que vive a infância e a adolescência. É na Póvoa que estuda, mesmo depois do 5º ano do liceu — nesse tempo o limite dos estudos secundários, como em tantas outras terras do país. É na Póvoa que permanece, após uma breve passagem pelo Porto, optando por fazer o 7º ano por si mesmo, só com explicações a Latim e a Alemão, e matriculandose no 1º ano de Direito, em Coimbra, como voluntário. É na Póvoa que se inicia na escrita em jornais e se envolve em actividades associativas — como fundador da secção cultural do Desportivo da Póvoa, clube pelo qual vem ser a quase campeão nacional de infantis e juniores de pingue-ponge e de que se torna vice-presidente aos 17 anos. É na Póvoa que desenvolve uma “aguda consciência social” e começa, com a candidatura presidencial de Humberto Delgado, na luta política. É à Póvoa que regressa sempre que pode. Numa ligação afectiva tão profunda e duradoura que, seis décadas mais tarde, quando dela o fazem cidadão honorário, há-de responder aos que assim o pretendem homenagear: «Não me podem transformar numa coisa que sou desde que nasci — poveiro». P — Como foi isso de aos 13 anos já andares a escrever na imprensa regional? R — Os primeiros «artiguinhos» saíram num pequeno jornal da Póvoa, chamado Ala Arriba. E salvo erro no Testemunho, o órgão da pré-JEC (Juventude Escolar Católica), nacional. Aos 17 comecei a escrever, aí de forma mais regular, no Comércio da Póvoa de Varzim, um jornal republicano, de oposição. Já centenário, estava agonizante. Lancei a ideia, em 2005, de o recuperar, o que, com o apoio da família então sua proprietária exclusiva, um pequeno grupo de amigos poveiros fizemos. Tive nele a minha primeira coluna jornalística - «Temas Poveiros». Um ano depois, passei a dirigir a página literária, que tinha uma certa tradição, pois fora dirigida, noutros tempos, pelo Armando de Castro e pelo Vítor Sá. Passei também a dirigir outra página literária, no Fangueiro, um jornal de Fão (Esposende), e, mais tarde, a publicar uns artigos no República e na Seara 'ova. Antes ainda publiquei no Diário do 'orte. O primeiro (era já a minha tendência brasileira…) sobre José Lins do Rego. A página literária era dirigida por um homem respeitável, Taborda de Vasconcelos, mas o jornal, soube-o depois, estava ligado ao Grémio dos Ourives e à União Nacional, era muito reaccionário. Retirei a colaboração que lá tinha quando das eleições de Humberto Delgado, por causa do que escreveram acerca da sua passagem pela Póvoa. Ainda me lembro do título: «Humberto Delgado recebido na Póvoa de Varzim com uma vibrante e espontânea manifestação a Salazar». Uma mentira descarada! Eu tinha estado lá com o meu pai e visto o que acontecera. O Delgado chamar-lhe-ia, depois, o seu baptismo de sangue. Ia pôr um ramo de flores no monumento aos Mortos da Grande Guerra, como costumava fazer, e chega uma camioneta com legionários e outros tipos «comprados» no Porto, parece que por cinco escudos, que ao tempo era dinheiro… Meia dúzia deles, misturados no meio da pequena multidão, lançaram frases provocatórias, tipo «morte ao ditador», a polícia interveio à cacetada, e então o grosso dos que tinham chegado começaram a lançar vivas a Salazar. Mandei uma carta a protestar e a dizer que não colaborava lá mais. Publiquei também uns poemas, ainda antes do primeiro livro, no suplemento literário do Jornal de 'otícias, dirigido pelo António Ramos de Almeida [autor de um dos primeiros ensaios neo-realistas]. Já em Coimbra, fui chefe de redacção da Via Latina. Era então um jornal semanal, órgão da Associação Académica, e que durante a importante luta associativa pela liberdade e contra a ditadura, em 1961/62, se tornou-se o «jornal dos estudantes portugueses». Mas o número em que fizemos a capa com a notícia de um Encontro Nacional de Estudantes, lá em Coimbra, que viria a ser proibido (pouco antes do Dia do Estudante de 62, em Lisboa), foi apreendido pela Pide, que acabou com o próprio jornal. Até ao 25 de Abril. E fui depois redactor, e a partir de certa altura uma espécie de chefe de redacção, da Vértice. Entramos para a redacção, no mesmo dia, eu, o Manel (Alegre), o Assis (Pacheco) e o Silva Marques. O Manel e o Assis foram chamados para a tropa, não tardou muito, o Silva Marques iria fazer o estágio da advocacia para Aveiro e seria preso. Em 1963 lançamos a colecção «Cancioneiro Vértice», onde sairiam os dois primeiros livros deles, Assis e Manel, e o meu segundo. P — Como é que se dá a tua passagem para o jornalismo profissional? R — Por uma via bastante rara, para a minha geração, e que mais uma vez tem a ver com a Póvoa. Na Primavera de 1965 naufragou uma traineira, a Padre Cruz, morrendo 15 pescadores. Por minha iniciativa, mandei para o Diário de Lisboa — um jornal liberal, com prestígio, onde não conhecia ninguém — uma reportagem, ou melhor, três ou quatro reportagens, até com fotografias... Para meu espanto, e minha alegria, publicaram-nas. E um dia, pouco depois, o dr. Mário Neves, que era o director-adjunto, pede-me para vir a Lisboa e convida-me para entrar para a redacção do jornal. Eu não queria outra coisa. Pus apenas como condições só vir após terminar o curso (faltavam poucos meses), e poder fazer o estágio da advocacia. Conhecia já o suficiente do jornalismo e da censura para saber que isso era conveniente, até para garantir a minha independência como jornalista. Além de ter a visão — muito idílica e romântica, confesso — de que jornalismo e advocacia eram duas formas distintas de lutar pelos mesmos valores: verdade, liberdade, justiça. P — Em que data entraste? R — No dia 1 de Abril de 1966. Já tendo iniciado o estágio, porque estive um tempo sem saber se vinha ou não, dado que entretanto o Salazar, através do Banco Nacional Ultramarino, tinha tentado dominar, comprando-o, o Diário de Lisboa. Os Pereira da Rosa venderam a sua parte, mas as famílias Ruella Ramos e Manso resistiram, o DL manteve-se como era e eu lá vim. Exactamente nesse dia havia o jantar anual do jornal, sendo da tradição «discursar» o mais novo elemento da redacção. Calhoume a mim, portanto. Vinha com aquela prática das grandes assembleias estudantis (ainda no ano anterior era o presidente da Assembleia Magna da Academia) e devo ter dito umas coisas estranhas — há uma fotografia com o dr. João Ruella Ramos, pai do António Pedro, a olhar para mim com ar de quem pergunta: «Donde é que veio este gajo?»… P — Entraste como estagiário? R — Não sei exactamente, mas julgo que entrei como repórter, a ganhar o que ganhavam as pessoas novas que já lá estavam — o Assis [Pacheco], o Joaquim Letria, o Pedro Rafael dos Santos —, ou não sei se um pouco mais do que algumas delas: três contos, que ao fim de três meses passaram para três contos e quinhentos. P — Grande experiência? R — Foi. Estive lá entre 1966 e finais de 1970, quando o DL começa a perder algum do seu carácter e a tornar-se popularucho. É a altura do [administrador, tido por algo megalómano] Lopes do Souto. Eu gostava muito do Diário de Lisboa. Em 1967 dá-se a ruptura, em grande parte exactamente por causa do Souto, com a saída dos directores e outros jornalistas mais velhos, que fazem A Capital. Mas eu não fui com o Mário Neves (que era quem dirigia de facto o jornal; o Norberto Lopes preocupava-se mais com a «Nota do Dia»), apesar do seu insistente convite. Tinha muito apreço por ele, mas achei que era altura do Lisboa dar o grande salto, de tentar fazer um jornalismo diferente, com a «malta» nova intervindo mais na concepção e dinamização criativa do jornal. Embora tivesse consciência do perigo que representava o factor Lopes do Souto. A princípio conseguimos fazer boa parte do que desejávamos, depois tudo foi piorando e muita dessa malta nova foi saindo, designadamente para o República. P — O que é que representava, em 1966, ser jornalista? R — Chegar à redacção do Diário de Lisboa dava uma certa noção de “importância”, pela influência que se percebe ou se julga que se vai ter. Também representava — para mim representou — responsabilidade. E sobretudo, no meu caso, a concretização de um sonho e de uma paixão. Costumo dizer à malta que está a começar que o jornalismo ou se faz com paixão ou não vale a pena. Ainda sobre a minha chegada ao DL, devo dizer que fui recebido com muito mimo. Hoje nem se percebe bem como isso era possível, mas houve uma notícia na primeira página género «concluiu a sua licenciatura em Direito com média de x valores o nosso colaborador», ou «futuro redactor», não recordo bem, fulano de tal. Depois também deram logo honras de primeira página, com muito destaque, à primeira série de reportagens, «Como viveremos no ano 2 000», que me tinha sido «marcada» por Mário Neves ainda antes de eu entrar. P — Releste-a, quando chegámos ao ano 2 000? R — Reli. E tenho ainda uma dívida com o Mário Neves. Ele disse-me logo na altura que, quando chegássemos ao século XXI, eu devia fazer uma reportagem sobre “Como eu vi o ano 2 000 em 1966». E não fiz. P — Por estares envergonhado por aquilo que escreveste? R — Não, não. É engraçado, muitas coisas que se previam — o homem modelar o rosto da terra, evitar os sismos e outras grandes catástrofes, curar o cancro, etc. — não se realizaram. Mas em alguns outros domínios, designadamente em matéria de computadores e comunicações, creio que se chegou a tudo ou até se ultrapassou. P — Como era o ambiente na redacção? R — Bom. Para o melhor e para o pior, havia um certo clima muito próprio. Mais interessante e animado, ou divertido (ou, pelo menos, à distância assim o vejo), do que é hoje na generalidade das redacções. E também, claro, mais artesanal. Mais «atrasado». Quando cheguei ao DL nem havia secretárias para todos: revezávamo-nos, trabalhando numa pequena mesa na sala, interior, dos telexes, e nas secretárias de quem estava de folga. A sala toda da redacção equivaleria à de uma secção de um jornal de hoje. Os directores não tinham gabinetes mas apenas as suas secretárias na redacção, de frente para nós, redactores. O Norberto Lopes falava pouco, em geral para pedir algum sinónimo ou para «proibir» algum galicismo: «Constatar não existe!…». Mal cheguei começaram logo, infelizmente, a pôr-me a ler e corrigir textos. Um dos primeiros, lembro-me bem, era sobre um teleférico que iriam construir na Serra da Estrela. Fiquei aborrecido, a pensar para comigo, «então vim para aqui para ler e corrigir textos sobre turismo!?…» Com grande espanto meu, a notícia foi suspensa pela Censura, e se bem me recordo acabou por ser cortada. Talvez por o teleférico ainda não estar autorizado ou por só se pretender valorizar o turismo no Algarve. A Censura interferia em tudo e cortava até as coisas mais inesperadas. Bom, mas comecei a fazer um pouco de tudo, nas várias secções, com excepção do Desporto. Como era formado em Direito, fiz a cobertura da discussão do novo Código Civil, em particular as sessões, a certa altura semanais, na Ordem dos Advogados. Foram p’raí 40 ou mais notícias/reportagens sobre o tema. Também me davam para «passar», como então se dizia, as notícias do Tribunal de Polícia, feitas por um daqueles velhos repórteres que tinham um certo, ou muito, faro para a notícia, mas que às vezes não sabiam escrever. P — Há uma grande diferença, no estilo da escrita, entre as duas gerações? R — Em geral, sim. Mesmo o considerado melhor jornalismo da velha escola do DL era em geral demasiado adjectivo e aliteratado, com várias e honrosas excepções, como exactamente o Norberto Lopes, que escrevia muito bem, e o Mário Neves nas suas famosas reportagens de Espanha, que tive o gosto de poder editar após o 25 de Abril nos «Cadernos O Jornal». Vou-te dar um exemplo. Quando o Paul McCartney veio ao Algarve, em 1966 ou 67, foi lá o Letria e ditou a reportagem por telefone. E foi o César dos Santos que, depois, «passou» o texto… a seu modo. Quando o Letria o leu no jornal, nem queria acreditar: era o McCartney a falar pela voz do César dos Santos. Ainda por cima como se tratava do seu - do César Algarve (ele tinha publicado até um grosso volume intitulado Algarve, Terra Morena, que deve ser dos livros do mundo com mais adjectivos por metro quadrado…), tivemos o «beatle» a dizer coisas tipo «poentes ruborescentes» ou «alma em êxtase». Quando o Letria voltou, o bom do César notou-lhe, satisfeito, que para valorizar o seu texto lhe tinha acrescentado uma «poeira literária»… P — Duas formas totalmente diferentes de abordar os factos… R – É. Mas voltando ao Tribunal de Polícia, sempre entendi que era um sítio privilegiado para a prática de bom jornalismo, para excelentes crónicas do quotidiano (era e continua a ser, como demonstra o Rui Cardoso Martins no Público[na rubrica Levante-se o réu, entretanto extinta]. Assim, quando se dão as saídas para A Capital e conseguimos fazer uma renovação do jornal, nomeadamente com novas secções, sugeri que fosse o Mário Castrim a fazer a cobertura quase diária do Tribunal de Polícia e que a rubrica se chamasse Aos costumes disse nada. E o Mário fê-lo de forma lapidar. Tenho pena de não se poder fazer um livro com as crónicas dele, tal qual as escreveu antes dos imensos cortes da censura. P — Sentias-te prestigiado também socialmente no jornal? Ser jornalista nesse tempo estava ao nível do lugar social que te dava seres advogado? R — Não se pode dizer que fosse, em geral, assim uma profissão tão prestigiada. Não quero empregar uma expressão muito forte, até porque existiam grandes, corajosos e respeitados jornalistas. Mas havia uma certa ideia, para a qual uma parte da classe contribuía, de que bastantes jornalista eram pessoas que davam serventia, que estavam ao serviço de… Foi também contra isso, exactamente, que lutámos, ao nível das redacções e do Sindicato. Quando fizemos a lista que seria a primeira assumidamente «democrática», contra a ditadura, a ganhar as eleições, uma das coisas contra as quais lutámos foi essa espécie de subdesenvolvimento ou de subserviência, que desprestigiava a classe. Há histórias tristemente famosas, como a de um jornalista que ia a almoços ou jantares, em serviço, e no fim pedia para levar para casa parte do que sobrava. Eu defendia que esse tipo de comportamentos devia ser considerado falta deontológica. Devo dizer que hoje, felizmente, não há subserviência, mas há muitas vezes o mal contrário: arrogância. Há jornalistas que se consideram «importantíssimos» e agem como se fossem eles o centro dos acontecimentos... No final de 1970, dada a evolução do DL e o facto da Censura afinal se manter [com Marcelo Caetano] e até recomeçar a endurecer, deixo a redacção do jornal e passo a dedicar-me só à advocacia. Entretanto, da equipa jovem do DL, o Joaquim Letria vai para a BBC, o Assis e o Afonso Praça para o República, que passa a ser dirigida pelo Raul Rego, tendo o Victor Direito como chefe de redacção, ambos saídos também do DL – como o Silva Costa, que vai para o Jornal do Comércio. Dos novos saem ainda, para vários sítios, o Pedro Rafael, o Manuel Beça Múrias e o Silva Pinto, estes dois, como o Praça, entrados, com o nosso apoio, após a criação de A Capital, que abriu várias vagas. Fiquei fora do jornalismo profissional, mas não do jornalismo e da colaboração possível com o Sindicato. Assim, fui árbitro do Sindicato no Contrato Colectivo de 1973, o qual teve um desfecho único nos mais de 40 anos de regime corporativo: conseguimos inteiramente o que queríamos, com um aumento salarial de 100 por cento. Claro que para isso foi decisivo a árbitro-presidente, um jovem professor, já doutorado, de Direito, de quem ficaria amigo e que viria a ser uma figura muito activa e conhecida após o 25 de Abril: António Luciano Sousa Franco. (Com o 25 de Abril de 1974 sucedem-se os convites: para dirigir A Capital, para dirigir a Flama e para ser adjunto de José Ribeiro Santos, na direcção do Diário de 'otícias. Optou por este último, levando com ele Silva Costa, Manuel Beça Múrias, José Silva Pinto e Pedro Rafael dos Santos, entre outros — assinaturas que se hão-de encontrar pouco tempo depois em O Jornal . Mantém-se menos de um ano no cargo. Na sequência de um editorial de Ribeiro dos Santos, contra a pena de morte (que chegou a ser pedida no tumultuoso plenário do MFA posterior à derrota da intentona de 11 de Março de 1975), num plenário em que isso não estava na ordem do dia, a Comissão de Trabalhadores do DN propõe a retirada da confiança a Ribeiro dos Santos, que queria «afastar» por ser do PS. Ribeiro dos Santos, que já iria sair por razões de saúde e cansaço, pede a demissão. JCV, solidário com ele, demite-se também, não aceitando alterar a sua posição mesmo face à insistência de militares do MFA, em particular ligados a Melo Antunes. A mesma gente do MFA, sublinhando que o motivo que alegava para não ficar no DN não «valia» para a RTP, convida-o para integrar a sua direcção de Informação. «Não estava interessado», responde. Mas eles fizeram um apelo à necessidade de garantir a democracia e de ter na RTP alguém ligado ao espírito do MFA, independente dos partidos. «Fui, mas pus várias condições: uma delas não ser pago, para evidenciar o carácter de “missão” com que o aceitava, e a outra vir embora no dia em que me apetecesse.» Ficou, numa equipa de que faziam parte um militar, Bagão dos Santos [hoje general, médico, então tenente], como director, e Joaquim Letria. Quase logo a seguir surge O Jornal. «A ideia já tinha germinado no Diário de 'otícias, entre o grupo que tinha sido do Diário de Lisboa, parte do qual passara também pela Flama: fazer um jornal de jornalistas, sem “patrões”, independente do poder económico e do poder político, dependendo apenas da consciência de quem o fazia e dos seus leitores. O Manuel Beça e o Silva Pinto, que trabalhavam comigo no D' como subchefes de redacção (o chefe era o Silva Costa), foram os iniciadores do projecto, os primeiros a arrancar com ele.» O número 1 saiu no dia 1 de Maio de 1975. «O director era o Letria. Por óbvias razões: embora o seu “perfil” não fosse o de dirigir, o que também não era muito suposto fazer, o importante é que era conhecidíssimo da televisão, uma das figuras mais populares do país – além, claro, de um grande repórter», recorda.) P — Passas a dedicar-te por inteiro às Publicações Projornal? R — Como jornalista, sim. Mas tinha uma grande capacidade de trabalho e mantive-me também como advogado, em particular de camaradas jornalistas, obviamente sem receber um tostão, nem sequer das despesas, e fazendo cada vez menos advocacia «paga» (e a advocacia, como se sabe, é muito mais bem paga do que o jornalismo…). A certa altura fui até estranhamente convidado — hoje posso dizê-lo — para director do Diário Popular, podendo-me manter ao mesmo tempo como director de O Jornal, e sondado para voltar como director ao Diário de 'otícias. Depois, já nós, Projornal, tínhamos 10% da Renascença Gráfica, proprietária do DL, que estava em dificuldades, pôs-se a hipótese, que começou mesmo a ser trabalhada, de assumirmos a direcção editorial do jornal, acumulando eu tal direcção, em simultâneo com a que já exercia na própria Projornal. Chegou a haver reuniões com o António Pedro [Ruella Ramos], presidente da administração e director do DL, que sempre se portou de um modo impecável, mas ele chegou à conclusão que a empresa já não tinha condições económicas para o relançamento do jornal e assim acabou de modo inglório, após a direcção do Mário Mesquita. Ainda hoje isso me desgosta e tenho um certo «remorso» de não termos concretizado a nossa intervenção a tempo de evitar o que viria a acontecer. P — Quais as vantagens de um jornal de jornalistas? R — A independência. A independência e a liberdade completas, ou o mais completas possível, só numa empresa que pertença aos próprios profissionais, como era o caso da Projornal; ou em que haja um estatuto em que a parte editorial funcione como se pertencesse. O grande problema é juntar à independência uma gestão dinâmica e eficaz. Trabalho hoje num grupo cujo «patrão» é um homem da comunicação social, que também compreende muitas coisas que outros não compreenderão, mas é diferente. Basta dar o exemplo da escolha do director, que em O Jornal era eleito pelos profissionais societários (e tenho muita honra em ter sido eleito por unanimidade pelos meus camaradas, até deixar o cargo, quando fui deputado) e nas empresas «normais» é nomeado pela administração. No início dos anos 80 ultrapassamos os diários e o Expresso em vendas. E ao contrário deste, tínhamos uma grande dinâmica editorial: já tínhamos criado os mensários O Jornal da Educação, e revista História, o semanário Sete, o primeiro de espectáculos e tempos livres, que teve grande êxito e vendia muito; em 1981 surge, como quinzenário, o JL, jornal de letras, artes e ideias (que mesmo os meus camaradas achavam que só se «aguentaria» meia dúzia de meses, e ainda hoje existe), criei uma editora, que também teve assinalável sucesso, publicando livros de muitos dos melhores escritores portugueses, abrimos três livrarias, etc. Chegamos também a editar uma newsletter económica semanal (que deveria vir a transformar-se no primeiro semanário económico português), uma ideia do Silva Pinto, que sempre foi extremamente devotado à Projornal e a dirigia. E tínhamos, além de outros, projectos para dois jornais diários — um de referência, antes de existir o Público, que se chamaria O Mundo (chegámos a comprar e registar o título e a firmar um acordo de princípio, através do José Rebelo, para ter o exclusivo de Le Monde em Portugal), e outro popular (antes de haver o Correio da Manhã), tablóide mas sério, não sensacionalista. A certa altura propus uma grande reformulação e renovação do grupo. Que passava que para esses novos projectos, e não só, fizéssemos outras sociedades, dentro do mesmo espírito fundador, embora continuando a Projornal maioritária em todas elas. Por exemplo: uma sociedade para a editora, da qual deveriam ser sócios os principais escritores que editávamos e o desejassem, realizando o seu «capital» através de parte dos direitos de autor. Não se avançou nesse sentido, contra a minha opinião, por vários motivos, entre os quais avulta um certo «acomodamento» de alguns camaradas: a empresa estava a «dar», tal como era, não íamos correr riscos e de certa forma partilhar com outros o que tínhamos conseguido... Foi aí que a dinâmica se começou a perder, embora depois disso ainda tivéssemos feito outras coisas, como, em conjunto com uma cooperativa de profissionais de rádio, fundar e consolidar a TSF, Rádio Jornal, de que foram presidentes, sucessivamente, em nossa representação, o Silva Costa e, após ele se recusar a continuar com o Emídio Rangel, cujo comportamento não aceitava, o Silva Pinto. Mas isso são outras histórias, ainda não contadas. P — Qual o teu relacionamento pessoal e institucional com as fontes e as respectivas pressões, ao longo destes 40 anos? R — Fontes ligadas ao Poder, antes do 25 de Abril, eu não as tinha. Tinhaas, sim, nas áreas da Educação, da Cultura, da Justiça (claro), da Saúde (pela minha mulher ser médica), da Oposição Democrática. E tinha aquilo de que sabia pela minha participação, como por exemplo aspectos relacionados com os famigerados julgamentos políticos no «Tribunal» Plenário. Quanto a pressões directas sobre mim ou jornalistas como eu não havia, talvez porque para escrever certas coisas os eventuais «pressionantes» sabiam que não valia a pena, e para não escrever outras eram desnecessárias, porque existia a Censura… Claro que se notavam os «fretes» em vários jornais, sobretudo na área económica. Na área política será melhor falar em domínio por parte do poder salazarista e, depois, marcelista, na televisão, na rádio e nos jornais que lhe eram afectos. Na parte final da ditadura, o domínio do poder político também se começou a fazer através do poder económico, com a compra de jornais pelos bancos. Depois do 25 de Abril, no início… P — …era o domínio do coração? P — Sim, do coração, da paixão. Mas às vezes, é engraçado, há acasos. Uma das pessoas com quem no «período revolucionário», eu falava muito, por necessidade profissional primeiro, depois também por amizade, era um dos dirigentes do MFA, não só muito bem informado (estava por dentro de tudo) e sério como de grande perspicácia, embora, pelo seu aspecto físico e forma de falar, não o parecendo: o Vasco Lourenço. P — =asceram como, a fonte e a amizade? R — Logo na Primavera de 1974, estava na direcção do D', fui convidado pelo Pinto Soares, então general (foi o primeiro membro do MFA a ser graduado nesse posto), comandante da Academia Militar, para ir lá fazer um paleio. E perguntei-lhe: «Quem é o gajo bom para eu falar e saber umas coisas?» Respondeu: «O Vasco Lourenço». Fui falar com o Vasco, que tinha aquele ar de béque esquerdo, passa-a-bola-mas-não-passa-o-jogador, e comecei a ter contactos com ele. Com ele e a seguir com outros elementos desse grupo, em especial, durante um largo período, já em O Jornal, com o Sousa e Castro, que era o porta-voz do Conselho da Revolução (CR). Nunca na vida dei tantas “caixas” como nesse período. Até porque fora desse grupo também tinha outros contactos, como o Duran Clemente, que salvo erro foi o “secretário” do CR, logo que criado (foi ele, por exemplo, que me deu a “caixa” da capa do nº 1 de O Jornal, sobre a Intersindical). Era mais por essa via do que da área política. P – A geração dos anos 60 não tem praticamente ligações ao Governo. R - …nos anos 70 passa a ter… P - …e nos anos 80 e 90 são as pessoas da tua idade que estão no poder como presidentes, primeiros-ministros. Passas, do zero a comensal dos homens do poder. Como geres isso, enquanto jornalista? R – Quando as pessoas chegam ao poder afasto-me o mais possível. Nunca aceitei nada, nenhuma espécie de cargo. Embora tivesse sido mais de uma vez convidado, até logo no I Governo [Provisório], na área da Educação, de que foi ministro Eduardo Correia, meu professor de Direito Penal, em Coimbra, que tinha apreço por mim. Mas recusei. Queria era, finalmente, poder ser jornalista. Afasto-me, dizia, e nisso sou mau jornalista: só em último caso telefono àqueles de quem sou amigo a pedir-lhes [informações]. Tenho um certo pudor em fazê-lo. E quando não falo com as pessoas como jornalista, mas como amigo ou conhecido, não uso nada do que me dizem sem as avisar e só publico se elas não se opõem. P - Pressões? R –Sim, houve, em alguns casos, mas não «funcionaram» e a coisa passou. Pior, é certos amigos, em particular companheiros das lutas estudantis, chegarem ao poder e sentirem-se muito importantes com isso, e começarem a ter, mais do que sentido de Estado, pose de Estado, coisa que detesto. Entrarem completamente no sistema, na engrenagem, todos contentinhos, o que ainda me espanta e entristece. Então em geral o que acontece é que quando se faz uma coisa mais interessante, mais séria ou de análise, não ligam a ponta de um corno, pelo menos não dizem uma palavra. E nem é preciso dar-se uma «porrada», basta fazer uma crítica, por mais fundamentada, e lá vêm eles: «Então tu…». Por azar ou coincidência, de certo modo tive mais problemas com pessoas de quem era amigo… P – Por exemplo? R – O [antigo primeiro-ministro de um Governo presidencial, já falecido] Mota Pinto. Era um pouco mais velho do que eu, foi meu assistente, mas era seu amigo e sou amigo da hoje viúva, a Fernanda, que foi, como eu, do Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra (TEUC). Foi dos primeiros-ministros em relação ao qual, atendendo ao pouco tempo em que exerceu essas funções, eu e O Jornal fomos mais acerbamente críticos; e o mesmo aconteceu em relação ao seu ministro (nessa altura; e, pior ainda quando foi presidente da RTP), também meu amigo além de colega de curso, Proença de Carvalho – mas ambos o aceitaram com «desportivismo», devo sublinhar. Pelo contrário, à sua sucessora, a [antiga primeira-ministra Maria de Lurdes] Pintasilgo, fiz-lhe muitos elogios e nessa altura nem a conhecia. Outro exemplo ainda: logo a seguir à sua criação, em 1974, quando eram violentamente atacados, defendi muito o CDS (o primeiro plenário do Diário de 'otícias em que participei foi porque os trabalhadores queriam impedir a publicação de um anúncio do CDS, ao que me opus) e o Freitas do Amaral, que praticamente não conhecia, conhecia sim o Adelino Amaro da Costa [fundador e número 2 do CDS, morto em Dezembro de 1980 na queda do avião que vitimou Sá Carneiro e restantes passageiros e tripulantes], que por meu intermédio até colaborou no DL, antes do 25 de Abril. Outro amigo, para não dar exemplos mais recentes, que critiquei bastante foi o [Mário Sottomayor] Cardia [falecido em Novembro de 2006], quando ministro da Educação [do I Governo Constitucional, liderado por Mário Soares, em 1976/7], cargo em que teve práticas e defendeu princípios exactamente contrários àqueles porque nos batemos nas lutas académicas, chegando a afirmar: «o poder não dialoga». Também várias vezes me aconteceu – e isso não esqueço – amigos comprometerem-se comigo, por exemplo, a dar-nos a primeira entrevista, ou semelhante, e depois faltarem à sua palavra, desonrando-se por uma vaidade mesquinha ou a troco de alguma conveniência política de ocasião. Com todas as divergências que me separavam dele, não me esqueço, ao contrário, que Álvaro Cunhal me telefonou, passados aí uns dois anos de uma promessa dessas, a dizer que estava então disponível para a entrevista sobre estética e arte que lhe tinha proposto. (O pretexto é bom para introduzir o tema da intervenção directa do inquirido na política activa. Como é que alguém com sensibilidade ética, comprovada na sua anterior actividade profissional, abandona o jornalismo, vai à política, e a seguir regressa de novo ao jornalismo? JCV previne que tinha «perfeita consciência de que era mais influente como director de O Jornal do que fundador e dirigente de um partido». Mas achou que «na situação que o país vivia e face ao perigo para a própria democracia se não houvesse saída para ela, isso era uma obrigação cívica». E sublinha que não «teorizou», defendeu a criação e entrou para o PRD como para um qualquer partido: «Tenho intervenção cívica desde os 17 anos e nunca pertenci, nem antes nem depois dessa altura, a nenhum partido». O PRD «só foi um partido», porque «no nosso sistema político» essa era a única forma de poder intervir com eficácia. «Não era um novo partido, mas um partido novo, que além do mais defendia uma filosofia, forma de organização e actuação muito diferente dos velhos partidos tradicionais, enfim, uma série de valores», que continua a defender. Não precisamos de insistir quando lhe recordamos que o partido anti-partido defensor da ética falhou rotundamente. «Falhou, porque se foi afastando cada vez mais dos seus princípios, e por isso me afastei dele e demiti. Mas acho que, não obstante, teve uma missão fundamental. Não há nenhum estudo universitário sobre isso, o que me admira e lamento: como surge, de repente, um partido que alcança 18% dos votos e se torna árbitro da vida nacional? Nunca houve, em 32 anos de democracia, uma legislatura com a importância e a vivacidade daquela. Porque as coisas não estavam pré-definidas. Como dizia, como vice-presidente da bancada: “Quando votamos não olhamos para o lado, o que nos interessa é se as propostas, no nosso entendimento, são boas para o país. Que venham do partido A ou B, do PCP ao CDS, para nós é exactamente igual”». Entre os livros que tem na cabeça (apoiado em «muito material», que conservou) figuram temas como o significado e influência, que tem por considerável, da passagem do PRD pela vida nacional: a disciplina partidária, que apesar de tudo hoje já não era o que era antes do PRD; as candidaturas de cidadãos independentes às câmaras; etc. Facto de que se orgulha, exemplo do que defendia como filosofia geral de acção, é a não indicação de figuras saídas das suas fileiras para cargos de designação partidária, antes apontando nomes de prestígio, porém não ligados ao PRD — Ferrer Correia para o Conselho Superior da Magistratura; Alfredo José de Sousa para o conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais; Augusto Abelaira e Mário Mesquita para o Conselho de Comunicação Social; José Pinto Correia para o Conselho de Educação.) P — Como olhas para a incompatibilidade entre a função jornalística e a função partidária? R — Atendendo à prática partidária tradicional, são incompatíveis, ao nível do exercício de funções de direcção. E, claro, de analista ou comentador independente. Mas o jornalismo não pode implicar uma capitis diminutio da cidadania, o jornalista não pode deixar de ser um cidadão que toma posições, inclusive políticas, sempre que entende dever fazê-lo. No meu caso, fi-lo muitas vezes, antes e depois do 25 de Abril. Quanto ao PRD, só lamento é ele ter dado no que deu e só me arrependo na medida em que a minha opção acarretou para O Jornal e para a Projornal prejuízos maiores do que pensava. A esta distância posso dizer, embora pareça prosápia, que tinha a consciência de ser capaz de manter a independência no que escrevia; mas não a sua aparência, muitos leitores achariam sempre que não… Dou um exemplo dessa independência: pertenci à primeira (e, aliás, também à segunda) comissão política da candidatura à Presidência da República do general Ramalho Eanes. Ora bem, as primeiras duas pessoas que saíram de O Jornal foi por acharem que nós tínhamos uma posição muito crítica face a ele. Bom, mas voltando à minha participação no PRD e ida para deputado, eu não só saí, obviamente, de director de O Jornal, como, depois de terminar essa experiência, continuei sem escrever sobre política durante um ano. Pelo contrário, o que desde há tempos agora se vê — e que julgo ser único no mundo — é os próprios dirigentes políticos a fazerem de comentadores políticos! P — Os próprios leitores olharam com desconfiança para essa mistura. R — Sim, a imagem dessa ligação ao eanismo teve efeitos negativos. Mas, pior, com franqueza, julgo ter sido eu deixar nessa altura a direcção de O Jornal e a «liderança» do grupo. Nós tínhamos ultrapassado o Expresso em vendas, no início dos anos 80, se é certo que antes de eu sair o Expresso já vendia de novo mais do que nós, a diferença ainda era pequena. P — Hoje há quem entenda que a própria advocacia é incompatível com o jornalismo. Pensas o mesmo, sobre isso, que no princípio da carreira, em que consideravas as duas profissões unidas numa mesma luta? R — Para quem for um jornalista digno e um advogado digno, que cumpra as normas de cada uma delas, não há nenhum tipo de incompatibilidade. P — Aí, quase não haverá incompatibilidade com nada… R — Admito que tenho, ou tinha (pelo menos tinha muito mais…) das duas actividades uma visão bastante «lírica», vendo-as como autênticas profissões liberais e por essência livres. É verdade que o jornalista, em geral, trabalha para uma empresa, tem uma entidade patronal; e que isso hoje acontece cada vez mais com os advogados. Tanto uns como outros, porém, e em especial os jornalistas, devem preservar a sua liberdade e independência, respeitar a ética e a deontologia profissionais, não aceitar fazer nada contra a sua consciência. O que é cada vez mais difícil, porque são cada vez maiores os perigos, as armadilhas, as ameaças e… a dificuldade de arranjar emprego. Ainda quanto à incompatibilidade, continuando eu a defender o que disse, em teoria, de facto, hoje, o exercício simultâneo das duas profissões, em plenitude, é praticamente impossível. P — Quando foste deputado, abandonaste a advocacia e o jornalismo? R — Nunca deixei de ser jornalista nem de estar inscrito como advogado. Mas no jornalismo continuei apenas a ser director do Jornal de Letras, como desde que o fundara, e passando a ter um chefe de redacção com a qualidade do António Mega Ferreira; e deixei, na prática, de advogar (com uma ou outra excepção, sobretudo em defesa de camaradas jornalistas) por absoluta falta de tempo, dado que nunca faltei a uma sessão da Assembleia, onde trabalhava muito, quantas vezes dez ou 12 horas por dia. O grande problema, a grande incompatibilidade, é as pessoas valerem-se ou aproveitarem-se de uma qualidade para obterem benefícios ilegítimos na outra. P — Isso é um outro patamar: o da indecência. A questão que ponho é anterior: a própria essência da profissão de jornalista conflitua ou não com o exercício de actividades como a advocacia? R — Acho que não. Pelo menos com a advocacia tradicional, um pouco artesanal, de barra. Com a advocacia dos grandes negócios, dos escritórios que já são empresas poderosas, a conversa é outra… Jornalismo e advocacia têm em comum, na minha concepção algo romântica, talvez ultrapassada, a defesa de certos valores fundamentais. Não aceitei ser advogado em alguns processos por considerar que nesses casos podia haver perigo para a minha independência. Estou a lembrar-me de um, famoso, no qual teria logo uma avença mensal superior ao que ganhava no jornalismo, em que podia continuar a trabalhar, acenando-me ainda com outros benefícios P — Defendes, portanto, a compatibilidade, mas com critérios fortemente restritivos na aceitação de patrocínios? R — Exactamente. Nem o advogado pode servir-se da qualidade jornalística, nem o jornalista pode falar das suas causas, promover os seus clientes, etc. Há ainda o problema dos colunistas ou comentadores … P — …mas nisso não há dúvidas: ele está lá, identificado, e a dar uma opinião… R — … e o problema, na advocacia, daqueles que advogam nos, ou através dos, meios de comunicação. Além disso, os jornalistas que só tenham como fontes advogados de uma das «partes», podem acabar por servir de meros porta-vozes das suas posições. P — =ão achas que se ganhava em clareza se o princípio fosse o de se ser jornalista e mais nada? R — Admito que sim. (Há 40 anos, no Diário de Lisboa, eram muitos os jornalistas que escreviam ainda à mão. José Carlos de Vasconcelos juntou-se-lhes. «À máquina, sempre, directamente, que agora me recorde só escreviam o Raúl Rego, o Maurício de Oliveira, o Renato Boaventura, o Manuel Beça e o Letria (estes três com a experiência e técnica de agências noticiosas). Nalguns casos havia tipógrafos especialistas na [decifração da] nossa letra e as coisas funcionavam, o que é espantoso». Dá um exemplo, recorrendo a uma situação muito comum ao tempo: a ida ao aeroporto de Lisboa, um local muito frequentado pelos repórteres dos jornais, rádio e televisão, que ali afluíam quase diariamente para recolherem declarações de personalidades nacionais e internacionais, e em particular dos famosos que faziam escala técnica em Portugal (John dos Passos e Cary Grant fazem parte da sua lista pessoal). «Regressávamos de imediato à redacção para escrever. E o que íamos escrevendo transitava logo para a tipografia, linguado a linguado, quando o chefe de redacção confiava no redactor sem sequer passar por ele. O jornal tinha que apanhar o comboio das duas menos cinco, salvo erro, para o Porto, o que significa que tinha que estar pronto à uma e meia. Assim, podia assim acontecer falarmos com alguém ao meio dia, e às duas estar na rua o jornal com a notícia e uma pequena entrevista!». Conclui, sarcástico: «Estamos conversados, portanto, neste domínio, acerca da maior rapidez proporcionada pelas novas tecnologias …» Admite que se converteu ao computador. E que este, além do mais, facilita o cumprimento da dimensão fixa das colunas que mantém quer no JL quer na Visão. Mas não deixa de revelar que certos textos, por exemplo recensões de livros, que implicam transcrições, as faz por vezes ainda à mão, passando-as depois à secretária, que as escreve no computador. Usa, também, a Internet, «sobretudo como uma espécie de centro de documentação». As novas tecnologias, opina, devem ser usadas como ferramentas, e nesse plano considera-as «fundamentais». Mas vê-as como «um perigo» quando transformadas em fim em si mesmo.) P — Vistas nas suas três fases jornalísticas essenciais — a recolha (telemóvel, e-mail), a escrita (computador) e a transmissão (de novo o telemóvel, o computador, o satélite) – as novas tecnologias representam ou não um avanço? R — Representam um grande avanço. Ganhou-se muito na facilidade e rapidez da comunicação e da transmissão, nos dois sentidos, na possibilidade de qualidade e clareza da escrita, e ainda mais da reescrita, da simplicidade e eficácia da edição, do desk, da mera revisão. O computador é fantástico, em particular para quem, como eu, emenda muito e está sempre a tentar melhorar o texto, para o tornar mais rigoroso e claro. O Gabriel Garcia Márquez disse que se tivesse computador, desde que começou a escrever, a sua obra tinha sido muito maior. Pergunto-me o que não teria sido o computador para grandes escritores e estilistas como os meus amigos Carlos de Oliveira e José Cardoso Pires, a quem as respectivas mulheres passavam à máquina os textos que eles escreviam à mão, depois eles reviam introduzindo mudanças e emendas, elas voltavam a passar, e eles a rever e emendar, por aí fora! Já quanto à rapidez, por exemplo nas áreas da finalização e da impressão, hoje podem ser mais lentas, como vimos, mas a sua qualidade é infinitamente superior. Os progressos têm sido fantásticos! Lembro-me da agitação no DL, quando usámos pela primeira vez o rádio-telefone, vai para 41 anos, na reportagem da inauguração da Ponte, então Salazar e hoje 25 de Abril. Veio depois o fax, que representou uma grande melhoria em relação à chatice do telex, com fita perfurada, coisas para que não tinha nem tenho jeito nenhum. E que parecem já pré-história… Mas é preciso dizer: todo esse progresso é óptimo, mas não muda a essência do jornalismo. O grande jornalismo, o bom e o mau jornalismo, continuam a ser o mesmo que eram, o que mudou foram os meios, os instrumentos, as ferramentas que utiliza. P — É pior ou melhor, o jornalismo hoje? P — Em geral, em relação ao passado mais distante que posso testemunhar, acho que é melhor. Primeiro que tudo, porque não há censura; depois, porque os profissionais têm mais preparação (foi na nossa primeira direcção do Sindicato que se passou a exigir, por regra, o mínimo do 1º ciclo liceal para exercer a profissão, até essa altura nem isso) e as empresas têm mais meios (ia-se a poucos sítios, a cobertura dos grandes acontecimentos, e não só, era feita sobretudo com material das agências: lembro-me de uma manchete no DL, na altura da renovação, a prometer que «algures no mundo» haveria sempre um repórter do jornal…). Mas em algumas coisas, sobretudo em relação há 10 ou 20 anos, acho que a situação tem piorado. Por exemplo, há mais falta de rigor e mais sensacionalismo; há talvez menos grandes jornalistas, repórteres, entrevistadores, e mais «produtores de conteúdos» (aí está uma coisa que recuso terminantemente: deixar de ser jornalista para passar a ser produtor de conteúdos…); os novos profissionais sabem melhor o inglês, de computadores, etc., mas a muitos falta-lhes, além de outros conhecimentos e de experiência de vida, um certo cheiro, uma intuição para a notícia que antes caracterizava inclusive repórteres com muito pouca preparação; especificamente na imprensa há grafismos melhores, mais atraentes, mas o texto é muitas vezes e de várias formas desvalorizado, o que me parece inadmissível; etc., etc. Penso que a questão do rigor é essencial e a falta dele é das coisas que mais desprestigia hoje o nosso jornalismo. Costumo dizer à malta nova que a primeira preocupação deve ser com a informação, bem confirmada (dar como assente que uma notícia de um jornal, mesmo estapafúrdia, é verdadeira, pode levar e já tem levado a que uma mentira se transforme numa falsa verdade repetida pelos media em geral), com o respeito pelos factos, tanto quanto a objectividade é possível, com o rigor na forma como são descritos, com a capacidade de os situar, enquadrar, interpretar sem opinar. Por outro lado, sendo certo que gosto muito de pensar jornais e revistas, não me parece eficaz a organização, a arquitectura, de alguns deles (ou algumas delas). E há bastante repetição, bastante superficialidade, bastante correr atrás de foguetes esquecendo o melhor da festa, bastante valorização do acessório em prejuízo do essencial, e por aí fora, muitos problemas. Que não se resolvem só com mudanças gráficas e com «consultores» estrangeiros a virem-nos ensinar o que só nós, com o conhecimento da realidade portuguesas, dos gostos e interesses dos portugueses, da sua forma de sentir e de pensar, podemos saber. P — Muitos dizem que apesar dos jornalistas terem hoje cursos superiores aumentou o analfabetismo na profissão. R — Havia pessoas com a 4ª classe mas com uma cultura superior — caso do [escritor] Ferreira de Castro, por exemplo. Seja como for, não penso que hoje sejam, em geral, mais analfabetos, pelo contrário. O que não têm, muitas vezes, é uma cultura que corresponda às chamadas «habilitações literárias», padecendo em particular de uma incrível falta de memória histórica. No meu longo contacto com jovens que se iniciam na profissão, tenho encontrado os que ignoram até quem foi, já nem digo o Melo Antunes, ou grandes escritores e artistas, mas o Marcelo Caetano ou o Spínola! O pretexto é bom para regressarmos ao sindicalismo. José Carlos de Vasconcelos recorda o movimento que levou à organização de uma lista para o SJ presidida por Silva Costa. Representou uma «viragem decisiva» na vida do Sindicato, diz. Salienta uma iniciativa do género, abrangente mas com predominância de sectores moderados à esquerda, tomada a seguir ao PREC, e que partiu de O Jornal, quando Cáceres Monteiro se candidatou, vitoriosamente, à presidência do SJ, com ele próprio, JCV, como presidente da Assembleia-Geral. «Nessa altura o Sindicato voltou a ser importante. E continuou a sê-lo com a presidência do José Pedro Castanheira. Depois, infelizmente, voltou a ter uma certa queda, que resulta quer do sindicalismo praticado, quer de dificuldades da nossa própria profissão». Aproveita um pedido que lhe faço para me descrever as suas funções actuais na Visão, para causticar uma recente “infeliz” posição da direcção sindical supreendente e lamentávelmente restritiva da actuação tradicional de editores e directores: «Além de escrever, participo nas principais reuniões, com a direcção e editores, de planeamento e debate da revista; coordeno o sector de opinião, ou parte dele. Ou, dito de outra forma, faço aquilo que segundo um papel extremamente infeliz, do SJ, seria um atentado à criação e à liberdade»… P — Para uma parte não menosprezável dos profissionais, o SJ tornouse praticamente irrelevante. Porquê? R — Penso que, por um lado, isso se insere numa tendência geral, de cada um só pensar em si próprio; e que, por outro, talvez aconteça no sindicalismo o mesmo que na política: as suas formas de intervenção serem rotineiras, envelhecidas, inadequadas. Os sindicatos, julgo eu, devem lutar por melhores salários e condições de trabalho, mas também pelos grandes valores. De forma inteligente e equilibrada, sem estar sempre no contra, o que faz perder força quando têm de travar as batalhas verdadeiramente decisivas. Para ser brando, foi no mínimo infeliz a posição do SJ ao considerar atentados à liberdade de expressão ou de criação a simples possibilidade, prevista no projecto do Estatuto dos Jornalistas, do exercício de actos próprios de funções de direcção ou edição, sem as quais não pode haver verdadeiros órgãos de comunicação social. Ora, os principais perigos para a liberdade e independência dos media e dos jornalistas neste momento não vêm daí mas do poder económico, das ameaças da concentração, de indícios, pelo menos indícios, preocupantes, de profissionais dos mais capazes serem afastados de cargos de responsabilidade, para darem lugar a quem não faça ondas e/ou ganhe menos. Quem tem mais passado, mais currículo, mais autoridade moral, é cada vez mais incómodo. E para afastar ou subalternizar essas pessoas falase em «renovação»... Acresce que, como na política, a ambição, o alcançar os «objectivos», mesmo sem olhar a meios, passaram a ser virtudes ou vantagens! P — Qual é o lugar social em que a profissão se encontra hoje, em comparação com aquele que ocupava há 40 anos? Aos teus olhos e aos olhos da sociedade? R — (longo silêncio) É difícil dizer. Até porque, uma vez que também era advogado, e relativamente conhecido desde cedo, talvez fosse tratado ou visto de uma forma um bocado diferente da generalidade dos jornalistas. Mas, «estratificando» a sociedade entre «doutores», designação de que cá se usa e abusa, e «não-doutores», julgo que nos anos 50, 60, mesmo 70, o jornalismo era tido como uma actividade de «não-doutores», embora com alguns «doutores», enquanto agora é de «doutores», embora com alguns «não doutores». Antigamente o jornalismo era uma profissão para a qual havia a ideia de que ia muita gente que não sabia fazer mais nada. E na qual se entrava por via de laços familiares, de amizade, de «cunha», o que, de facto, por uma razão ou outra, aconteceu até com grandes jornalistas, mesmo da minha geração e posteriores a ela. Em termos de «percepção» pública, creio que a profissão corresponderia então às desempenhadas por pessoas com o liceu ou a escola técnica, ou seja: o Secundário. Hoje, corresponde às desempenhadas por pessoas com licenciatura. Há 50, 40 ou 35 anos (com as excepções que eram muito valorizadas, talvez até de mais), o jornalista era alguém que em princípio não levantava muitos problemas, os melhores eram vítimas da censura e do sistema, os piores serviam vários interesses. A partir do 25 de Abril essa ideia modificou-se e os jornalistas passaram a ser, em geral, progressivamente vistos como mais independentes e qualificados. Infelizmente, porém, acho que esta imagem se pode estar a degradar, no sentido de se considerar haver cada vez mais jornalistas pouco rigorosos ou mesmo pouco escrupulosos. O que antigamente talvez não se notasse tanto, devido à censura. Com a censura acabou também, aliás, a ideia que seriam extraordinários jornalistas alguns que de facto não o eram… P — …à semelhança do que aconteceu com alguns escritores… R – Exacto. Entretanto, para aquela progressivamente melhor imagem dos jornalistas muito contribuiu o facto de denunciarem podres, corrupções, poucas vergonhas. P — Se o dr. Mário =eves fosse vivo e te mandasse agora fazer um texto sobre o jornalismo no ano de 2050, achas que incluías nele o fim do jornalismo tal como o praticaste e praticas ainda? R — Acho que não. Acho que o jornalismo, tendo mudado muitíssimo e decerto vindo a mudar ainda mais com os imensos progressos tecnológicos na área da comunicação, designadamente a Internet e outros, no essencial mantém-se sempre o mesmo. Mesmo essa ideia de que o jornalismo em papel pode ou vai acabar, que os sites, a televisão digital, tudo que aí vem, não deixa espaço para jornais e revistas, só serviu para uns gajos mais espertos fazerem grandes negócios, e outros que querem estar sempre na primeira linha da moda apanharem grandes «chimbalaus». As novas tecnologias têm sido ou devem ser um incentivo à criatividade e à mudança, mas não vão acabar com nada. Quem tem um mínimo conhecimento do passado sabe, aliás, que essa é uma conversa recorrente e que já foi decretada a morte de muitas coisas que continuam aí bem vivas, algumas depois de terem ultrapassado vitoriosamente crises difíceis. P — A realidade mostra-nos uma diminuição progressiva das tiragens, mesmo em países «letrados». R — Admito que possa tratar-se de algo transitório. Quando apareceu a rádio, pensou-se que os jornais diários ficavam condenados, e não ficaram. Nem o teatro e o cinema desapareceram ou passaram em definitivo a ter menos espectadores após a criação da televisão, embora sofrendo períodos de crise. Penso que a afectividade da relação com o papel não acabará, mesmo que diminua. Ninguém vai com o computador para a cama… Nas áreas do lazer e da cultura, JCV diz-se sócio de muitas colectividades, associações, clubes. «Desde o clube de futebol de Freamunde à Associação Portuguesa de Escritores ou à Casa do Minho.» Lamenta o pouco tempo que lhe resta para o teatro, ele que o fez em Coimbra e que sobre ele chegou a fazer crítica, bem como de cinema. Recorda a que fez a Morte e Vida Severina [poema dramático de João Cabral de Melo Neto, com música de Chico Buarque, trazido a Portugal, em 1967, por um grupo de teatro universitário de São Paulo]. «Julgo que fui o primeiro jornalista a fazer entrevistas a ambos, para o Lisboa.» Lamenta igualmente que ainda hoje o trabalho (no JL) com a «edição» e até «revisão» dos textos dos outros o leve a ler e mesmo a escrever «menos do que queria». Na televisão, gostava de ver o GNT [canal brasileiro que foi retirado, entretanto, do cabo]. Noticiários, uma ou outra entrevista, um ou outro filme policial e futebol figuram entre as suas preferências. Gosta de noticiários e fóruns («às vezes para me indignar…») nas várias estações de Rádio, de que é «ouvinte compulsivo». Na parte da manhã. «Tenho rádio em toda a parte: no quarto, na cozinha, na casa de banho, e ouço-a sempre no carro.» O Brasil é um destino profissional que privilegia, desde 1982, quando passou a fazer regularmente a cobertura dos principais acontecimentos – nomeadamente eleições e visitas presidenciais. A tal ponto que se orgulha de já terem escrito que sabe mais da política brasileira do que «a grande maioria dos brasileiros». Parece dividido quando lhe pergunto que figuras da profissão lhe serviram de modelo ou guia. «Tinha admiração por Norberto Lopes, porque escrevia de uma forma elegante; e por Mário Neves, pelo dinamismo e luta para fazer um jornal vivo». Também, muito novinho, admirava, por outras razões, os escritos de Rocha Martins, no República [o célebre Fala o Rocha, cujos artigos críticos de Salazar faziam esgotar o jornal]. Manuel de Azevedo, que conheceu no DL, ou Silva Costa, são dos nomes das várias pessoas mais velhas que respeitava na profissão. E Eduardo Gageiro, como fotógrafo. Entre os seus contemporâneos e amigos destaca, «por várias razões, e para só falar de três que infelizmente já desapareceram, o (Manuel) Beça (Múrias), o Assis (Pacheco) e, claro, o Cáceres (Monteiro)». Curiosamente, porém, a memória dos tempos mais recuados condu-lo preferentemente para a Rádio. E nesta, para os programas de Desporto. Onde pontificavam, para além do inevitável Artur Agostinho, os relatores desportivos Quadro Raposo e Amadeu José de Freitas, de quem veio a ser director, anos mais tarde, no telejornal da RTP. Faltam o gráfico ideológico do entrevistado e o apuramento da sua posição face a Deus e/ou às religiões. José Carlos de Vasconcelos hesita apenas se há-de revelar em quem votou nas últimas presidenciais, para não ferir um amigo e companheiro de muitos anos. Até lá é tudo pacífico e previsível: CDE, em 1969; nenhum voto em 1973, pois a oposição recusou-se a ir às urnas; Eanes em 1976 e 1980; Soares em 1986 («Zenha na 1ª volta, embora gostasse muito da Pintasilgo e até tivesse pertencido com ela à direcção do MAD, Movimento para o Aprofundamento da Democracia») e 1990; Sampaio, em 1996 e 2001; e Soares, em 2006 («tive grandes discordâncias e até alguns conflitos com ele ao longo do tempo, sobretudo aquando da segunda candidatura do Eanes, mas acho que ele nunca esteve tão bom como agora – e agora é que apanhou uma, injustíssima, porrada…»). P — Faz sentido ainda falar em clivagem esquerda/direita ? R — Faz sentido continuar a falar de esquerda e de direita. O problema é saber exactamente o que é hoje cada uma delas. Há coisas com que a esquerda se identificava, ou que identificavam a esquerda, o que hoje já não acontece, e ainda bem. Refiro-me à questão da propriedade dos meios de produção. A esquerda, ou parte dela, defendia tradicionalmente a nacionalização ou colectivização dos meios de produções. Nunca me identifiquei com isso, como regra. Nomeadamente em Portugal, na fase mais revolucionária, sempre defendi a necessidade de se manter a propriedade privada e a economia de mercado – mas não a tão desigual e injusta «sociedade de mercado» que conhecemos… P - O que distingue, então, uma da outra? R – A esquerda defende mais os valores; a direita, os interesses. A esquerda privilegia a liberdade – no sentido mais amplo e nobre: a liberdade política — formal se quiserem, mas também aquela liberdade que para se poder exercer ou viver pressupõe a solidariedade, condições de vida dignas para toda a gente, sem os privilégios gritantes e as desigualdades vergonhosas que continuam a existir ou até a aumentar. A esquerda é ou deve ser também uma posição ética em defesa de valores como os direitos das minorias e dos imigrantes, a protecção do ambiente, etc. A direita tende a privilegiar em absoluto a iniciativa privada, que deve ter limites. Etc, etc. No entanto, devo dizer que cada vez mais entendo que as pessoas é que sobretudo interessam, não as distingo em boas ou más conforme sejam de esquerda ou de direita, e há aqueles que reclamando-se da esquerda muitas vezes têm posições de direita, e vice-versa. P – Como é que te defines no que respeita a crenças e à religião? R - Sou agnóstico. Fui, como quase toda a gente, educado catolicamente (a minha mãe até era da Acção Católica), fiz a primeira comunhão e a comunhão «solene», essas coisas. Por volta dos 17 ou 18 anos deixei de ser praticante e depois católico, por exemplo não casei catolicamente, o que nessa altura, anos 60, no Norte, ainda era bastante raro, mesmo entre os não católicos… Mas com todo o respeito, sobretudo pelos valores cristãos, com os quais largamente me identifico. De certa forma poderei ser uma espécie de «cristão romântico sem Deus». No meu último livro [Repórter do Coração], tenho Três sonetos de Deus Ausente, que de certo modo falam disso.
Download