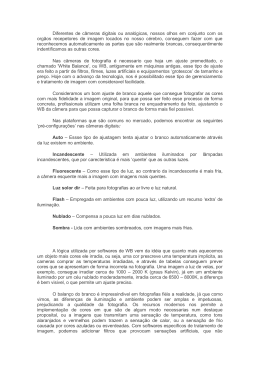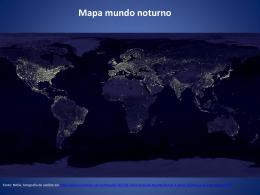Edgar Martins Como posso ver o que vejo, até saber o que sei? “‘Tudo quanto seja direito é mentira’, murmurou com desprezo o anão. ‘Toda a verdade é curva, o próprio tempo é um círculo.’’" (Nietzsche) Em Junho passado cheguei ao fim de uma residência artística num dos mais singulares habitats naturais do mundo, na Florida, E.U.A. Depois de ter batalhado com um território infestado por mosquitos durante dez dias, acabei por sucumbir às exigências idiossincráticas de menino-urbano e arranjei um quarto num hotel em Miami Beach. Foi por essa altura que a inesperada morte de Michael Jackson e a consequente saga monopolizaram o tempo de antena. Enquanto via as notícias na CNN, apercebi-me de que a história já não era linear. Os meios de comunicação social modernos não se cingem a relatar acontecimentos; também expõem inadvertidamente os processos que são a base de toda a comunicação. Estes revelam uma realidade polimórfica, multiforme, um mundo de fluxos e correntes num estado perpétuo de transformações incertas, e no qual a busca incessante por respostas apenas nos levam a novas questões. Não posso deixar de estabelecer um paralelo entre estas observações e o trabalho que produzi (e também com os relatos e posts em blogs em torno do mesmo assunto). As imagens que criei e construí são alusivas a processos que definem mecanismos de resposta em tempo real aos espaços que fotografo. Observar estas fotografias é como ocupar um lugar da nossa própria exclusão. O trabalho, em si, expõe implacavelmente as inadequações e insuficiências da fotografia. A verdade é que no âmago desta polémica não se encontra um debate sobre a decepção ou falha de representação, nem sequer um debate sobre a “rivalidade febril” entre Arte e Jornalismo (para citar Susan Sontag). Apesar dos abismos que os separam, o Jornalismo e a Arte têm empregue os mesmos métodos de expressão artística ao longo de muitos anos, com a única diferença de que num contexto isso se cumpre explicitamente, e no outro implicitamente. E não me estou a referir à utilização do Photoshop. Estava eu consciente do contexto em que o meu trabalho seria apresentado e percepcionado? Terão as minhas acções sido um gesto provocatório, resultado de um briefing pouco claro ou de um idealismo ingénuo? Será que as construções contribuem para ou antes invalidam a história contida na fotografia? Sei que este projecto e o modo como as coisas se processaram levantaram muitas ideias sobre ideias e questões em torno de limites e parâmetros. Mas gostaria de esclarecer dois equívocos: no trabalho que produzi, não deformei nem The New York Times nem a minha própria obra. Reconheço que a alteração digital de fotografias, em si mesma, não é um problema quando elas são apresentadas num contexto não-indicial. No entanto, para além da ilustração, do trabalho de moda e do retrato, quantas vezes são os assuntos de pendor sóciopolítico conceptualizados e entendidos fora do alcance do foto-documentário canónico? Ainda que os pormenores do meu contrato com The New York Times tenham levado a muitas discussões e conjecturas, penso que é de maior importância renegociar os termos do contrato maior entre o autor/jornal/leitor. Durante 20 dias trabalhei intimamente com os editores do blog Lens, do The New York Times, com o objectivo de apresentar aos leitores uma selecção de imagens que lhes permitisse uma perspectiva próxima dos meus métodos de trabalho. As imagens foram escolhidas para ilustrar conceitos-chave que acentuarei neste ensaio. Naturalmente, senti-me desiludido com a introdução ao slideshow, a qual, tal como o texto original publicado na revista, não passou nem pela minha leitura prévia nem pela minha aprovação. No que respeita aos valores e direitos associados ao processo criativo, creio que houve um óbvio mal-entendido do The New York Times Magazine, ao estender um convite a um artista, como eu, para representar uma perspectiva muito específica da realidade, sem se ter assegurado que eu estava a par dos seus parâmetros e limitações jornalísticas. Por outro lado, eu nunca os poderia tomar como uma fronteira válida. No texto introdutório, o meu trabalho foi definido como “com longas exposições, mas sem qualquer manipulação digital”. Infelizmente, esta informação não era de todo correcta: das 13 imagens apresentadas online, apenas 5 foram criadas com longas exposições; das 73 imagens que produzi, apenas 15 são fruto desta técnica. A 24 de Junho de 2009, pelas 22:51:41 de Inglaterra (dois dias antes da publicação do projecto), enviei um email ao The New York Times com a sinopse que havia escrito para a introdução da maquete de um livro que tinha produzido com este trabalho (e que apresentara a uma editora conceituada). O texto terminava assim: “Num estudo que vai além da pura pesquisa e documentação formal e factual, este trabalho catalisa e reunifica novas experiências de uma nova forma da arquitectura americana: ‘as ruínas de uma idade d’ouro’”. Aceito a natureza probabilística do universo. Tal como no campo da Física, o Princípio da Incerteza quebrou o movimento das partículas em funções de probabilidade, o meu ponto de partida em qualquer projecto fotográfico é que toda a realidade é manipulada, todos os factos são uma construção, moldados por aqueles que os documentam. Em muitas outras ocasiões, expus a minha preocupação com o modo como a vasta maioria do fotojornalismo é incapaz de representar os processos, sejam estes os que levam ou subjazem ao acontecimento coberto, ou os processos de apropriação e comunicação do real pelo fotógrafo. Talvez isto esteja relacionado com a incapacidade da imagem singular em representar o tempo. Ou talvez porque para os fotojornalistas, a realidade objectiva é não apenas alcançável como até mesmo manifestável através da veracidade da lente. Bernardo Soares (um dos heterónimos de Pessoa) escreveu que “algumas verdades não podem ser ditas senão em ficção”. Talvez sejam mesmo melhor ditas enquanto “ficção”. Apesar da busca constante de novas formas de assimilar e representar o real, o fotojornalismo nunca sentiu a necessidade de questionar certas regras, estéticas ou éticas. Estaria eu consciente do modo como a história seria apresentada aos leitores? Será que estas construções expuseram uma forma de trabalhar por parte do artista que nunca tinha sido antes anunciada? Seria esta a melhor plataforma para iniciar qualquer tipo de debate? Penso que é mais pertinente perguntar o seguinte: poderemos nós olhar uma imagem a um só tempo enquanto facto e construção, e estarmos cientes dos processos nela subjacentes? Julgo que sim. Invalidará isso o propósito jornalístico? Não sei. Se bem que dê as boas-vindas ao presente debate, nunca pensei que ele se viesse a centrar em polaridades tão redutoras como ético/não-ético, verdade/mentira, real/irreal. A fotografia é um simulacro. Ao reconstituir o seu objecto, como argumentou Barthes, cria um novo mundo, que não procura duplicar mas tornar visível. Numa sociedade em que a comunicação visual é preponderante, a transparência da câmara promove expectativas inalcançáveis, “contribuindo para uma cultura voyerística que usa e observa as imagens sem quaisquer cuidados, gratuitamente”. Na minha perspectiva, esta atitude para com a Fotografia é igualmente um desserviço ao Jornalismo. Embora o meu trabalho se defina, na sua maior parte, por processos sem recurso ao computador, não é correcto afirmar que sempre assumi posições puristas em relação à Fotografia. Projectos anteriores como O Ensaio do Espaço (2005-06, sobre fogos florestais em Portugal), Paisagens do Além: o Problema da Objectividade (2006-07, sobre regiões de glaciares em recessão na Islândia) e Aproximações (2006, uma série sobre aeroportos) lidavam com uma abordagem muito mais convencional do meio. Os próprios títulos poderão sugerir que há outras questões envolvidas para além do visível. Entendo a Fotografia como um meio complexo que diz respeito a uma vasta latitude de processos e mecanismos. Paulatinamente, tenho utilizado mais e mais variadas técnicas, analógicas experimentais e também digitais, para transmitir ideias e simplificar a minha linguagem visual (casos de Parables of Metaphor & Light, Monologues, além de outros). O mesmo acontece com muitas fotografias que exemplificam uma simetria impenetrável. Estas imagens estão presentes em vários projectos de trabalho, e são claramente distinguíveis das restantes fotografias dessas séries. Os fogos publicados na minha primeira monografia, Buracos Negros e Outras Inconsistências foram encenados – algo que sempre deixei bem claro publicamente. Por mais ambíguo e fora deste mundo que o resto do trabalho pareça ser, estas imagens destacam-se pela sua destreza visual. São distintamente construções, tanto quanto as fotografias espelhadas incluídas no slideshow retirado do portal do The New York Times. Bachelard indica como “tudo aquilo que muda rapidamente pode ser explicado pelo fogo”. Não obstante, enquanto os fogos funcionam como alegorias – representando a metamorfose que toda e qualquer realidade atravessa sempre que é observada – o espelhamento de algumas imagens serve uma outra função: a realidade é fragmentada, repetida, polarizada; apresenta-se o doppelgänger (duplo). As simetrias presentes nas minhas imagens não operam apenas a um nível visual; estão intrincadamente associadas à filosofia que fundamenta o trabalho. No seu livro Notes on a Visual Philosophy, Agnes Denes diz que a simetria “Ajuda-nos a cartografar a perda que ocorre na comunicação, isto é, entre o observador e o artista, entre o dador e o receptor, entre significados específicos e símbolos, entre nações, épocas, sistemas e universos”. Para Lacan, é a fase do espelho – um dos constituintes primeiros da identidade – que oferece um sentido imaginário de “totalidade” à experiência da realidade fragmentária. A simetria ajuda-nos a cartografar os parâmetros da existência e da comunicação humanas, sobretudo as suas inconsistências, o seu ímpeto dialéctico. Para mim, também acentua que “a interpretação da realidade pela câmara terá sempre de ocultar mais do que revela’. Alguns acharam difícil reconciliar o uso da tecnologia digital num trabalho para The New York Times com o facto de que eu teria indicado, noutros contextos, que não recorria a processos digitais, particularmente na monografia Topologias (Aperture, 2007). Uma pesquisa mais cuidadosa teria revelado que em monografias ou em material publicitário para exposições realizadas até meados de 2006, tenho evitado discutir o processo de produção. A partir de 2006, o meu trabalho passou a envolver-se com questões relativas à construção e teatralidade, mas sem que tivesse recorrido a construções efectivas, fossem estas físicas ou digitais. Em projectos como O Teórico Acidental, senti que precisava de estabelecer uma ligação com a realidade logo à partida. Manter as reivindicações implícitas de verdade da fotografia analógica é uma forma de recuperar a realidade. O trabalho procura pelo observador, envolve-o e pede-lhe mais tempo. Mas há uma sugestão perturbante de que nem tudo é bem o que parece. O momento em que se reconhece que há algo mais, o momento crucial da suspensão da incredulidade, é o ponto mais alto que se poderá atingir. Este processo de revelação lento e sentido de manipulação temporal é de uma importância central para o meu trabalho. Foi por esta razão que na monografia Topologias (ao contrário de trabalhos anteriores), decidi divulgar alguma informação sobre os relevantes processos de produção. O trabalho é produzido analogicamente, retratando paisagens encontradas e utilizando somente a iluminação disponível. Creio que fazer uma distinção entre a maior parte do trabalho e uma minoria de imagens que necessitaram de alguma mediação/ restauro digital é completamente irrelevante. Não se trata de omitir ou negar o processo, mas sim de incitar o espectador a uma espécie de dialéctica que o fará entregar-se de modo mais activo às imagens. No fim de tudo, a fotografia é silenciosa e apenas pode ser confrontada visualmente. Penso que não contribuí inadvertidamente para uma percepção errónea das minhas posições sobre a tecnologia digital. Percebo que cultivei a experiência do ilusionismo, omitindo legendas precisas, utilizando heterónimos, criando construções altamente simétricas (em projectos, de resto, bastante convencionais), utilizando longas exposições para retratar fenómenos, paisagens ou cenários encontrados de uma maneira que quase raia a magia. Será possível que o próprio artista comece a perder a noção do real e que as fronteiras entre a objectividade e a ficção se sobreponham e confundam? Apenas posso esperar que sim. Reconheço que quando o contrato entre autor/jornal/leitor é quebrado se está a negar a própria raison d’être do jornal, e que isso aliena o seu público. No entanto, parafraseando um curador que recentemente comentou o assunto, não acredito que The New York Times me tenha encomendado algo por o meu trabalho ser definível pelo uso de “longas exposições, sem qualquer manipulação digital”, mas porque a força do trabalho reside precisamente na ilusão da transparência fotográfica. Da mesma forma que um jornalista assegura a sua autoridade cultural através da relação íntima com a verdade, seria possível para um artista plástico, como eu, apresentar as suas próprias perspectivas como obsoletas, e avançar sobre este projecto de qualquer maneira que não a sua forma presente? Penso que se tivesse feito isto, aí sim, estaria a deturpar o meu trabalho, assim como o próprio espectador. Lewis Hine disse que embora as fotografias não mintam, os mentirosos podem fotografar. Vivemos num mundo afectado pela incerteza pós-moderna, pelo niilismo pós?-capitalista, e pela dúvida pós-colonial. Para o sociólogo Zygmunt Bauman, em nenhum outro momento da civilização ocidental moderna nos sentimos tão livres para nos expressarmos, mas ao mesmo tempo limitados, desesperançados diante de ambivalências existenciais desconcertantes. Numa sociedade assombrada pela mobilidade, por uma passagem que não se estabelece por ser veloz, mas por ser intangível e incerta, nunca atingida, resistimos a este processo de relativização através da manutenção de certos arquétipos míticos. Os arquétipos míticos são empregues na fotografia como um meio de propagar e de lidarmos com a questão da verdade. A confiança que depositamos na fotografia enquanto meio de comunicação do real, advém, em parte, da nossa convicção (inconsciente) em arquétipos míticos como verdades universais. Embora a fotografia ainda delimite áreas de contestação – sobretudo quando se imbrica num debate político, científico ou jurídico – quando se questionam os elos da fotografia com o real é como se se questionassem os últimos instrumentos disponíveis dos defensores do mito e verdade. Os divulgadores do mito têm uma grande influência sobre a cultura. Noutros tempos, este papel cabia às autoridades religiosas. Na nossa sociedade secular, são os jornalistas que muitas vezes tomam esse lugar. Segundo Robert Darnton, “a nossa própria concepção de ‘notícias’, de ‘novidades’, resulta de formas antigas de contar histórias.” Os fotojornalistas, dado cobrirem assuntos contemporâneos, revitalizam constantemente o seu inventório de símbolos, e por isso asseveram o seu papel de comunicadores eficientes com o público. Se a nossa noção de realidade depende das nossas medidas, cultura e história, e se os nossos quadros de referências se alteram ao longo do tempo, decorreria daí que as nossas ideias de verdade também se alterarão ao longo do tempo. Sob esta perspectiva, a verdade é apenas uma outra medida contextual, com a qual julgamos a realidade. A fotografia, enquanto reflexo mas também manipulação da realidade, é vista e julgada da mesma forma, por essa perspectiva. Os seres humanos passam as suas vidas na busca de alcançar uma totalidade quando isto vai contra os seus sistemas de percepção, e os seus homólogos cognitivos, de entre os quais certamente a linguagem. O filosofo britânico John Gray crê que a linguagem está na origem da ilusão do eu, oferecendo um sentido imaginário de “totalidade” à experiência da realidade. Segundo Gray, “agimos com a convicção de que somos um todo unificado, mas apenas conseguimos lidar com as coisas à nossa volta por sermos uma sucessão de fragmentos, um ‘ensaio de continuidades’”. Estamos programados para ancorar a nossa existência em verdades, certezas e finalidades quando só há mudança. Gray adianta ainda que “não podemos observar as mudanças que ocorrem incessantemente em nós mesmos, pois o eu que as observa vem e vai num piscar de olhos. A vida interior é demasiado subtil e fugaz para poder ser conhecida em si mesma.” Talvez por este motivo a vida exterior se nos apresenta como igualmente imensurável. O “eu fictício” necessita, pois, de “ficcionalizar o real para assim o pensar”. O grande desafio, portanto, é traçar um rumo, uma vivência, uma existência na contingência de um mundo alicerçado em forças ambivalentes, contradictórias – e sempre olhando, percebendo, questionado as nossas certezas, convicções e pressupostos lógicos, éticos, religiosos, jurídicos. No projecto Ruins of the Gilded Age somos confrontados não apenas com imagens de espaços particulares e únicos, mas com uma espécie de palcos nos quais um substancial número de narrativas muito diferentes (e talvez até incompatíveis) podem ser encenadas. Esta abordagem poderá estar relacionada com o conceito de Foucault da heterotopia, revelando, paradoxalmente, “uma forma de se sentir sem casa, sem vontade de regressar a casa – uma forma dissidente de nostalgia”. Revela um mundo de referentes sempre distantes, visto por um forasteiro, um estranho. A verdade fotográfica, como qualquer outra verdade, é dependente da cultura, das crenças, da história e da natureza humana. Algumas verdades são efémeras, enquanto outras se mantêm constantes. Mas mesmo as verdades imutáveis, que tendem a reflectir dimensões básicas e contínuas da vida em sociedade, estão a ser constantemente desafiadas. Uma fotografia de notícia deveria ser não apenas uma imagem factual representando um acontecimento isolado, mas também, de vez em quando, ser um modo de narrar uma história – uma história que incorpore ideias de verdade, realidade, sistemas culturais de valor, e, acima de tudo, percepção, com todas as suas contradições e ambiguidades. Ruins of the Gilded Age emerge precisamente nessa conjuntura onde as palavras falham, resistindo aos subterfúgios semióticos, atirando-nos para a exploração dos limites, das fronteiras instáveis, para as antinomias da percepção e da existência, convidando-nos a melhor entender a complexidade dos nossos trajectos e uma certa variedade do mundo. O significado do mundo já não está presente na sua superfície, se é que alguma vez o esteve. (para aceder à versão completa deste ensaio, visite: http://www.edgarmartins.com/html/09_07_19_how_i_can_see02.html )
Download