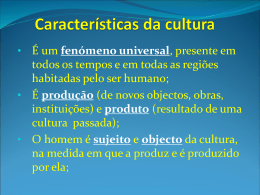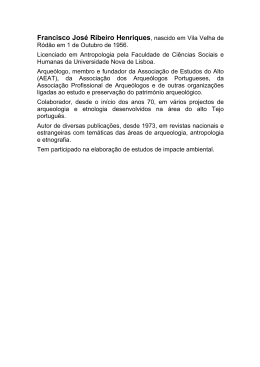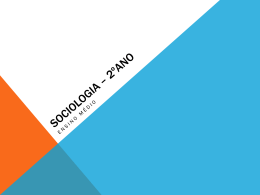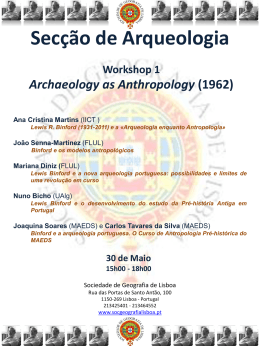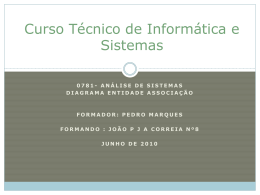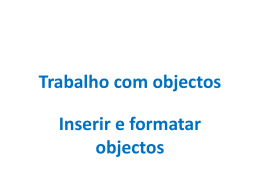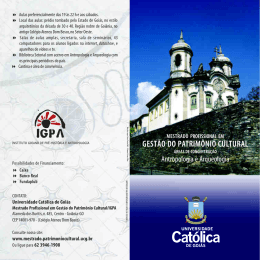Índice Cultura Material 1/43 CULTURA MATERIAL Richard Bucaille e Jean-Marie Pesez in: Enciclopédia Einaudi, Lisboa, IN-CM, 1989, vol.16 Homo — Domesticação — Cultura Material, p.11-47. ÍNDICE DO ENSAIO Nota introdutória 1. Pré-história da noção 2. História da noção 3. Cultura material e arqueologia 4. Cultura material: tentativ a de definição 5. Cultura material e história 6. Cultura material e história económica e social 7. Cultura material e história das técnicas 8. Dimensões da cultura material Bibliografia Nota introdutória A noção e a expressão ‘cultura material* (a não confundir com o conceito equívoco de ‘civilização material*) estão relativamente difundidas na história e, embora em menor grau, também em diversas ciências humanas. Não parece, no entanto, que alguém tenha delas alguma vez apresentado uma definição geral e rigorosa: os autores recorrem a elas sem propor acepções precisas ou, se o fazem, é de modo implícito, dentro da própria temática dos seus trabalhos e em função deles. Esta noção e esta expressão nem sequer parecem, aliás, ter sido objecto de controvérsias apaixonadas, ao contrário do que se observa com outros instrumentos intelectuais do mesmo género. Poder-se-ia portanto concluir que a ideia de cultura material é óbvia e que, por isso, é supérfluo dar-lhe uma definição explícita; também se pode pensar, porém, que desta falta de explicitação possam surgir ambiguidades e mesmo contra-sensos. Em resumo, pode-se para já dizer que, embora o seu significado global seja evidente, como muitas vezes acontece com as ideias e expressões que o investigador usa quotidianamente, a noção de cultura material continua a ser, de facto, imprecisa e simultaneamente a estar longe da ilusão de transparência; apresenta-se, mesmo assim, carregada de um conjunto de conotações bastante diversas, de que não se parece ainda ter feito nem uma recensão pormenorizada, nem um balanço. Tendo em conta a própria sorte da expressão, parece portanto útil e bastante urgente propor a sua definição da maneira mais clara e mais completa possível. Se é certo que a ideia de cultura material está difundida e implícita nos trabalhos que a ela se referem, é neles que necessariamente teremos de procurá-la, sem Índice Índice Cultura Material 2/43 tentar dar-lhe uma definição a priori, que não teria em conta, de modo exaustivo, significados concretos resultantes do uso que os autores fizeram de tal ideia. Concluído este inquérito prático, interdisciplinar e cronologicamente regressivo, impõe-se uma dupla constatação, cujos termos parecem reciprocamente excluir-se: a noção de cultura material, que, no interior da bagagem de noções das ciências humanas, é relativamente antiga, teve uma evolução bastante longa para que nela se possam individualizar diversas etapas; no entanto, mesmo no seu evoluir, esta noção conservou sempre algumas características permanentes que constituem a sua identidade e lhe garantem uma coerência duradoura. Mais precisamente: no passado, e por um período bastante longo — cerca de um século —, a ideia de cultura material sofreu a influência das rápidas e subtis modificações epistemológicas que assinalaram as ciências humanas contemporâneas. Aliás, ela própria se identifica com essas modificações, provando assim adaptar-se a uma conjuntura científica mutável; ao mesmo tempo, porém, através das variações desta última, conserva sempre uma grande estabilidade epistemológica, que demonstra as suas qualidades heurísticas precoces e permanentes no pensamento do nosso tempo. O paradoxo inerente a esta dupla constatação é, por isso, apenas aparente, visto que, em ambos os casos, somos levados a concluir que existe uma grande capacidade de adaptação da noção de cultura material às necessidades intelectuais da nossa época e, como ela se afirma de tal modo estável e simultaneamente sempre adaptável às exigências do momento, é bastante provável que corresponda a uma necessidade constante nas ciências humanas, e que a satisfaça. Índice Índice Cultura Material 3/43 I. Pré-história da noção Reconstruir a história da noção permitirá, por um lado, salientar que a sua flexível continuidade epistemológica é, na realidade, o resultado de uma longuíssima e prudente estabilização durante a qual, adquirindo direito de cidadania, aperfeiçoou continuamente o seu objectivo; permitirá, por outro lado, integrá-la nos contextos sociológicos e científicos que lhe permitiram nascer e, mais tarde, afirmar-se e desenvolver-se. As origens da noção são difíceis de precisar; segundo parece, foi-se formando progressivamente no decurso da segunda metade do século XIX no seio de diversas correntes de pensamento e, mais tarde, como resultado da conjugação dessas mesmas correntes, cujos sistemas ideológicos eram, na altura, convergentes. E conveniente distinguir cuidadosamente não só essas correntes, mas também os laços que mantêm entre si e que as unem ao ambiente sociocultural que as produziu, se se quiser compreender o contexto que irá permitir o aparecimento gradual da ideia de cultura material. Por volta de 1850 e nos anos seguintes, através de diversos trabalhos de grande ressonância, OS desígnios epistemológicos gerais que irão orientar a maior parte das produções científicas posteriores, até aos nossos dias, alcançam um ponto de maturidade. No que se refere às ciências que mais nos interessam, recordemos que se desenvolve por essa altura com rapidez o estudo da pré-história, sobretudo com Boucher de Perthes, que publica as Antiquités celtiques et antédiluviennes em 1847 e De l*homme antédiluvien em 1860; nesse mesmo período, Marx e Engels elaboram uma teoria da história e da economia das sociedades elevada à categoria de ciência: o Manifesto do Partido Comunista (Manifest der kommunistischen Partei) data de 1848 e o primeiro volume de O Capital (Das Kapital) sai em 1867. A antropologia social e cultural — à qual se pode também ligar o nome de Boucher de Perthes — só se desenvolve na realidade um pouco mais tarde, após algumas incertezas, com os mestres a quem deve a sua actual acepção e entre os quais não se podem deixar de citar Tylor, autor de Primitive Culture 1871, e Morgan, autor de Ancient Society (1877). Tão-pouco se podem esquecer OS contributos de ciências mais rigorosas como a paleontologia, com Darwin, cuja obra «On the Origin of Species» é de 1859, OU a fisiologia e a medicina, com Bernard. A simultâneidade destas transformações das ciências em ramos tão diversos é prova cabal da existência de uma «ruptura epistemológica», como lhe chama Althusser, essa mesma que Comte cedo compreendera — pelo menos desde 1826 — e tão bem formulara em termos do seu tempo. Longamente preparada no século das luzes e no início do século XIX com Diderot, Rousseau, Buffon, Lamarck, Cuvier e tantos outros, favorecida pelas revoluções políticas da época, essa ruptura acompanha a revolução industrial e a formação definitiva dos estados da Europa actual, aos quais dará o enquadramento ideológico e científico de que as burguesias nacionais e o mundo contemporâneo necessitam. Nos seus primeiros tempos, este universo sociocultural novo provoca também, portanto, uma Índice Índice Cultura Material 4/43 renovação das ciências que corresponde a necessidades até aí insólitas; desde o «homem antediluviano» até à atenta observação das sociedades que mais diferem da nossa, passando pelo marxismo, o evolucionismo biológico, etc., todas as novas teorias científicas colidem com os defensores da ordem antiga. Os inovadores acabam, no entanto, por obter a confiança dos seus contemporâneos, geralmente sob a forma de cátedras de ensino, nas quais substituem frequentemente professores tradicionalistas, a partir daí completamente esquecidos. As únicas verdadeiras excepções a este tipo de consagração social são Marx e Engels, que punham precisamente em causa a nova ordem social. Este movimento geral, cuja amplitude não escapou aos contemporâneos, tem, evidentemente, causas e características comuns; é, em grande parte, o resultado de uma nova problemática ideológica que, opondo-se ao imobilismo e à afirmação de absoluto exaltados pelo conhecimento tradicional, restitui a cada coisa e a cada fenómeno um passado e um futuro diversos entre si e diversos do presente, sublinhando simultaneamente a relatividade e a contingência de todo o objecto da ciência. Como objecto de ciência é também considerado o homem, sobretudo pela ciência da pré-história e pela antropologia. Paralelamente, estas novas correntes de pensamento desencadeiam uma metodologia adaptada ao seu objecto: a glosa e a exegése doutrinal desenvolvida com base em referências milenares — como a bíblia ou os filósofos gregos — são substituídas pela experimentação prática, o confronto de dados comprováveis, a demonstração com prova, um esforço por estabelecer leis verificáveis. Assim se chegou a um primeiro ponto fundamental para este tema: experimentações, confrontos, provas, leis têm uma necessidade imperativa de objectos materiais e de factos concretos: Boucher de Perthes reflecte sobre os depósitos estratigráficos do subsolo, sobre os utensílios de pedra, sobre as ossadas; Marx baseia-se numa impressionante documentação económica em que predominam quantidades mensuráveis de matérias-primas ou de manufactos, elementos monetários, etc.; os antropólogos recorrem a uma escrupulosa observação etnográfica das civilizações e dos objectos por elas produzidos e Darwin trabalha com animais reais. Passa-se portanto ao exame exigente de realidades tangíveis; simplificando um pouco, pode dizer-se que é nessa altura que o pragmatismo tem uma enorme vantagem sobre o idealismo. Poderemos captar a ideia de cultura material neste extraordinário fervor científico e nesta renovação epistemológica? Parece que não: não existem ainda nem a expressão nem a noção de ‘cultura material , mas é esta a ocasião em que se elaboram as condições sociológicas e científicas graças às quais elas mais tarde surgirão. Esta noção, a semelhança de muitas outras ideias dantes inimagináveis, passa a ser possível a partir do momento em que, com todos os mestres já citados. muda a definição da finalidade e do objecto científico e se desenvolve uma metodologia que pressupõe o recurso ao concreto, ao tangível, ao material. Assim, a ideia de cultura material que, de certo modo, está ainda enredada no tecido de onde desabrochará, surge em forma embrionária nos utensílios de pedra estratigraficamente bem colocados de Boucher de Perthes. Estes utensílios, ligados a um estrato arqueológico, são testemunho não só de uma data do passado e, implicitamente. de uma civilização anteriormente impensável e que neles se Índice Índice Cultura Material 5/43 materializa, como também — esses objectos e o tipo de arqueologia que os produziu — se diferenciam radicalmente da arqueologia clássica que já existe e tem objectivos completamente diferentes. Boucher de Perthes substitui o objecto de arte excepcional pelo objecto material comum e anónimo e, em vez de lhe exigir uma emoção estética isolada do resto da civilização que o produziu, procura um laço material com a civilização que, por seu intermédio, quer entender; estas características embrionárias irão desenvolver-se quando a noção se definir. Além disso, não é verdade que esta noção parece nascer do materialismo histórico de Marx que lhe oferece não só uma moldura intelectual, mas também uma orientação terminológica? Por fim, as colecções etnográficas de objectos materiais que se fazem um pouco por todo o mundo nesta época não serão indício do estudo que os especialistas da cultura material poderão fazer delas no seio da antropologia? Assim, depois de 1850, a ideia de cultura material não está ainda isolada e continua mal definida. Mas a análise da ruptura epistemológica desta época e das novas condições científicas que dela derivam permite descobrir uma sensibilidade até aí ignorada que irá possibilitar o aparecimento de numerosas noções originais, como aquela que aqui consideramos. Esta irá desenvolver-se naquele terreno propício que a atenção dada ao concreto e a vontade de nele basear a explicação e a síntese. No período que vai de cerca de 1880 a 1920, as aquisições essenciais, cuja importância aqui se sublinhou, desenvolvem-se e aperfeiçoam-se; a comunidade científica esforça-se então por assimilar todas as suas implicações e extrair delas todas as conclusões. Nos últimos vinte anos do século XIX define-se e afirma-se uma ciência jovem que terá grande importância na sucessiva difusão da noção de cultura material: sociologia, chamara-lhe Comte na sua tipologia positivista e, ainda antes de 1900, Durkheim levá-la-á à maturidade. Sabe-se que hoje em dia o significado da palavra ‘sociologia' é mais restrito e que esta ciência se ocupa agora apenas do estudo — aplicado — das sociedades e das civilizações ocidentais; mas a sociologia de Durkheim é bastante mais vasta e podemos identificá-la sem dificuldade com aquilo que hoje se chama antropologia social e cultural. No imenso projecto a que a destina estão teoricamente incluídos todos os fenómenos sociais e culturais, isto é, não são descurados os aspectos materiais das civilizações, aqueles que, na terminologia marxista, correspondem ao campo das infra-estruturas. E mesmo se, ao fim e ao cabo, Durkheim acabou por se dedicar muito mais às manifestações simbólicas e às representações mentais das civilizações — os domínios das supra-estruturas de Lévi-Strauss — o aparecimento da noção de cultura material será muito facilitado por este espaço teórico que lhe foi atribuído. É preciso dizer que o espírito do tempo estava apto a acolhê-la: sobretudo em França, mas também em outros pontos da Europa, é a época das leis sociais, da separação entre a Igreja e o Estado, da laicização; as classes operárias combativas e os seus tribunos convictos centram a sua atenção na condição material e exigem que seja melhorada; na literatura, o romantismo morreu e o naturalismo — Zola, por exemplo — observa com grande atenção e pretensões de objectividade as particularidades materiais da vida campesina e operária. Os mestres cuja influência já referimos tinham revelado, em graus diversos, ser sensíveis às ideias de progresso social; o próprio Durkheim tinha convicções Índice Índice Cultura Material 6/43 socialistas. A partir desta época é evidente a relação, em seguida confirmada, entre estas opções políticas gerais e a atenção dada à vida material. Índice Índice Cultura Material 7/43 2. História da noção Nos primeiros vinte anos do século XX a noção de cultura material completa o seu longo processo de maturação e toma realmente corpo, tornando-se quase indispensável em vastos sectores das ciências humanas, como a pré-história e certas formas de arqueologia — em especial a céltica — que se alargaram consideravelmente. Por outro lado, por razões metodológicas, é-lhe dedicada grande atenção por parte dos intelectuais que descobrem e difundem o pensamento marxista. A expressão específica «cultura material» surge nessa altura e, em 1919, um decreto de Lenine que cria na Rússia a Akademiia Istorii Material’noi Kul’turv assinala o seu primeiro reconhecimento institucional. Esta data representa uma marca na história da noção que, terminada a fase de elaboração, alcança a maturidade. Além disso, a criação deste instituto por parte dos marxistas mais intransigentes e, portanto, num contexto político dos mais difíceis, confirma clamorosamente a ligação que sempre existiu entre a ideia de cultura material, o socialismo em geral e o marxismo em particular. Por fim, esta data sanciona um facto relativamente novo, o ingresso oficial da noção no campo da história (o decreto de Lenine fala de «história» da cultura material; enquanto dantes as principais ciências humanas tinham participado na sua gestação, a cultura material, com instrumento intelectual acabado, passará a ser objecto de história. Entre 1920 e a Segunda Guerra Mundial, a ideia de cultura material, já definida no plano epistemológico, passa a ser de uso corrente nas ciências humanas, mas de um modo muito especial na história. De facto, naquela época — depois de Jaurès, da revolução russa e da formação dos partidos comunistas ocidentais — os ambientes intelectuais e universitários europeus observavam o socialismo. Assim, os historiadores franceses dos anos 30, em especial, sucedem a uma longa geração de autores que, desde Michelet Fustel de Coulanges, se tinham principalmente dedicado à elaboração de uma história nacional que legitimasse no piano ideológico o novo Estado republicano e centralizado. A preocupação máxima destes velhos autores era «os quarenta reis que fizeram a França» (observa-se o mesmo fenómeno, em modos e tempos diversos, nos principais países europeus); mas depois de 1920 e sobretudo depois de 1930, a situação muda: é como se os historiadores se tivessem libertado destas preocupações nacionais já satisfeitas, logo que se aperceberam que essa história da França era, quando muito, a história dos principais acontecimentos que apenas dizem respeito a alguns milhares de indivíduos, O exemplo francês não foi escolhido ao acaso: primeiro, porque em França a redacção da história nacional foi particularmente elaborada e sobretudo porque foi em França que a reacção a esta tendência levada à exaustão se mostrou mais viva e brilhante. Esta reacção está ligada a dois nomes: Marc Bloch e Lucien Febvre. O caso de Bloch é particularmente elucidativo: nascido em 1886, depois de ter estudado com os grandes historiadores nacionalistas, torna-se «maître de conférences» de história medieval em 1919 e professor de história da economia na Sorbonne em Índice Índice Cultura Material 8/43 1936. Particularmente relevante é o título da sua cátedra parisiense, porque revela uma evolução da história, assinalada também por duas das suas obras principais: uma é «Les rois thaumaturges» (1924), onde a etnografia faz, de certo modo, uma primeira incursão na grande história; mais tarde, em 1931, escreve «Les caractères originaux de l’histoire rurale française», onde se confirma uma orientação definida para o económico, o colectivo, o material, orientação essa reforçada com a publicação, em 1939-40, de «La société féodale». Patriota — em 1944 será fuzilado como resistente — mas também militante socialista, Bloch é, a partir dos anos 20, o chefe de fila de uma corrente de pensamento que se prolongará até aos nossos dias no grupo dos «Annales», por ele fundado juntamente com Febvre. A conjuntura sociológica e científica em que estes historiadores evoluem e chegam a lugares de responsabilidade, mas também as suas convicções políticas e mesmo os seus gostos pessoais, levam-nos a constatar que os factos económicos e técnicos, os sistemas de produção, de distribuição e de consumo e, de modo geral, toda a vida rural, são praticamente ignorados. Ora, a população medieval é essencialmente composta por camponeses produtores. Mas o que é que produzem, em que quantidade, com que utensílios e segundo que técnicas? Quais são os circuitos comerciais, como e com quê funcionam, quais são os preços dos géneros alimentícios de uso corrente e quem os pode adquirir? Como e de que vivem as massas rurais, qual é, afinal, a sua vida quotidiana? Todas estas questões não tinham resposta. A história, em suma, parecia muito parcial e, portanto, incompleta. Dando a palavra àqueles a quem Bloch chama «os mudos da história», os historiadores sujeitavam-se a uma tarefa imensa, ainda hoje longe de estar terminada. Se é verdade que o estudo da cultura material se transforma, a partir de 1920, sobretudo em história da cultura material, nem por isso as outras ciências humanas lhe são completamente estranhas. Assim os estudos pré-históricos, embora em parte dedicados à interpretação da arte rupestre, continuam a estudar essencialmente ossadas e utensílios; os estudiosos da pré-história foram desde muito cedo levados, de certo modo obrigados pela força das circunstâncias, ao estudo da cultura material, porque os seus objectos arqueológicos, bastante concretos, não permitiam outra coisa e porque, ao contrário do historiador, quem estuda a pré-história não tem à sua disposição fontes de arquivo escritas. Por outro lado, dissemos já que a antropologia desenvolvida por Durkheim teve uma parte importante na difusão da noção de cultura material: enquanto tentativa de descrição dos mecanismos gerais do funcionamento das colectividades humanas, esta ciência sempre dirigiu a sua atenção mais para os fenómenos socioculturais colectivos e recorrentes do que para os factos individuais ou excepcionais; enquanto antes de Bloch, os historiadores descreviam sobretudo factos raros ou pontuais e individualidades isoladas, os antropólogos esforçavam-se já por estudar — embora no presente — civilizações completas. É verossímil que os laços científicos bastante estreitos que o grupo dos «Annales» mantinha, no seu início, com a redacção do «Année sociologique», animado por Marcel Mauss — herdeiro espiritual e directo de Durkheim —, tenham sido para os historiadores do grupo um incentivo para não desviarem a atenção dos fenómenos de massa e quotidianos. Índice Índice Cultura Material 9/43 Num plano mais lato, esse contacto bastante prolongado e cordial com a antropologia dos anos 30 parece ter dado aos historiadores uma visão da sua matéria mais semelhante à da antropologia que à dos seus antecessores. A antropologia, apesar de parecer ter contribuído notavelmente para a substituição de uma história de gestas por uma história da cultura, continuou, no entanto, por sua própria conta a atribuir aos fenómenos materiais propriamente ditos apenas uma importância secundária. Durkheim, Mauss e os seus colaboradores, bem como os seus colegas anglo-saxónicos, parecem bastante mais atraídos pelos fenómenos simbólicos e pelas representações mentais do que pelas infra-estruturas das civilizações. Assim, Mauss, embora atribua o justo espaço, no seu curso de etnografia, à tecnologia e à economia — devem-se-lhe, entre outras coisas, algumas belas páginas sobre as técnicas do corpo —, dedica a parte essencial da sua pesquisa sobretudo a fenómenos como a magia, a dependência social expressa pela dádiva, etc. A inclinação da antropologia para o estudo — rigoroso, é certo, mas talvez demasiado exclusivo — das formas socioculturais menos materiais parece portanto representar quase uma constante desta disciplina, que a desvia, a longo prazo, da investigação da cultura material propriamente dita. Hoje em dia encontramos ainda esta tendência, já que os aspectos materiais surgem apenas como apoio, de modo contingente, das brilhantes sínteses baseadas principalmente nos aspectos mais supra-estruturais como, por exemplo, o parentesco, assunto privilegiado pela antropologia. Existem, evidentemente, insignes excepções no que diz respeito, por exemplo, à tecnologia, com o inglês Forbes e o francês Leroi-Gourhan; mas esses casos raros não são suficientes para reequilibrar a tendência dominante. No seu conjunto, a antropologia — embora não se possa dizer o mesmo da etnografia propriamente dita — nunca se interessou muito pela cultura material. Índice Índice Cultura Material 10/43 3. Cultura m aterial e arqueologia Ligado à história, o estudo da cultura material ter-se-ia a breve trecho defrontado com uma grave dificuldade, se se tivesse limitado à exploração das fontes propriamente históricas, isto é, aos documentos escritos. Os documentos tornam-se cada vez mais raros à medida que se recua no tempo. Quando a escrita é privilégio de poucos, quando a sua raridade confere um valor e um carácter quase sagrados, ou, pelo menos, prestigiosos, quem escreve não se detém com certeza naquilo que consideraria conversas ociosas: dizer, descrever aquilo que todos sabem porque o têm debaixo dos olhos, aquilo que a todos é familiar porque quotidiano. E o que há de mais familiar, conhecido e quotidiano que a cultura material dos objectos, dos gestos, dos hábitos de todos os dias? Se o copista casualmente menciona estes objectos e estes gestos, fá-lo com uma palavra que levanta ao historiador problemas de interpretação, em vez de lhe fornecer informação. Basta pensar na palavra carruca e nas controvérsias que originou, ou então no barco viking que anima as metáforas da poesia escáldica e ao qual encontramos algumas referências esparsas nas sagas; à parte algumas excepções, não podemos esperar melhor dos documentos figurados: o barco é uma silhueta desenhada em algumas pedras rúnicas. Tudo o que se sabe, não mais que o essencial, deve-se às sepulturas feitas em embarcações, Gokstad, Oseberg, ou aos navios afundados nos fiordes, como os de Skuldelev e, portanto, à arqueologia. Graças à arqueologia, o estudo da cultura material deu um salto. Por um lado, a arqueologia afirma-se como um caminho vantajoso para aceder à cultura material; por outro, esta última depara-se-nos como o melhor objectivo que a pesquisa arqueológica poderia propor-se. Os estudiosos da pré-história poderiam ter dado o exemplo: alguns dos seus trabalhos demonstram o que se poderá esperar de escavações organizadas, sistemáticas e precisas. Na realidade, o incentivo veio de outro lado: a conjuntura política do pós-guerra acelerou a conjuntura ‘científica. Na Europa de Leste, e particularmente na Polónia, os historiadores esforçaram-se por rebater as teses expansionistas da escola histórica alemã, segundo a qual a Polónia, por exemplo, não teria sido mais que uma dependência histórica e cultural do Sacro Império. Para desmantelar esta afirmação, os estudiosos dos países eslavos não dispunham de textos: restava a escavação para demonstrar que uma cultura e uma sociedade originais, autóctones, existiam de facto antes do Drang nach Osten. Assim nasceu ou, pelo menos, se desenvolveu a actual arqueologia medieval. Quem diz arqueologia diz vestígios de habitações e de edifícios, de objectos domésticos e de utensílios, etc., logo, de cultura material. E na Polónia as pesquisas foram, precisamente, quase sempre feitas pelo Instytut Historii Kultury Materialnej. Os Polacos puderam finalmente demonstrar que as origens da Polónia nada devem ao mundo germânico. Constatar este facto não significa ter preconceitos; volta apenas a admitir-se que a história da cultura material, como Índice Índice Cultura Material 11/43 problemática, e a arqueologia, como método, reconfirmaram desse modo as suas grandes qualidades heurísticas. A arqueologia medieval também se desenvolveu, de maneira menos polémica, na Inglaterra, onde prevaleceu a pesquisa nas aldeias abandonadas; muitas foram as tarefas orientadas por iniciativa do Deserted Village Research Groups animado por Maurice Beresford e John Hurst. No resto da Europa, na Alemanha, nos Países Baixos, na França, na Itália, a arqueologia medieval desenvolveu-se, sem dúvida, em grande parte sob uma dupla influência: o exemplo eslavo e o exemplo inglês; em França publicou-se um importante trabalho de pesquisa arqueológica sobre as aldeias abandonadas que se reportava aos princípios dos investigadores polacos. Os motivos fundamentais não são, portanto, sempre aqueles que provocaram a afirmação e a consagração da arqueologia medieval nos países eslavos. É significativo que, em Inglaterra, os historiadores e os arqueólogos se tenham associado na pesquisa. À necessidade geral de remediar as carências das fontes escritas — carências mais ou menos clamorosas consoante os países e os séculos — junta-se um outro facto: a documentação clássica, escrita ou visual, pode englobar amplos sectores da cultura material, mas só dá deles uma imagem reflectida, subjectiva e já interpretada, necessitando, portanto, de certa prudência. Além disso, quando um texto cita um objecto concreto, não se pode, na maior parte dos casos, dar dele uma imagem precisa; a arqueologia, pelo contrário, põe-nos directamente em contacto com o próprio material, que se pode tocar, examinar e interpretar sem o perigo de erro devido à subjectividade da documentação. Mesmo a arqueologia tem os seus limites: os que, por exemplo, dependem da conservação dos diversos materiais; resta o facto de trazer luz a uma cultura que se pode chamar de hipermaterial. Embora uma documentação como a que permitiu que Le Roy-Ladurie escrevesse «Montaillou, village occitan» [19751 continue a ser excepcional em riqueza e exactidão, só a arqueologia, segundo Leroi-Gourhan, não conhece limites de documentação no espaço e no tempo; só ela, por conseguinte, pode fornecer informações bastante precisas, numerosas e bem repartidas topográfica e cronologicamente, aptas a elaborar sínteses gerais e particularizadas. O arqueólogo da cultura material tem, portanto, à sua disposição uma base epistemológica e metodológica ampla e bem fundamentada, e os historiadores contemporâneos não se enganam ao terem cada vez mais confiança na documentação que os arqueólogos lhes oferecem; por outro lado, historiador e arqueólogo fundem-se muitas vezes numa mesma pessoa. Esta utilização do documento arqueológico está ainda pouco difundida na Europa Ocidental; é, pelo contrário, quase sistemática na Europa Oriental, nos Estados Unidos e, de modo mais genérico, nos países cuja civilização não conheceu durante muito tempo a escrita (a África, a América do Sul, a Oceânia, etc.). O estudo da pré-história usa hoje a própria expressão ‘cultura material* de modo mais limitado do que o da história; pode, no entanto, dizer-se que a pratica numa medida não inferior, como demonstram as numerosas escavações pré-históricas e os seus admiráveis resultados. Enumerá-los levaria muito tempo: limitar-nos-emos Índice Índice Cultura Material 12/43 ao conhecidíssimo exemplo da escavação feita por Leroi-Gourhan em Pincevent, próximo de Paris, onde conseguiu reconstruir as tendas, as lareiras, o ambiente doméstico dos caçadores magdalenianos, bem como a estação de caça, as quantidades de carne disponíveis (com prudência, é certo) para cada indivíduo e algumas maneiras de cozinhar: não estará assim a arqueologia a desempenhar o papel atribuído por Marc Bloch à história da cultura material? Pode portanto dizerse sem exagerar que esta última — como já muitas vezes aconteceu — será levada a confundir-se cada vez mais com uma arqueologia metodológica e epistemologicamente renovada (que tem poucas analogias com a arqueologia clássica); é isso que caracteriza a evolução actual da noção de cultura material: não só a terceira fase da sua evolução não está ainda concluída, como parece, pelo contrário, destinada a um belo futuro científico. Índice Índice Cultura Material 13/43 4. Cultura material: tentativa de definição Confirmou-se ser necessário um exame, mesmo superficial, no tempo, no espaço e em diversas ciências vizinhas para individualizar a origem, a evolução e a área de extensão da ideia de cultura material. Pode constatar-se como ela continua a estar difundida, dispersa nos países, nas disciplinas e nos últimos cem anos de pesquisas das ciências humanas: isto prova sem dúvida a sua necessidade e o seu valor, mas confirma também que nunca foi definida com exactidão e que só progressivamente, depois de ter percorrido todo o campo epistemológico em que se desenvolve, se descobriram todos os seus aspectos. Depois de se apreender o essencial neste campo, e partindo dessa base, procurar-se-á então uma definição. Note-se sobretudo que a expressão específica ‘cultura material* é apenas uma formulação muito restritiva dos múltiplos aspectos que compõem essa noção e não abarca a sua totalidade: a cultura material é composta em parte, mas não só, pelas formas materiais da cultura. Podemos propor reduzir os numerosos aspectos da noção a quatro grandes características principais, enumerando-as segundo a ordem de importância que lhes é atribuída. Talvez seja, porém, melhor afastar logo um falso problema: ‘cultura* ou ‘civilização* material? Podemos dissertar infinitamente sobre os diversos cambiantes que distinguem estes dois termos. Consideremos que ‘civilização* tem um significado mais lato, que a palavra se refere a um sistema de valores que opõe o civilizado ao bárbaro e primitivo e, por essa razão, pode acontecer dar-se preferência a ‘cultura*, mais fácil de pôr no plural e que não implica hierarquias. Em algumas línguas, como o francês, ‘cultura* e ‘material* podem ser entendidos como termos antitéticos; mas os Alemães, os Eslavos e os Ingleses atribuem a 'cultura' o significado que os Franceses dão a 'civilização', e 'cultura material' é uma expressão consagrada pelo uso, pela origem e difusão da noção, em grande parte devidas aos estudiosos dos países da Europa Oriental. A expressão parece também encontrar ampla justificação no uso que se faz dessa palavra em antropologia e essa é a melhor referência possível, visto que a antropologia oferece, apesar de tudo, a terminologia mais universal. Além disso não parece — e é isso o que mais importa — que a expressão ‘civilização material*, raramente utilizada se exceptuarmos o livro de Braudel [1967], nos conduza a uma noção diversa. Se tentamos, portanto, abordar uma definição de cultura material destacando de modo sistemático as conotações que ela implica, somos levados a evidenciar algumas características essenciais. Antes de mais — paradoxalmente — a primeira característica não será a materialidade, que constitui mais o substrato da noção do que o seu aspecto metodológico mais importante. A cultura material pode ser definida antes de mais como a cultura do grosso da população. Quer isto dizer que é aquela que diz respeito à imensa maioria numérica da colectividade estudada; podem, evidentemente, fazer-se subdivisões dentro de tal maioria e distinguir, por exemplo, classes sociais, grupos rurais e urbanos, etc., mas não é isto o essencial: a cultura material, cultura do colectivo, contrapõe-se sobretudo à individualidade. Índice Índice Cultura Material 14/43 Assim, nunca nos passaria pela cabeça falar da cultura material deste ou daquele indivíduo específico e isolado: a cultura é sempre dividida com outros indivíduos, geralmente numerosos, e, neste conceito de colectividade, é fácil ver a influência, já referida, da antropologia social e cultural. Note-se no entanto que, embora parecendo recusar-se a priori a subdivisão do grosso da população em classes ou grupos de qualquer tipo, nem por isso a cultura material pode ser confundida com a cultura popular (voltaremos mais adiante a este assunto). Quando Boucher de Perthes analisa ossadas e utensílios arqueológicos, pouco lhe importa saber a quem tenham especificamente pertencido ou qual o indivíduo que os fabricou: para ele, são sobretudo testemunho da presença do homem artífice de utensílios em geral e é isso o essencial; a sua emoção intelectual é, portanto, muito diferente da do historiador especialista em Ramsés II quando se encontra frente à sua múmia ou a objectos que lhe pertenceram. Por fim, quando o arqueólogo medievalista estuda, por exemplo, um esqueleto, não é a individualidade do ser humano a quem pertenceu que lhe interessa, mas antes aquilo que as características morfológicas do esqueleto lhe ensinam sobre o ambiente cultural material em que viveu aquele ser humano: para o arqueólogo, é muito mais importante que aquele esqueleto represente a média da população e não a excepção; também neste caso a perspectiva é muito diferente da de quem escava os túmulos faraónicos esperando encontrar múmias o mais excepcionais possível. Assim, colocando-nos numa perspectiva cultural no sentido que a antropologia dá a este adjectivo, o estudo da cultura material introduz nas ciência humanas, e particularmente no estudo da préhistória e da história, a dimensão do maioritário e do colectivo. A segunda característica implícita na noção de cultura material está dialecticamente ligada à primeira; visto que o estudo dos fenómenos culturais (sejam ou não materiais) pressupõe um interesse pela quase totalidade da colectividade de que se ocupa, concilia-se mal, por consequência, com aqueles factos isolados ou excepcionais a que os historiadores chamam acontecimentos. Longe de ser um momento importante no estudo da cultura material, o acontecimento representa antes uma inútil fractura: pode, na melhor das hipóteses, ser interpretado como um efeito, explicando, por exemplo, uma certa luta com determinada organização sociocultural ou — em termos marxistas — com certas condições socioeconómicas. Este estudo, portanto, não só não tem necessidade de heróis como, para além disso, não tem necessidade de heróis que «fazem a história» ou pensam fazê-la à força de acontecimentos. Mesmo neste caso é evidente a influência da antropologia na definição interna da cultura material: também esta ciência está, de facto, muito mais atenta aos factos repetidos do que aos factos acidentais. Para indicar aquilo que é um não-acontecimento por uma palavra que não seja negativa, podemos recorrer à expressão, já bastante difundida, de «facto quotidiano» que não é, porém, completamente satisfatória porque, se o estudo da cultura imaterial se limitasse à descrição da vida quotidiana, ficaríamos sempre ao nível dos microacontecimentos. Ao interessar-se pela investigação dos não-acontecimentos, o estudo da cultura material dedica-se, pelo contrário, a observar de preferência aquilo que na colectividade é estável e constante e que, como tal, a possa caracterizar: em vez da sucessão de factos Índice Índice Cultura Material 15/43 diversos, procura os factos que se repetem suficientemente para serem interpretados como hábitos, tradições reveladoras da cultura que se observa. Notese urna vez mais que a etnografia utiliza o mesmo processo. Todos estes aspectos da noção de cultura material estão amplamente ilustrados pelos trabalhos que sobre ela se debruçam. Fundando, em 1919, a Akademiia Istorii Material'noi Kul'tury. os dirigentes soviéticos procuraram dotar a Rússia de um organismo científico que, em vez de contar uma história de lutas, deveria mostrar as condições concretas de existência das massas rurais e, naturalmente, as lutas que estas empreenderam para as melhorar, mas lutas de classe, bem entendido, lutas políticas onde a batalha campal é só um episódio e um resultado. Saliente-se a propósito que o estudo da cultura material de modo nenhum nega, como poderíamos ser tentados a acreditar, o dinamismo histórico: parece, no entanto, colocá-lo, não no acontecimento — uma revolução, por exemplo — mas sobretudo nas condições técnicas, económicas, culturais e sociais que provocam tal acontecimento e são por ele modificadas; estamos, como é evidente, muito próximos da visão marxista da história. Eis outro exemplo que demonstra como o objecto da história da cultura material não é o acontecimento: quando Bloch (1939) redige o seu quadro da sociedade feudal, não o faz para descrever a longa série factual dos inumeráveis acontecimentos conflituais que ela contém, mas para mostrar a organização dessa sociedade, onde o próprio conflito surge como urna resultante sociológica constante e como uma característica entre tantas do mundo feudal e não como um facto interessante e em si mesmo explicativo. Outro caso exemplar: os arqueólogos fazem pesquisa e muitas vezes põem a descoberto agregados populacionais destruídos por uma catástrofe — cataclismos naturais, incêndios, etc. — onde os habitantes, que morreram ou se puseram em fuga, nada puderam modificar da disposição habitual do seu universo) doméstico e quotidiano; tragédia para as vítimas, esta situação é providencial para o historiador da cultura material, que pode extrair dela uma infinidade de informações. Mas não é a catástrofe em si que o interessa: acontecimento contingente provocado por dados naturais ou culturais exteriores e preliminares, ela apenas catalisa a fixação precisa de uma cultura material, único objecto de estudo do arqueólogo. Para o estudioso da pré-história ou de antropologia da cultura material, o acontecimento, como vimos através destes exemplos, é apenas o resultado e, quando muito, uma ilustração do substrato cultural colectivo e repetitivo que ele quer estudar. As duas primeiras características referem-se ao primeiro termo da expressão «cultura material», as duas que se seguem explicam o segundo. Definindo com certa precisão — embora sempre implicitamente — em que consiste, neste caso, a materialidade, os autores que a trataram dão à noção todo o seu valor epistemológico e heurístico; com efeito, enquanto as características colectivas e repetitivas da cultura material são apenas dois dos aspectos principais da noção de cultura em geral, as seguintes determinam, através da ideia de materialidade, um campo de pesquisa que demonstrou ser original, interessante e eficaz. Podemos ver que, ainda mais que a colectividade e a repetição, estas duas outras características contidas na noção de cultura material estão dialecticamente ligadas Índice Índice Cultura Material 16/43 e mantêm relações estreitíssimas, de tal modo que é difícil examiná-las separadamente. Antes de mais, os fenómenos infra-estruturais — segundo a terminologia marxista —- constituem um dos domínios mais evidentes e característicos dos estudos sobre a cultura material. Isso implica que esses estudos não se fundamentam nos diversos sistemas supra-estruturais das culturas: os sistemas estéticos, jurídicos, morais, religiosos, linguísticos, etc. são tratados sistematicamente apenas como elementos secundários, isto é, corno epifenómenos. Não porque os especialistas da cultura material os excluam formal-mente ou os ignorem, mas, como é evidente, não lhes concedem um papel explicativo essencial nos fenómenos que estudam, nem na cultura em geral. Afastamo-nos assim do raciocínio global da antropologia, tanto quanto nos aproximamos do marxismo; a primeira, de facto, com os seus numerosos e excelentes estudos dos sistemas simbólicos de representação, atribui-lhes implicitamente um grande valor explicativo dos fenómenos socioculturais em geral, enquanto o segundo considera estes sistemas apenas como produtos derivados das causas primeiras, que seriam a economia, a técnica, etc., em resumo, daquilo a que Marx chama infra-estruturas. Sem querermos ser demasiado sistemáticos, podemos dizer que, no seu conjunto, os especialistas da cultura material preferem este segundo ponto de vista: estudar a cultura material significa atribuir uma importância causal, nos factos culturais, aos limites materiais que devem ter em conta. Isso explica o facto de terem sido sobretudo socialistas de todas as tendências os primeiros a conceberem a noção de cultura material, dando-lhe depois nome, desenvolvendo-a, aperfeiçoando-a e utilizando-a: explica também o modo como a noção se manifestou, principalmente numa conjuntura favorável ao socialismo. É inútil apresentar outros exemplos: quando Lenine, em 1919, e, mais tarde, outros legisladores da Europa Oriental criaram institutos de história da cultura material foi porque. como marxistas, a consideravam sede dos «motores da história», para retomarmos uma imagem célebre. Quando Bloch e Febvre reagiram contra a história évènementielle — e nacionalista — dos seus antecessores, foi também porque procuravam não menosprezar a parte, considerada essencial, que a economia desempenhava na explicação das situações e do dinamismo histórico. Não se trata aqui de examinar a importante questão do interesse comparado de infra-estruturas e supra-estruturas na causalidade histórica e cultural: esse debate, delicado e não isento de aspectos polémicos, apresenta, aliás, matizes muito diversos. Basta ter em conta que, neste debate, a noção de que nos ocupamos implica uma escolha: o estudo da cultura material é o estudo dos aspectos materiais da cultura entendidos como causas explicativas, e isso, em certa medida, em prejuízo dos seus aspectos menos materiais. Esta atenção aos fenómenos culturais mais infra-estruturais justifica de imediato que recorramos aos únicos documentos seguros onde podemos estudá-los: os objectos concretos. São estes que, transmitindo da melhor maneira a cultura material, ocupam, pelo menos em parte, e alimentam com regularidade os campos de pesquisa, sobretudo da pré-história, mas também da história em ambos os casos Índice Índice Cultura Material 17/43 através da arqueologia e da antropologia através da recolha etnográfica). Desde o inicio da Idade Moderna, os diversos tipos de arqueologia e uma etnografia ante litteram permitiram reunir importantes colecções organizadas de objectos imóveis e móveis, de seu pleno direito qualificados como «materiais» e que não são de modo nenhum objectos de arte ou de luxo provenientes da nobreza dos grupos socioculturais que os produziram: arneses de pedra com usos diversos, instrumentos agrícolas, utensílios domésticos e armas de diversos materiais, ossadas humanas e de animais, unidades de grandes dimensões como embarcações, casas e, às vezes, cidades inteiras, etc. Em seguida, esta tendência para juntar objectos que representavam o ambiente de onde provinham manteve-se e confirmou-se. O facto é que, conforme se disse, estas três ciências têm necessidade, em graus diversos, de tais objectos: a pré-história baseia-se essencialmente neles e sem eles não poderia passar: a história, através da arqueologia, recorre a eles para esclarecer, no seu domínio, as partes pouco conhecidas ou mal documentadas pelos textos, essas partes que, para a Idade Média, Michel de Bouard define como «amplas orlas de pré-história»; a antropologia, por fim, através da etnografia, serve-se deles para caracterizar com exemplos precisos e tangíveis os conjuntos socioculturais que estuda. Podemos observar que é precisamente nos objectos concretos que encontramos a explicação do diverso tipo de atenção que estas ciências dedicam à cultura material: à pré-história ( que tem dela absoluta necessidade para todas as suas análises e que conhece, portanto, as culturas, primeiro através do material, para depois tentar chegar ao não-material contrapõese a antropologia que, tendo a sorte de analisar culturas vivas, se interessa, entre outras coisas, por aquelas delicadas construções que são OS sistemas ideológicos e simbólicos e pode, por isso, permitir-se tratar os aspectos materiais apenas numa segunda análise, servindo-se, em caso de necessidade, de desenhos e descrições escritas dos objectos; a história, por fim, dispondo de textos, encontra-se numa posição intermédia entre as duas. Estes pontos de vista diversos, aparentemente opostos, são, de facto, complementares. Estes objectos não são, no entanto, apenas um meio cómodo de análise a que estas ciências poderiam ou não recorrer; a sua própria existência, a sua presença são vinculantes, visto que as ciências tiveram rapidamente — e têm sempre — de explicar todos estes objectos, de introduzi-los de modo satisfatório nas suas sínteses socioculturais, onde encontram o seu lugar e o seu significado. Para isso é indispensável o conhecimento simultâneo dos objectos materiais — as suas dimensões, formas, matéria e, indirectamente, os seus modos do fabrico — e a sua proveniência exacta, de modo a reconstruir ou explicar o ambiente que os originou: já vimos isso quando nos referimos à arqueologia. Podíamos dizer que estes objectos são fundamentais para uma parte mais ou menos importante das ciências cm questão. Na psicologia, por exemplo, o objecto material tem sobretudo um papel simbólico que não exige necessariamente o conhecimento das suas características precisas ou a sua presença efectiva para explicar um dado factual; é por isso que o psicólogo chama geralmente — e com razão à faca «símbolo fálico». Pelo contrário, sobretudo nos estudos pré-históricos, mas também na história e na antropologia, o objecto concreto é o suporte necessário da descrição ou da compreensão, que não podem Índice Índice Cultura Material 18/43 passar sem ele: é por isso que a matéria, a forma e a cor exactas de uma faca, tal como o lugar e época de onde é originária. são em geral indispensáveis para saber de que grupo sociocultural provém, de que época data, como e porquê foi concebida, utilizada e compreendida. Na história, por exemplo, sucede com frequência que os contactos económicos entre civilizações muito distantes entre si sejam apenas confirmados pelos objectos materiais. culturalmente típicos, que elas trocaram entre si; também na arqueologia as grandes obras de Levi-Strauss sobre as mitologias americanas demonstraram implicitamente que, mesmo nos campos menos materiais, a explicação exigiu um excelente conhecimento das culturas e dos objectos materiais De resto, os exemplos que poderíamos encontrar na arqueologia e na etnografia são tão abundantes que é supérfluo citar alguns. Percebe-se bem como, perante necessidades deste tipo, as três ciências tenham de estudar estes objectos dentro do campo especial dos fenómenos socioculturais que é a cultura material. A noção de cultura material é, portanto, heterogénea e rica em matizes e isso explica em parte por que foi tão difícil dar-lhe uma definição. Com efeito, a expressão que a designa. que é, necessariamente, uma abreviatura, reúne e resume bastante bem numerosos elementos diversos, que são outras tantas opções científicas tomadas pelos especialistas que recorrem a esta noção. Em primeiro lugar, demasiadas vezes se ignora o facto de que a cultura material é, antes de mais. tal como o seu nome indica, uma cultura. Nessa qualidade, possui dois dos seus aspectos principais: a colectividade (oposta à individualidade e a repetição por oposição ao acontecimento dos fenómenos que a compõem. o que, em qualquer ciência, define uma importante situação epistemológica e, por conseguinte, opções ideológicas e metodológicas. Além disso, esta aproximação cultural é determinada pela angularidade da materialidade, que foi a escolha para essa abordagem, tal como indica o adjectivo 'material*. Esta escolha da materialidade revela dois aspectos precisos: o apego aos fenómenos infraestruturais como causalidade heurística e a atenção aos objectos concretos que explicam estes fenómenos: mesmo estes aspectos — sobretudo o primeiro — pressupõem orientações ideológicas e metodológicas evidentes e bem precisas. Para concluir estas observações, notemos que as quatro características principais individualizadas na noção de cultura material se justificam com base na relação de filiação que a liga a algumas das principais correntes do pensamento contemporâneo, primeiro com a ruptura epistemológica multi-científica que ocorreu depois de 1850; depois, com as ideias socialistas e, mais tarde, marxistas — logo, com a antropologia geral tal como a entendia Durkheim; e finalmente com o gosto, bastante característico do nosso tempo, pela história de um passado entendido como causa de um presente-efeito, baseada, sempre que necessário e cada vez com maior frequência, na arqueologia. A variedade destas origens esclarece, sem sombra de dúvidas, por um lado, o êxito e a flexibilidade da noção — já desde o início sublinhados — e, por outro, a vasta interdisciplinaridade do campo epistemológico oferecido pela cultura material a diversas ciências. Procurámos definir a noção. Percorramos agora retrospectivamente e com espírito crítico a sua Índice Índice Cultura Material 19/43 história, para verificar se realmente encontramos todas as características que lhe são atribuídas nas obras citadas e, em geral, em todos os trabalhos que tratam de cultura material. Esta análise deverá permitir também uma melhor definição do campo da cultura material, através do estudo das relações que tem com outras noções sobre as quais é difícil afirmar a priori se fazem parte da cultura material ou se lhe são estranhas, embora próximas. Índice Índice Cultura Material 20/43 5. Cultura m aterial e história É provável que a história nunca tenha ignorado totalmente a cultura material, mas concedeu-lhe, durante muito tempo, um interesse bastante limitado. Se pensarmos no que aprendemos quando jovens na escola e no liceu, é preciso reconhecer que a história da vida material ocupava uma parte mínima. Acabadas as idades da pré-história, que se definiam precisamente, mas excepcionalmente, através dos seus utensílios (Idade da Pedra, Idade do Bronze e do Ferro), não se falava mais disso. Só mais tarde se introduziram capítulos dedicados à vida quotidiana, onde também a cultura material tinha o seu lugar e a que se devem notícias esporádicas sobre a vida antiga, sobre a toga do cidadão romano, sobre os utensílios do camponês egípcio, sobre a nave do mercador sírio. E evidente que não é por acaso que estes capítulos eram mais numerosos nos livros de iniciação à história da Antiguidade: são tempos tão distantes que quase parecem pertencer a outros mundos, a outras humanidades. E a história encara-os como a antropologia encara outros povos igualmente remotos, mas com distância, descrevendo-os simultaneamente através dos seus hábitos, alimentação, técnicas e costumes. Parte-se do princípio que estes povos exóticos não têm história, e os povos do Oriente antigo, embora não sejam de todo desprovidos dela, oferecem ao pedagogo apenas uma crónica caótica e descontínua que ele julga, e com razão, pouco assimilável. E como se, à falta de melhor, a história se tenha voltado para a cultura material. Observa-se porém que a Antiguidade só é acessível, em grande parte, através das fontes arqueológicas, fontes materiais que, pela sua própria natureza, fornecem mais informações sobre os aspectos materiais das civilizações do passado do que sobre OS acontecimentos ou as mentalidades. Para além destes capítulos marginais, mal integrados no processo histórico e que desapareciam quase completamente nos manuais dedicados aos tempos modernos e contemporâneos, os livros de história limitavam-se a mencionar indiscriminadamente o moinho de água, o jugo, o timão do arado, o invento de Gutenberg, o de Bernard Palissy, o salão de Madame de Sévigné, o tabaco de Nicot e o tubérculo de Parmentier, até chegarem à máquina a vapor, que trazia consigo uma série de progressos técnicos rapidamente passados em revista. Reevocava-se de certo modo o acontecimento na história material dos homens, um acontecimento em muitos casos lendário: Bernard Palissy poderia ter sido um impostor que dominava mais as técnicas publicitárias do que as da cerâmica esmaltada; e sabe-se que Parmentier não inventou o uso da batata: tentou apenas retirar dela uma farinha panificável sem o conseguir. Limitada às civilizações mais antigas e aos inventos mais espectaculares, a história da cultura material ocupou durante muito tempo um lugar secundário. Nos tempos em que eram professores universitários a construir o edifício dos acontecimentos, limitando assim os seus horizontes, a cultura material era abandonada aos eruditos de província e aos diletantes sem ambição. Representava o relato das curiosidades do bazar da história. Mas basta-nos desfolhar as revistas dos círculos eruditos para nos convencermos do longo caminho que percorreu nos Índice Índice Cultura Material 21/43 subterrâneos da ciência. O arqueólogo medievalista sabe que não pode esperar muito dos manuais e das teses redigidos na primeira metade do século, mesmo daqueles que foram escritos por arqueólogos que eram, na realidade, historiadores de arte (lembremo-nos de Camille Enlart). Sabe, em compensação, que os artigos e notas sobre a casa, os trajes, a cerâmica, as ferramentas, etc. não são raros nas recolhas de textos dos círculos eruditos e mesmo se lamenta muitas vezes a falta de referências e a ingenuidade do discurso, regozija-se com a descoberta e a ausência de preconceitos dos antigos eruditos. Essa mesma ausência de preconceitos, ou antes, uma previsão da evolução da história, é atribuída a alguns cientistas de relevo, espíritos brilhantes e originais. Pertencem quase todos às gerações anteriores à grande esterilização da história por parte dos professores universitários. As vezes são investigadores que, por profissão ou por gosto, se basearam estritamente nos documentos — Maurice Prou, Jules Quicherat, Doilet d*Arcq, Siméon Luce, Léon Gautier — mas também Michelet, demasiado preocupado com a história do povo para ignorar as condições da sua vida material e sobretudo Viollet-le-Duc, cujo Dictionnaire du mobilier français (1864) foi demasiadas vezes esquecido. Viollet-de-Duc achava estranho que se conhecessem melhor os objectos usados pelos antigos do que os utilizados na Idade Média. Os «Annales», que tanto alargaram o campo do historiador, introduziram também no seu horizonte a cultura material. Marc Bloch retomou — no melhor sentido, isto é, repercutindo, difundindo, amplificando — as pesquisas sobre as técnicas, sobre as modificações que o moinho de água introduziu na Idade Média no Ocidente, na sua economia, na organização social, na psicologia. Conquistado pela obra dos geógrafos — Roger Dion, Jules Sion — Lucien Febvre [1922] foi o iniciador de uma história «ligada ao solo, ou antes, ao ambiente, àquilo que rodeia os homens», história nova, magnificamente ilustrada pelo título — e pelo conteúdo — da tese de Fernand Braudel La Méditerranée et le monde méditerranéen à l*époque de Philippe II [1949]. Lucien Febvre pôs a história em contacto com a etnografia, um dos caminhos mais seguros para chegar à cultura material. Marc Bloch e Lucien Febvre lançaram ideias, iniciaram pesquisas, embora lhes tenha faltado tempo para progredir nesse campo. Fernand Braudel propôs temas, instigou a pesquisa, recolheu informações e é, afinal de contas, o autor da primeira verdadeira síntese: Civilisation matérielle et capitalisme [1967]. Este livro serve de referência a uma investigação sobre o que é a cultura material e o que pode ser o seu estudo. Pondo de parte o primeiro problema levantado pelo título, admitamos que civilização e cultura são a mesma coisa. Mas a associação com o capitalismo tem de ser esclarecida porque o termo ‘capitalismo* não serve aqui apenas para colocar cronologicamente o estudo: trata-se de uma abordagem que se inicia no século xv e se encerra com o século XVIII. Braudel explica-se imediatamente: a vida material é a que se desenvolve à flor da terra. ao nível inferior de uma construção — construção que é apenas intelectual, simplificação para mais comodamente se abarcar o real — cujo plano superior é a vida económica, também ela modelada pelo capitalismo nascente, E uma visão pejorativa da vida material que é, desde o início, apresentada como servil e empírica, inferior à vida económica que, pelo Índice Índice Cultura Material 22/43 contrário, é apresentada como privilegiada. Não há dúvida que esta, mais sofisticada, mais intelectual, surgia como mais digna da atenção e dos esforços do historiador. Há talvez aqui um certo respeito pelos historiadores da economia que na época em que Braudel escrevia, estavam ainda no auge. Mas lá está a obra no seu conjunto para afirmar a dignidade do estudo da cultura material, proclamando o interesse proeminente da história das massas, derrubando os esquemas habituais da história, colocando em primeiro lugar precisamente essas massas, abrindo as suas páginas «à “civilização material”, aos gestos repetitivos, às histórias silenciosas e quase esquecidas dos homens, a realidades perenes cujo peso foi imenso, mas cuja repercussão foi apenas perceptível» [1967, trad. it. p.XXI]. Destas tomadas de posição podem deduzir-se dois factos. O primeiro. é que a história da civilização material é a história dos excedentes. O .segundo, é que vida material e economia são ao mesmo tempo fortemente ligadas e nitidamente distintas. Para Braudel, a vida é sobretudo feita de objectos, de utensílios, dos gestos da maioria dos homens: só esta vida lhes diz respeito na existência quotidiana, só ela absorve os seus actos e os seus pensamentos. Por outro lado, ela estabelece as condições da vida económica, «o possível e o impossível), constituindo o terreno em que se move a economia, a matéria que ela trabalha, a sua base. «A vida material é constituída pelos homens e pelas coisas, pelas coisas e pelos homens» [ibid., p.5]. Os homens estão portanto também incluídos, O livro abre com a demografia histórica, as suas conquistas e os seus problemas, os ritmos climáticos, as calamidades. Alexander Gieysztor [1958. p. 149] afirmou também: «O número global da população e a sua densidade, a estrutura demográfica e o movimento natural dos povos também fazem parte da existência material das sociedades». Mas ao pretender anexar a demografia histórica, a história da cultura material corre o risco de ser acusada de imperialismo e, sobretudo, de desequilibrar os seus estudos. A demografia histórica é uma ciência jovem, mas que se desenvolveu de maneira extremamente rápida. Os manuais e revistas que dela se ocupam em França já seriam suficientes para encher várias estantes de uma biblioteca. A história da cultura material não pode oferecer nada de semelhante no que diz respeito aos seus outros domínios. Deve, no entanto, aceitar estes desequilíbrios e é evidente que nem todos os seus empreendimentos caminham ao mesmo passo. Mas como poderia abster-se de estudar o homem e a humanidade? Como seria possível dissociar o corpo, as doenças e as práticas médicas da vida material? Nem sequer a alimentação continua talvez a parecer uma conquista da história da cultura material. As carestias e as crises dos cereais há já muito tempo que despertaram a atenção do historiador, tal como o comércio dos cereais e o consumo de vinho têm alimentado as reflexões dos economistas do presente e do passado. Mas nem só de pão vive o homem e a alimenta-cão é, para Braudel, também o regime de calorias, as boas maneiras à mesa, o apetite nas refeições festivas e a ementa dos ricos: o supérfluo lado a lado com o banal. O lugar da carne e o lugar do peixe, o destino do chá e do café, o domínio do vinho e o da Índice Índice Cultura Material 23/43 cerveja, as conquistas do álcool e do tabaco representam outros tantos capítulos de uma história da cultura material. Por outro lado, Braudel, mais do que uma história do pão e do vinho, queria urna história dos regimes alimentares, das «associações alimentares» (tal como os geógrafos e os botânicos falam de associações vegetais). No mesmo domínio do supérfluo e do necessário, Braudel inclui também a alimentação e o vestuário. Assim, aquilo que atrai a atenção é sobretudo a diferença, essa diferença que separa a casa do camponês da comodidade da mansão burguesa, aquela que contrapõe civilizações ricas a civilizações pobres. Volta assim a propor-se a dimensão social e, com ela, a dimensão espacial que, aliás, em Braudel nunca está ausente e é sempre considerada. Mas em Civilisation matérielle et capitalisme dedicam-se à habitação e ao vestuário ao todo umas cinquenta páginas, duas ou três vezes menos do que à alimentação, o que uma vez mais põe em evidência os ritmos diversos seguidos pelas pesquisas em cada um desses campos. A história da habitação e a história do vestuário ressentem-se, mais do que qualquer outra, de uma documentação muitas vezes limitada ao excepcional e demasiadas vezes anedótica. A difusão das técnicas surge mais tarde do que seria de esperar. A difusão — note-se bem — e não a invenção. Também neste domínio, o que conta é o facto de essa difusão ter como lei a quantidade e a duração, não a excepção nem o acontecimento. «Tudo é técnica», afirma Braudel [1967, trad. it. p. 250]. De facto, poderia pensar-se que a história das técnicas cobrisse por inteiro a história da cultura material e que os seus grandes mestres fossem Forbes, Lynn White, Singer. Isso não é verdade e Braudel avisa-nos também quanto às «transformações rápidas a que nos habituámos a chamar, de modo um tanto apressado, revoluções», que não são mais importantes que o «lento aperfeiçoamento dos processos e dos utensílios» [ibid.]. Tudo é técnica, mas também «a técnica nunca está só» [ibid., p. 251]. O social, o económico, as mentalidades infligem ao desenvolvimento técnico as suas lentidões e os seus atrasos. «Cada invento que bate à porta tem de esperar anos e mesmo séculos antes de ser introduzido na vida real» [ibid. ] - A civilização material é algo de complexo que não se limita à técnica. O livro encerra com um capítulo dedicado à moeda e outro à cidade. o que parece surpreendente, embora tenhamos de admitir que a moeda tem aspectos materiais, que é um instrumento e que modifica os dados da vida nos sítios em que aparece, embora concordemos que as cidades funcionam como aceleradoras do tempo da história e, portanto, também do tempo da vida material. Mas, de facto, Braudel admite que atinge neste caso o plano superior, o plano da economia: uma vez mais somos avisados que é difícil separar vida material e economia. O livro de Fernand Braudel é o único a oferecer uma síntese tão vasta. E, porém, nos países da Europa socialista que a noção de cultura material primeiro e melhor se integrou. Para dizer a verdade, embora possamos encontrar noutros sítios antecedentes ou equivalentes, a ciência ocidental recebeu-os de Leste. As Índice Índice Cultura Material 24/43 publicações da Europa socialista familiarizaram a noção por esta adoptada, ou adaptada, porque neste caso não é seguro que todo o mundo fale a mesma língua. Na Polónia, a criação do Instytut Kultury Materialnej suscitou uma importante discussão que continuou nas páginas de «Kwartalnik Historii Kultury Materialnej». As produções científicas seguiram-se em largo número. Os autores, tal como os teóricos, eram e são arqueólogos, historiadores, mais raramente etnógrafos. O primeiro director do Instytut foi Kasimierz Majewski, especialista em arqueologia clássica. Nele se encontram agrupados quatro tipos de investigadores: arqueólogos da Polónia pré-histórica e medieval, arqueólogos do Mediterrâneo, etnógrafos e historiadores de economia. Devemos sobretudo sublinhar a intervenção dos arqueólogos: a associação de arqueólogos, historiadores e etnógrafos talvez signifique apenas a necessidade de somar e confrontar três tipos de fontes para escrever a história do passado material; mas tanto a responsabilidade que eles assumem como as obras que produzem, tudo demonstra o predomínio dos arqueólogos no novo campo de pesquisa. Regem-se como se os métodos, as fontes habituais e a problemática do arqueólogo fossem as mais próximas das práticas e dos objectivos da história da cultura material. Arqueólogos e historiadores alimentaram a discussão com as suas preocupações especiais. Os arqueólogos levantaram o problema das relações da nova ciência com a história da arte e não sem um certo mal-estar, não sem grandes dificuldades para eliminar a arte e o discurso estético das suas pesquisas. Tendo definido a cultura material como a ciência dos ((artefactos», perguntaram-se qual o lugar que deveriam atribuir aos objectos de arte ou aos realia, aos objectos e testemunhos do culto que, por formação, estavam habituados a considerar isoladamente ou em primeiro lugar. Esta dificuldade domina a reflexão teórica de Jan Gasiorowski, cujas obras, antes e imediatamente depois da guerra, muito contribuíram para fundar a nova ciência a que ele chamava «ergologia». Gasiorowski definia a cultura material como o conjunto dos grupos de actividades humanas que correspondem a uma finalidade consciente e possuem um carácter utilitário, que se exprime nos objectos materiais. Uma definição deste género deveria, segundo parece, excluir tudo o que se refere à arte ou ao «cultural». Mas encontramo-la, no entanto, num estudo dedicado à relação da arte com a cultura material. Simples problema de fronteira entre duas pesquisas? Talvez, mas a solução não é assim tão fácil. As obras de arte têm um suporte material e, para produzi-las, recorre-se a instrumentos e técnicas que não são radicalmente diversos dos usados nas outras produções humanas. E mesmo os objectos utilitários têm uma potencialidade estética que interessa aos etnógrafos quando falam de arte popular. Finalmente, Gasiorowski e Majewski reconhecem a forma do objecto tanto quanto a sua função, ao ponto de recusarem a tecnologia, admitindo embora a técnica. De tal contradição resulta que qualquer tentativa de delimitar a cultura material esbarra com a dificuldade de isolar um elemento ou um aspecto de uma civilização necessariamente global. Os historiadores introduziram neste debate uma outra reflexão originada por uma dificuldade do mesmo género que já se nos tinha deparado: a que diz respeito às Índice Índice Cultura Material 25/43 relações existentes entre cultura material e economia. Fazer da vida material a base da economia é sedutor, mas é só uma ajuda teórica para o investigador, que se encontra perante a complexa evolução dos factos. Enfrentando a cultura material com os instrumentos da análise marxista, os historiadores polacos tinham obrigatoriamente que procurar relacioná-la com os métodos de produção. Fazer da cultura material o ponto de partida da economia significava responsabilizá-la pelas condições da população, mas nem por isso deixavam de perceber que o consumo dos bens produzidos também diz respeito à cultura material. A história económica encontra-se de repente no centro do novo estudo, embora sem passar a ser ele dependente ou auxiliar. Um historiador como Alexander Gieysztor está sobretudo consciente da situação delicada da história da vida material, nas fronteiras de diversos campos tradicionais da pesquisa histórica ou no ponto em que se cruzam. O novo campo é, para ele, constituído pelos «meios de produção e pelos meios de trabalho, os objectos manufacturados, as forças produtivas e os produtos materiais utilizados pelos homens» [1958, p.146]. Em resumo: tudo aquilo que se refere à produção, excepto a própria produção? Gieysztor retoma também de Henri Dunajewski a seguinte definição: «Objecto de estudo da história da cultura material são os elementos das pessoas e das coisas do processo de produção e de reprodução da vida material das sociedades no curso dos diversos estádios de desenvolvimento desses elementos» [ibid., p. 148]. Estes elementos seriam: 1) os meios de trabalho; 2) o objecto do trabalho, ou seja, as riquezas naturais; 3) a experiência do homem no processo de produção; 4) a utilização dos produtos materiais. Gieysztor acrescentava-lhes ainda as condições de existência social: o ambiente geográfico e o homem. E, definindo os temas de pesquisa próprios da história das condições materiais da vida humana, inclui a pastorícia e a agricultura, as minas, a indústria, o artesanato, os transportes e as comunicações; depois, no capítulo do consumo, a alimentação, o vestuário, a habitação. Mas os historiadores como Gieysztor procuram evitar que a história da cultura material se limite à análise descritiva. Parece-lhes inconcebível que se possa estudar o vestuário ignorando a fiação e a tecelagem, não tendo, afinal, em conta a organização da produção. Não podemos deixar de concordar com eles, confirmando embora a enorme dificuldade apresentada pela caracterização da vida material em relação à vida económica. É impossível dar ideia da riqueza da reflexão teórica desenvolvida na Polónia nos últimos vinte anos; mas é claro que as orientações definitivas continuam bastante imprecisas e o programa bastante vago em toda a sua amplitude. É, portanto, à produção científica que somos levados a dirigir-nos para saber qual o âmbito da expressão ‘cultura material*: a história da cultura material só pode ser aquilo que dela fazem OS investigadores que a ela se referem. A produção é impressionante. A pesquisa arqueológica, promovida pelo Instytut Historii Kultury Materialnej, trouxe à superfície centenas de monumentos e povoações, enriqueceu os museus com documentos da vida material, multiplicou as publicações com resultados de escavações e levantamentos. Basta desfolhar estas publicações para nos convencermos de que na Polónia a arqueologia já não se confunde com a Índice Índice Cultura Material 26/43 história da arte: os documentos que constituem objecto de estudo são as casas de madeira urbanas rodeadas por bastiões de terra e madeira, as cabanas térreas dos aldeamentos rurais, as louças de mesa e de cozinha, os utensílios da vida rural e do artesanato, sem esquecer nem os vestígios do consumo nem os homens, presentes através das suas ossadas e dos seus túmulos. Se percorrermos as colecções dos «Kwartalnik Historii Kultury Materialnej», de «Archeologia Polski», os livros de Witold Hensel e dos seus colaboradores do Instytut Historii Kultury Materialnej, ternos de admitir que o programa foi em grande parte realizado. Não é, no entanto, certo que historiadores e etnólogos tenham evitado todas as armadilhas que a própria imprecisão do projecto lhes punha no caminho. Muitas vezes as suas pesquisas vêm desaguar naqueles terrenos limítrofes que são a tecnologia, o estudo do povoamento, a história económica. Mas não podemos censurá-los por se terem limitado a dar nova roupagem a pesquisas tradicionais: pelo menos os documentos construídos são novos. Pense-se o que se pensar, é uma novidade para um arqueólogo trazer à luz todos os humildes testemunhos da vida quotidiana; interessar-se tanto pela loiça de uma comunidade como pela cerâmica decorada, pelos fragmentos de barro como pelo vaso intacto; recolher sementes, caroços de fruta, ossos de animais, escamas de peixe ou bocados de tecido; reconstruir um tear ou um arado a partir de um fragmento de madeira ou de metal. Mesmo no que se refere às sínteses, os meios de abordagem são às vezes novos e encaixam perfeitamente nos limites da cultura material, quer digam respeito a um aspecto do consumo, como a história da alimentação na Polónia medieval, quer abordem toda uma parte da história dos Eslavos, como o compêndio que Witold Hensel [1956] dedicou aos Eslavos da Alta Idade Média. O índice desta obra poderia ser o programa de toda a história da cultura material para a Idade Média: I. A aquisição dos alimentos e das matérias-primas. II. A produção artesanal. III. A fixação e a construção. IV. A higiene. V. Os transportes e as comunicações. VI. O comércio. VII. O armamento. Falta, no entanto, um capítulo nesta monumental publicação, aquele que deveria, precisamente, ser dedicado à cultura material dos Eslavos da Alta Idade Média, que, imaginamos, é muito diferente da soma pura e simples dos factos que a compõem. Este é, sem dúvida, o último problema levantado por tais pesquisas: superado o obstáculo representado pela definição de cultura material, resta ultrapassar a dificuldade apresentada pela definição de uma cultura material. Índice Índice Cultura Material 27/43 6. Cultura material e história económica e social Estabelecer a posição de um estudo da vida material que seja diferente da história económica e social parece um problema delicado para os historiadores. Não para todos os historiadores, para dizer a verdade, nem sequer para todos aqueles que concedem aos factos socioeconómicos um lugar privilegiado no processo histórico. Com efeito, os únicos que enfrentaram verdadeiramente o problema são aqueles para quem a matéria histórica pode ser organizada com base numa teoria: os historiadores marxistas. A história positivista, que aceita qualquer facto do passado, não teria nenhum motivo para negligenciar a vida material. Se muitas vezes o faz, é com certeza em função de um sistema de valores não confessado que privilegia, no entanto, o facto político ou então o facto de ordem intelectual e artística. Para esta história, a vida material não é absolutamente indiferente, mas intervém apenas quando incide sobre factos de ordem superior: é a resistência que o material ou a técnica opõem à criatividade do artista, é a arma nova que consegue vitórias e permite os grandes desígnios políticos... Quanto ao resto, a vida material é unicamente o palco onde se movem os actores da história. Estes historiadores que se opuseram à história «historicizante» e venceram a batalha contra o acontecimento estavam destinados a abrir o campo de pesquisas da cultura material. Esta faz parte daquela vida multiforme que pretende abarcar a história na sua globalidade e tem também, por direito próprio, um lugar de relevo no que se refere à ordem da longa duração, às maiorias e às estruturas, observando de mais perto o homem, que é o verdadeiro objecto da sua pesquisa. Preocupada em não deixar escapar nenhum dos enriquecimentos que as outras ciências humanas possam trazer-lhe, a nova história, depois de ter ouvido com atenção a economia política e a sociologia, voltou-se também para a etnologia. E a promoção da cultura material é considerada como «o contributo imediato da etnologia à história», conforme afirma Jacques Le Goff [1973, pp. 239-40], que acrescenta, no entanto, que «a grande obra de Fernand Braudel — Civilisation matérielle et capitalisme — não permitiu que o novo campo invadisse o campo da história sem o ter subordinado a um fenómeno propriamente histórico, o capitalismo» [ibid.]. Na realidade, a subordinação parece ser menos evidente que a dificuldade em delimitar estritamente os domínios de uma e de outra pesquisas, visto que a história global se preocupa mais em sublinhar as conexões do que em traçar limites na história vivida. Se pretende talvez subordinar a cultura material à história económica e social, é com certeza por temer que a história, à força de acolher métodos e problemáticas das ciências vizinhas, acabe por perder a sua identidade. Mas a proeminência atribuída ao facto socioeconómico, o estatuto de fenómeno propriamente histórico que lhe é reconhecido, só se justificam fazendo uma referência ao materialismo histórico. Índice Índice Cultura Material 28/43 É preciso portanto perguntar aos historiadores marxistas onde começa a história da cultura material e onde acaba a história económica e social: foi precisamente entre eles que a definição e a delimitação do novo campo suscitaram o maior número de questões epistemológicas devidas a uma certa resistência dos fenómenos estudados a um cómodo enquadramento na teoria. Não é difícil circunscrever o problema. Atribuir um estatuto independente ao estudo da cultura material implica correr alguns riscos: o de conceder aos factos estudados uma importância semelhante à do fenómeno social, o de admitir que possam existir factos históricos que não são sociais, o de propor explicar fenómenos sociais através de fenómenos extra-sociais. Se é certo que as representações mentais e intelectuais se colocam para além da organização social, os factos da vida material colocam-se aquém dela. E se as supra-estruturas dependem do fenómeno socioeconómico, isso não será, por sua vez, determinado pela cultura material? Os historiadores, no entanto, não tiveram dificuldade em encontrar em Marx o convite para estudarem a história da formação dos órgãos de produção do homem social. Como poderia o materialismo histórico evitar estudar o substrato material onde o modo de produção desenvolve a sua acção? Como poderia ignorar quer as condições da vida social, quer os aspectos concretos da condição rural nos tempos do feudalismo ou do pauperismo da classe operária num regime capitalista? Proceder de modo diverso significaria esvaziar a história do seu conteúdo em favor da economia, expulsar o homem do estudo histórico e privar a teoria da verificação dos factos. Poder-se-á analisar o modo de produção, abstraindo dos meios de que dispõe e dos produtos que proporciona? Parecia que, se podiam estudar estes factos sem introduzir uma mediação entre o facto social e o facto histórico, sem ser preciso apresentar uma explicação baseada no desenvolvimento da matéria e da energia. Trata-se simplesmente de ter em conta o contexto material onde se desenvolvem as relações sociais. Estudar a cultura material equivale a estudar os meios materiais da produção. Braudel diria que é pesar o possível e o impossível, não indicar o porquê nem o como. Recordemos, para assentar ideias, que um dos melhores teóricos da história da cultura material, Jerzy Kulczycki [1955], indicou como seu objecto específico: 1) os meios de produção extraídos da natureza — os materiais e a energia natural — do ponto de vista da sua escolha e utilização, bem como das condições naturais de vida e das modificações infligidas pelo homem ao ambiente natural; 2) as forças de produção, ou seja, os instrumentos de trabalho ou os meios humanos da produção, como o próprio homem, a sua experiência e a organização técnica do homem no trabalho; 3) os produtos materiais obtidos a partir destes meios e destas forças, ou seja, os instrumentos da produção enquanto objectos fabricados e os produtos destinados ao consumo. Índice Índice Cultura Material 29/43 Cada um de nós pode avaliar se uma definição deste género preserva a autonomia do facto socioeconómico. Tem, em qualquer caso, a vantagem de delimitar, em relação à história económica e social, o campo da cultura material que é, aliás, muito vasto. Esta definição leva a observar que a cultura material se coloca quer a montante quer a jusante do modo de produção, conforme se trate de instrumentos que são também objectos fabricados, da natureza que é modificada pela produção ou do consumo, que é importantíssimo para as forças produtivas do homem. O consumo é, no entanto, deixado um pouco de lado na definição de Kulczycki, tal como, em geral, em todas as definições elaboradas pelos teóricos marxistas, que insistem nas condições da produção ou nos objectos como instrumento ou como produtos e só acrescentam o consumo como uma via secundária. Com o consumo, descobrem-se as necessidades que ele satisfaz. Estarão essas necessidades na origem do desenvolvimento da cultura material? Darão conta das suas variações no espaço e* no tempo? Reduzir a cultura à necessidade foi uma coisa que já se fez sem convencer: é uma parte do funcionalismo de Malinowski [1944]. Mas tratava-se da cultura em sentido lato. Poderemos, pelo menos, esperar que as necessidades materiais expliquem os diversos aspectos da vida material? Mas as necessidades elementares foram desde sempre satisfeitas pelos comportamentos inatos à espécie. A cultura, quando muito, começa onde terminam as características inatas. A partir desse momento, as necessidades não explicam a cultura: exprimem-na. São a cultura propriamente dita. As necessidades materiais constituirão, ao fim a ao cabo, a cultura material? Índice Índice Cultura Material 30/43 7. Cultura material e história das técnicas A técnica, acto criativo indissociável do trabalho e da produção, pertence, segundo parece, ao domínio da cultura material. No entanto, os historiadores da Europa Oriental são quase unânimes em excluir a história das técnicas dos horizontes da cultura material. De resto — e Majewski parece deplorá-lo — os arqueólogos, na Polónia, basearam em grande parte as suas pesquisas na tecnologia. Como explicar estas contradições? De facto, a desconfiança em relação a tecnologia manifesta-se apenas nos historiadores marxistas e depende, sem dúvida, do seu próprio escrúpulo, que os leva a subordinar o estudo da cultura material ao da vida económica e social. A dialéctica marxista dá grande atenção às «infra-estruturas tecno-económicas» para explicar os fenómenos sociais e o processo histórico. Ora, o conjunto dos objectos concretos que constituem o campo da cultura material entra sempre no âmbito de interesses do marxismo: com efeito, é compreensível que entre um campo de aplicação tão material e um método de explicação global da materialidade se tenham estabelecido laços bastante estreitos, como os que se estabelecem entre dois pólos complementares. Podemos, no entanto, acordar objectivamente que, no que se refere à cultura material, o método marxista demonstrou ser simultaneamente necessário e insuficiente: necessário, porque, pelo menos para a história de alguns conjuntos socioculturais, apresentou, através dos fenómenos económicos, esquemas de explicação interessantes; insuficiente, porque trata talvez demasiado à pressa os fenómenos técnicos como efeitos derivados unicamente da causa primeira, que seria a economia, e também — e disso voltaremos a falar — porque considera as chamadas supra-estruturas (arte, direito, religião, moral, parentesco, etc.) como efeito remoto e pouco digno de interesse (Marx atribuía estas últimas à «fantasia popular»). O marxismo surge, portanto, como um terreno propício ao estudo da cultura material, mas não na sua totalidade; e como também — e acima de tudo — quer ser um método eficaz de explicação da história, é lógico que fossem sobretudo os historiadores a debruçarem-se sobre ele. Mas o estudioso da pré-história e o antropólogo do dia de hoje não podem contentar-se com ideias sobre o «comunismo primitivo» que parecem adequadas aos materiais arqueológicos e sobretudo etnográficos de que dispunham Marx e Engels na época em que escreviam. A arqueologia (especialmente a pré-histórica) e a etnografia apresentam hoje uma imensa variedade sociocultural que, no fim do século XIX, era bastante menos evidente. A pré-história e a antropologia viram-se, por consequência, obrigadas a procurar rapidamente o apoio de outros tipos de explicação, acrescentando — sobretudo no que se refere à cultura material — outros factores. Assim, por um lado, o estudo da pré-história foi levado a reconsiderar a tecnologia para lhe atribuir um papel bastante mais causal do que aquele que o marxismo autorizava que lhe fosse concedido; por outro lado, a antropologia atribui, já há muito tempo, a importância fundamental às supra-estruturas, demonstrando que não era possível considerá-las apenas como um fantasma subsidiário da cultura material. Podemos portanto desenvolver com utilidade estes dois grandes temas, que completam de modo eficaz a análise marxista, segundo os Índice Índice Cultura Material 31/43 quais só seria, afinal, possível uma revolução económica quando, por um lado, as técnicas necessárias e adequadas estivessem aperfeiçoadas e «prontas a funcionar»; por outro, depois de as «resistências» supra-estruturais (que podem ser muito «irracionais» aos olhos do marxista, mas que o antropólogo não pode ignorar) terem sido «vencidas» e de se terem individualizado novas formas de supra-estruturas. Este exemplo da «revolução» — fase de crise insólita — sugerida pelo contexto do marxismo é, evidentemente, parcial; mas é epistemologicamente importante, visto que o exacerbar dos mecanismos socioculturais provocado por esta fase permite reintroduzir, dando-lhe o devido relevo, outros tipos de explicação que não se podem ignorar no estudo dos objectos materiais: a tecnologia, factor intrínseco da cultura material ligado à explicação económica e o lugar atribuído às supra-estruturas em geral, rigorosamente exterior ao campo aqui estudado, mas que serve para demonstrar como a cultura material é apenas uma parte de um todo muito mais vasto e complexo. Daqui resulta portanto que, para além da antropologia, geralmente vocacionada para o estudo das supra-estruturas, os especialistas da cultura material podem dividir-se em dois grupos: aqueles — muitas vezes marxistas — que privilegiam a causalidade económica e aqueles que dedicam o maior espaço a explicação tecnológica. Podemos também interrogar-nos se a reacção de rejeição provocada pela história das técnicas se fundamentará numa reflexão teórica ou se não esconderá, pelo contrário, uma confissão de impotência. É como se a tecnologia aterrorizasse o historiador devido certamente à elevada, mas limitada, especialização que exige. Para um intelectual é, sem dúvida, cansativo inteirar-se de técnicas que já eram muito complexas na era pré-industrial. Ao arqueólogo, por fim, faltam muitas vezes as noções práticas à compreensão de um ofício, aparentemente tão simples, como o do oleiro; de qualquer modo, os ceramistas não concordam de modo nenhum quanto às técnicas que poderão ter dado origem a uma ou outra característica dos vasos que estudam, quer se trate do aspecto do material, da cor do vaso ou das suas particularidades morfológicas. Com muito mais razão, o historiador tem dificuldade em abarcar domínios tão variados como a construção, a tecelagem, a agricultura, o armamento, a navegação, a arte do carpinteiro ou a do tanoeiro, do seleiro, do cesteiro, a siderurgia e o trabalho dos metais, etc. E quando passamos às técnicas industriais, o trabalho é ainda mais árduo. Seria demasiado fácil e desinteressante fazer ironia com a incapacidade do historiador: nem mesmo a melhor das boas vontades e um trabalho árduo conseguiriam superar o obstáculo. Parece difícil repetir a façanha da André LeroiGourhan que, em L*homme et la matière [1943], soube analisar todas as técnicas, embora se tenha limitado — e lembrá-lo não significa diminuir o seu mérito — as técnicas relativamente elementares das civilizações ditas tradicionais. Mas aquilo que ultrapassa a capacidade de um indivíduo passa a ser possível para um grupo de investigadores: a especialização ao nível da análise não impede a síntese, prepara-a. Porquê então marginalizar a história das técnicas, separando-a da história da cultura material? Muito antes de esta ter sido promovida, os historiadores da Índice Índice Cultura Material 32/43 economia e das sociedades pensavam que não se podia, por exemplo, falar da agricultura do passado sem conhecer os instrumentos e os sistemas de cultura então utilizados. Só uma certa prática da história das técnicas pode explicar a desconfiança que ela inspira: tal como a história das ciências, isolou-se por si própria, propondo-se o estudo do facto técnico como um fim em si mesmo, privando-se do contexto económico. Deixou-se por vezes enganar pelo falso problema do invento, pelas questões relativas às origens e ao percurso dos inventos. É, aliás, verdade que à história pouco interessa que os antigos conhecessem a segadeira, o arado ou a ferradura, se o seu uso não era generalizado ou era, pelo menos, limitado a algumas áreas isoladas de progresso técnico. Sabe-se agora que o invento só se materializa quando corresponde a uma necessidade económica ou social e quando encontra um terreno técnico favorável. A Antiguidade não desenvolveu algumas das técnicas que conhecia, como o moinho de água, porque a escravatura fornecia mão-de-obra abundante. Os inventos que, segundo se afirma, dormiam nas pastas de Leonardo da Vinci nunca poderiam ter vindo à luz porque faltavam os materiais e a competência necessários para os pôr em prática. Em compensação, os progressos da fiação em Inglaterra no século XVII foram exigidos pelo progresso da tecelagem: as técnicas antigas já não eram suficientes para fornecer fio aos teares equipados com naveta volante. A fiação constituía, por isso, um estrangulamento que a invenção técnica logo eliminou: no decorrer de poucos anos aperfeiçoaram a jenny de Hargreaves (1767), a water-frame de Highs (1768) e finalmente a mule-jenny de Crompton (1779). Mas a autonomia da história das técnicas não é um facto geral. Levantando precisamente o problema dos «inventos» medievais, Marc Bloch [1935] voltou a ligar a técnica ao social através da difusão do moinho de água, do jugo, etc. Fez com que a história das técnicas voltasse a entrar no campo da história, ou melhor, dos historiadores, de onde não voltará a sair. Quanto ao seu lugar, não pode ser senão ao lado da cultura material, quer a consideremos como um momento da produção ou uma componente do quotidiano. Seria, aliás, muito cómodo servirmo-nos do nível técnico de uma sociedade para definir a sua cultura material. Não podemos, no entanto, evitar que o nível técnico volte a ser incorporado em tal definição. Mas será possível? No que se refere às sociedades pré-industriais, André Leroi-Gourhan [1945] parece ter, em grande parte, preparado o caminho. A sua ambição foi preparar, baseando-se no modelo das taxonomias das ciências naturais, uma tipologia geral das técnicas cujos capítulos principais são os meios elementares da acção sobre a matéria (percussão, fogo, água, ar, força), os transportes, as técnicas de fabrico, as técnicas de aquisição (armas, caça, pesca, pecuária, agricultura, minerais), as técnicas de consumo (alimentação, vestuário, habitação). Os temas destes capítulos demonstram que a tipologia proposta por Milieu et techniques cobre toda a cultura material. Assim, tudo aquilo que Leroi-Gourhan pode apresentar a nível «técnico» é de interesse. Basta admitir que «tudo é técnica». Lendo Leroi-Gourhan compreende-se melhor o divórcio aparente entre história e técnica, na medida em Índice Índice Cultura Material 33/43 que cada especialista tem uma ideia errada do domínio do outro: mesmo o antropólogo tem reticências perante uma história que lhe pareça privilegiar os factos políticos (e linguísticos). «A história, na imagem que dela em primeiro lugar impõe, é a história política; é, aliás, a única que justifica plenamente os seus métodos habituais» [ibid., p. 324]. E precisamente esta história, em termos de áreas e de eras, que viria a impor às outras ciências humanas os quadros — as zonas intermédias — dentro dos quais deveriam funcionar para definir a linguística, a antropologia e a etnologia de um certo povo numa determinada época. Pondo de parte o mal-entendido que pertence ao passado, a partir do momento em que a história acolhe a cultura material e admite ritmos diversos, tempos diversos, de acordo com os fenómenos examinados, temos, no entanto, de perguntar ainda se a história aceitará os níveis propostos por Leroi-Gourhan e os critérios de que se serviu. O antropólogo começou por pôr em evidência as relações que se estabelecem entre as técnicas. Quase nunca se reparou que quem possui o fuso possui também o movimento circular alternativo e que quem possui a dobadoura tem o moinho e o torno de oleiro. Já não se trata aqui de inventos, de processos isolados nascidos do nada, mas, pelo contrário, de associações, aquelas associações que trazem coerência ao fenómeno «civilização», tornando-o mais inteligível. Vem depois a ideia de estádio, caracterizado pela posse de certas técnicas reveladoras: a noção de estado técnico, de estádio, pressupõe a de uma evolução positiva, de menos para mais. Mas se é verdade que o termo ‘progresso* tem um sentido, é sobretudo neste domínio, o das técnicas, muito mais do que no campo da cultura material. A ideia de nível, de estádio, surge espontâneamente na mente do antropólogo, familiarizado com a evolução dos utensílios desde a alvorada da história do homem. Mas ele também sabe que, depois do Homo sapiens, o homem biológico deixou de evoluir ou, de qualquer maneira, a sua evolução é tão lenta que escapa à observação. A capacidade craniana é hoje igual à do homem de Cro-Magnon. A paleodemografia tende também a admitir que a longevidade (não, evidentemente, a esperança de vida) não é hoje maior do que era na Idade da Pedra. Logo, a única coisa a progredir foi o equipamento do homem. Mas isso não aconteceu uniformemente em toda a superfície da Terra e é provável que já existissem níveis diversos desde os tempos pré-históricos. «Parece lógico admitir que os homens da Idade da Rena tenham tido os seus selvagens, pobres «primitivos» que ignoravam o propulsor e o arpão» [ibid., pp. 339-40]. A distância acentuou-se com o tempo, introduzindo uma hierarquia entre os grupos humanos. A hierarquia técnica esboçada por Leroi-Gourhan engloba cinco estádios (de A a E definidos, o primeiro pela indústria, o segundo pela posse das três técnicas mais importantes (agricultura, pecuária e metalurgia), o terceiro pela posse de, pelo menos, uma destas técnicas; com os dois últimos estádios, o número de técnicas possuídas diminui: assim, os Australianos, que conhecem apenas as técnicas (significativas) de tecelagem e de entrançar cestos, estariam no quinto estádio. Dentro de um mesmo estádio introduzem-se, no entanto, algumas classes: «Sem deixarem de estar no estádio B, a China, a Coreia e o Japão passam (desde o Índice Índice Cultura Material 34/43 início da nossa era até ao século XIX) do predomínio do bronze ao predomínio do ferro, das loiças opacas às translúcidas, cada vez mais ricas e variadas, da tecelagem com dois fios ao brocado em peça, etc.» [ibid., p. 349]. A classificação cautelosamente proposta em «L'homme et la matière» não merecia o silêncio com que foi recebida pelos historiadores. É certo que a podemos criticar, recusar alguns dos seus critérios, acrescentar-lhe outros, mas deveremos, poderemos recusar o princípio em que se baseia? A definição de níveis técnicos, sobretudo quando não se põe de parte o consumo, assente nos critérios fixados por Leroi-Gourhan, parece um dos poucos caminhos que permitem que a história da cultura material fuja ao descritivo. É evidente que podemos sempre conceptualizar, partindo da cultura material e estudando as relações que a ligam ao nível económico, social, psicológico, ideológico... Mas isso significa sair do domínio que lhe é próprio, voltar a diminuí-la e considerá-la como um nível inferior da história. Reduzida a si mesma, não tem outra perspectiva senão introduzir uma certa coerência na confusão das suas manifestações e elevar-se a um certo nível de abstracção, elaborando tipologias e definindo áreas e níveis. A classificação e a hierarquia tentadas por Leroi-Gourhan eram talvez prematuras mas, no plano metodológico, continuam insuperáveis. Índice Índice Cultura Material 35/43 8. Dimensões da cultura material Quando se introduzem modificações na cultura de um grupo humano, isso acontece por duas vias: a adopção de uma característica recebida de uma cultura estrangeira ou um processo interno. Mas dizê-lo não é suficiente, porque é bem evidente que o fenómeno de aquisição não tem nada de automático, é selectivo. Um determinado grupo só conserva, de uma cultura exterior, aquilo que lhe convém, talvez mesmo também no caso em que se exerce uma coacção: não estamos aqui a discutir as modalidades de aculturação, e um povo pode sempre aceitar ou recusar um novo uso ou um novo objecto produzidos pela moda ou pela técnica. Temos de admitir que toda a cultura tem uma receptividade limitada. Se assim não fosse, inventos como o moinho de água ou o arado não teriam levado séculos a conquistar o Ocidente, e o canhão teria sido inventado pelos Chineses, que conheciam a pólvora. De modo semelhante, as maneiras de vestir e os hábitos alimentares ter-se-iam rapidamente propagado em todo o mundo, dando-lhe uma cultura uniforme, estandardizada, que nem mesmo o século XX, com os seus potentíssimos meios de comunicação, conseguiu ainda impor-lhe. Quaisquer que sejam as solicitações que dão à cultura material matizes variados, consoante os povos e as épocas, as diferenças que se estabelecem entre os grupos humanos, justificando a definição de níveis ou estádios, conferem à cultura material duas dimensões: espacial e temporal. A estas duas dimensões convém acrescentar uma terceira, a dimensão social que, no interior de um mesmo conjunto humano, introduz diferenças tais, que nos parece legítimo falar de níveis de cultura material que separam os grupos sociais. Estes níveis surgem dentro de um contexto técnico-económico que é, no entanto, uniforme: o capital técnico é o mesmo para todos os grupos sociais, o que provavelmente induz a recusar a técnica como componente única da cultura material e como único critério de definição dos seus limites. A dimensão cronológica da cultura material exprime-se em termos de evolução, uma evolução extremamente lenta. Fernand Braudel insiste nesta imagem de uma história da vida material que se arrasta, empírica, feita de permanências, de repetições. Uma história quase, mas não completamente, imóvel. Assim, os estudos recentes sobre a arquitectura rural demonstram que, final de contas, a casa tradicional não existe. Para os etnógrafos, trata-se da velha casa que se supõe reflectir a tradição, porque não apresenta nenhuma das modificações que o progresso contemporâneo impôs às casas vizinhas. Mas no século XIX a aldeia teria igualmente velhas casas e casas novas, sensivelmente diferentes entre elas. Será preciso recuar mais no tempo para chegarmos a uma casa rural verdadeiramente fixada pela tradição? A arqueologia desilude essa esperança. Na Borgonha vitícola, a habitação rural do século XIV, descoberta pelas escavações de uma aldeia abandonada (Dracy), é um prenúncio da do século passado, mas não é idêntica. Os materiais e os volumes são os mesmos, mas o mesmo não acontece nem com a distribuição interior, nem com as aberturas e a pavimentação, nem sequer com a lareira ou o mobiliário. Quanto ao fim da Idade Média, as escavações Índice Índice Cultura Material 36/43 efectuadas em Inglaterra descobriram uma casa rural feita de traves de madeira, mas chegou-se à conclusão que essa casa fora precedida, no século XIII, por uma casa de pedra que, por sua vez, sucedia a uma casa de madeira de outro tipo. Ainda antes disso, a casa rural foi talvez uma cabana semienterrada. O equilíbrio que os ecólogos do nosso tempo procuram no passado é um fantasma: o passado material é feito de instabilidade, mas percorrido por movimentos tão lentos, que o historiador tem dificuldade em deles se aperceber. Fernand Braudel aplicou à alimentação o seu esquema dos três tempos da história. Os banquetes principescos seriam neste caso o acontecimento. A conjuntura é ilustrada pela austeridade imposta aos homens do final do século XVI, que situavam o país da Cocanha no tempo dos seus pais. A conjuntura longa é representada pela aclimatação das novas culturas, como milho, enquanto a longa duração estaria presente na alimentação actual, baseada na cultura dos campos: continuamos a estar em dívida com a revolução agrícola do Neolítico. Este mesmo esquema seria, sem dúvida, válido para outras componentes da cultura material. Na história do vestuário, o tempo longo seria o do material tecido, a conjuntura poderia ser o abandono das vestes compridas por parte dos homens, e os factores da moda teriam, evidentemente, as características do acontecimento. Estes movimentos de amplitude vária nem sequer intervêm ao mesmo tempo e tocam de modo diverso os vários domínios da vida material. E, por isso, difícil ao historiador circunscrever as mutações mais importantes, aquelas que alteram em profundidade e por tempo considerável a civilização de uma região. Onde situar as grandes viragens da cultura material do Ocidente? As cesuras propostas pela história política ou pela história das ideias são, evidentemente, inadequadas. É certo que o Renascimento fez descobrir as muralhas dos castelos, viu o início da imprensa e a introdução de novos produtos vindos da América, mas estes aspectos serão ainda durante muito tempo apenas curiosidades, e os navios que atravessam o oceano não têm nada de revolucionário; acima de tudo, a vida das massas pouco muda. Diz-se que as verdadeiras transformações da cultura material estão ligadas às da demografia. Assim, a época dos grandes arroteamentos, com a transformação da paisagem, a abertura de novos espaços, a conquista de novas energias é também a época de um prodigioso salto demográfico. Mas os historiadores não estão ainda em posição de decidir se os progressos agrícolas precederam e provocaram a multiplicação numérica dos homens ou se é o contrário que acontece. Mesmo os estudiosos da pré-história perderam a sua segurança: já não têm a coragem de fazer da revolução neolítica a resposta a uma pressão demográfica e quase biológica. Mesmo a grande revolução do século XVIII tende a ofuscar-se: os, progressos da maquinaria são evidentes na tecelagem, na siderurgia, no uso do vapor, mas o que é que representam fora de Inglaterra? Será na verdade o século em que a vida venceu definitivamente a morte? Quanto à nova revolução agrícola, apesar do desenvolvimento das culturas de forragem, da rotação quadrienal, do melhoramento das raças dos animais, hesita-se hoje em admiti-la e colocar-lhe uma data. Índice Índice Cultura Material 37/43 Porquê então diminuir inventos que se colocam entre estas pretensas acelerações da evolução material? Os tempos carolíngios assistem ao aparecimento e difusão de tantos progressos decisivos — como o arado de aiveca, a ferradura, que se segue ao estribo, o jugo e a rotação trienal —, que será talvez necessário datar a revolução agrícola da Idade Média a partir dos séculos VIII e IX. E o tear de pedal, a dobadoura, o relógio mecânico, a arma de fogo, que surgem entre o fim do século XII e o fim do século XIV, o arroz e o trigo mourisco, o feijão e o milho, que se adaptam ao Ocidente entre os séculos XIV e XVIII, todas essas conquistas poderão ser consideradas de pouca importância para a vida material dos povos europeus? Tendo tudo isto em conta, a única certeza continua a ser a de um progresso. As revoluções são duvidosas, as mutações bruscas, improváveis, mas o desenvolvimento da vida material é conhecido nas suas grandes linhas: é o de um progresso contínuo em aceleração. Não é de admirar que, ao debruçarmo-nos sobre um passado velho de alguns séculos encontremos apenas lentidão: a curva é, no entanto, ascendente. Não é de admirar que os tempos que nos separam da máquina a vapor nos surjam envoltos na confusão de uma revolução permanente: a curva ascendeu e cresce cada vez mais rapidamente: segundo Rufflé [1976] é próprio da cultura, qualquer que seja o momento ou o campo considerado, seguir uma curva exponencial. O progresso material é talvez o único progresso certo. Se é um facto que não há a mínima dúvida que o homem foi aumentando o seu domínio do mundo à medida que passava a ser a espécie mais numerosa da Terra (pelo menos entre os mamíferos), não é tão certo que esse mesmo homem tenha aumentado o domínio sobre si próprio. No entanto, muito embora limitado ao campo material, o progresso só é visível globalmente, na humanidade considerada no seu conjunto. E o peso das sociedades ocidentais neste conjunto é considerável e esconde talvez evoluções diferentes, observadas em outras regiões do globo, culturas imóveis ou talvez mesmo regressões. Mais: a noção de progresso não parece ser universal. Algumas sociedades ignoraram-na ou recusaram-na. O Japão, fechando-se a qualquer influência exterior, cultivou durante séculos o imobilismo. O caso da China é ainda mais perturbador: depois de ter inventado tudo, viveu, a partir do início desta era, do adquirido, sem inovações, mesmo — e sobretudo — a nível da vida quotidiana. Pode ser que os Ocidentais, ao considerarem a história chinesa, sejam mais sensíveis às permanências que às mudanças, porque estão atentos apenas às linhas mais originais de uma cultura que lhes é, em grande parte, estranha. Resta o facto de a China ter continuado a utilizar recipientes lacados, chibatas, encostos rígidos, espelhos metálicos redondos, esteiras de junco e indumentárias assimétricas abotoadas ao lado, que aparecem já nas sepulturas dos príncipes da dinastia Flan. Entramos aqui no campo delicado das explicações, das iate-acções entre supra-estruturas e infra-estruturas, mas parece que a ideologia expressa pela filosofia confuciana não foi estranha a este imobilismo geral da cultura material: uma inércia das supra-estruturas que se reflecte na vida material. Nem todas as Índice Índice Cultura Material 38/43 civilizações têm da história a concepção evolutiva a que estamos habituados no Ocidente e algumas delas substituem-na pela noção de ciclos fechados. Estas últimas identificam a mudança com a desordem e a dor e fazem do imobilismo, do intangível, a condição da felicidade. O estudo da cultura material na sua dimensão espacial pode ser encaminhado para a análise das célebres «áreas culturais» e para a explicação das suas relações recíprocas. As «áreas culturais» têm uma longa história na ciência antropológica: sede das escolas de pensamento — evolucionismo, difusionismo, funcionalismo —, basearam-se em parte em «provas» ou, de modo mais genérico, em argumentos extraídos da tecnologia e, em menor grau, La economia. Sabe-se, por exemplo, que o evolucionismo construiu em grande parte as suas tipologias hierárquicas baseando-se em níveis técnicos que individualizavam conjuntos culturais isolados; que o difusionismo ilustrou profusamente os contactos e os contributos culturais com a difusão de técnicas ou de objectos materiais e que o funcionalismo se preocupou em demonstrar a função das criações socioculturais partindo essencialmente de objectos materiais, geralmente objectos de vocação técnica que serviam para fabricar outros objectos. Mesmo se em cada uma destas tentativas de explicação geral há algo que continua a ser válido, sabe-se agora que são todas elas parciais e que necessitam, portanto, de ser integradas: de cada vez que recorrem a demonstrações baseadas na cultura material, elas confirmam ser em parte exactas, mas insuficientes, e podemos pensar que o interesse da antropologia mais recente pelos sistemas simbólicos e de representação tenha sido reforçado por esse facto. É certo que, precisamente por isso, o estudo das áreas culturais deixou em seguida um espaço maior aos fenómenos supra-estruturais, o que permitiu definir essas áreas de um modo mais completo, incluindo os domínios materiais e não materiais: constatou-se então com frequência que elas não têm verdadeiramente limites precisos, mas que se sobre-põem todas mais ou menos, conforme adoptemos o critério técnico, económico, religioso, linguístico, etc. Juntando assim os parâmetros não materiais aos parâmetros materiais, o estudo das áreas culturais tornou-se riais rico e apurado; mas parece que foi mesmo a rigorosa cultura material que permitiu a sua aparição e lhe favoreceu as primeiras evoluções. preciso também dizer que esta dimensão espacial nunca pôde fugir completamente, em antropologia, à influência da dimensão cronológica (e talvez tenha acontecido o contrário). Assim, a ideia de diacronia aparece ligada, pelo menos, às doutrinas evolucionistas e difusionistas e, de modo mais limitado, ao funcionalismo (que pressupõe que um fenómeno cultural só pode existir enquanto assegura uma função efectiva no seu contexto): isto demonstra até que ponto estas dimensões espaciais e cronológicas são interdependentes e dialecticamente ligadas. Correlativamente, é evidente que o estudo da cultura material — e, portanto, dos objectos que a representam — não pode desenvolver-se, para ilustrar as áreas culturais e as suas relações, senão num campo sincrético, simultaneamente espacial e temporal: excluir completamente uma ou outra destas dimensões significa talvez condenarmo-nos a deixar escapar uma parte da realidade objectiva. Índice Índice Cultura Material 39/43 Se a cultura material agisse apenas no quantitativo, não teria, evidentemente, cabimento evocar uma sua dimensão social. Mas ela introduz também diferenças qualitativas, às vezes tão amplas que as duas extremidades da escala social nem sequer parecem pertencer ao mesmo mundo. As sociedades dos antigos estados coloniais da América Latina oferecem sem dúvida, a este respeito, as oposições mais duras, mas o passado das nações ocidentais apresentaria facilmente níveis de cultura material só ligeiramente menos contrastantes. No vestuário, por exemplo o facto de vestir peles; na alimentação, provavelmente muito mais rica em proteínas onde as especiarias estavam largamente representadas; na habitação, melhor aquecida e iluminada; nas deslocações, que se faziam a cavalo; no seu comportamento quotidiano, o homem do castelo, da cidade ou do mosteiro distinguiu-se do «rústico» durante longos séculos. Hesitaríamos, no entanto, ao descrever minuciosamente estes contrastes, às vezes acentuadíssimos, outras vezes tão ténues que não constituíam mais que simples matizes: os preconceitos são demasiados e é necessário examinar mais a fundo as vagas descrições da vida rural deixadas, por exemplo, pelos autores e pelos pintores do grand siècle, La Bruyere, Vauban, La Nain. Faltam ainda estudos rigorosos que permitam falar já não em termos de pobreza e riqueza, mas de necessário e supérfluo, de normal e luxuoso, que permitam avaliar as diferenças através das quais se passa de uma cultura material à outra. De qualquer maneira, parece ser legítimo falar de uma cultura aristocrática e de uma cultura popular a propósito da vida material, como a propósito das representações e capacidades mentais. Tais pesquisas não estão em contradição com a concepção de uma cultura material entendida como cultura de massas. A vida dos ambientes populares define-se também pondo em evidência os contrastes que a opõem à das classes dominantes. Devemos porém incluir no âmbito da cultura material o estudo dos produtos de luxo baseando-nos no facto de serem produzidos pelo trabalho das massas? É isso que parece pensar a ciência chinesa, que integra no estudo da cultura popular os túmulos aristocráticos ou imperiais com os seus ricos adornos: estes pertenceriam à cultura material porque construídos e fabricados pelo povo, embora a sua concepção corresponda, evidentemente, aos critérios e necessidades das classes dominantes. Existe aqui uma ambiguidade, uma extensão da noção que poderia ser perigosa, visto que os testemunhos do luxo são já privilegiados por uma longa tradição de pensamento, por uma expressa preferência da história e da arqueologia tradicionais; e são também valorizados pelo seu volume, pelo seu melhor estado de conservação devido à utilização de materiais menos perecíveis. A habitação aristocrática deixou vestígios mais eloquentes, mais evidentes do que os da habitação rural: não podemos pretender estudar a cultura material se continuarmos a limitar as investigações à «vila» ou ao castelo. Demasiado imprecisa para ser um conceito, a ideia de cultura material continua a ser uma noção. Mas as obras, cada vez mais numerosas, que se referem a esta noção, bem como os ensaios epistemológicos a que dá lugar [Moreno e Quaini 1976] atestam a sua vitalidade. Na realidade, a cultura material corresponde a uma necessidade actual das ciências humanas. Tem o atractivo de reunir, oferecendoÍndice Índice Cultura Material 40/43 lhes um esquema, estudos dispersos, até agora mal integrados e sem estatuto científico: as pesquisas sobre a vida quotidiana, por exemplo. Sem se identificar exactamente com a cultura material, a vida quotidiana decalca-a em grande parte, mas os estudos que lhe são dedicados conservam ainda um carácter marginal, mesmo anedótico. Nascida dos historiadores e sobretudo por eles utilizada, a noção de cultura material conserva, na história, toda a sua riqueza heurística. Pode ainda conquistar terreno, exigindo a atenção do investigador para os aspectos concretos da condição humana, para o homem, muitas vezes ignorado no jogo dos mecanismos económicos ou nas subtilezas da classificação social. É interessante para o historiador marxista, porque põe em evidência as condições, as bases materiais e técnicas do desenvolvimento dos sistemas socioeconómicos. Deveria ter também sucesso entre os etnólogos, porque lhes lembra a importância das infraestruturas. Mas, hoje em dia, oferece o melhor do seu programa ao arqueólogo. A arqueologia descobre objectos concretos: sem impedir os desenvolvimentos sugeridos pelas relações que se estabelecem entre estes objectos e que atingem o nível das organizações sociais ou o das representações, a arqueologia será sempre levada, nas suas reconstituições, a privilegiar os aspectos materiais das civilizações que estuda. Só graças a estes aspectos, cuja interpretação continua a ser limitada e verificável, as suas análises atingem uma relativa segurança. Deste ponto de vista, porém, o estudo da cultura material implica um risco, o de uma reificação da civilização. Mortimer Wheeler [1954] protestou contra a tendência da arqueologia para materializar o humano, para passar da cultura do «machado de guerra» ou da cultura do «cálice» a unia espécie de personificação do machado de guerra ou do cálice. Ciência dos objectos, o estudo da cultura material tem de saber que o objecto tem mais que um significado. Um vaso não exprime apenas uma técnica ou uma função; pela sua forma, pela sua eventual decoração, corresponde igualmente a opções que são também de ordem supra-estrutural; pode, afinal, ter um significado social, testemunhando simultaneamente um sistema económico. Mesmo se só a técnica e a função são de compreensão imediata e relativamente evidente, é preciso não esquecer os outros significados que o objecto encerra. É, evidentemente, arbitrário fazer cortes como os que a noção da cultura material inevitavelmente introduz na continuidade sociocultural. Mas esses cortes, essas classificações arbitrárias, são uma necessidade intelectual: um dos processos da mente para apreender o real é o de delimitar os seus campos. A noção de cultura material representa sem dúvida uma reacção excessiva que, no entanto, se opõe a uma acção, também ela excessiva, a uma tendência durante muito tempo acentuada e já não justificada, que consiste em confundir cultura ou civilização unicamente com os seus aspectos supra-estruturais. O seu papel é o de superar um atraso que se introduziu nas ciências humanas. [R. B. e J.-M. P.]. Índice Índice Cultura Material 41/43 Bibliografia Bloch, M. 1935 Les «inventions» médiévales, in «Annales d'histoire économique et sociale», VII (trad. it.in Lavoro e tecnica nel Medioevo, Laterza, Bari 1959, pp.180-99). 1939 La société féodale, Michel, Paris 1939-40 (trad. it. Einaudi, Torino, 1975) [trad. port. Edições 70, Lisboa, 1982]. Braudel, F. 1949 La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Colin, Paris (trad. it. Einaudi, Torino 1976) [trad. port. «Publicações Dom Quixote», Lisboa, 1984]. 1967 Civilisation matérielle et capitalisme, Colin, Paris (trad. it. Einaudi, Torino, 1977) [trad. port. Cosmos, Lisboa, 1970]. Febvre, L. 1922 La terre et l'évolution humaine. Introduction géographique à l*histoire, Michel, Paris. Gieysztor, A. 1958 A propos de l'histoire des conditions matérielles de la vie humaine, in «Kwartalnik Historii Kultury Materialnej», VI, nº1-2, suplemento Ergon, I, pp.143-52. Hensel, W. 1956 Slowianszezyzna Wcresnosredniowieczna. Zarys Kulzury Materialnej, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. Kulczycki, J. 1955 Zalozenia Teoretyczne Historii Kulturj Materialnej, in «Kwartalnik Historii Kultury Materialnej», III, nº3, pp.519-62. Le Goff J. 1973 Histoire et ethnologie: l'historien et «l'homme quotidien», in: «Mélanges en l'honneur de Fernand Braudel», Privat, Paris. Leroi-Gourhan, A. 1945 Evolution et techniques, II. Milieu et techniques, Michel, Paris. Le Roy Ladurie, E. 1975 Montaillou, Village Occitan de 1294 à 1324, Gallimard, Paris (trad. it. Rizzoli, Milano, 1977). Índice Índice Cultura Material 42/43 Malinowski, B. 1944 A Scientific Theory of Culture and Other Essays, University of North Carolina Press, Chapel Hill N.C. (trad. it. Feltrinelli, Milano, 1962). Moreno, D., e Quaini, M. 1976 Per una storia della cultura materiale, in «Quaderni storici», nº31, pp. 5-37. Rufflé, J. 1976 De la biologie à la culture, Flammarion, Paris. Wheeler, R. E. M. 1954 Archaeology fivm the Earth, Clarendon Press, Oxford. A noção de cultura material surgiu nas ciências humanas e em particular na história a seguir à formação da antropologia (cf. anthropos) e da arqueologia (cf. documento/monumento) e à influência exercida pelo materialismo histórico (cf. formação económico-social). Marca a sua distância em relação ao conceito de cultura (cf. cultura/culturas), chamando a atenção para os aspectos não simbóljcos das actividades produtivas dos homens (cf. símbolo), para os produtos e os utensílios (cf. utensílio), bem como para os diversos tipos de técnica (cf. em especial vestuário, habitação, agricultura, alimentação, cultivo, cozinha, domesticação, fogo, indústria, pesos e medidas), enfim para os materiais e os objectos (cf. objecto) concretos da vida das sociedades (cf. sociedade). O estudo da cultura material privilegia as massas em prejuízo das individualidades e das élites; dedica-se aos factos repetidos (cf. ciclo, hábito, tradições), não ao acontecimento; não se ocupa das supra-estruturas, mas das infra-estruturas (cf. estrutura). Percebe-se assim como evoluiu sobretudo nos pafses da Europa Oriental, entre investigadores predispostos a considerar de modo especial a economia e o modo de produção. O homem também faz parte da cultura material; o seu corpo, enquanto transmissor semiótico (cf. signo) é igualmente importante para recompor o quadro geral de uma cultura ou de uma civilização, tal como partindo de farrapos e moedas se pode delinear a cidade, a indústria e o comércio ou a troca, o tipo de consumo das várias classes da população. No entanto, os objectos materiais trazem consigo outras marcas inerentes às artes, ao direito, à religião, ao parentesco, que hoje já não são subvalorizados. Só considerando este quadro de conjunto se pode individualizar o estado de uma sociedade, o seu progresso (cf. progresso/reacção) e a sua evolução, vistos através dos utensílios. A cultura material tende, por fim, a lançar uma ponte para a imaginação do homem e pana a sua criatividade e a considerar como suas três componentes fundamentais: o espaço, o tempo (cf. espaço / tempo) e o carácter social dos objectos. Embora seja ainda necessário defini-lo com mais exactidão e embora existam ainda nele algumas ambiguidades (cf. ambiguidade), o estudo da Índice Índice Cultura Material 43/43 cultura material pertence à pesquisa histórica e com ela colabora através de um método próprio pana reexaminar as espirais inerentes a todas as ruínas (cf. ruína/restauro) do passado (cf. passado/presente). *** Índice
Download