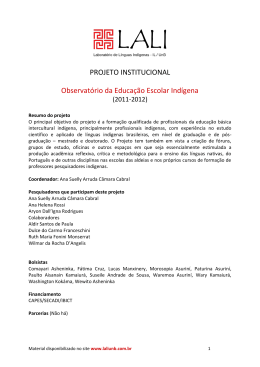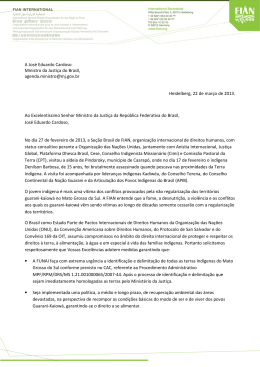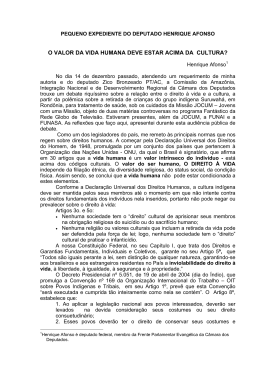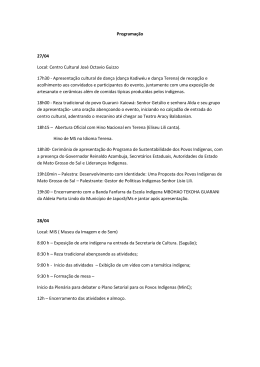ESCOLARIZAÇÃO E ANALFABETISMO ÍNDÍGENA NO BRASIL1 Alceu Ravanello Ferraro – UFRGS; UNILASALLE/RS [email protected] Abraão Nilo Givago Schäfer – FACULDADES EST [email protected] ResumoA escolarização indígena é conseqüência do contato com a sociedade envolvente e foi sempre usada para “civilizar” e “adaptar” os indígenas, o que tem causado ruptura nas suas tradições. Ao terem que incorporar a técnica da escrita, os indígenas tentam dar-lhe outro significado, ou seja, à medida que a sociedade envolvente quer incorporá-los por meio da escrita, eles buscam apropriar-se da escrita justamente para não serem incorporados. Está posto aí um desafio para os formuladores e executores das políticas públicas voltadas à escolarização dos povos indígenas. Palavras-chave: indígenas; escolarização; analfabetismo. INTRODUÇÃO O presente trabalho pretende estudar a educação escolar nas comunidades indígenas no Brasil, centrando a atenção na analise da taxa de não-alfabetização nessas populações indígenas. No primeiro ponto faz-se uma breve retrospectiva histórica da educação escolar e seus pressupostos na história do país. O segundo ponto trata da alfabetização indígena como conseqüência do contato. O terceiro ponto analisa a questão da escola nas populações indígenas em sua relação com a sociedade envolvente. O quarto ponto faz uma análise da taxa de não-alfabetizados no conjunto da população indígena segundo o Censo 2000, levando em consideração as variáveis cor/raça, sexo, grupo de idade e regiões. Conclui-se fazendo algumas considerações sobre o analfabetismo e a educação escolar nas populações indígenas. A “CONQUISTA” Logo quando chegaram ao Brasil muitos portugueses diziam que os índios não pronunciavam as letras f, l e r porque não possuíam fé, lei e rei4. Por isso seria fácil catequizalos, pois não tinham religião nem um código de leis (escritas) que organizasse a sociedade. Mas com o tempo começariam a mudar de opinião, de um povo sem religião ou deus passariam a vê-los como “idólatras”5. Os “descobridores” tomam esses “novos” habitantes como objeto de pesquisa e questionamento. Começaram a perguntar se esses novos seres descobertos pertenciam à humanidade. O critério da resposta foi, nessa época, essencialmente religioso: possuem alma? O pecado também recai sobre eles? Foram respostas importantes para os missionários, pois precisavam saber se era possível comunicar-lhes o Evangelho6. A intenção de tentar entender a língua e a cultura, e criar gramáticas para esses povos indígenas, segundo Bartomeu Melià (1979), é a da tradução. Ou seja, a vontade de entender o outro é antes a vontade de ser entendido e o que deveria ser entendido é na verdade a doutrina cristã. “Civilizar” era cristianizar e cristianizar e “civilizar”. Segundo Melià, a educação (para o) indígena se volta logo para alfabetização. No pensamento corrente não havia outra forma de educar o indígena se não alfabetizando-o. E a passagem de culturas não-escritas para culturas escritas está marcada pela dominação. Durante muito tempo e ainda hoje a educação foi/é uma forma de dominar e impor um determinado tipo de conhecimento; foi/é uma forma de adaptar o indígena a uma determinada sociedade, de transformá-lo apto a cumprir certos requisitos necessários para sobreviver na sociedade do “branco”, ou seja, a educação por muito tempo foi uma forma de transformar o índio em mão-de-obra qualificada e barata (quando não escrava)7. Inicialmente é necessário esclarecer que no presente trabalho há uma diferença entre educação indígena e educação escolar indígena. Ambos os modelos têm sua formalidade no processo: a educação formal indígena, que se estende por toda a vida do ser humano com base no contexto, e a educação formal nacional, com regimentos, calendários escolares, planos de aula, salas de aula e num determinado período na vida do ser humano. Cada povo desenvolveu suas próprias técnicas de educação que visam instruir e transformar a criança ou a pessoa num ser exemplar do contexto onde nasceu8. Desse modo é ingênuo afirmar que exista uma forma única de educação nos povos indígenas. Por educação indígena entendem-se os processos próprios de educação que incluem pedagogias, formas, regras e métodos específicos de aprendizagem. O processo de educação indígena é muitas vezes visto, pela sociedade nacional, como um processo informal, tendo em vista que não possuem escolas ou agentes específicos e especializados em educação. Mas o processo de educação indígena é também um processo formal, pois tem uma forma sistemática, com regras e pedagogias, tem local e hora apropriada, tem pessoas específicas, tem fases específicas que requerem mais esforço e tempo9. A educação tem o papel de tornar o ser num portador exemplar da cultura onde nasceu, tornando-se, assim, parte integrante de uma identidade. Esse processo de educação não está voltado somente para suas relações internas, mas também externas, na interação com outros povos. Por muito tempo também se pensou que a educação indígena fosse somente utilitária, com vista à sobrevivência e necessidades. Isso também não é verdade, pois os povos indígenas desenvolveram religiões, classificaram a natureza, e fizeram outras tantas especulações existenciais e cosmológicas. A forma pela qual se deu a educação escolar indígena é das mais diversas. Alguns povos tiveram esse contato logo cedo, no século XVI; outros o tiveram mais tarde; outros ainda hoje não tiveram contato com a educação escolar. Esses últimos são chamados povos isolados, devido ao não-contato sistemático com a sociedade nacional. Seguem alguns dados históricos sobre a educação escolar indígena no Brasil. EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NO BRASIL COLONIAL O processo de educação escolar indígena teve seu início por volta da segunda metade do século XVI, quando passou a existir no centro da ideologia dominante a intenção de adaptar o indígena à sociedade colonial10. Mas a educação escolar indígena ficou a cargo das missões religiosas católicas. Por isso Melià (1979) e Fernandes (1975) afirmam que a história da educação escolar indígena está intimamente ligada com a história da Igreja no Brasil. Os aldeamentos e as reduções acabavam descaracterizando todo o pluralismo cultural dos indígenas em um único modelo cultural, econômico, religioso e político11. As casas eram distribuídas e construídas conforme ideais civilizatórios coloniais. Mudando o sistema econômico das comunidades, mudam também as relações entre as pessoas e destas com a natureza. Com isso mudam também as concepções de si mesmos e do mundo12. No início da educação escolar indígena eram os padres, junto com índios, que iam até às aldeias ensinar os indígenas. Mas essa forma não era eficiente, segundo os padres. Construíram, então, escolas e internatos nas missões, onde diversas etnias participavam do processo educacional. A educação tinha como objetivo a catequização tida como ação civilizatória. Civilizar era catequizar e catequizar era civilizar13. EDUCAÇÃO ESCOLAR COMO INCORPORAÇÃO À SOCIEDADE NACIONAL No Brasil colonial a intenção era civilizar/catequizar o indígena. Já no Brasil republicano (até a constituição de 1988), a intenção era integrar o indígena à sociedade nacional. Essa mudança aconteceu devido a denúncias nacionais e internacionais quanto ao não respeito aos povos indígenas. Frente às pressões sofridas, o governo cria, em 1910, o Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Esse órgão ficou responsável por todos os assuntos concernentes aos povos indígenas e um dos seus principais objetivos era o de, sistematicamente, integrar os indígenas à sociedade nacional14. O que antes os padres investiam no processo de catequização, agora o SPI investe no processo de incorporação dos indígenas no trabalho agrícola e doméstico. São introduzidas nos currículos escolares as disciplinas “Práticas Agrícolas” e “Práticas Domésticas”: a primeira para meninos, a segunda para meninas. Em 1932 o SPI é transferido para o Ministério da Guerra e, em 1967, devido a denúncias de massacres dos povos indígenas, é substituído, para evitar intervenções da ONU, por um novo órgão, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), vigente até hoje 15. Esse novo órgão por um lado não mudou muito do antigo SPI e por outro tinha propostas mais significativas, embora sem recursos, para os indígenas. A FUNAI é vinculada ao Ministério do Interior e este é voltado ao incentivo do desenvolvimento interno do país. Segundo Santos (1975), a FUNAI, com esse caráter empresarial, está preocupada em obter recursos financeiros e passa a implantar, nas terras indígenas, projetos econômicos que visem tal fim. Assim, segundo o autor, os postos da FUNAI que tinham melhores condições para executar atividades agrícolas passaram a investir sistematicamente no cultivo de trigo, soja, feijão ou milho. Foram também implantadas serrarias nas áreas indígenas que tinham recursos florestais, e quando não havia recursos para isso eram concedido direito, pela FUNAI, de serrarias privadas explorarem a área. “...verdadeiramente os postos indígenas se transformaram em fazendas, sendo que seus chefes passaram a uma categoria de gerente ou capataz. Dessa forma, não há efetivamente renda indígena”16. Quanto à educação escolar, a FUNAI usou, sem muitas modificações, o currículo escolar das Secretarias de Educação dos estados e municípios se distinguindo apenas com o ensino bilíngüe nas escolas, privilegiando a língua materna. Mas não havia, por parte da FUNAI, um programa bilíngüe e nem pessoas capacitadas para isso. Sendo assim a FUNAI acabou recorrendo ao Summer Institute of Linguistics (SIL), um organismo de cunho religioso fundamentalista, presente no Brasil desde 1959, e que tem como objetivo traduzir a Bíblia nas mais diferentes línguas, e principalmente nas línguas dos povos tribais. O convênio foi rompido em 1977 e reativado, não sem críticas, em 1983. Em 1999 o Ministério da Educação e da Cultura (MEC) elaborou um parecer oficial que impediu a continuidade das atividades do SIL junto aos povos indígenas no Brasil17. MOVIMENTOS INDÍGENAS Segundo Cledes Markus (2006), é a partir da década de 1970 que começam a aflorar em toda América Latina os movimentos indígenas a favor da preservação de suas identidades e direitos. No Brasil, as articulações, reuniões e assembléias indígenas começam mais sistematicamente a partir de 1974. A partir daí, diversas organizações foram criadas e existem até hoje como, por exemplo, a União das Nações Indígenas (UNI)18. O movimento indígena contou muito com a ajuda e apoio das organizações não-governamentais que tinham um compromisso político com os povos indígenas – que também passaram a aflorar na década de 1970. A educação escolar sempre esteve presente nas discussões e reivindicações dos movimentos indígenas. A Constituição de 1988 reflete os esforços empreendidos pelo movimento indígena e pelas organizações não-governamentais que lutam pela causa indígena. A Constituição reconhece o direito à diversidade cultural desses povos e, no que diz respeito à educação, são garantidos e reconhecidos os processos próprios de uma educação diferenciada que leve em consideração a realidade de cada povo19. Só muito recentemente, em 1991, é que foi repassada ao MEC a responsabilidade sobre a educação escolar indígena, que antes era atribuição da FUNAI. As ações referentes à educação escolar indígena são agora de responsabilidades das Secretarias de Educação dos Estados e Municípios, em sintonia com o MEC. ALFABETIZAÇÃO INDÍGENA A alfabetização indígena é uma conseqüência do contato, mas essa se processa em duas perspectivas, segundo Melià. A primeira é a perspectiva da sociedade envolvente e a outra, a da própria sociedade indígena. A tentativa da sociedade envolvente em educar os indígenas vem desde os tempos coloniais, como visto, mas sem muitos resultados. Segundo Melià, a argumentação que justifica a alfabetização do indígena é mais ou menos essa: o indígena deve conseguir se intercomunicar, deve saber lidar com/resolver os problemas criados pela sociedade envolvente. O indígena deve saber defender-se do branco, para isso é necessária a alfabetização. Como se a alfabetização por si mesma fosse capaz de resolver os problemas trazidos pelo contato. Segundo Melià, a alfabetização que a sociedade envolvente tem em vista teria as seguintes vantagens: a) elevar o nível do índio b) possibilitar a leitura da Bíblia e outros livros c) reclamar seus direitos, pela escrita, frente ao Estado. d) perpetuar na escrita a memória oral do povo, que se pensa que pode ser esquecida20 Talvez isso seja o que Graff (1995) chamou de “o mito da alfabetização”. Segundo o autor, existe um censo comum, popular e acadêmico, que diz que a alfabetização traria consigo “poderosos” efeitos. Os efeitos atribuídos à alfabetização são dos mais diversos: empatia pessoal, espírito crítico e inovador, aceitação tecnológica, participação democrática e identificação nacional, linearidade de pensamento e comportamento. Além disso, também é atribuído à alfabetização o desenvolvimento econômico, tecnológico e político, a modernização, estabilidade política, controle de natalidade entre outros. Para Pattanayak (1995) os teorizadores sobre cultura escrita e cultura oral estão preocupados em demonstrar as vantagens e dar maior ênfase à cultura escrita. Costumam dizer que a cultura escrita proporcionou decisivamente o desenvolvimento da “modernidade”. Os autores estão mais preocupados em proclamar a superioridade da cultura escrita sobre a oralidade, do que as diferenças entre elas. Assim, segundo ele, os milhões de analfabetos no mundo todo “são vistos como cidadãos de segunda classe”21. E ainda, não há estudos significativos que comprovem o real desenvolvimento das culturas escritas em relação às culturas orais. Graff (1995, p. 27-28) também chama a atenção para isso dizendo que a alfabetização “é fundamentalmente mal compreendida”, porque os estudos feitos “evitam qualquer esforço para formular definições consistentes e realistas da alfabetização, não avaliam as implicações conceituais que a questão da alfabetização apresenta, e ignoram ‘muitas vezes de forma grosseira’ o papel vital do contexto sócio-histórico”. Na realidade, muito do que se atribui à alfabetização é antes fruto da escolarização e não da alfabetização em si. Para Pattanayak a ênfase na cultura escrita é uma estratégia de opressão por excelência, e estudos que exageram nessa ênfase acabam se tornando instrumentos de dominação. A ideologia da sociedade nacional, de alfabetizar o indígena, encontrou ecos nas sociedades indígenas. A maioria dos povos reivindica esse direito, mas, segundo Melià, a perspectiva da sociedade indígena muitas vezes não tem a ver com a alfabetização mesma. O que está por trás dessa intenção é conseguir certos recursos (do governo ou ong’s) que só conseguiriam vendendo sua mão de obra ou seu trabalho ou ainda dominar uma técnica do branco (a escrita) que resolveria seus problemas por completo. Na perspectiva indígena, segundo Melià, podem-se destacar as seguintes razões para a alfabetização: a) dominar uma técnica mais do “civilizado”, que parece ter também um valor quase mágico b) defender-se da exploração c) defender a terra por meios jurídicos, que exigem o domínio da escrita d) progredir, pós-alfabetizado, nos estudos e no domínio de técnicas do branco e) transmitir para a própria comunidade as técnicas adquiridas f) conseguir emprego e melhores condições de vida e um status dentro da sociedade do branco g) poder escrever a própria tradição, e poder ler textos escritos por pesquisadores sobre o próprio povo22 Melià diz que o papel da educação indígena na criança é tornar esse novo ser portador exemplar da cultura onde nasceu, integrá-la às normas da cultura onde nasceu. Assim esse novo ser será capaz de se integrar e de ser um protagonista da sua cultura, podendo propor mudanças, mas mudanças coerentes com sua tradição23. Já a alfabetização e a educação escolar trazidas pelas missões e pela sociedade nacional causaram uma ruptura com a tradição desses povos, ruptura, segundo Melià não sem ideologia. Ou seja, a intenção desse processo, de alfabetização e educação escolar, era de assimilar os indígenas e torná-los “cristãos civilizados” capazes de venderem sua força de trabalho. Os indígenas, por sua vez, nem sempre viam esse processo dessa forma. Ou seja, enquanto que a sociedade envolvente queria (ou ainda quer) dominar os indígenas através da escrita, os indígenas queriam dominar a escrita justamente para não serem dominados. Segundo Melià, a escrita deveria ser usada pelos indígenas simplesmente como técnica suplementar na sua cultura, para, com isso, tentar resolver os problemas trazidos pela própria alfabetização e educação escolar, pelo contato. O problema da alfabetização indígena é a interferência que ela causa, e essa interferência, segundo Melià, pode proceder de duas formas: por primeiro, substituindo o processo milenar de educação indígena, e por segundo, sendo um complemento (paralelo) da educação indígena24. A primeira causaria uma ruptura com a tradição, já a segunda estaria causando uma inovação coerente com a tradição e educação indígena. Segundo Maria Helena Rodrigues Paes (2003) ao citar Iara Tatiana Bonin25 diz que o conhecimento “de fora”, da sociedade envolvente dominante, ao entrar em contato com os indígenas assume uma nova característica para esses, ou seja, é algo que deve ser compreendido e dominado. E é assim, conforme diz Paes, que esse conhecimento “de fora” passou a se efetivar como único modo de sobrevivência e manutenção para os povos indígenas. A escola deveria ser, conforme Bonin, o meio pelo qual os indígenas captariam esse conhecimento “de fora”. Segundo a autora, “apropriar-se a novos saberes não significa sobrepô-los ao saber tradicional, mas transformá-los em caixas de ferramentas”26. Assim a escola, segundo Paes, se apresenta como essencial no contexto das comunidades indígenas, já que estão inseridos num contexto maior, o da sociedade nacional. Segundo a autora, a escola deveria dar possibilidades aos indígenas de participarem da sociedade envolvente de forma consciente. “Não há como estar inserido em um contexto sem conhecê-lo, assim como não há como participar de uma dinâmica social sem conhecer os códigos que a regem. [...] Não conhecendo e compreendendo os códigos normativos e legislativos [da sociedade envolvente], estarão sempre na dependência de ‘outros’ para a garantia de seus direitos”27. A ESCOLA INDÍGENA A escola foi o instrumento pelo qual a sociedade envolvente tentou, durante muito tempo (e quando deturpada, ainda hoje), integrar os indígenas ao modo de vida ocidental “civilizado”. Pelo menos essa foi a visão nacional. Os indígenas tentam dar outro sentido a educação escolar, de perpetuar seu modo de vida, ainda que tendo que incorporar novos elementos, como a escrita e a escola. Não são vítimas passivas desse empreendimento, mas agentes ativos28. Muitos agentes indigenistas e pesquisadores defendem a idéia de que as escolas são ou deveriam ser “espaços de afirmação e revitalização da cultura”29. Nesse sentido a escola indígena deveria diferenciar e em muitos lugares se diferencia das escolas da sociedade envolvente. Essa necessidade de uma escola com um modo próprio já está presente na Assembléia realizada em 1981 (quando os movimentos indígenas organizados começam a surgir no cenário nacional) no Alto Purus-AM, onde dizem que não querem uma escola “como funciona para os brancos, mas sim uma escola que faça com que o índio queira continuar ser índio e não ficar desejando abandonar a aldeia; essa escola deve ter professores indígenas e ficar dentro das malocas”30. Neste mesmo sentido o Conselho de Professores Indígenas da Amazônia (COPIAM) diz, na Assembléia Geral de 2000, que a escola indígena deve estar a serviço do povo, como instrumento de resistência e sobrevivência do povo. “As escolas não podem ‘servir como ‘portas de saída’ dos jovens’ indígenas das aldeias e comunidades”, mas “devem contribuir para a busca de soluções mais amplas para o presente e o futuro de nossos povos”31. A escola começa a se tornar um problema para os indígenas quando não corresponde à comunidade e à auto-afirmação cultural e política do seu povo. Segundo Paes, quando a escola indígena se propõe a trabalhar conteúdos da própria cultura do povo dentro da sala de aula, esta está “dizendo” que a comunidade é incapaz de cumprir o seu papel, o de transmitir a cultura ou de educar o novo ser na sociedade. Segundo os próprios indígenas, a escola tem que ensinar às crianças “as coisas do branco, pois as coisas de índio elas aprendem com a família e a comunidade”32. A escola é um problema trazido pelo contato com a sociedade envolvente. Os indígenas para não serem massacrados são obrigados a incorporarem certas técnicas a sua cultura, técnicas essas que não deveriam causar uma ruptura com a tradição, mas servir de aparato crítico para não serem dominados por uma cultura e um certo tipo de conhecimento alheio. Segundo a maioria dos autores e autoras, a escola nas sociedades indígenas deveria ser o instrumento pelo qual os povos indígenas, captariam, entenderiam e dominariam esse conhecimento alheio, justamente para não serem dominados por eles. A escola seria promotora da auto-afirmação cultural da comunidade. Sendo a escola um local de preservação e auto-afirmação cultural para os povos indígenas, a alfabetização seria um grande passo nessa direção. Veremos a seguir o que dizem os dados do último Censo Demográfico do IBGE sobre a alfabetização das populações indígenas no contexto brasileiro. A ALFABETIZAÇÃO INDÍGENA SEGUNDO O CENSO 2000 1) Começa-se aqui comparando a taxa de não-alfabetização (analfabetismo) do conjunto dos povos indígenas frente aos outros grupos étnico-raciais que compõem a população brasileira, considerando sempre as pessoas de 10 anos ou mais. A taxa de não-alfabetização entre as pessoas de etnia indígena (25,2%) está bastante próxima da mesma taxa para as pessoas declaradas de cor preta (20,3%) e parda (16,8%), o que representa uma taxa 1,24 vezes mais elevada em relação as pessoas de cor preta e 1,5 vezes em relação as pessoas de cor parda. Muito mais elevada é a diferença entre a taxa de não-alfabetização da população indígena (25,2%) em relação às populações branca (7,7%) e amarela (4,8%), chegando a ser, respectivamente, 3,3 e 5,25 vezes mais elevada (Gráfico 1). Em resumo, o grande corte em termos de taxas de não-alfabetização está entre, de um lado, pessoas brancas e amarelas, e de outro, pessoas indígenas, pretas e pardas. Feita essa comparação, pode-se passar, agora, à analise do analfabetismo nas populações indígenas, introduzindo as variáveis sexo, região e grupos de idade. 2) A Gráfico 2 permite duas observações. De um lado, as taxas de não-alfabetização são acentuadamente mais elevadas nos grupos a partir dos 50 anos de idade, em comparação com os grupos etários abaixo de 50 anos. Isto deve estar sinalizando uma intensificação da alfabetização indígena na segunda metade do século XX. De outro lado, em todos os grupos de idade a partir dos 20 anos, as mulheres apresentam taxas de não alfabetização mais elevadas que os homens, invertendo-se, porem, a situação a favor das mulheres no grupo mais jovem, isto é, no grupo de 10 a 19 anos. Os estudos vêm mostrando que, no Brasil, as mulheres apresentam, em todos os grupos de idade abaixo de 50 anos, taxas de analfabetismo inferiores às dos homens (Ferraro, 2007). Isso faz prever que nas próximas décadas a vantagem das mulheres, no que se refere à alfabetização, irá estender-se também para os grupos seguintes de idade (20-29, 30-39 anos etc.) entre os povos indígenas. 3) No passo seguinte comparam-se as taxas de não-alfabetização entre os indígenas por região. O exame do Gráfico 3 permite ver a enorme desigualdade regional existente nas populações indígenas quanto ao analfabetismo. Com efeito, a taxa de não-alfabetização na Região Norte (41,8%) representa 1,6 e 1,7 vezes, respectivamente, as taxas da Região CentroOeste (25,4%) e da Região Nordeste (24,5%). No outro extremo situam-se as regiões Sul (18,4%) e Sudeste (12,1%), representando esta última uma taxa 3,5 vezes menos que a da Região Norte. Tais resultados acompanham, de modo geral, as desigualdades regionais apuradas para o conjunto da população brasileira (Ferraro, 2004). 4) O Gráfico 4 permite relacionar as taxas de não-alfabetização com sexo nas diferentes regiões. Exceção feita da Região Nordeste, onde as taxas são praticamente idênticas (em torno de 24,5%), em todas as demais regiões as taxas de não-alfabetização são acentuadamente mais elevadas entre as mulheres. Esses resultados indicam que entre os indígenas a “corrida” das mulheres à escola está retardada em relação ao que se verifica para o conjunto da população brasileira, onde elas já superam os homens na maioria dos indicadores educacionais. 5) O Gráfico 5 considera apenas o grupo etário de 10 a 19 anos. Neste grupo, o mais jovem na população de 10 anos e mais, as mulheres já levam vantagem (taxas de nãoalfabetização mais baixas) em duas regiões (Sudeste e Nordeste), com diferenças mínimas em outras duas (Sul e Norte). Apenas na Região Centro-Oeste a diferença continua acentuada em desfavor das mulheres. Isso significa que, com algumas décadas de defasagem, as populações indígenas estão manifestando, hoje, a mesma tendência à inversão na relação entre sexo e educação no conjunto da população brasileira: antes, fortemente favorável aos homens; de algumas décadas para cá, tornando-se favorável às mulheres. CONSIDERAÇÕES FINAIS Segundo os e as autoras, a escola é, na maioria das vezes, re-significada quando incorporada no contexto das comunidades indígenas. Re-significada de um modo e interesse próprios de forma a contribuir para a sobrevivência dessas comunidades indígenas. O papel da escola não se limita à alfabetização. No entanto, a alfabetização é um grande passo para uma escola que seja capaz de melhor compreender as dinâmicas da sociedade envolvente e de participar na luta pela emancipação das comunidades indígenas. Nessa perspectiva, a taxa de analfabetismo nas populações indígenas no seu conjunto ainda é muito elevada. Se examinada a questão na perspectiva regional, então as populações das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste são as mais atingidas pelo analfabetismo. Pode-se dizer que a escola e a alfabetização são assimiladas pelas populações indígenas conforme a intensidade do contato com a sociedade envolvente e a oferta de oportunidades de parte da União e dos estados e municípios. Nas regiões onde o contato é mais intenso (Sul e Sudeste) as taxas de não-alfabetização são menores, ao passo que nas regiões onde o contato é menos intenso (Norte, Nordeste e Centro-Oeste) as taxas de não-alfabetização são mais elevadas. Tendo em vista esse quadro, ainda restam algumas perguntas quanto ao processo de educação escolar nas comunidades indígenas: • Como proceder com a escola sabendo-se que, conforme Freire, não existe educação neutra; sabendo-se que a escola serviu e ainda hoje serve como instrumento de dominação e alienação? • Como a educação pode ser um instrumento de libertação quando, muitas vezes, os próprios professores indígenas estão “viciados” por uma ideologia capitalista, não se lembrando mais do motivo pelo qual reivindicaram uma escola em sua aldeia? • Não são já pensadas as escolas indígenas numa perspectiva de continuidade escolar, visando a introduzir os indígenas no ensino médio e superior nas escolas da sociedade envolvente? • Estarão os indígenas que se formam nas escolas da sociedade envolvente, especializando-se em profissões dessa sociedade e morando longe de suas aldeias, dispostos a voltar para a sua comunidade, a sua aldeia? • É possível uma escola indígena realmente autônoma, não submissa aos agentes do Estado? Ou ainda, é possível a não-escola para os povos indígenas, como uma forma de não sucumbirem frente à sociedade envolvente? REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA D’ANGELIS, Wilmar; VEIGA, Juracilda (Orgs.). Leitura e Escrita em Escolas Indígenas: encontro de educação indígena no 10º COLE/1995. São Paulo: ALB, Mercado de Letras, 1997. FERNANDES, Florestan. Investigação etnológica no Brasil e outros ensaios. Petrópolis: Vozes, 1975. FERRARO, Alceu Ravanello; KREIDLOW, Daniel. Analfabetismo no Brasil: configuração e gênese das desigualdades regionais. Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 29, n. 2, p. 179200, jul./dez. 2004. FERRARO, Alceu Ravanello. Gênero e alfabetização no Brasil de 1940 a 2000: traçando a trajetória da relação. 2007. p. 19. Texto inédito. GRAFF, Harvey J. Os labirintos da alfabetização: reflexões sobre o passado e o presente da alfabetização. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. MARKUS, Cledes. Identidade étnica e educação escolar indígena. Blumenau: FURB, Dissertação. Centro de Ciências da Educação, Universidade Regional de Blumenau, 2006. MELIÀ, Bartomeu. Educação Indígena e Alfabetização. São Paulo: Loyola, 1979. OPAN. A Conquista da Escrita. São Paulo: Iluminares, 1989. PAES, Maria Helena Rodrigues. "Cara ou coroa": uma provocação sobre educação para índios. Revista Brasileira de Educação, maio/ago. 2003, no. 23, p. 86-102. ISSN 14132478. PATTANAYAK, D. P. A cultura escrita: um instrumento de opressão. In: OLSON, D. R. e TORRENCE, N. (Orgs.). Cultura escrita e oralidade. São Paulo: Ática, 1995. SANTOS, Silvio Coelho dos. Educação e sociedades tribais. Porto Alegre: Movimento, 1975. SILVA, Rosa Helena Dias da. Escolas em movimento: trajetória de uma política indígena de educação. Cadernos de Pesquisa, dez. 2000, no. 111, p.31-45. ISSN 0100-1574. VAINFAS, Ronaldo. A Heresia dos Índios: Catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. WEIGEL, Valéria Augusta Cerqueira de Medeiros. Os Baniwa e a escola: sentidos e repercussões. Revista Brasileira de Educação, jan./abr. 2003, no. 22, p. 5-13. ISSN 14132478. GRÁFICOS Gráfico 1. Taxa de não-alfabetizados/as entre as pessoas de 10 anos ou mais, segundo a cor ou raça. Brasil 2000. % não-alfabetizados/as 30,0 25,0 25,2 20,3 20,0 16,8 15,0 10,0 7,7 4,8 5,0 0,0 Indígena Preta Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 – Microdados. Parda Cor ou raça Branca Amarela 70,0 Gráfico 2. Taxa de não-alfabetizados/as na população indígena de 10 anos ou mais, por sexo, segundo grupos de idade. Brasil 2000. 59,4 % não-alfabetizados/as 60,0 Homem 50,0 50,1 Mulher 41,7 40,0 32,0 30,0 20,0 17,816,3 19,6 17,4 10-19 20-29 23,7 21,0 27,3 22,3 30-39 40-49 10,0 0,0 Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 – Microdados. 50-59 60 ou + Grupos de idade Gráfico 3. Taxa de não-alfabetizados/as na população indígena de 10 anos ou mais, segundo as regiões. Brasil 2000. % não-alfabetizados/as 45,0 41,8 40,0 35,0 30,0 25,4 24,5 25,0 20,0 18,4 12,1 15,0 10,0 5,0 0,0 Norte Nordeste Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 – Microdados. Sudeste Regiões do Brasil Sul Centro-Oeste % não-alfabetizados/as Gráfico 4. Taxa de não-alfabetizados/as na população indígena de 10 anos ou mais, por sexo, segundo as regiões. Brasil 2000. 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 45,1 Homem 38,8 Mulher 28,6 24,9 24,2 21,7 14,4 22,1 15,1 9,7 Norte Nordeste Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 – Microdados. Sudeste Sul Centro-Oeste Regiões do Brasil Gráfico 5. Taxa de não-alfabetizados/as na população indígena entre 10 a 19 anos, por sexo, segundo as regiões. Brasil 2000. % não-alfabetizados/as 35,0 31,6 32,2 30,0 Homem 25,0 Mulher 20,0 17,1 15,0 15,1 11,4 10,0 10,5 5,4 5,0 6,1 6,8 3,3 0,0 Norte Nordeste Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 – Microdados. Sudeste Regiões do Brasil Sul Centro-Oeste NOTAS 1 Trabalho desenvolvido dentro do Projeto Gênero, raça e escolarização no Brasil: traçando a trajetória da relação, desenvolvido com apoio do CNPq. 2 Professor do Centro Universitário La Salle e bolsista PQ do CNPq. 3 Aluno do Bacharelado em Teologia das Faculdades EST, bolsista de Iniciação Cientifica do CNPq. 4 VAINFAS, Ronaldo. A Heresia dos Índios: Catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 13. 5 VAINFAS, Ronaldo. 1995, p. 25. 6 Também havia outros critérios para os indígenas chegarem ao estatuto de humanos: aparência física, comportamentos alimentares se sua inteligência pode ser aprendida por meio da escrita, mas o principal era o religioso, “sem religião nenhuma, são mais diabos”. LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2005, p. 37-41. 7 BEOZZO, José Oscar. Leis e Regimentos das Missões: Política Indigenista no Brasil. São Paulo: Loyola, 1983. p. 9. 8 Cf. SANTOS, Silvio Coelho dos. Educação e sociedade tribais. Porto Alegre: Movimento, 1975, p. 53-54. MELIÀ, Bartomeu. Educação Indígena e Alfabetização. São Paulo: Loyola, 1979, p. 10. FERNANDES, Florestan. Investigação etnológica no Brasil e outros ensaios. Petrópolis: Vozes, 1975, p. 38-39. 9 MELIÀ, Bartomeu. 1979, p. 10. 10 FERNANDES, Florestan. Investigação etnológica no Brasil e outros ensaios. Petrópolis: Vozes, 1975, p. 25. 11 SUESS, Paulo. Culturas Indígenas e Evangelização. [S.l.] Vozes [S. d.]. p. 215. 12 MARKUS, Cledes. Identidade étnica e educação escolar indígena. Blumenau: FURB, Dissertação. Centro de Ciências da Educação, Universidade Regional de Blumenau, 2006, p. 59. 13 MELIÀ, Bartomeu. 1979, p. 46. 14 SANTOS, Silvio Coelho dos. Educação e sociedade tribais. Porto Alegre: Movimento, 1975, p. 38. 15 MARKUS, Cledes. 2006, p. 63 16 SANTOS, Silvio Coelho dos. 1975, p. 48. 17 MARKUS, Cledes. 2006, p. 64. 18 MARKUS, Cledes. 2006, p. 66. 19 MARKUS, Cledes. 2006, p. 68. 20 MELIÀ, Bartomeu. 1979, p. 58-59. 21 PATTANAYAK, D. P. A cultura escrita: um instrumento de opressão. In: OLSON, D. R. e TORRENCE, N. (Orgs.). Cultura escrita e oralidade. São Paulo: Ática, 1995, p. 117. 22 MELIÀ, Bartomeu. 1979, p. 59-60. 23 Cf. FERNANDES, Florestan. Investigação etnológica no Brasil e outros ensaios. Petrópolis: Vozes, 1975, p. 36. 24 MELIÀ, Bartomeu. 1979, p. 60-61. 25 PAES, Maria Helena Rodrigues. "Cara ou coroa": uma provocação sobre educação para índios. Rev. Bras. Educ., maio/ago. 2003, no.23, p.94. 26 Bonin apud Paes. p. 94. 27 PAES, Maria Helena Rodrigues. 2003, no.23, p.94. 28 Cf. WEIGEL, Valéria Augusta Cerqueira de Medeiros. Os Baniwa e a escola: sentidos e repercussões. Rev. Bras. Educ., jan./abr. 2003, no.22, p.5-13. ISSN 1413-2478. 29 Cf WEIGEL 30 Apud D’ANGELIS; VEIGA. 1997, p. 173. 31 Apud SILVA. 2000, p. 41. 32 Apud PAES. 2003, p. 93.
Baixar