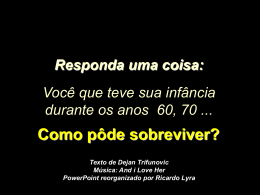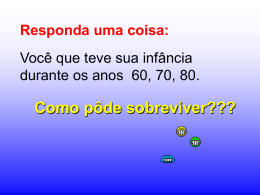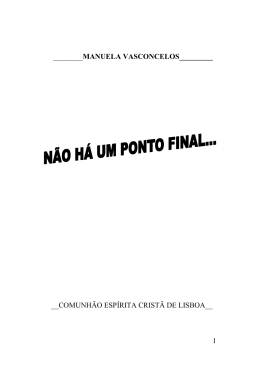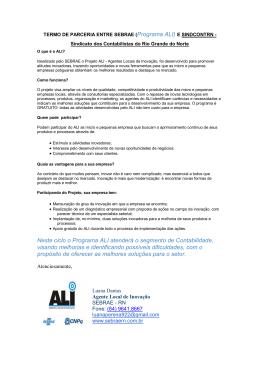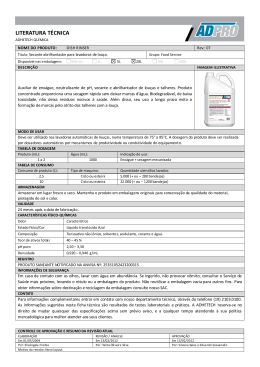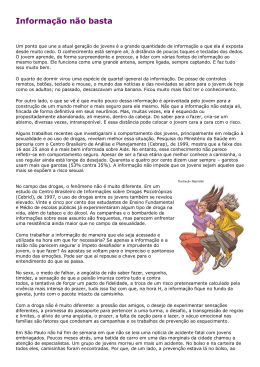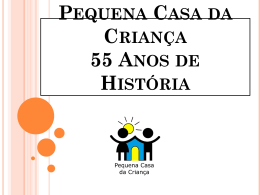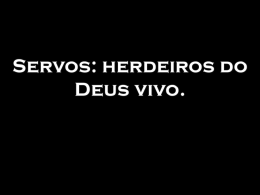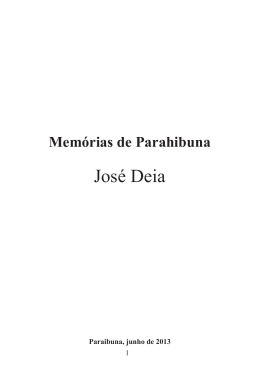julho | agosto | setembro 2011 | v. 80 — n. 3 — ano XXIX Ar, arte, Louçarte: cantata operária Entrevista revista do tribunal de contas DO ESTADO de minas gerais Foi ali praticamente meus primeiros vórtices profundos, entre portuguesas falas de minhas lembranças, e eu ali, embrulhando louças como troféus artísticos a serem enviados a múltiplos destinos nacionais, ou nos tornilhos para tornear moldes de vasos e ânforas, aprendendo, molhando as mãos e moldando os primeiros vasos e passos de minha juventude distante. E entrar na sala de pinturas era um clarão de fascínio, de cores e alumbramentos, dos azuis imemoriais demarcados, onde os mestres portugueses — irmãos José e Manuel Marques —, e os artistas locais, entre outros vários, o Dnar, Wandyr, José Eleutério, Martelli e meu mano Décio empunhavam os jarrões de seus finos pincéis, dóceis e plenos de imaginação. Quantas e quantas vezes desci de pé-em-pé as íngremes escadarias da Antônio Dias, passei pelos arcobotantes da Ponte Carlos Otto sobre o Paraibuna, e lá adentrei por anos a fio os velhos galpões da Louçarte, na Avenida Sete de Setembro, defronte à Igreja São José. Naqueles pavilhões amarelados margeei o que sou, as tenras pegadas de uma quase criança, a sagrar os cânticos de meu querido pai. Éramos jovens, infindos de esperanças e papai o mágico timoneiro de nossos sonhos familiares e coletivos. Ali, às louças nos devotamos, na glória fabril e febril de romper mundos incalculáveis e progressivos de um algo complexo a acontecer — o muito do forte despertar, em arte, do que éramos naquele instante primeiro, todos nós —, do nascimento individual e dual de nossas mãos enlevadas e tão próximas, da grande alegria de nascer, vir à vida e renascer sobre as vagas do espírito. A Louçarte foi o cadinho de uma experiência vertiginosa e norteadora do que viríamos ser, cada um, doravante unificados para sempre, a bebermos a mesma fonte solidária das ramagens artísticas. Dali, não saíram só vasos pintados. A fábrica foi a nossa Limoges, de onde nasceram novos Renoirs, como o da matriz francesa original, frutificando-se aqui os nacionais tão brilhantes, na sequência de artistas plurais da louça, das telas e da vida. Devo à Louçarte o tanto que me ficou das sondas imersas de meu próprio eu, do companheirismo avassalador de fruições daquele momento que se armou livre, romântico, definitivo de amizades, dos afetos sem fendas dessa saudade. A fábrica tornou-se o ato da condição indelével de não se errar os verbos da partida, o lugar a muito florescer encantadas sementes e as centelhas subsequentes de todos nós, aquele conjunto coeso a se firmar na luta emblemática, amorosa e grupal travada pouco após no solo atemporal da Antônio Parreiras. Éramos crédulos de energia, enquanto a confiança circundava-nos os recintos habitados de destemor, numa junção incognoscível do homem diante de seu melhor feito, sem bravuras vãs, sem seus destinos resvalados. Éramos irmãos de uma mesma causa e nossas córneas cintilavam 9 revista do tribunal de contas DO ESTADO de minas gerais os claros cantares da pureza juvenil. nos edificávamos nas mesmas telas e julho | agosto |Esetembro 2011 | v. 80 — n. mutuamente, 3 — ano XXIX temas, nas trocas irreveláveis de ternura uns com os outros, em andamentos harmônicos, binários tons de nossas cores unidas, versos imaginários de nossos corpos comuns. De jovens nos fizemos adultos, e de adultos, muitos a voz fatal nos ceifou, mas o vértice frondoso ficou em permanências, nos espectros do amor. Luiz Afonso Pedreira, uns dos amigos componentes do grupo escreveu uma crônica cujo título sintetiza o espírito da época: “Nós que nos amávamos tanto...” Arte, Louçarte, ares de antigos laços onde tudo acaba e principia, de uma dinâmica identidade daquilo que ali se fazia à beira do Paraibuna, levando as vestes fecundas de todos nós, artistas e operários àquela viagem insondável destemida. Muitas faces se foram, mas aquelas fôrmas úmidas de gesso sobre a relva, os cheiros graxos remoídos, os fornos fumegantes parindo louças incandescentes e os sons trepidantes das máquinas permaneceram, como gritos silenciosos de uma aurora entente onde todos nos atrelamos, às margens do velho Paraibuna, levando as humanas hastes de nossos fragmentos imantados. A terra e o barro, a pedra moída reconstruída, cristalina e vitrificada da arte que se torna a carne esmaltada de nosso ser, na louça. Foram-se os poros daquela época, mas o halo eterno sobe o mesmo rio, vai contra as correntezas inertes como bálsamos de brisas, plácidos remansos embalsamados de nossa visão, vagando derradeiros oceanos de imagens idas. Todos temos no início uma luta linda, sem constrangimentos nem anomalias, porque tudo é verídico na infância, sem peso ou tirania. Aquele traçado de longa distância entre a Sete de Setembro e o Largo do Riachuelo, não nos pesava. Ao contrário, descontraía. Ir à pé, conversando com Dnar, o Wandyr, meus manos e papai, era trajeto de luz de uma irmandade que progredia. Éramos marujos da viagem inicial do longínquo mar terreno, viajeiros de uma extensão cotidiana de ir e vir pelos mesmos caminhos, filosofando, almoçando todos os dias a bandeja coletiva do extinto SAPS, o restaurante popular na Avenida dos Andradas para onde íamos, passo a passo, vencendo-se quase metade da cidade, a comer a sagrada marmita de nossas evocações. E íamos. Dóceis e frágeis, porém fortalecidos na unidade, no sonho de um algo quase impossível, nessa viabilidade cooperativista anunciada onde dor não havia, só flores colhidas pelos caminhos das ruas de nossos pulmões aquecidos, pela fronte ilesa de um só, mesmo coração. Porque éramos, todos nós, rigorosamente iguais — os irmãos de sangue e os de amizade —, naquela sinfonia operária e sensível sem trauma algum, numa cantata uníssona de beleza. E verdades. E eu ali, caçula da família e do grupo, inundando-me de perplexidades e poesias de um mundo imenso a abrir-se para sempre à minha volta, à minha frente. Nesse relembrar de tempos findos, o faço em reverência aos amados pais e manos e a esses amigos tantos, que me rasgaram universos de essências, lá, no lugar a clarear os vácuos de minha própria espécie, minha terra, a pátria onírica de minhas anímicas certezas, Juiz de Fora. Carlos Bracher Ouro Preto, madrugada de 26 de agosto de 2011 10
Download