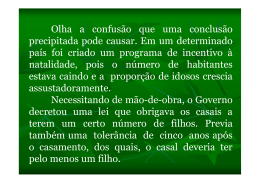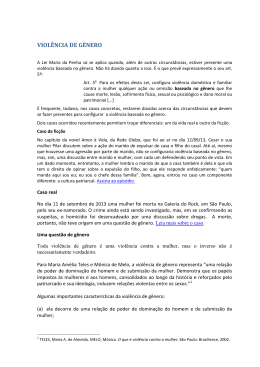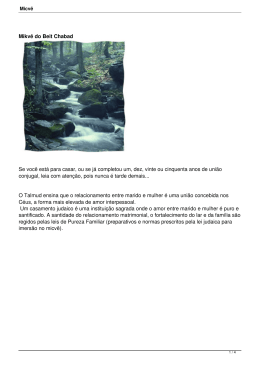UNIVERSIDADE DE LISBOA FACULDADE DE LETRAS DEPARTAMENTO DE LINGUÍSTICA GERAL E ROMÂNICA RELATÓRIO DE PROJECTO DE TRADUÇÃO A Problemática do «Nós» na Tradução para Português de The Buddha in the Attic, de Julie Otsuka APÊNDICE Sónia Macedo MESTRADO EM TRADUÇÃO ANO LECTIVO DE 2013/ 2014 1 O Buda no Sótão, de Julie Otsuka 2 Venham, japoneses! No barco, quase todas nós éramos virgens. Tínhamos longos cabelos pretos e pés chatos e largos e não éramos muito altas. Algumas de nós nunca tinham comido nada que não fosse mingau de arroz e tinham as pernas ligeiramente arqueadas e algumas de nós tinham apenas catorze anos e ainda eram meninas. Algumas de nós vinham da cidade e usavam roupas cheias de estilo e citadinas, mas muitas de nós vinham do campo e no barco usavam os mesmos quimonos velhos que tinham usado durante anos – desbotados e que nos tinham sido passados pelas nossas irmãs, quimonos remendados e tingidos muitas vezes. Muitas de nós vinham das montanhas e nunca tinham visto o mar antes, a não ser em fotografias, e muitas de nós eram filhas de pescadores que tinham vivido em frente ao mar toda a nossa vida. Talvez tivéssemos perdido um irmão ou um pai para o mar, ou um noivo, ou talvez alguém que amássemos se tivesse atirado à água numa manhã triste e simplesmente nadado para bem longe e agora era chegada a altura de também nós seguirmos em frente. NO BARCO, a primeira coisa que fizemos – antes de decidirmos de quem gostávamos e de quem não gostávamos, antes de dizermos umas às outras de que ilha vínhamos e por que é que tínhamos partido, mesmo antes de nos preocuparmos em aprender os nomes umas das outras – foi comparar as fotografias dos nossos maridos. Eram jovens bonitos com olhos escuros e fartas cabeleiras, com a pele suave e imaculada. Tinham queixos fortes. A postura, boa. Os narizes direitos e levantados. Pareciam-se com os nossos irmãos e pais lá em casa, só que com melhores roupas, com sobrecasacas cinzentas e fatos ocidentais perfeitos de três peças. Alguns deles estavam de pé no passeio em frente a chalés de madeira com vedações de estacas brancas e a relva cuidadosamente aparada e alguns deles inclinavam-se contra um Modelo T da Ford na rua. Alguns deles estavam sentados em cadeiras duras, com costas altas num estúdio, com as mãos cuidadosamente pousadas e a olhar fixamente para a câmara, como se estivessem prontos para dominar o mundo. Todos eles prometeram estar lá, à nossa espera, em São Francisco, quando desembarcássemos no porto. NO BARCO, perguntávamo-nos com frequência: Será que vamos gostar deles? Será que os vamos amar? Será que os vamos reconhecer a partir das fotografias quando os virmos pela primeira vez no pontão? NO BARCO, dormíamos lá em baixo, na terceira classe, onde tudo era imundo e sombrio. As nossas camas eram prateleiras estreitas de metal, umas em cima das outras, e os nossos colchões 1 eram duros e finos e estavam manchados pelas nódoas de outros viajantes, de outras vidas. As nossas almofadas estavam forradas a cascas de trigo secas. Restos de comida ocupavam as passagens entre as camas e o chão estava molhado e escorregadio. Havia um vigia e, à noitinha, quando a escotilha era fechada, a escuridão enchia-se de sussurros. Será que vai doer? Corpos viravam-se e reviravam-se debaixo das cobertas. O mar subia e descia. O ar abafado sufocava. De noite sonhávamos com os nossos maridos. Sonhávamos com sandálias novas de madeira e rolos de seda índigo intermináveis e sonhávamos que íamos viver, um dia, numa casa com chaminé. Sonhávamos que éramos lindas e altas. Sonhávamos que estávamos de volta aos arrozais de onde quisemos escapar, desesperadamente. Os sonhos com os campos de arroz eram sempre pesadelos. Sonhávamos com as nossas irmãs mais velhas e mais bonitas do que nós, que tinham sido vendidas para as casas de geishas pelos nossos pais, para que o resto de nós pudesse comer e, quando acordávamos, estávamos a ofegar. Por um segundo, pensei que era ela. NOS NOSSOS PRIMEIROS DIAS no barco estávamos sempre enjoadas e não conseguíamos manter a comida no estômago e tínhamos de fazer viagens consecutivas à balaustrada. Algumas de nós sentiam-se tão tontas que nem sequer caminhar conseguiam e ficavam nas suas camas numa letargia monótona, incapazes de se lembrarem dos seus próprios nomes, já para não falar dos dos seus novos maridos. Diz-me mais uma vez, sou a Srª Quê? Algumas de nós agarravamse aos seus estômagos e rezavam alto a Kannon, a deusa da misericórdia, – Onde está, oh Deusa? – enquanto outras de nós preferiam ficar em silêncio e cada vez mais amarelas. E, com alguma frequência, a meio da noite, éramos acordadas por um abanão violento e por uma milésima de segundo não sabíamos onde estávamos ou por que é que as nossas camas não paravam de abanar ou por que é que os nossos corações batiam com tal terror. Tremor de terra era o primeiro pensamento que nos ocorria. Nessas alturas procurávamos as nossas mães, em cujos braços dormíramos até à manhã em que saímos de casa. Será que estavam a dormir neste momento? Será que estavam a sonhar? Será que pensavam em nós noite e dia? Será que continuavam a caminhar três passos atrás dos nossos pais pelas ruas com os braços cheios de sacos enquanto os nossos pais não levavam nada de nada? Será que nos invejavam secretamente por termos partido? Não te dei tudo? Será que se lembraram de pôr a arejar os nossos quimonos velhos? Será que se lembraram de alimentar os gatos? Será que tiveram o cuidado de nos dizerem tudo aquilo que precisávamos de saber? Segura a chávena de chá com as duas mãos, mantém-te longe do sol, nunca digas mais do que tens de dizer. NO BARCO, a maioria de nós era prendada e tinha a certeza de que se tornaria numa boa esposa. Sabíamos cozinhar e sabíamos cozer. Sabíamos servir chá e fazer arranjos de flores e conseguíamos ficar sentadas durante horas, serenamente, nos nossos pés chatos e largos, sem dizer absolutamente nada de importante. Uma rapariga deve fundir-se com a divisão: deve estar 2 presente sem aparentar existir. Sabíamos como nos comportarmos em funerais e como escrever poemas curtos, melancólicos sobre a passagem do outono, com exactamente dezassete sílabas métricas. Sabíamos arrancar ervas e cortar lenha e ferver água e uma de nós – a filha do moleiro de arroz – sabia como caminhar durante duas milhas até à cidade com um saco de arroz de quase quarenta quilos às costas sem nunca suar uma gota sequer. Tem tudo a ver com a forma como respiras. A maioria de nós tinha boas maneiras e era extremamente educada, excepto quando se zangava e praguejava tal e qual um marinheiro. A maioria de nós falava como uma senhora a maior parte do tempo, com as nossas vozes agudas, fingindo saber bem menos do que realmente sabia e, sempre que passava pelos marinheiros, fazia questão de dar passos pequeninos, elegantes, com os dedos dos pés devidamente virados para dentro. Afinal, quantas vezes nos disseram as nossas mães: Caminha como na cidade, não como na quinta! NO BARCO, amontoávamo-nos nos beliches umas das outras todas as noites e ficávamos acordadas horas a fio a conversar sobre o continente desconhecido diante de nós. Dizia-se que as pessoas de lá não comiam nada mais do que carne e que os corpos deles estavam cobertos de pêlos (a maioria de nós era Budista e não comia carne e só tinha pêlo nos sítios apropriados). As árvores eram enormes. As planícies eram vastas. As mulheres eram barulhentas e altas – uma cabeça mais altas, ouvimos dizer, do que o mais alto dos nossos homens. A língua era dez vezes mais difícil do que a nossa e os costumes incomensuravelmente estranhos. Liam os livros do fim para o princípio e usavam sabão no banho. Assoavam o nariz a lenços já sujos que eram de novo enfiados nos bolsos só para serem tirados mais tarde e usados vezes e vezes sem conta. O oposto de branco não era vermelho, mas preto. O que seria de nós, perguntávamo-nos, numa terra tão estranha? Imaginávamo-nos – uma gente extraordinariamente pequena, apenas munida dos seus guias – a entrar num mundo de gigantes. Será que se iam rir de nós? Será que nos iriam cuspir? Ou, ainda pior, será que não nos iriam levar a sério, de todo? Mas até a mais relutante de nós teria de admitir que seria melhor casar com um estranho na América do que envelhecer ao lado de um agricultor na aldeia. Porque na América as mulheres não tinham de trabalhar nos campos e havia arroz e madeira suficiente para todos. E onde quer que fossemos, os homens abriam-nos as portas, tiravam-nos o chapéu e gritavam: «Primeiro as senhoras» e «Faça favor». NO BARCO, algumas de nós vinham de Quioto e eram delicadas e de tez clara e tinham vivido a vida toda em quartos escuros nas traseiras da casa. Algumas de nós vinham de Nara e rezavam aos antepassados três vezes por dia e juravam que ainda ouviam os sinos do templo a tocar. Algumas de nós eram filhas de agricultores de Yamaguchi com pulsos grossos e ombros largos e que nunca se deitavam depois das nove. Algumas de nós eram de uma aldeola de uma pequena montanha em Yamanashi e só recentemente é que tinham visto um comboio. Algumas de nós eram de Tóquio e já tinham visto de tudo e falavam um japonês perfeito e não se misturavam 3 muito com algumas das outras. Muitas mais de nós eram de Kagoshima e falavam com uma forte pronúncia do sul, que aquelas de nós de Tóquio fingiam não entender. Algumas de nós eram de Hokkaido, um sítio frio e com neve, e, durante anos, sonhariam com essa paisagem branca. Algumas de nós eram de Hiroxima, que mais tarde viria a explodir e eram umas felizardas por estarem no barco, ainda que não o soubessem na altura. A mais nova de nós tinha doze anos e vinha da costa leste do Lago Biwa e não tinha ainda começado a sangrar. Os meus pais casaram-me por causa do dinheiro do dote. A mais velha de nós tinha trinta e sete anos e vinha de Niigata e tinha passado toda a vida a cuidar do seu pai inválido, cuja morte recente a deixara tanto contente quanto triste. Sabia que só podia casar se ele morresse. Uma de nós era de Kumamoto, onde já não havia nenhum bom partido – todos os homens disponíveis tinham partido no ano anterior à procura de trabalho na Manchúria – e sentia-se afortunada por ter arranjado um marido, fosse de que espécie fosse. Dei uma olhada a esta fotografia e disse ao casamenteiro, «Este serve». Uma de nós vinha de uma aldeia de tecelagem da seda em Fukushima e perdeu o primeiro marido para a gripe e o segundo para uma mulher mais jovem e mais bonita que vivia do outro lado da colina e agora ia no barco a caminho da América para se casar com o terceiro. Ele é saudável, não bebe, não joga, é tudo o que preciso de saber. Uma de nós era uma antiga dançarina de Nagoya que se vestia lindamente e tinha uma pela branca e translúcida e que sabia tudo o que havia para saber acerca de homens e era ela a quem todas as noites fazíamos as nossas perguntas. Quanto tempo vai durar? Com a luz acesa ou às escuras? Com as pernas para cima ou para baixo? Olhos abertos ou fechados? E se não conseguir respirar? E se ficar com sede? E se ele for muito pesado? E se for muito grande? E se não me quiser, de todo? «Os homens são, de facto, muito simples» – dizia-nos ela. E depois passava a explicar. NO BARCO, às vezes, ficávamos acordadas durante horas na escuridão oscilante e húmida do porão, a morrer de saudades e de terror e perguntávamo-nos como é que aguentaríamos mais três semanas. NO BARCO, levávamos connosco nas nossas malas todas as coisas de que precisaríamos nas nossas novas vidas: quimonos de seda branca para a nossa noite de núpcias, quimonos de algodão coloridos para usarmos no dia-a-dia, quimonos de algodão lisos para quando envelhecêssemos, pinceis de caligrafia, cartuxos de tinta preta espessa, folhas finas de papel de arroz para escrever longas cartas para casa, pequenos Budas de bronze, estátuas de marfim da deusa raposa, bonecas com as quais dormíamos desde os cinco anos, sacos de açúcar amarelos para comprar protecção, colchas de tecidos coloridos, leques de papel, livros de conversação em inglês, faixas de seda floridas, pedras pretas macias do rio que corria atrás da nossa casa, uma madeixa do cabelo de um rapaz que uma vez tocámos e amámos e a quem prometemos 4 escrever, ainda que soubéssemos que nunca o faríamos, espelhos de prata que nos tinham sido dados pelas nossas mães, cujas últimas palavras ainda ecoam nos nossos ouvidos. Vais ver: as mulheres são frágeis, mas as mães são fortes. NO BARCO, queixávamo-nos de tudo. Dos percevejos. Dos piolhos. Das insónias. Do ruído constante e chato do motor, que conseguia até infiltrar-se nos nossos sonhos. Queixávamo-nos do fedor das latrinas – buracos gigantes, escancarados para o mar – e do nosso odor que piorava lentamente, parecendo tornar-se cada vez mais cáustico dia após dia. Queixávamo-nos da reserva da Kazuko, do aclarar de garganta da Chiyo, do cantarolar ininterrupto da «Canção da Apanha do Chá» da Fusayo, que lentamente nos estava a enlouquecer a todas. Queixávamo-nos dos desaparecimentos dos nossos ganchos de cabelo – quem, entre nós, era a ladra? – e de como as raparigas da primeira classe nunca tinham dito um olá por debaixo dos seus pára-sóis de seda violeta de todas as vezes que passaram por nós lá em cima no convés. Mas quem é que elas pensam que são? Queixávamo-nos do calor. Do frio. Dos cobertores de lã que nos faziam comichão. Queixávamo-nos das nossas próprias queixas. Todavia, bem lá no fundo, a maioria de nós estava realmente muito feliz, porque dentro em breve estaria na América com os seus novos maridos, que nos tinham escrito muitas vezes ao longo de meses. Comprei uma linda casa. Podes plantar tulipas no jardim. Narcisos. O que quiseres. Tenho uma quinta. Sou gerente de um hotel. Sou o presidente de um grande banco. Deixei o Japão há muitos anos atrás para começar o meu próprio negócio e poder tratar bem de ti. Meço 1,79 m e não padeço nem de lepra nem de nenhuma doença pulmonar e não há qualquer história de doença mental na minha família. Sou oriundo de Okayama. De Hyogo. De Miyagi. De Shizuoka. Cresci numa aldeia vizinha da tua e avistei-te há anos atrás numa feira. Envio o dinheiro para a tua passagem assim que puder. NO BARCO, trazíamos as fotografias dos nossos maridos penduradas ao pescoço em fios longos dentro de pequenos medalhões ovais. Trazíamo-las em bolsinhas de seda e em latas velhas de chá e em caixas encarnadas envernizadas e nos envelopes espessos e castanhos da América de onde tinham sido enviadas. Trazíamo-las nas mangas dos nossos quimonos, que tocávamos constantemente, só para termos a certeza de que ainda lá estavam. Trazíamo-las espalmadas entre as páginas do Venham, Japoneses! e do Guia para sobreviver na América e Dez Formas de Agradar a um Homem e dos volumes dos sutras budistas velhos e já gastos e, uma de nós, que era cristã e comia carne e rezava a um deus diferente e com o cabelo bem mais comprido, trazia a sua fotografia entre as páginas da Bíblia anglicana. E quando lhe perguntávamos de que homem ela gostava mais, – se do homem da fotografia, se de Jesus, Ele Próprio – ela sorria misteriosamente e respondia, «Dele, claro». 5 NO BARCO, várias de nós tinham segredos, que jurámos esconder dos nossos maridos até ao resto dos nossos dias. Talvez a verdadeira razão pela qual estávamos a caminho da América fosse encontrar um pai perdido há muito que abandonara a família anos antes. Ele foi para Wyoming trabalhar nas minas de carvão e nunca mais ouvimos falar dele. Ou talvez deixássemos para trás uma jovem filha que tinha nascido de um homem cujo rosto já mal conseguíamos lembrar – um contador de histórias viajante que passara uma semana na aldeia ou um padre budista errante que parara lá em casa uma noite bem tarde a caminho do Monte Fuji. E mesmo sabendo que os nossos pais tratariam dela com carinho, – Se ficares aqui na aldeia, avisaram-nos, nunca te casarás – ainda assim nos sentíamos culpadas por termos escolhido a nossa própria vida e não a dela e no barco chorámos por ela todas as noites durante muitas noites, até que uma manhã acordámos e secámos as lágrimas e dissemos, «Já chega» e começámos a pensar noutras coisas. Em que quimono usar quando chegássemos. Como pentear os nossos cabelos. No que dizer quando os víssemos pela primeira vez. Porque agora estávamos no barco, o passado tinha ficado lá atrás e não havia volta a dar. NO BARCO, não fazíamos ideia que sonharíamos com a nossa filha todas as noites até ao dia da nossa morte e que nos nossos sonhos ela teria para sempre três anos como da última vez que a vimos: uma figura minúscula num quimono encarnado escuro, de cócoras na beira de um charco, absolutamente extasiada pela visão de uma abelha morta a boiar. NO BARCO, comíamos a mesma comida todos os dias e todos os dias respirávamos o mesmo ar bafiento. Cantávamos as mesmas canções e riamos das mesmas piadas e, de manhã, quando o tempo estava ameno, saíamos das divisões exíguas do porão e deambulávamos pelo convés com as nossas sandálias de madeira e os nossos quimonos leves de verão, parando, de vez em quando, para fitar o mesmo mar azul sem fim. Às vezes, um peixe voador aterrava aos nossos pés e uma de nós – habitualmente uma das filhas de um pescador – apanhava-o e atirava-o de volta ao mar. Ou uma escola de golfinhos aparecia, ninguém sabia de onde, e saltava ao lado do barco durante horas. Numa manhã calma, sem vento, o mar calmo tal e qual uma piscina e o céu de um tom de azul brilhante, o flanco suave de uma baleia apareceu de repente fora de água e desapareceu logo de seguida e, por um momento, esquecemo-nos de respirar. Foi como olhar para o olho do Buda. NO BARCO, ficávamos no convés durante horas com o vento nos nossos cabelos, a observar os outros passageiros a passar. Víamos sikhs com turbantes de Punjab que fugiam da sua terra natal para o Panamá. Víamos russos brancos que fugiam da revolução. Víamos trabalhadores chineses de Hong Kong que iam trabalhar nos campos de algodão do Peru. Víamos King Lee Uwanowich e a sua famosa banda de ciganos, donos de um grande rancho de gado no México. 6 Constava que eram a banda de ciganos mais rica do mundo. Víamos um trio de turistas alemães bronzeados e um bonito padre espanhol e um homem inglês, corado, chamado Charles, que aparecia no corrimão todas as tardes às três e quinze e percorria vários metros do convés a passos largos. O Charles viajava na primeira classe e tinha olhos verdes escuros e um nariz pontiagudo. Falava japonês correctamente e era a primeira pessoa branca que muitas de nós tinham visto. Era professor de línguas estrangeiras na universidade de Osaka e tinha uma mulher japonesa e uma criança e tinha estado na América muitas vezes e tinha uma paciência infinita para as nossas perguntas. É verdade que os americanos cheiram muito a animal? (O Charles riu-se e disse, «Bem, eu cheiro?» e deixou que nos inclinássemos até estarmos suficientemente perto para o podermos cheirar.) E quão peludos eram eles, afinal? («Tão peludos quanto eu.», respondeu o Charles e então enrolou as mangas para nos mostrar os braços, que estavam cobertos de pêlos castanho escuros que nos causaram arrepios.) E era verdade que lhes cresciam pêlos no peito? (O Charles corou e disse que não nos podia mostrar o peito e nós corámos e explicámos que não lhe tínhamos pedido que o fizesse.) E ainda havia tribos selvagens de peles-vermelhas nómadas pelas pradarias? (O Charles disse-nos que todos os peles-vermelhas tinham já desaparecido e nós demos um suspiro de alívio.) E era verdade que as mulheres na América não tinham de se ajoelhar perante os seus maridos nem de cobrir a boca quando se riam? (O Charles fitou um navio ao longe no horizonte e suspirou, respondendo «Infelizmente, era».) E os homens e as mulheres dançavam mesmo encostadinhos pela noite dentro? (Só aos sábados, explicou o Charles.) E os passos de dança eram muito difíceis? (O Charles disse que eram fáceis e deu-nos uma aula ao luar, na noite seguinte, de foxtrot no convés. Devagar, devagar, depressa, depressa.) E a baixa de São Francisco era realmente maior do que a Ginza? (Mas como não? Claro que sim.) E as casas na América tinham mesmo três vezes o tamanho das nossas? (De facto tinham.) E cada casa tinha um piano na sala? (O Charles disse que era mais casa sim, casa não.) E ele achava que seríamos felizes lá? (O Charles tirou os óculos e olhou-nos com os seus olhos verdes adoráveis e disse «Ah sim, muito».) NO BARCO, algumas de nós não resistiam a fazer amizade com os marinheiros, que vinham das mesmas aldeias que nós e sabiam todas as letras das nossas canções e nos pediam constantemente em casamento. Nós já somos casadas, explicávamos-lhes, mas mesmo assim umas quantas de nós apaixonaram-se por eles. E quando perguntavam se nos podiam ver sozinhas – nessa mesma noite, digamos, no convés intermédio às dez e quinze – olhávamos fixamente para os pés por um momento e respirávamos fundo antes de dizer, «Sim» e esta seria outra das coisas que nunca íamos contar aos nossos maridos. Foi o modo como ele olhou para mim, diríamos a nós próprias mais tarde. Ou, Ele tinha um sorriso lindo. 7 NO BARCO, uma de nós ficou grávida, mas sem saber, e quando o bebé nasceu nove meses depois, a primeira coisa em que ela reparou foi como ele era parecido com o seu novo marido. Ele tem os teus olhos. Uma de nós atirou-se borda fora depois de ter passado a noite com um marinheiro e deixou para trás uma pequena nota na almofada: Depois dele, não pode haver mais ninguém. Uma outra de nós apaixonou-se por um missionário metodista de regresso a casa que conheceu no convés e ainda que ele tenha implorado para ela deixar o marido por ele quando chegassem à América, ela disse-lhe que não podia. «Não posso fugir ao meu destino», disse-lhe. Mas até ao fim dos seus dias haveria de imaginar que vida poderia ter tido. NO BARCO, algumas de nós eram cismáticas por natureza e preferiam estar consigo próprias e passavam a maior parte da viagem deitadas de barriga para baixo nas suas camas, pensando em todos os homens que tinham deixado para trás. O filho do vendedor de fruta, que sempre fingira não notar a nossa presença, mas que nos dava sempre uma tangerina extra quando a sua mãe não estava a tomar conta da loja. Ou o homem casado por quem esperámos, uma vez, numa ponte, à chuva, pela noite dentro, durante duas horas. E para quê? Por um beijo e uma promessa. «Volto de novo amanhã», disse ele. E ainda que nunca mais o tivéssemos voltado a ver, voltaríamos a fazer tudo de novo num piscar de olhos, porque estar com ele era como estar viva pela primeira vez, só que ainda melhor. E não raras vezes, quando estávamos a adormecer, dávamos por nós a pensar no rapaz camponês com quem conversávamos todas as tardes a caminho de casa da escola – o belo rapaz na aldeia vizinha cujas mãos conseguiriam arrancar até as sementeiras mais teimosas da terra – e em como a nossa mãe, que sabia tudo e que conseguia frequentemente ler a nossa mente, olhara para nós como se estivéssemos loucas. Queres passar o resto da tua vida curvada sobre a terra? (Hesitámos e quase dissemos que sim, pois não sonháramos sempre tornar-nos na nossa mãe? Não foi isso tudo o que um dia quisemos ser?) NO BARCO, cada uma de nós teve de fazer escolhas. Onde dormir e em quem confiar e de quem ser amiga e como se tornar amiga dessa pessoa. Dizer ou não algo à vizinha que ressonava ou falava no sono ou à vizinha cujos pés cheiravam ainda pior do que os nossos e cujas roupas sujas estavam espalhadas pelo chão. E se alguém nos perguntasse se ficava bem com um certo penteado – no estilo pompadour, imaginemos, que parecia estar a tomar de assalto o barco – e se não ficasse, já que lhe fazia a cabeça grande de mais, dizíamos-lhe a verdade ou dizíamos-lhe que nunca a tínhamos visto melhor? E estava certo queixarmo-nos do cozinheiro, que viera da China e só sabia fazer um prato, – arroz de caril – que nos servia dia após dia? Mas se disséssemos alguma coisa e ele fosse enviado de volta para a China, e durante muitos dias não recebêssemos qualquer tipo de arroz, seria culpa nossa? E, assim como assim, será que alguém nos ouvia? Será que alguém se importava? 8 ALGURES no barco, havia um capitão, de cuja cabine se dizia que emergia, todas as manhãs ainda de madrugada, uma bela jovem. E claro que todas morríamos de curiosidade: Será que se tratava de uma de nós ou uma de uma das raparigas da primeira classe? NO BARCO, às vezes enfiávamo-nos nas camas umas das outras pela noite dentro e ficávamos discretamente lado a lado, a falar sobre todas as coisas de que nos lembrávamos de casa: do cheiro de batata-doce assada no início do outono, dos piqueniques no bosque de bambus, de jogar às sombras e demónios no parque do templo em ruínas, do dia em que o nosso pai foi buscar um balde de água ao poço e nunca mais voltou e de como a nossa mãe nunca mais falou dele depois disso. Foi como se ele nunca tivesse existido. Olhei para aquele poço durante anos. Falávamos sobre os nossos cremes faciais preferidos, sobre os benefícios do pó de chumbo, sobre a primeira vez que viramos a fotografia dos nossos maridos, de como ele era. Ele parecia uma pessoa honesta, por isso achei que era suficientemente bom para mim. Às vezes dávamos por nós a dizer coisas que nunca tínhamos dito a ninguém e, depois de termos começado, era impossível parar e às vezes ficávamos silenciosas de repente e ficávamos entrelaçadas nos braços uma da outra até de madrugada quando uma de nós se afastava e perguntava, «Mas isto vai durar?» E essa era mais uma escolha que tínhamos de fazer. Se disséssemos que sim, que ia durar e voltássemos para junto dela, – se não nessa noite, na próxima ou na seguinte – também dizíamos a nós próprias que o que quer que fizéssemos seria esquecido no minuto em que desembarcássemos deste barco. E isto era um bom treino para os nossos maridos, assim como assim. NO BARCO, umas poucas de nós nunca chegaram a habituar-se a estar com um homem e se tivesse havido uma forma de irmos para a América sem termos de nos casar com um, teríamos descoberto como. NO BARCO não poderíamos saber que quando víssemos os nossos maridos pela primeira vez, não faríamos ideia de quem eles eram. Que o ajuntamento de homens de gorros e casacos pretos miseráveis à nossa espera lá em baixo na doca não teria qualquer semelhança com os homens jovens e bonitos das fotografias. Que as fotografias que nos tinham enviado tinham vinte anos. Que as cartas que nos tinham escrito tinham sido escritas por pessoas que não os nossos maridos, pessoas profissionais com uma linda caligrafia, cujo emprego era contar mentiras e arrebatar corações. Que quando ouvíssemos chamar os nossos nomes pela primeira vez do outro lado do mar, uma de nós taparia os olhos e virar-se-ia para trás, – Quero voltar para casa – mas que as restantes de nós baixariam as cabeças e alisariam as saias dos quimonos e atravessariam a prancha de desembarque e sairiam para o dia tranquilo e ameno. Isto é a América, diríamos a nós próprias, não há motivos para preocupações. E estaríamos erradas. 9 Primeira Noite Naquela noite os nossos novos maridos tomaram-nos depressa. Tomaram-nos calmamente. Tomaram-nos gentilmente, mas com firmeza e sem dizer uma palavra. Partiram do princípio de que éramos virgens como os alcoviteiros lhes prometeram que seríamos e tomaram-nos com cuidados dobrados. Se doer, diz-me. Tomaram-nos deitadas de costas no chão despido do Motel Minuto. Tomaram-nos na baixa, em quartos de segunda no Kumamoto Inn. Tomaram-nos nos melhores hotéis de São Francisco em que um homem amarelo podia entrar nessa altura. No Hotel Kinokuniya. No Mikado. No Hotel Ogawa. Tomaram-nos como adquiridas e partiram do princípio de que faríamos tudo aquilo que nos pedissem. Por favor, vira-te para a parede, põete de joelhos e com as mãos no chão. Tomaram-nos pelos cotovelos e disseram calmamente «Chegou a hora.» Tomaram-nos antes que estivéssemos preparadas e não parámos de sangrar durante três dias. Tomaram-nos com os nossos quimonos brancos de seda enrolados à volta das nossas cabeças e tivemos a certeza de que morreríamos. Pensei que estava a ser sufocada. Tomaram-nos avidamente, esfomeados, como se tivessem esperado por nós durante mil e um anos. Tomaram-nos ainda que ainda estivéssemos enjoadas do barco e o chão não tivesse ainda parado de balançar debaixo dos nossos pés. Tomaram-nos violentamente, com os punhos, sempre que tentávamos resistir. Tomaram-nos ainda que os mordêssemos. Tomaram-nos ainda que lhes batêssemos. Tomaram-nos ainda que os insultássemos – Não vales nem o chão que pisas – e gritássemos por ajuda (ninguém apareceu). Tomaram-nos ainda que nos ajoelhássemos aos seus pés com as testas encostadas ao chão e lhes implorássemos que esperassem. Não podemos fazer isto antes amanhã? Tomaram-nos de surpresa, pois as mães de algumas de nós ainda não lhes tinham dito exactamente o que é que essa noite implicaria. Eu tinha treze anos e nunca tinha olhado um homem nos olhos. Tomaram-nos entre desculpas pelas suas mãos rudes, cheias de calos, e soubemos de imediato que eles eram agricultores e não banqueiros. Tomaramnos devagarinho, por trás, enquanto nos inclinávamos para a janela de forma a admirarmos as luzes da cidade lá em baixo. «Estás contente agora?», perguntavam-nos eles. Ataram-nos e tomaram-nos voltadas para baixo em cima de tapetes puídos que cheiravam a excrementos de rato e a mofo. Tomaram-nos freneticamente sob lençóis manchados de amarelo. Tomaram-nos facilmente, e com um mínimo de barulho, pois muitas de nós tinham já sido tomadas muitas vezes antes. Tomaram-nos bêbados. Tomaram-nos rudemente, imprudentemente e sem se importarem com a nossa dor. Pensei que o meu útero ia explodir. Tomaram-nos ainda que fechássemos as pernas com força e disséssemos «Por favor, não». Tomaram-nos com cautela, como se tivessem medo que pudéssemos partir. És tão pequenina. Tomaram-nos friamente, mas com perícia – Em vinte segundos vais perder o controlo – e soubemos que muitas mais antes de nós houvera. Tomaram-nos enquanto fitámos vaziamente o tecto e esperávamos que tivesse 10 acabado, sem saber que não estaria acabado durante anos. Tomaram-nos com a ajuda do estalajadeiro e da sua mulher, que nos segurou no chão para nos impedir de fugir. Nenhum outro homem te quererá assim que ele terminar. Tomaram-nos do mesmo modo que os nossos pais tomaram as nossas mães todas as noites no único quarto da cabana lá em casa na aldeia: de repente, sem aviso, mesmo quando estávamos prestes a adormecer. Tomaram-nos à luz do candeeiro. Tomaram-nos à luz da lua. Tomaram-nos na escuridão e não conseguíamos ver o que quer que fosse. Tomaram-nos em seis segundos e depois sucumbiram nos nossos ombros com pequenos suspiros entrecortados e pensávamos para nós próprias, É só isto? Demoravam eternidades e sabíamos que ficaríamos doridas durante semanas. Tomaram-nos ajoelhadas, enquanto nos agarrávamos à cama e chorávamos. Tomaram-nos enquanto fixavam furiosamente um ponto misterioso na parede que apenas eles próprios viam. Tomaram-nos enquanto murmuravam «Obrigado» vezes sem conta num dialecto tohoku, que rapidamente nos deixava à vontade. Ele soava tal e qual o meu pai. Tomaram-nos enquanto gritavam em dialectos ásperos de Hiroxima que mal percebíamos e apercebíamo-nos que estávamos prestes a passar o resto das nossas vidas com um pescador. Tomaram-nos de pé, em frente ao espelho e obrigaram-nos, durante todo o tempo, a olhar fixamente para o nosso reflexo. «Vais acabar por gostar», diziamnos. Tomaram-nos educadamente, pelos nossos pulsos, e pediram-nos para não gritarmos. Tomaram-nos acanhadamente e com grande dificuldade enquanto tentavam descobrir o que fazer. «Perdoa-me», diziam. E, «Isto és tu?» Diziam, «Ajuda-me aqui» e assim fazíamos. Tomaram-nos entre grunhidos. Tomaram-nos entre gemidos. Tomaram-nos entre gritos e gemidos arrastados e longos. Tomaram-nos enquanto pensavam noutra mulher – sabíamos pelo olhar distante – e depois amaldiçoavam-nos quando não encontravam sangue nenhum nos lençóis. Tomaram-nos desastradamente e não os voltámos a deixar tocar-nos durante três anos. Tomaram-nos com tal perícia, como nunca antes tínhamos sido tomadas, e sabíamos que havíamos de querê-los para sempre. Tomaram-nos enquanto gritávamos de prazer e cobríamos as nossas bocas de vergonha. Tomaram-nos rapidamente, pela noite dentro e, de manhã, quando acordámos, éramos deles. 11 Os Brancos Instalávamo-nos nos arredores das suas cidades, quando nos deixavam. E quando não nos deixavam, – Não deixem que o pôr-do-sol vos apanhe neste condado, líamos nas suas placas – continuávamos viagem. Deambulávamos de campo de trabalho em campo de trabalho atravessando os seus campos quentes e poeirentos – Sacramento, Imperial, San Joaquin – e, lado a lado com os nossos novos maridos, trabalhávamos a sua terra. Apanhávamos os seus morangos em Watsonville. Apanhávamos as suas uvas em Fresno e Denair. De joelhos, apanhávamos as suas batatas com sachos na ilha Bacon no rio Delta, onde a terra era mole e macia. Na região de Holland, escolhíamos o seu feijão-verde. E quando a época das colheitas terminava, atávamos os cobertores às costas num rolo e, com embrulhos de tecidos nas mãos, esperávamos pelo próximo vagão e seguíamos viagem. A PRIMEIRA PALAVRA da sua língua que nos ensinavam era water. Assim que te começares a sentir prestes a desmaiar nos campos grita por água, diziam-nos os nossos maridos. «Aprende esta palavra», disseram-nos, «e salva a tua vida.» A maioria de nós fê-lo, mas uma de nós – a Yoshiko, que tinha sido criada por amas-de-leite em pátios cercados por altos muros em Kobe e que nunca tinha visto uma erva-daninha em toda a vida – não o fez. Foi para a cama depois do seu primeiro dia no rancho Marble e nunca chegou a acordar. «Pensava que estava a dormir», disse o marido. «Insolação», explicou o patrão. Uma outra de nós era demasiado tímida para gritar e, em vez de o fazer, ajoelhou-se e bebeu de uma vala de irrigação. Sete dias depois ardia com febre tifóide. Outras palavras que rapidamente aprendemos: «All right» – o que o patrão dizia quando estava satisfeito com o nosso trabalho – e «Go home» – o que dizia, quando éramos demasiado desajeitadas ou lentas. CASA ERA UMA CAMA DE LONA num dos seus dormitórios no rancho Fair em Yolo. Casa era uma tenda enorme por baixo de uma ameixieira frondosa na casa da família Kettleman. Casa era uma barraca de madeira no campo número sete na região de Barnhart em Lodi. Nada mais do que fileiras de cebolas até onde a vista alcança. Casa era uma cama de palha no celeiro de John Lyman ao lado dos seus cavalos premiados e vacas. Casa era um canto da lavandaria do rancho Stockton Cannery. Casa era um beliche num vagão de carga enferrujado em Lompoc. Casa era um velho galinheiro em que tinham vivido os chineses antes de nós em Willows. Casa era um colchão pulguento no canto de um barracão em Dixon. Casa era uma cama de feno em cima de três caixas de maçãs por baixo de uma macieira no pomar do Fred Stadelman. Casa era um sítio no chão de uma escola abandonada em Marysville. Casa era um pedaço de terra num pomar em Auburn, não longe das margens do American River, onde todas as noites ficávamos acordados a ver as estrelas americanas, que pareciam mesmo as nossas; lá, por cima de nós 12 estava a estrela Vaqueiro, a estrela Donzela Fiandeira, a estrela Madeira, a estrela Água. «É a mesma latitude», explicaram-nos os nossos maridos. Casa era onde quer que as colheitas estivessem maduras e prontas para a apanha. Casa era onde quer que os nossos maridos estivessem. Casa era ao lado de um homem que tinha juntado joio com uma pá para o patrão durante anos. NO INÍCIO eles intrigavam-nos constantemente. Por que é que montavam os cavalos pelo lado esquerdo e não pelo direito? Como é que se conseguiam distinguir uns aos outros? Por que é que estavam sempre a gritar? Era mesmo verdade que penduravam pratos nas paredes e não fotografias? E que tinham fechaduras nas portas? E que usavam os sapatos dentro de casa? De que é que falavam à noitinha antes de adormecerem? Com o que é que sonhavam? A quem é que rezavam? Quantos deuses é que tinham? Era verdade que viam mesmo um homem na lua e não um coelho? E que comiam carne cozida nos funerais? E que bebiam leite de vaca? E aquele cheiro? O que era? «Fedor de manteiga», explicavam-nos os nossos maridos. MANTÉM-TE LONGE DELES, avisaram-nos. Aborda-os com precaução, se for preciso. Não acredites sempre naquilo que te dizem, mas aprende a observá-los de perto: as mãos, os olhos, os cantos da boca, as mudanças bruscas na cor da pele. Vais saber rapidamente como interpretálos. No entanto, certifica-te de que não os olhas fixamente. Com o tempo vais habituar-te ao seu tamanho. Espera o pior, mas não te surpreendas com momentos de gentileza. Há bondade em todo o lado. Lembra-te de os fazeres sentir confortáveis. Sê humilde. Sê educada. Mostra-te ávida por agradar. Diz «Sim, senhor» ou «Não, senhor» e faz como te dizem. Melhor ainda, não digas nada de todo. Agora pertences ao mundo dos invisíveis. OS SEUS ARADOS PESAVAM mais do que os nossos e eram difíceis de usar e os seus cavalos tinham o dobro do tamanho dos nossos lá no Japão. Não conseguíamos arreá-los sem subirmos a caixas de laranjas ou sem nos encavalitarmos em bancos e, a primeira vez que lhes ordenámos que andassem, eles simplesmente resfolegavam e arranhavam o chão. Será que eram surdos? Será que eram mudos? Ou estariam apenas a ser teimosos? «Estes cavalos são americanos», explicaram-nos os nossos maridos. «Não percebem japonês». E então aprendemos as nossas primeiras palavras de inglês. «Vai» era o que dizíamos para fazer o cavalo andar para a frente e «Para trás» o que dizíamos para o fazer voltar. «Calma» era o que dizíamos para o fazer abrandar e «Alto» era o que dizíamos para o fazer parar. E passados cinquenta anos na América, estas seriam as únicas palavras de inglês de que algumas de nós ainda se conseguiam lembrar de cor. 13 TÍNHAMOS APRENDIDO um pequeno número de frases da sua língua no barco nos nossos guias – «Olá», «Perdão», «Por favor, pague-me o salário» – e sabíamos dizer o seu ABC, mas na América este conhecimento era inútil. Não conseguíamos ler nem as suas revistas nem os seus jornais. Olhávamos fixamente para as tabuletas deles em desespero. Só me lembro de que começava com a letra e. E, de todas as vezes que o patrão falava connosco, conseguíamos ouvir as suas palavras na perfeição, mas nenhuma fazia sentido para os nossos ouvidos. E, nas raras ocasiões em que tínhamos de nos dar a conhecer a algum deles, - Sr. Smeesh? – olhavam-nos perplexos, depois encolhiam os ombros e viravam costas. NÃO DEIXEM QUE ELES vos desencorajem. Sejam pacientes. Tenham calma. Mas, por enquanto, diziam-nos os nossos maridos, deixem-nos ser nós a falar. Porque eles já falavam inglês. Compreendiam as maneiras americanas. E sempre que precisávamos de roupa interior nova, engoliam o orgulho e atravessavam os campos escaldantes até à cidade onde, num inglês perfeito, mas com um forte sotaque, pediam à empregada da loja roupa interior umas cuecas novas. «Não são para mim», explicavam. E quando chegávamos a um rancho e o patrão nos dava uma olhadela e dizia «Ela é muito frágil», eram os nossos maridos quem o convencia do contrário. «No campo, a minha mulher é tão boa quanto um homem», diziam e, não tardava nada, tudo isso era verdade. E quando adoecíamos com malária e nem a cabeça conseguíamos levantar do chão, eram os nossos maridos que diziam ao patrão o que se passava: «Primeiro sente-se quente, depois fria, depois outra vez quente». E quando o patrão se oferecia para ir comprar o remédio que nos curaria nessa mesma tarde à cidade, - «Não se preocupe com o dinheiro», dizia ele – eram os nossos maridos quem lhes agradecia profusamente. E ainda que aquele remédio deixasse a nossa urina roxa durante dias, rapidamente nos começávamos a sentir melhor. ALGUMAS DE NÓS trabalhavam depressa para os impressionar. Algumas de nós trabalhavam depressa só para lhes mostrar que podiam apanhar ameixas e beterrabas e sacos de cebolas e caixas de bagas tão depressa, senão mais depressa, do que os homens. Algumas de nós trabalhavam depressa, porque tinham passado toda a infância descalças e curvadas sobre os arrozais e já sabiam o que fazer. Algumas de nós trabalhavam depressa, porque os nossos maridos nos tinham avisado de que se não o fizéssemos, nos enviariam de volta para casa de imediato no próximo barco. Pedi uma esposa capaz e forte. Algumas de nós vinham da cidade e trabalhavam devagar, porque nunca na vida tinham pegado numa enxada. «O emprego mais fácil da América», disseram-nos. Algumas de nós toda a vida tinham sido enfermiças e fracas, mas após uma semana nas plantações de limões de Riverside, sentíamo-nos mais fortes do que um touro. Uma de nós sucumbiu antes mesmo de acabar de sachar as ervas daninhas da primeira fileira. Algumas de nós choravam enquanto trabalhavam. Algumas de nós praguejavam 14 enquanto trabalhavam. Todas nós tínhamos dores enquanto trabalhávamos – as nossas mãos estavam calejadas e sangravam, os nossos joelhos ardiam, as nossas costas jamais recuperariam. Uma de nós distraiu-se com a beleza do homem hindu que andava a cortar espargos no rego seguinte enquanto trabalhava e tudo aquilo em que conseguia pensar era como queria desenrolar o seu turbante branco da sua enorme cabeça castanha. Sonho com o Grupta-san todas as noites. Algumas de nós cantavam sutras budistas enquanto trabalhavam e as horas voavam, parecendo minutos. Uma de nós, - a Akiko - que tinha andado numa escola missionária em Tóquio e já sabia inglês e lia alto a Bíblia todas as noites para o seu marido, - cantava «Eleva-te, minha Alma, Eleva-te» enquanto trabalhava. Muitas de nós cantavam as mesmas canções das colheitas que tínhamos cantado na nossa juventude e tentávamos imaginar que estávamos de volta a casa, no Japão. Porque, se os nossos maridos nos tivessem dito a verdade nas suas cartas, – que não eram negociantes de seda, mas sim apanhadores de fruta; que não viviam em casas grandes, com muitos quartos, mas sim em tendas e em celeiros e ao relento, nos campos, por baixo do sol e das estrelas – nunca teríamos vindo para a América para fazer o trabalho que nenhum americano com dignidade faria. ADMIRAVAM-NOS pelas nossas costas fortes e mãos ágeis. Pelo nosso vigor. Pela nossa resistência. Pela nossa disciplina. Pelo nosso temperamento dócil. Pela nossa capacidade invulgar para aguentar o calor que, nos dias de Verão, nos campos de melão de Bradley, chegava a atingir os 49 graus. Diziam que a nossa pequena estatura nos tornava ideais para trabalhos que exigissem que estivéssemos vergados rente ao solo. Para onde quer que nos mandassem, ficavam satisfeitos. Tínhamos todas as virtudes dos chineses, - éramos trabalhadores, éramos pacientes, éramos inabalavelmente educados – mas nenhum dos seus vícios – não jogávamos, não fumávamos ópio, não nos envolvíamos em rixas, não cuspíamos. Éramos mais rápidos do que os filipinos e menos arrogantes do que os hindus. Éramos mais disciplinados do que os coreanos. Éramos mais comedidos do que os mexicanos. Alimentar-nos era mais barato do que alimentar os okies, vindos de Oaklahoma, e os arkies, vindos de Arkansas, ambos luz e escuridão. Um japonês consegue viver de uma colher de chá cheia de arroz por dia. Éramos a melhor raça de trabalhadores que alguma vez tinham contratado. Este povo anda ao sabor do vento, não temos de tomar conta deles, de todo. DE DIA trabalhávamos nos seus pomares e campos, mas todas as noites, durante o sono, regressávamos a casa. Às vezes sonhávamos que estávamos de volta à aldeia, a rolar um aro de metal com o nosso pau de madeira bifurcado favorito pela rua Rich Merchants abaixo. Outras vezes estávamos a jogar às escondidas nos canaviais perto do rio. E, de vez em quando, víamos qualquer coisa a flutuar. Uma fita de seda vermelha que perdêramos anos antes. Um ovo azul matizado. A almofada de madeira da nossa mãe. Uma tartaruga que nos tinha fugido quando 15 tínhamos quatro anos. Às vezes ficávamos de pé à frente do espelho com a nossa irmã mais velha, a Ai, cujo nome tanto podia significar «amor» quanto «perda», dependendo da forma como era escrito e ela penteava-nos o cabelo. «Pára quieta», dizia-nos. E tudo estava exactamente onde devia estar. Mas quando acordávamos, dávamos por nós deitadas ao lado de um homem estranho numa terra estranha num barracão quente e apinhado de gente, repleto de grunhidos e suspiros. Por vezes esse homem tentava encontrar-nos durante a noite com as suas mãos duras e rugosas e nós tentávamos afastá-lo. Daqui a dez anos será um homem velho, dizíamos a nós próprias. Por vezes ele abria os olhos com os primeiros raios da madrugada e apercebia-se que estávamos tristes e prometia-nos que tudo ia melhorar. E ainda que lhe tivéssemos dito apenas há umas horas «Odeio-te!», enquanto ele se punha mais uma vez em cima de nós na escuridão, deixávamos que isso nos confortasse, já que ele era tudo o que tínhamos. Por vezes ele olhava através de nós sem sequer nos ver e isso sim, era sempre pior. Será que alguém sabe que estou aqui? TODA A SEMANA nos obrigavam a suar nos campos, mas aos domingos deixavam-nos descansar. E enquanto os nossos maridos vagueavam pela cidade e jogavam fan-tan no salão de jogos chinês local, onde era sempre a casa que ganhava, nós sentávamo-nos debaixo das árvores com os nossos tinteiros e pincéis e escrevíamos para casa às nossas mães em folhas de papel de arroz grandes e finas. Tínhamos prometido que nunca as abandonaríamos. Já estamos na América, a apanhar ervas daninhas para um homem grande que chamam de Patrão. Aqui não existem amoras, nem bosques de bambus, nem estátuas de Jizo na beira da estrada. As colinas são estranhas e secas e raramente chove. As montanhas ficam lá longe. Vivemos à luz de lamparinas a óleo e, uma vez por semana, ao domingo, lavamos as nossas roupas em cima de pedras molhadas no riacho. O meu marido não é o homem da fotografia. O meu marido é o homem da fotografia, só que bastante mais velho. O meu marido é um bêbedo. O meu marido é o gerente do clube Yamato e tem o tronco coberto de tatuagens. O meu marido é mais baixo do que dizia ser nas cartas, mas a verdade é que eu também. O meu marido recebeu a Ordem Japonesa do Tesouro Sagrado, Sexta Classe durante a Guerra Russo-Japonesa e agora coxeia de forma pronunciada. O meu marido entrou clandestinamente no país através da fronteira com o México. O meu marido é um clandestino que se atirou borda fora em São Francisco no dia anterior ao grande terramoto de 1906 e todas as noites sonha que tem de ir para o ferry. O meu marido adora-me. O meu marido jamais me vai abandonar à minha sorte. O meu marido é um homem bom que trabalha por dois sempre que não consigo manter o ritmo, para que o patrão não me mande para casa. EM SEGREDO, esperávamos que nos salvassem deles. Talvez tivéssemos ficado apaixonadas por um homem que estava no barco, que tinha vindo da mesma ilha que nós e que recordava as 16 mesmas montanhas e riachos e não conseguíamos esquecê-lo. Todos os dias ele permanecia ao nosso lado no convés e nos dizia o quanto éramos bonitas, o quanto éramos inteligentes, o quanto éramos especiais. Nunca tinha conhecido ninguém como nós na vida, dizia-nos. Dizia, «Espera por mim. Mando buscar-te assim que puder.» Talvez fosse um empreiteiro em Cortez ou o presidente de uma empresa de importações-exportações da baixa de San José e todos os dias, enquanto cavávamos a terra preta queimada pelo sol com as nossas próprias mãos, rezávamos para que chegasse uma carta dele. E todos os dias não chegava nada. Às vezes, já alta a noite, quando nos preparávamos para ir para a cama, começávamos a chorar de repente e o nosso marido olhava-nos preocupado. «Foi algo que eu disse?», perguntava e nós acenávamos que não com a cabeça. Mas quando um dia, finalmente, o envelope do homem do barco chegava pelo correio – Enviei dinheiro para o teu marido e espero-te no hotel Taisho – tínhamos de contar tudo ao nosso marido. E ainda que nos tivesse chicoteado muitas vezes com o cinto e nos tivesse chamado nomes mais do que merecidos, no final deixava-nos ir. Porque o dinheiro que tinha recebido do homem do barco era mais do dobro do que a quantia que tinha gasto para nos trazer do Japão - «Pode ser que pelo menos agora um de nós seja feliz», dizia-nos. Dizia, «Nada dura para sempre.» Dizia, «Da primeira vez que te olhei nos olhos devia saber que eram os olhos de uma puta.» ÀS VEZES o patrão chegava-se por trás de nós quando estávamos dobradas nos campos e sussurrava-nos algumas palavras ao ouvido. E mesmo que não fizéssemos ideia do que nos dizia, sabíamos exactamente o que queria dizer. «Me no speak English», respondíamos. Ou então, «Lamento, mas não Patrão.» Às vezes éramos abordadas por um conterrâneo bem vestido que aparecia do nada e se oferecia para nos levar com ele para a cidade grande. Se vieres trabalhar para mim, posso pagar-te dez vezes mais do que o que ganhas aqui no campo. Às vezes um dos trabalhadores e amigos solteiros do nosso marido, aproximava-se de nós mal o nosso marido se afastava e tentava enfiar-nos uma nota de cinco dólares. «Deixa-me só pô-lo uma vez», dizia-nos. «Prometo que nem sequer o mexo.» E uma vez por outra cedíamos e dizíamos que sim. «Encontra-te comigo amanhã à noite, às nove, atrás do alpendre das alfaces», respondíamos-lhe. Ou, «Por mais 5 dólares, faço-o.» Talvez não fôssemos felizes com o nosso marido, que todas as noites saía para jogar às cartas e beber e só voltava para casa já tarde. Ou talvez precisássemos de dinheiro para enviar para a nossa família lá no Japão, pois os seus arrozais tinham sido, mais uma vez, destruídos pelas cheias. Perdemos tudo e vivemos apenas de cascas de árvores e de inhame cozido. Até àquelas de nós que não eram bonitas eram oferecidos presentes de fugida: um travessão de tartaruga, um frasco de perfume, uma cópia da revista Modern Screen, que tinha sido roubada de um balcão de uma loja minúscula na cidade. Mas se aceitássemos o presente sem dar nada em troca, sabíamos que haveria um preço a pagar. Ele cortou-lhe a ponta do dedo com o seu podão. E foi assim que aprendemos a pensar duas 17 vezes antes de dizermos que sim e olharmos um outro homem nos olhos, porque na América nada é de graça. ALGUMAS DE NÓS trabalhavam como cozinheiras em campos de trabalhos forçados e algumas de nós lavavam louça e davam cabo das mãos delicadas. Outras de nós eram levadas para vales remotos no interior onde trabalhavam como meeiras na terra deles. Podia ser que o nosso marido tivesse arrendado vinte hectares a um homem chamado Caldwell, que possuía milhares de hectares no coração do Vale de San Joaquin meridional e todos os anos pagávamos ao sr. Caldwell sessenta por cento dos lucros que tivéssemos com a nossa produção. Morávamos numa barraca com o chão imundo por baixo de um salgueiro no meio de um campo enorme, aberto e dormíamos num colchão cheio de palha. Aliviávamo-nos ao ar livre, num buraco no chão. Tirávamos a nossa água de um poço. Passávamos os dias a plantar e a apanhar tomate, do nascer ao pôr-do-sol, e não falávamos com ninguém a não ser com o nosso marido durante semanas a fio. Tínhamos um gato que nos fazia companhia e que afugentava os ratos e, à noite, conseguíamos ver uma luzinha débil e bruxuleante lá ao longe. Lá, dizia-nos o nosso marido, era onde estavam as pessoas. E sabíamos que nunca devíamos ter deixado a nossa casa. Mas, por mais alto que gritássemos pela nossa mãe, sabíamos que ela não nos conseguia ouvir, por isso tentávamos tirar o melhor partido daquilo que tínhamos. Recortávamos fotografias de bolos de revistas e pendurávamo-las nas paredes. Cosíamos cortinas com restos de sacos de arroz desbotados. Fazíamos altares budistas com caixas de tomate viradas ao contrário, que cobríamos com tecidos e onde todas as manhãs deixávamos aos nossos antepassados uma chávena de chá quentinho. E, no final da época das colheitas, caminhávamos dezasseis quilómetros até à cidade e comprávamos um pequeno presente para nós próprias: uma garrafa de Coca-Cola, um avental novo, um batom, que, quem sabe um dia, teríamos a oportunidade de usar. Quem sabe não me convidam para um concerto. Anos havia em que as colheitas eram boas e os preços eram altos e fazíamos mais dinheiro do que alguma vez sonháramos. Seiscentos por hectare. Outros havia em que perdíamos tudo para os insectos ou para o bolor ou para um mês de chuvas intensas ou então o preço do tomate caía tanto que não tínhamos outra hipótese a não ser leiloar as nossas ferramentas para pagarmos as nossas dívidas e perguntávamo-nos por que é que estávamos ali. «Fui uma tola por te ter seguido para o campo», dizíamos ao nosso marido. Ou, «Estás a desperdiçar a minha juventude.» Mas quando ele nos perguntava se preferíamos trabalhar como empregada de mesa na cidade, a sorrir e a acenar e a dizer nada mais do que «Sim senhora, sim senhora» o dia inteiro, tínhamos de admitir que a resposta era não. NÃO NOS QUERIAM como vizinhos nos seus vales. Não nos queriam como amigos. Vivíamos em barracas longe da sua vista e não falávamos inglês correctamente. Só nos preocupávamos com dinheiro. Os nossos métodos de agricultura eram pobres. Usávamos 18 demasiada água. Não arávamos de forma suficientemente profunda. Os nossos maridos faziamnos trabalhar que nem escravas. Importam aquelas raparigas do Japão como mão-de-obra gratuita. Trabalhávamos no campo o dia todo sem parar sequer para cear. Trabalhávamos no campo pela noite dentro, com a luz das lamparinas de querosene. Nunca tirávamos um único dia de folga. Um despertador e uma cama eram duas coisas que um agricultor japonês nunca usava na vida. Estávamos prestes a controlar o negócio da couve-flor. Controlávamos o negócio de espinafres. Tínhamos o monopólio do negócio de morangos e tínhamos posto os seus mercados de feijão entre a espada e a parede. Éramos uma máquina económica imbatível e imparável e, se não travassem o nosso progresso, rapidamente o oeste dos Estados Unidos se tornaria no próximo posto avançado e colónia asiática. EM MUITAS NOITES, esperávamos por eles. Às vezes passavam de carro pelas barracas das nossas quintas e atingiam as nossas janelas com chumbo grosso ou ateavam fogo às nossas colheitas. Às vezes dinamitavam os nossos armazéns de acondicionamento. Às vezes reduziam os nossos campos a cinzas quando estes ainda estavam a começar a amadurecer e perdíamos todos os nossos rendimentos para esse ano. E ainda que encontrássemos pegadas no pó na manhã seguinte e muitos fósforos espalhados por todos os lados, quando chamávamos o xerife para vir dar uma vista de olhos, ele dizia-nos que não havia qualquer pista que valesse a pena seguir. E, depois disso, os nossos maridos nunca mais seriam os mesmos. Porquê importarmo-nos? À noite dormíamos com os sapatos calçados e com pequenas machadas ao lado das nossas camas, enquanto os nossos maridos ficavam sentados à janela até de madrugada. Às vezes acordávamos sobressaltadas por um barulho, mas não era nada – talvez algures no mundo um pêssego tivesse acabado de cair de uma árvore – e, às vezes, dormíamos a noite toda e, de manhã, quando acordávamos, encontrávamos os nossos maridos todos tortos a ressonar nas cadeiras e tentávamos acordá-los devagarinho, já que tinham ainda as espingardas pousadas no colo. Às vezes o nosso marido comprava um cão de guarda, a quem chamava Dick ou Harry ou Spot e tornava-se mais afeiçoado a esse cão do que algum dia se havia afeiçoado a nós e perguntávamo-nos se tínhamos cometido um erro ao vir para uma terra tão violenta e nada hospitaleira. Será que existe alguma tribo mais selvagem do que a americana? UMA DE NÓS culpava-os por tudo e desejava que eles estivessem mortos. Uma de nós culpava-os por tudo e desejava estar morta. Outras de nós aprenderam a viver sem sequer pensarem neles. Embrenhávamo-nos no trabalho e ficávamos obcecadas pela ideia de arrancarmos mais uma erva daninha. Pusemos os espelhos de parte. Deixámos de pentear os cabelos. Esquecemos a maquilhagem. Sempre que ponho pó no nariz, parece-se com gelo numa montanha. Esquecemo-nos de Buda. Esquecemo-nos de Deus. Desenvolvemos uma frieza no nosso interior que ainda não derreteu. Receio que a minha alma tenha morrido. Deixámos de 19 escrever para casa, às nossas mães. Perdemos peso e ficámos magras. Deixámos de sangrar. Deixámos de sonhar. Deixámos de desejar. Só trabalhávamos, mais nada. Engolíamos as nossas refeições três vezes por dia sem dizer uma palavra aos nossos maridos para podermos voltar para o campo a correr. «Um minuto mais cedo para arrancar mais uma erva daninha.» Não conseguia tirar este pensamento da minha cabeça. Abríamos-lhes as pernas todas as noites, mas estávamos tão exaustas que adormecíamos muitas vezes antes de eles terem terminado. Lavávamos as roupas deles uma vez por semana em recipientes com água a ferver. Cozinhávamos para eles. Ajudávamo-los a cortar lenha. Mas não éramos nós quem cozinhava, quem lavava, quem cortava a lenha. Era uma outra pessoa. E muitas vezes os nossos maridos nem notavam que nós tínhamos desaparecido. ALGUMAS DE NÓS mudaram-se do campo para os seus subúrbios e ficaram a conhecê-los bem. Vivíamos nos quartos para empregados das mansões em Atherton e Berkeley, por cima do Posto de Correios, lá em cima nas montanhas. Ou então trabalhávamos para um homem como o Dr. Giordano, que era um cirurgião torácico proeminente da Costa de Ouro em Alameda. E enquanto o nosso marido cortava a relva do Dr. Giordano e podava os arbustos do Dr. Giordano e juntava com um ancinho as folhas do Dr. Giordano, nós ficávamos dentro de casa com a Sra. Giordano, que tinha cabelo castanho ondulado e maneiras brandas e nos pedia por favor para a tratarmos por Rose. Políamos a prata da Rose e varríamos o chão da Rose e tomávamos conta dos três filhos pequenos da Rose, o Richard, o Jim e o Theo, a quem cantávamos todas as noites numa língua que não era a deles. Nemure, nemure. E não era nada do que tínhamos esperado. Vim para tomar conta daqueles rapazes como se fossem meus. Mas era a mãe idosa do Dr. Giordano, a Lucia, a quem mais nos afeiçoaríamos. A Lucia sentia-se ainda mais sozinha do que nós e era quase tão pequena quanto nós e, uma vez ultrapassado o medo que tinha de nós, nunca saía do nosso lado. Seguia-nos de uma divisão para a outra enquanto limpávamos o pó e passávamos a esfregona e não parava de falar nem por um segundo. Molto bene. Perfetto! Basta cosi. E muitos anos depois da sua morte, as suas memórias do velho continente ainda perduravam em nós, como se fossem nossas: a mozzarella, o pomodori, o Lago di Como, a piazza no centro da cidade onde ia às compras com as suas irmãs todos os dias. Itália, Itália, como a queria ver uma última vez. ERAM AS MULHERES DELES que nos ensinavam as coisas que mais precisávamos de saber. Como acender um fogão. Como fazer uma cama. Como abrir uma porta. Como apertar uma mão. Como abrir uma torneira, que muitas de nós nunca tinham visto na vida. Como fazer um telefonema. Como parecer animada ao telefone, mesmo que se estivesse chateada ou triste. Como estrelar um ovo. Como descascar batatas. Como pôr a mesa. Como preparar um jantar com seis pratos em seis horas para uma festa de doze. Como acender um cigarro. Como fazer 20 bolinhas com o fumo. Como encaracolar o cabelo por forma a parecer exactamente o da Mary Pickford. Como tirar uma nódoa de batom da camisa branca preferida do nosso marido, até quando essa mancha não era nossa. Como levantar a saia na rua para mostrar o suficiente do tornozelo. O teu objectivo deve ser tantalizar, não provocar. Como falar com o nosso marido. Como discutir com o nosso marido. Como enganar o nosso marido. Como evitar que o nosso marido se afaste muito de nós. Não lhe perguntes onde é que ele esteve ou a que horas é que volta para casa e certifica-te de que ele é feliz na cama. AMÁVAMO-LAS. Odiávamo-las. Queríamos ser elas. Como eram altas, encantadoras, formosas. As suas pernas, longas, elegantes. Os seus dentes, brilhantes e brancos. A sua pele, pálida, resplandecente, que disfarçava todas as sete imperfeições do rosto. As suas maneiras estranhas, mas cativantes que nunca deixavam de entreter – o seu amor pelo molho para bifes A.1 e pelos sapatos altos e bicudos, a sua maneira de andar engraçada e com os pés para fora, a sua tendência para se juntarem nas salas umas das outras em grupos grandes, barulhentos e para ficarem para ali a conversar, todas ao mesmo tempo, durante horas. Por que é que nunca, perguntávamo-nos, lhes ocorria sentarem-se? Pareciam tão em casa no mundo. Tão à vontade. Tinham uma confiança que nos faltava. E muito melhor cabelo. De tantas cores. E lamentávamos não podermos ser mais como elas. À NOITE, JÁ TARDE, nos nossos quartos estreitos, sem janelas, nas traseiras das suas casas grandes, imponentes, imitávamo-las. «Agora fazes tu de patrão e eu de patroa», dizíamos aos nossos maridos. «Não, tu fazes de patrão e eu de patroa», respondiam-nos às vezes. Tentávamos imaginar como é que eles o faziam. O que é que diziam. Quem é que ficava por cima. Quem é que ficava por baixo. Será que ele gritava? Ou ela? Será que acordavam de manhã com as pernas entrelaçadas? Outras vezes ficávamos deitados, quietos, na escuridão e contávamos um ao outro como tinha sido o nosso dia. Sacudi os tapetes. Fervi os lençóis. Arranquei a erva do diabo com o meu sacho do lado sul do relvado. E quando terminávamos, puxávamos as cobertas, fechávamos os olhos e sonhávamos que melhores tempos viriam. Uma linda casa branca só nossa numa rua comprida, com sombras e com um jardim sempre a florescer. Com uma banheira que ficava cheia de água em meros minutos. Com uma empregada que todas as manhãs nos levava o pequeno-almoço num tabuleiro redondo de prata e que limpava o chão em todas as divisões à mão. Com uma criada de quarto. Com uma lavadeira. Com um mordomo chinês num casaco branco comprido, que aparecia quando tocávamos a campainha e chamávamos «Charlie, por favor traga-me o meu chá!» ELAS DAVAM-NOS novos nomes. Chamavam-nos Helen e Lily. Chamavam-nos Margaret. Chamavam-nos Pearl. Maravilhavam-se com as nossas estaturas pequenas e com os nossos 21 longos cabelos pretos. Elogiavam-nos pelas nossas maneiras diligentes. Aquela rapariga não descansa até ter todo o trabalho feito. Gabavam-nos aos seus vizinhos. Gabavam-nos aos seus amigos. Diziam que gostavam mais de nós do que de qualquer uma das outras. Não há nenhuma outra classe de ajudantes melhor do que esta. Quando estavam tristes e não tinham ninguém com quem falar, contavam-nos os seus segredos mais bem guardados, mais sombrios. Tudo o que lhe disse foi uma mentira. Quando os seus maridos viajavam em negócios, pediam-nos que dormíssemos nos seus quartos para o caso de se sentirem sozinhas. Quando nos chamavam a meio da noite, íamos ter com elas e ficávamos ao seu lado até de manhã. «Calma, calma», dizíamos-lhes. E, «Por favor, não chore.» Quando se apaixonavam por um outro homem que não o seu marido, olhávamos pelos seus filhos enquanto elas saíam para se encontrarem com esse homem a meio do dia. «Estou bem?», perguntavam-nos. E, «Será que a minha saia está muito justa?». Sacudíamos fiapos invisíveis das suas blusas, prendíamos os cachecóis novamente, arranjávamos-lhes as mechas de cabelo para que ficassem exactamente onde deviam. Arrancávamos os seus cabelos brancos sem comentar. «Está linda», dizíamos-lhes para, de seguida, lhes dizermos para irem à sua vida. E, quando os seus maridos voltavam para casa à noite, à hora do costume, fingíamos não saber de nada. UMA DELAS vivia sozinha numa mansão decrépita no cimo de Nob Hill em São Francisco e ninguém a via há doze anos. Uma delas era um condessa de Dresden que nunca tinha levantado nada mais pesado do que um garfo. Uma delas tinha fugido dos bolcheviques na Rússia e todas as noites sonhava que estava de volta à casa do seu pai em Odessa. Perdemos tudo. Uma delas tinha usado apenas negros antes de nós. Uma delas tinha tido azar com os chineses. Tens de os ter debaixo de olho a toda a hora. Uma delas obrigava-nos a limpar-lhe o chão de joelhos em vez de usarmos uma esfregona. Uma delas pegava num trapo e tentava ajudar-nos, mas acabava sempre por nos atrapalhar. Uma delas servia-nos almoços elaborados em pratos de porcelana delicados e insistia que nos sentássemos com ela à mesa, ainda que estivéssemos ansiosas por continuar com o nosso trabalho. Uma delas nunca tirava a sua camisa de noite antes do meio-dia. Algumas delas sofriam de dores de cabeça. Muitas delas eram infelizes. A maioria delas bebia. Uma delas levava-nos todas as sextas-feiras à tarde aos armazéns City of Paris na baixa e dizia-nos para escolhermos uma peça nova de roupa. Qualquer coisa de que gostes. Uma dela deu-nos um dicionário e um par de luvas de seda brancas e matriculou-nos na nossa primeira aula de inglês. O meu motorista vai esperar-te lá em baixo. Outras tentavam ensinar-nos elas próprias. Isto é um balde. Isto é uma esfregona. Isto é uma vassoura. Uma delas nunca se conseguia lembrar do nosso nome. Uma delas recebia-nos calorosamente todas as manhãs na sua cozinha, mas sempre que passava por nós na rua não fazia ideia de quem éramos. Uma delas praticamente nunca trocou uma palavra connosco nos treze anos que trabalhámos para ela, mas, quando morreu, deixou-nos uma fortuna. 22 PREFERÍAMOS quando elas estavam fora a arranjar o cabelo ou a almoçar no clube e quando os maridos ainda estavam no escritório e as crianças ainda não tinham chegado a casa da escola. Ninguém nos observava nessas ocasiões. Ninguém falava connosco. Ninguém nos seguia pé ante pé enquanto limpávamos os móveis embutidos para ver se nos escapava algum pormenor. A casa inteira ficava vazia. Sossegada. Nossa. Puxávamos as cortinas para trás. Abríamos as janelas. Inspirávamos o ar fresco à medida que passávamos de uma divisão à outra, a limpar o pó e a puxar o lustre às coisas. Tudo o que elas vêem é o brilho. Sentíamo-nos mais calmas nessas alturas. Menos temerosas. Sentíamo-nos, uma vez na vida, como nós mesmas. POUCAS DE NÓS eram as que lhes roubavam coisas. Pequenas coisas, no início, coisas de que achávamos que elas não dariam pela falta. Um garfo de prata aqui. Um saleiro ali. Um gole ocasional de aguardente. Uma linda chávena de chá às florzinhas que simplesmente tínhamos de ter. Um lindo pires às florzinhas. Um vaso de porcelana do mesmo tom de verde que o Buda de jade da nossa mãe. Eu apenas gosto de coisas bonitas. Uma mão-cheia de trocos que estava largada no balcão há dias. Outras de nós, embora tentadas, não mexiam em nada e eram bem recompensadas pela sua honestidade. Eu sou a única criada que ela deixa entrar no seu quarto lá em cima. Todos os negros têm de ficar lá em baixo na cozinha. ALGUMAS DELAS despediam-nos sem qualquer aviso e não fazíamos ideia do que é que tínhamos feito de errado. «És demasiado bonita», diziam-nos os nossos maridos, ainda que achássemos difícil acreditar que isso fosse verdade. Algumas de nós eram tão desastradas que sabíamos que não duraríamos mais de uma semana. Esquecíamo-nos de lhes cozinhar a carne antes de lha servirmos à ceia. Queimávamos-lhes sempre as papas de aveia. Deixávamos cair os seus melhores copos de cristal. Deitávamos o seu queijo fora por engano. «Pensava que estava podre», tentávamos explicar. «É assim que é suposto cheirar», diziam-nos. Algumas de nós tinham dificuldade em compreender o seu inglês, que não tinha qualquer semelhança com aquele que tínhamos aprendido nos nossos livros. Dizíamos «Sim» quando nos perguntavam se nos importávamos de dobrar as suas roupas e «Não» quando nos pediam para limpar o pó e quando nos perguntavam se tínhamos visto os seus brincos de ouro que tinham desaparecido, sorríamos e dizíamos «Ai sim?». Outras de nós respondiam «Hum Hum» ao que quer que elas dissessem. Algumas de nós tinham maridos que tinham mentido acerca das nossas habilidades na cozinha, – As especialidades da minha mulher são o frango Kiev e a sopa vichyssoise – mas rapidamente se perceberia que a nossa única especialidade era arroz. Algumas de nós tinham crescido em grandes propriedades com criados elas próprias e não suportavam que lhes dissessem o que fazer. Algumas de nós não se davam bem com os filhos delas, que consideravam agressivos e barulhentos. Algumas de nós opunham-se ao que elas diziam aos 23 filhos acerca de nós quando não se apercebiam que nós ainda estávamos na sala. Se não estudares mais, vais acabar a esfregar o chão como a Lily. A MAIORIA DELAS mal reparava em nós. Estávamos lá quando precisavam de nós e, quando não precisavam, puf, desaparecíamos. Ficávamos na penumbra, a limpar o chão em silêncio, a encerar a mobília, a dar banho aos seus filhos, a limpar as zonas das casas que mais ninguém, excepto nós, podia ver. Raramente falávamos. Pouco comíamos. Éramos gentis. Éramos bondosas. Nunca causávamos qualquer problema e deixávamos que nos tratassem como bem entendiam. Deixávamos que nos elogiassem quando estavam satisfeitas connosco. Deixávamos que gritassem connosco quando estavam zangadas. Deixávamos que nos dessem coisas que, no fundo, não queríamos, nem precisávamos. Se não levar aquela camisola velha, ela acusa-me de ser muito orgulhosa. Não as importunávamos com perguntas. Nunca ripostávamos ou nos queixávamos. Nunca pedíamos um aumento. Pois a maioria de nós eram raparigas simples do campo, que não falavam inglês e, na América, sabíamos, não tinham outra alternativa a não ser esfregar pias e lavar o chão. NÃO AS REFERÍAMOS nas cartas às nossas mães. Não as referíamos nas cartas às nossas irmãs ou amigos. Porque no Japão o pior trabalho que uma mulher podia ter era esse, o de criada. Desistimos do campo e mudámos para uma casa agradável na cidade, onde o meu marido encontrou um emprego com uma família de bem. Estou a ganhar peso. Floresci. Cresci um centímetro e pouco. Agora uso roupa interior. Uso um espartilho e collants. Uso um sutiã branco de algodão. Durmo até às nove todas as manhãs e passo as minhas tardes com o gato no jardim ao ar livre. A minha cara está mais cheia. As minhas ancas alargaram-se. Os meus passos alongaram-se. Estou a aprender a ler. Tenho aulas de piano. Dominei a arte americana de fazer bolos e ganhei recentemente o primeiro prémio num concurso com a minha tarte de merengue de limão. Sei que ias gostar disto aqui. As ruas são largas e limpas e não se tem de tirar os sapatos quando se caminha na relva. Penso em ti muitas vezes e vou mandar-te dinheiro assim que puder. DE VEZ EM QUANDO um dos maridos delas pedia-nos para nos dar uma palavrinha no escritório enquanto a mulher estava fora, às compras e nós não sabíamos como dizer que não. «Está tudo bem?», perguntavam-nos. Normalmente olhávamos fixamente para o chão e dizíamos que sim, claro que sim, que tudo estava bem, ainda que isso não fosse verdade, mas quando ele nos tocava no ombro delicadamente e nos perguntava se tínhamos a certeza, nem sempre nos afastávamos. «Ninguém tem de saber», dizia-nos. Ou, «Ela não estará de volta antes do anoitecer». E quando nos conduzia ao quarto lá em cima e nos deitava na cama – 24 exactamente a mesma cama que tínhamos feito nessa manhã – chorávamos, pois fazia já tanto tempo desde que tínhamos sido abraçadas com força. ALGUNS DELES pediam-nos para dizermos algumas palavras em japonês só para ouvirem o som da nossa voz. Não importa o que dizes. Alguns deles pediam-nos para pormos o nosso melhor quimono de seda para eles e para caminharmos devagar ao longo das suas costas. Alguns deles pediam-nos para os amarrarmos com as nossas faixas de seda floridas e para lhes chamarmos todo o tipo de nomes que nos ocorressem e ficávamos surpreendidas pelo tipo de nomes que eram e pela facilidade com que nos ocorriam, visto nunca os termos dito antes em voz alta. Alguns deles pediam para lhes dizermos o nosso nome verdadeiro, que depois sussurravam uma e outra vez, até deixarmos de saber quem éramos. Midori. Midori. Midori. Alguns deles diziam-nos o quanto éramos bonitas, ainda que soubéssemos que não tínhamos graça nem grande beleza. Nenhum homem olharia para mim no Japão. Alguns deles perguntavam-nos como é que gostávamos ou se nos estavam a magoar e, se estivessem, se a dor nos estava a agradar, ao que respondíamos que sim, porque estava. Pelo menos quando estou contigo, sei que estou viva. Alguns mentiam-nos. Nunca tinha feito isto antes. E nós, por nossa vez, mentíamos-lhes. Nem eu. Alguns deles davam-nos dinheiro, que nós enfiávamos nas meias e dávamos aos nossos maridos nessa mesma noite sem dizer uma palavra. Alguns deles prometeram deixar a mulher por nossa causa, mesmo que soubéssemos que nunca o fariam. Alguns deles descobriam que nos tinham engravidado – O meu marido já não me toca há mais de seis meses – e então mandavam-nos embora. «Tens de te livrar disso», diziam-nos. Diziam «Eu pago tudo». Diziam «Arranjo-te emprego num outro sítio de imediato». UMA DE NÓS caiu no erro de se apaixonar por ele e ainda pensa nele noite e dia. Uma de nós confessou tudo ao marido, que lhe bateu com um cabo de vassoura e depois se deitou e chorou. Uma de nós confessou tudo ao marido, que se divorciou dela e a mandou de volta para os pais no Japão, onde ela agora trabalha dez horas por dia num moinho de enrolamento de seda em Nagano. Uma de nós confessou tudo ao marido que lhe perdoou e lhe confessou alguns dos seus próprios pecados. Tenho uma segunda família em Colusa. Uma de nós não disse nada a ninguém e enlouqueceu aos poucos. Uma de nós escreveu à mãe a pedir conselho, já que ela sabia sempre o que fazer, mas nunca recebeu uma resposta. Este é um fardo que tenho de carregar sozinha. Uma de nós encheu as mangas do seu quimono branco de seda com pedras e vagueou mar adentro e ainda hoje dizemos uma oração por ela todos os dias. NÃO MUITAS DE NÓS acabaram a servi-los de modo exclusivo em hotéis cor-de-rosa por cima do átrio da piscina e lojas de licor nas zonas mais degradadas das suas cidades. Chamávamo-los das janelas do segundo andar da casa Tokyo, onde a mais nova de nós ainda 25 nem dez anos tinha. Contemplávamo-los por cima dos nossos leques pintados na casa Yokohama e, pelo preço justo, faríamos por eles o que quer que fosse que as mulheres não lhes faziam em casa. Apresentávamo-nos como a Dona Saki e como a Honorável Menina Cherry Blossom em voz alta e efeminada na casa Aloha e, quando nos perguntavam de onde é que vínhamos, sorríamos e dizíamos, «Oh, de algures em Quioto». Dançávamos com eles no clube nocturno New Eden e cobrávamos-lhes cinquenta cêntimos por cada quinze minutos do nosso tempo. E, se quisessem subir connosco, dizíamos-lhes que eram cinco dólares uma só vez ou vinte dólares para ficarem no quarto até de manhã. E, quando tinham terminado, entregávamos o dinheiro aos nossos patrões, que jogavam todas as noites e pagavam subornos à polícia regularmente e não nos deixavam dormir com ninguém da nossa raça. Uma rapariga bela como tu vale mil peças de ouro. ÀS VEZES, enquanto estávamos deitadas ao lado deles, dávamos por nós com saudades dos nossos maridos, de quem tínhamos fugido. Ele era assim tão mau? Tão selvagem? Tão estúpido? Às vezes dávamos por nós a cair de amores pelos nossos patrões, que nos tinham raptado à facada quando regressávamos dos campos. Ele traz-me coisas. Fala comigo. Deixame sair para passear. Às vezes convencíamo-nos de que após um ano na casa Eureka teríamos dinheiro suficiente para pagar a nossa passagem de volta a casa, contudo, no final desse ano, tudo o que teríamos seriam cinquenta cêntimos e uma boa dose de palmadas. Para o ano, dizíamos a nós mesmas. Ou quem sabe no ano seguinte. Todavia, até a mais bonita de nós sabia que os nossos dias estavam contados, pois no nosso ramo, aos vinte anos, ou estávamos acabadas ou mortas. UM DELES comprou-nos ao bordel para o qual trabalhávamos e levou-nos para casa, uma casa grande numa rua arborizada em Montecito, cujo nome não devemos revelar. Lá havia hibiscos nas janelas, tampos de mesas de mármore, sofás de pele, pratos de vidro cheios de frutos secos para quando as visitas aparecessem. Havia um cão branco adorado, que chamámos de Shiro, em homenagem ao cão que deixáramos para trás no Japão e que passeávamos três vezes por dia com prazer. Havia um frigorífico eléctrico. Um gramofone. Um rádio Majestic. Um Ford Modelo T à entrada de casa que fazíamos andar todos os domingos quando íamos dar uma volta. Havia uma empregada pequenina chamada Consuelo, que tinha vindo das Filipinas e cozinhava um leite-creme maravilhoso e tartes e que sabia de antemão todas as nossas necessidades. Sabia quando estávamos contentes. Sabia quando estávamos tristes. Sabia quando tínhamos lutado na noite anterior e quando nos tínhamos divertido. E, por tudo isto, seríamos para sempre gratas ao nosso marido, sem ele ainda estaríamos a trabalhar nas ruas. No momento em que o vi, soube que estava salva. Mas volta e meia dávamos connosco a questionar-nos sobre o homem que deixámos para trás. Será que queimou todas as nossas coisas no dia seguinte a o termos 26 abandonado? Será que rasgou as nossas cartas? Será que nos odiava? Será que sentiu a nossa falta? Será que se importava se estávamos mortas ou vivas? Será que ainda trabalhava como um moço da estrebaria para os Burnhams na rua Sutter? Será que já tinha plantado os narcisos por essa altura? Será que já tinha terminado de semear novamente o relvado? Será que ainda ceava sozinho, todas as noites, na grande cozinha da Sra. Burnham ou será que finalmente se tornou amigo da criada negra preferida da Sra. Burnham? Será que ainda lia três páginas do Manual de Jardinagem todas as noites antes de ir para a cama? Será que ainda sonhava um dia tornar-se superintendente? Às vezes, já alta a tarde, exactamente quando a luz começava a desvanecer-se, tirávamos da nossa arca a sua fotografia amarelecida e olhávamos para ela uma última vez. Mas por muito que nos esforçássemos, não conseguíamos obrigar-nos a deitá-la fora. ALGUMAS DE NÓS davam por si, no terceiro dia na América, debruçadas sobre as suas selhas de estanho galvanizadas a esfregar, discretamente, as coisas delas: fronhas de almofadas e lençóis manchados, lenços da mão encardidos, colarinhos sujos, combinações brancas de renda tão amorosas que, na nossa opinião, deveriam ser usadas por cima e não por baixo da outra roupa. Trabalhávamos em lavandarias na cave na Japantown nas zonas mais degradadas das suas cidades – São Francisco, Sacramento, Santa Bárbara, L.A. – e todas as manhãs nos levantávamos antes da madrugada com os nossos maridos e lavávamos e fervíamos e esfregávamos. E, à noite, quando púnhamos as nossas vassouras de parte e íamos para a cama, sonhávamos que ainda estávamos a lavar, como lavaríamos noites a fio durante anos. E ainda que não tivéssemos vindo para a América para viver num quartinho minúsculo, desprovido de cortinas nas traseiras da Lavandaria Royal Hand, sabíamos que não podíamos voltar para casa. Se voltares, tinham-nos escrito os nossos pais, desgraçarás a família inteira. Se voltares, as tuas irmãs mais novas nunca se casarão. Se voltares, nenhum homem te desposará de novo. E assim ficávamos na J-town com os nossos novos maridos e envelheceríamos antes do tempo. NA J-TOWN, raramente os víamos. Servíamos à mesa sete dias por semana nos balcões para servir almoços ou nas lojas de noodles dos nossos maridos, onde conhecíamos de cor todos os clientes regulares. Yamamoto-san. Natsuhara-san. Eto-san. Kodami-san. Limpávamos os quartos das pensões de quinta categoria dos nossos maridos e cozinhávamos, duas vezes por dia, para os seus hóspedes, que se pareciam exactamente como nós. Fazíamos as nossas compras na Mercearia Fujioka, onde vendiam todas as coisas de que nos lembrávamos de casa: folhas de chá verde, sopa Mitsuwa, incenso, ameixas em vinagre, tofu fresco, algas frescas para nos defendermos do bócio e de gripes. Comprávamos saqué de contrabando para os nossos maridos no átrio da piscina por baixo do bordel na esquina das ruas Third e Main, mas certificávamo-nos de que tínhamos os nossos aventais postos antes de mais, de modo a não sermos confundidas com prostitutas no beco. Comprávamos os nossos vestidos no pronto-a-vestir de senhora Yada e 27 os nossos sapatos na sapataria Asahi, onde tinham, de facto, o nosso tamanho. Comprávamos o nosso creme facial na farmácia Tenshodo. Íamos todos os sábados aos balneários públicos e fazíamos mexericos com as nossas vizinhas e amigas. Era mesmo verdade que a Kisayo recusara deixar o seu marido entrar em casa pela porta da frente? Era mesmo verdade que a Mikiko fugira com um jogador do Clube Toyo? E o que é que a Hagino tinha feito ao cabelo? Parece um ninho de ratos. Íamos à Clínica Dentária Yoshinaga para tratar as nossas dores de dentes e para as nossas dores de costas e de joelhos íamos ao Dr. Hayano, o acupunctor, que também conhecia a arte da massagem shiatsu. E sempre que precisávamos de conselhos no que dizia respeito a assuntos do coração – Devo deixá-lo ou devo ficar? – íamos à Sra. Murata, a vidente, que vivia na casa azul na Rua Second por cima da loja de penhores Asakawa e sentávamo-nos com ela na cozinha com as nossas cabeças baixas e com as mãos nos joelhos enquanto esperávamos que ela recebesse uma mensagem dos deuses. Se o deixares agora nunca mais haverá outro. E tudo isto tinha lugar numa vila com a extensão de quatro quarteirões, que era mais japonesa que a própria aldeia que tínhamos deixado para trás no Japão. Se fechar os olhos nem sequer sei que estou a viver num país estrangeiro. SEMPRE QUE SAÍAMOS da J-town e vagueávamos pelas ruas amplas e asseadas das suas cidades, tentávamos não chamar a atenção para nós. Vestíamo-nos como eles. Caminhávamos como eles. Fazíamos questão de não viajar em grupos grandes. Tornávamo-nos pequenos para eles – Se te puseres no teu lugar, deixam-te em paz – e dávamos o nosso melhor para não ofendermos. Ainda assim, deram-nos que fazer. Os homens deles davam palmadas nas costas dos nossos maridos e gritavam «Peldão!» enquanto deitavam os chapéus dos nossos maridos ao chão. As crianças atiravam-nos pedras. Os empregados de mesa serviam-nos sempre por último. Os arrumadores encaminhavam-nos para o andar superior, para a segunda bancada dos teatros e sentavam-nos sempre nos piores lugares da casa. O Céu dos Negros, chamavam-lhes. Os barbeiros recusavam-se a cortar-nos o cabelo. Demasiado áspero para as nossas tesouras. As mulheres pediam-nos que nos afastássemos delas nos eléctricos quando estávamos demasiado perto. «Por favor, desculpe», dizíamos-lhes e depois sorríamos e afastávamo-nos. Porque a única maneira de resistir, os nossos maridos tinham-nos ensinado, era não resistir. No entanto, ficávamos sobretudo em casa, na J-town, onde nos sentíamos seguras entre os nossos. Aprendemos a viver com alguma distância deles e a evitá-los sempre que pudéssemos. UM DIA, prometemos a nós próprias, deixá-los-íamos. Trabalharíamos arduamente e pouparíamos dinheiro suficiente para irmos para um outro sítio. Para a Argentina, talvez. Ou para o México. Ou para São Paulo, no Brasil. Ou para Harbin, na Manchúria, onde o nosso marido nos disse que um japonês podia viver como um príncipe. O meu irmão foi para lá no ano passado e enriqueceu. Começaríamos tudo de novo outra vez. Abriríamos a nossa própria 28 banca de fruta. A nossa própria empresa de comércio. O nosso próprio hotel de primeira. Plantaríamos um pomar de cerejeiras. Um pomar de diospireiros. Compraríamos mil hectares de um campo rico e dourado. Aprenderíamos coisas. Faríamos coisas. Construiríamos um orfanato. Construiríamos um templo. Andaríamos de comboio pela primeira vez. E, uma vez por ano, no nosso aniversário, usaríamos o nosso batom e sairíamos para jantar fora. A um sítio chique, com toalhas de mesa brancas e candelabros. E quando tivéssemos poupado dinheiro suficiente para ajudar os nossos pais a terem uma vida confortável, empacotaríamos as nossas coisas e voltaríamos para o Japão. Seria Outono e os nossos pais estariam a malhar nos campos. Caminharíamos por entre as amoras, passando pela grande nespereira e pela lagoa antiga de lótus, onde costumávamos apanhar girinos na Primavera. Os nossos cães viriam a correr ao nosso encontro. Os nossos vizinhos acenariam. As nossas mães estariam sentadas junto ao poço com as mangas arregaçadas, a lavar o arroz da noite. E, quando nos vissem, levantar-se-iam simplesmente e olhariam fixamente. «Minha menina», dir-nos-iam, «onde raio é que andaste?» MAS ATÉ LÁ permaneceríamos na América só um pouco mais e trabalharíamos para eles, porque sem nós, o que é que fariam? Quem é que apanharia os morangos dos seus campos? Quem é que apanharia a fruta das suas árvores? Quem é que lavaria as suas cenouras? Quem é que esfregaria os seus lavabos? Quem é que remendaria as suas roupas? Quem é que engomaria as suas camisas? Quem é que encheria as suas almofadas com penugem? Quem é que trocaria os seus lençóis? Quem é que prepararia os seus pequenos-almoços? Quem é que levantaria as suas mesas? Quem é que acalmaria as suas crianças? Quem é que daria banho aos seus idosos? Quem é que ouviria as suas histórias? Quem é que guardaria os seus segredos? Quem é que contaria as suas mentiras? Quem é que os elogiaria? Quem é que cantaria para eles? Quem é que dançaria para eles? Quem é que choraria por eles? Quem é que lhes daria a outra face e depois, um dia, porque estávamos cansadas, porque estávamos velhas, porque podíamos – os perdoaria? Só um tolo. E então dobrámos os nossos quimonos e guardámo-los nas nossas arcas e não os tornámos a tirar durante anos. 29 BEBÉS Demos à luz debaixo de carvalhos, no verão, com temperaturas de 45 graus. Demos à luz ao lado de fogões a lenha em barracas com uma só divisão, nas noites mais gélidas do ano. Demos à luz em ilhas ventosas no Delta, seis meses depois da nossa chegada e os bebés eram pequeninos e translúcidos e morriam passados três dias. Demos à luz nove meses depois da nossa chegada a bebés perfeitos com cabecinhas cobertas de cabelo preto. Demos à luz em campos de vinha poeirentos em Elk Grove e Florin. Demos à luz em quintas distantes no Vale Imperial só com a ajuda dos nossos maridos, que tinham aprendido o que fazer no livro Guia da Dona de Casa. Primeiro ferve-se a água num tacho… Demos à luz em Rialto com a luz de uma lanterna de querosene em cima de uma colcha de seda velha que tínhamos trazido connosco do Japão na nossa arca. Ainda tinha o cheiro da minha mãe. Demos à luz como Makiyo, num celeiro lá em Maxwell, deitadas numa cama espessa de palha. Queria estar perto dos animais. Demos à luz sozinhas, num pomar de macieiras em Sebastopol, depois de procurarmos por lenha lá no alto das colinas numa manhã excepcionalmente quente de Outono. Cortei o cordão umbilical com a minha faca e levei-a para casa ao colo. Demos à luz numa tenda em Livingston com a ajuda de uma parteira japonesa, que tinha viajado trinta e sete quilómetros na garupa de um cavalo desde a cidade vizinha para nos ir atender. Demos à luz em cidades onde nenhum médico nos atenderia e lavávamos nós próprias a placenta. Demos à luz em cidades com um só médico, cujos preços não podíamos pagar. Demos à luz com o auxílio do Dr. Ringwalt, que não deixou que lhe pagássemos os seus honorários. «Guarde-o», disse-nos. Demos à luz rodeadas pelos nossos, na Clínica de Parteiras Takahashi, na rua Clement, em São Francisco. Demos à luz no Hospital Kuwabara, na rua North Fifth, em San José. Demos à luz em estradas rurais acidentadas em Castroville na parte de trás do camião Dodge do nosso marido. O bebé saiu muito depressa. Demos à luz ao maior bebé que a parteira vira em toda a sua vida num chão sujo coberto de jornais de um barracão no French Camp. Cinco quilos e setecentos gramas. Demos à luz com a ajuda da mulher do vendedor de peixe, a Sra. Kondo, que tinha conhecido a nossa mãe no Japão. Ela era a segunda rapariga mais bonita da aldeia. Demos à luz atrás de uma cortina de renda na barbearia Adachi em Gardena enquanto o nosso marido fazia a barba do Sr. Ota, como fazia todas as semanas. Demos à luz depressa, depois de horas, no apartamento por cima da loja Higo Ten Cent. Demos à luz enquanto nos agarrávamos com toda a força à cabeceira da cama e maldizíamos o nosso marido – Isto é tudo culpa tua! – e ele jurava nunca mais nos tocar. Demos à luz às cinco da manhã no quartinho de engomar na Lavandaria Eagle Hand e nessa mesma noite o nosso marido começou a beijar-nos na cama. Eu ainda lhe disse, «Não podes esperar?» Demos à luz em silêncio, como as nossas mães, que nunca gritavam ou se queixavam. Ela trabalhou nos arrozais até ao dia em que sentiu as primeiras dores. Demos à luz lavadas em lágrimas, como a Nogiku, que caiu na cama com febre 30 e ficou acamada durante três meses. Demos à luz com facilidade, em duas horas, e depois ficámos com uma dor de cabeça que nos acompanhou durante cinco anos. Demos à luz, cinco semanas depois de o nosso marido nos deixar, a uma criança que hoje desejávamos nunca termos entregado. Depois dela, nunca mais consegui conceber outra criança. Demos à luz em segredo, na floresta, a uma criança que o nosso marido sabia não ser dele. Demos à luz por cima de uma colcha florida desbotada num bordel em Oakland, enquanto ouvíamos os gemidos no quarto ao lado. Demos à luz numa pensão em Petaluma, duas semanas depois de termos saído da casa do juiz Carmichael no alto da Colina Russian. Demos à luz depois de nos termos despedido da nossa patroa, a Sr.ª Lippincott, que não queria uma criada grávida a receber os convidados à sua porta. Não ia parecer adequado. Demos à luz com a ajuda da Señora Santos, a mulher do capataz, que agarrou as nossas coxas e nos disse para fazermos força. Empuje! Empuje! Empuje! Demos à luz enquanto o nosso marido estava fora a jogar na Chinatown e quando ele voltou para casa, bêbedo, na manhã seguinte, não lhe dirigimos a palavra durante cinco dias. Ele perdeu todos os nossos proventos da temporada numa noite. Demos à luz no Ano do Macaco. Demos à luz no Ano do Galo. Demos à luz no Ano do Cão e do Dragão e do Rato. Demos à luz, tal como a Urako, num dia de lua cheia. Demos à luz num domingo num barracão em Encinitas e, no dia seguinte, atámos o bebé às nossas costas e fomos para o campo apanhar bagas. Demos à luz tantas crianças que rapidamente perdemos a noção dos anos. Demos à luz a Nobuo, a Shojiru e a Ayako. Demos à luz a Tameji, que parecia mesmo o nosso irmão e olhámo-lo com alegria. Ah, és tu! Demos à luz a Eikichi, que era mesmo parecido com o nosso vizinho e depois disso o nosso marido nunca mais nos olharia nos olhos. Demos à luz a Misuzu, que nasceu com o cordão umbilical enrolado à volta do pescoço, tal e qual um rosário, e soubemos que um dia ela seria uma sacerdotisa. É um sinal do Buda. Demos à luz a Daisuke, que tinha grandes lóbulos, pelo que soubemos que ele um dia seria rico. Demos à luz a Masaji, que veio até nós já tarde, aos nossos quarenta e cinco anos, exactamente quando já tínhamos perdido toda a esperança de ainda termos um herdeiro. Pensei que tinha já produzido o meu último óvulo há muito tempo atrás. Demos à luz a Fujiko, que pareceu reconhecer a voz do pai de imediato. Ele costumava cantar-lhe todas as noites, ainda estava ela no útero. Demos à luz a Yukiko, cujo nome significa «neve». Demos à luz a Asano, que tinha coxas largas e um pescoço pequeno e que se parecia muito mais com um rapaz. Demos à luz a Kamechiyo, que era tão feia, que tivemos medo de nunca lhe arranjarmos um companheiro. Era feia como os trovões. Demos à luz a bebés tão bonitos que nem acreditávamos que pudessem ser nossos. Demos à luz a bebés que eram cidadãos americanos e em cujos nomes podíamos finalmente arrendar terrenos. Demos à luz a bebés com cólicas. Demos à luz a bebés com pés tortos. Demos à luz a bebés fracos e amarelados. Demos à luz sem as nossas mães, que saberiam exactamente o que fazer. Demos à luz a bebés com seis dedos e olhámos para o lado enquanto a parteira afiava a faca. Deves ter comido um caranguejo durante a gravidez. Apanhámos gonorreia na primeira noite 31 com o nosso marido e demos à luz a bebés cegos. Demos à luz a gémeos, que eram considerados má sorte e pedimos à parteira que tornasse um deles num «visitante por um dia». Decida qual. Demos à luz a onze crianças em quinze anos, mas só sete é que sobreviveriam. Demos à luz a seis rapazes e a três raparigas antes de fazermos trinta até que uma noite afastámos os nossos maridos de nós e lhes dissemos «Já chega!». Passados nove meses demos à luz a Sueko, cujo nome significa «derradeiro». «Ah, outro!», disse o nosso marido. Demos à luz a cinco raparigas e cinco rapazes com dezoito meses regulares de intervalo até que um dia, cinco anos depois, demos à luz a Toichi, cujo nome significa «onze». Ele é o meu benjamin. Demos à luz ainda que tenhamos vertido água fria sobre o ventre e saltado do alpendre muitas vezes. Não consegui soltá-lo. Demos à luz ainda que tenhamos bebido o remédio que a parteira nos deu para nos impedir de dar à luz mais uma vez. O meu marido estava doente com pneumonia e precisavam do meu trabalho nos campos. Não demos à luz nos quatro primeiros anos do nosso casamento até que demos uma oferenda a Inari e demos à luz a seis rapazes de enfiada. Demos à luz a tantos bebés que o nosso útero descaiu e tivemos de usar uma cinta especial para o mantermos no lugar. Quase demos à luz, mas o bebé estava virado ao contrário e tudo o que saiu foi um braço. Quase demos à luz, mas a cabeça do bebé era muito grande e depois de três dias a fazer força, olhámos para o nosso marido e dissemos «Por favor, perdoame» e morremos. Demos à luz, mas o bebé era fraco demais para chorar, pelo que a deixámos fora de casa, toda a noite, num berço ao lado de um fogão a lenha. Se ela aguentar até amanhã de manhã, então será suficientemente forte para sobreviver. Demos à luz, mas o bebé era menino e menina e sufocámo-lo rapidamente com uns trapos. Demos à luz, mas o nosso leite nunca desceu e passado uma semana o bebé estava morto. Demos à luz, mas a bebé já tinha morrido no nosso ventre e enterrámo-la, nua, nos campos, ao lado de um riacho, mas desde então mudámo-nos tantas vezes que já não conseguimos lembrar-nos de onde é que ela está. 32 As Crianças Deitávamo-las cuidadosamente em valas e regos de água e em cestos de vime por baixo das árvores. Deixávamo-las deitadas nuas, por cima de cobertores, em esteiras de palha entrançada na beira dos campos. Colocávamo-las em caixas de madeira de maçãs e cuidávamos delas sempre depois de sacharmos uma fileira de feijões. Quando eram mais velhas, e mais traquinas, de vez em quando, amarrávamo-las a cadeiras. Atávamo-las às nossas costas no auge do Inverno em Redding e saíamos para podar as videiras, mas em algumas das manhãs estava tanto frio que as suas orelhas gelavam e sangravam. No início do Verão, em Stockon, deixávamo-las nas ravinas vizinhas enquanto desenterrávamos e ensacávamos cebolas e começávamos a apanhar as primeiras ameixas. Dávamos-lhes paus para brincarem durante a nossa ausência e chamávamolas de tempos a tempos para que soubessem que ainda estávamos por ali. Não incomodes os cães. Não toques nas abelhas. Não vás para longe ou o Papá zanga-se. Mas quando elas ficavam cansadas e começavam a gritar por nós, continuávamos a trabalhar, porque sabíamos que, se não o fizéssemos, nunca conseguiríamos pagar a nossa dívida de arrendamento. A Mamã não pode ir. E, passado um bocadinho, as suas vozes iam-se tornando mais fracas e o seu choro parava. E, ao final do dia, quando os céus já não tinham luz, acordávamo-las de onde quer que fosse que estivessem a dormir e sacudíamos a terra dos seus cabelos. Está na hora de irmos para casa. ALGUMAS DELAS eram teimosas e obstinadas e não ouviam nada do que dizíamos. Outras eram mais calmas do que o Buda. Ele veio ao mundo a sorrir. Uma amava o seu pai mais do que a qualquer outra pessoa. Outra odiava cores vivas. Um não ia a lado nenhum sem o seu balde de lata. Uma desmamou-se a si própria aos treze meses ao apontar para um copo de leite no balcão, dizendo-nos «Quero». Várias eram muito maduras para a idade. A vidente disse-nos que ele nasceu com a alma de um homem velho. Comiam à mesa como os crescidos. Nunca choravam. Nunca se queixavam. Nunca deixavam os pauzinhos espetados no arroz. Brincavam sozinhas todo o dia sem um pio enquanto trabalhávamos nos campos ao lado. Faziam desenhos na terra durante horas. E sempre que tentávamos pegar-lhes e levá-las para casa, acenavam com a cabeça e diziam «Peso muito» ou «Descansa, Mamã». Preocupavam-se connosco quando estávamos cansadas. Preocupavam-se connosco quando estávamos tristes. Sabiam, sem lhes dizermos, quando os nossos joelhos nos incomodavam ou quando era aquela altura do mês. À noite, dormiam connosco, como cachorrinhos, em tábuas de madeira cobertas de palha e, pela primeira vez desde que tínhamos vindo para a América, não nos importávamos de ter alguém ao nosso lado na cama. 33 TÍNHAMOS sempre preferidas. Talvez fosse o nosso primogénito, o Ichiro, que nos fazia sentir muito menos sós. O meu marido já não me falava há mais de dois anos. Ou o nosso segundo filho, o Yoichi, que aos quatro anos tinha aprendido sozinho a ler em inglês. É um génio. Ou a Sunoko, que puxava sempre a nossa manga com uma urgência terrível e que depois se esquecia do que queria dizer. «Lembras-te daqui a nada», dizíamos-lhe, ainda que nunca se lembrasse. Algumas de nós preferiam as meninas, dóceis e bondosas, e, algumas de nós, tal como já as nossas mães antes de nós, preferiam os meninos. São uma mais-valia na quinta. Dávamos-lhes mais comida do que às suas irmãs. Tomávamos o seu partido nas discussões. Vestíamos-lhes as melhores roupas. Esgravatávamos até ao último tostão para os levarmos ao médico quando adoeciam com febre, enquanto tratávamos das nossas filhas em casa. Pus-lhe uma argamassa de mostarda no peito e rezei ao Deus do vento e das constipações fortes. Porque sabíamos que as nossas filhas nos deixariam no momento em que se casassem, já os nossos filhos tratariam de nós na nossa velhice. GERALMENTE os nossos maridos não tinham nada a ver com elas. Nunca mudavam uma única fralda. Nunca lavavam um prato sujo. Nunca pegavam numa vassoura. À noite, por mais cansadas que estivéssemos quando chegávamos do campo, eles sentavam-se e liam o jornal enquanto nós fazíamos o jantar das crianças e ficávamos a pé até tarde a lavar e a remendar pilhas de roupa. Nunca nos deixavam ir deitar antes deles. Nunca nos deixavam levantar depois de o sol ter nascido. Vais dar um mau exemplo às crianças. Nunca nos davam cinco minutos de descanso sequer. Eram homens calados, enrugados, que entravam e saíam de casa com passos pesados nos seus fatos-macacos enlameados, resmungando consigo próprios acerca do crescimento dos rebentos, do preço do feijão-verde, do número de caixas de aipos que achavam que conseguiríamos tirar do campo nesse ano. Raramente falavam com as crianças ou pareciam lembrar-se dos seus nomes. Diz ao rapaz número três para não arrastar os pés quando caminha. E se as coisas ficassem demasiado barulhentas à mesa, batiam palmas e gritavam «Basta!». As crianças, por sua vez, preferiam não falar com o pai, de modo nenhum. De cada vez que uma delas tinha algo para lhes dizer, passava sempre por nós. Diz ao Papá que preciso de uma moeda. Diz ao Papá que se passa alguma coisa com um dos cavalos. Diz ao Papá que lhe escapou um bocadinho quando se barbeou. Pergunta ao Papá por que é que ele é tão velho. ASSIM QUE PODÍAMOS púnhamo-las a trabalhar nos campos. Apanhavam morangos connosco em San Martin. Apanhavam ervilhas connosco em Los Osos. Gatinhavam atrás de nós pelo vinhedo de Hughson e de Del Rey enquanto cortávamos as uvas para passas e as deixávamos a secar ao sol em tabuleiros de madeira. Transportavam água. Desbastavam os arbustos. Arrancavam ervas daninhas. Cortavam lenha. Mondavam debaixo do calor abrasador do Verão do Vale Imperial ainda antes de os seus ossos estarem completamente formados. 34 Algumas delas eram lentas e sonhadoras e plantavam fileiras inteiras de brotos de couve-flor de pernas para o ar por engano. Outras eram mais rápidas a escolher o tomate do que o mais rápido dos contratados para ajudar. Muitas queixavam-se. Tinham dores de estômago. Dores de cabeça. Tinham comichões infernais nos olhos por causa do pó. Algumas delas enfiavam depressa as botas todas as manhãs sem termos de lhes dizer. Uma delas tinha um par de tesouras da poda preferido, que afiava todas as noites no celeiro antes da ceia e em que não deixava ninguém tocar. Uma não conseguia parar de pensar em insectos. Estão em todo o lado. Um dia uma sentou-se no meio de um canteiro de cebolas e disse que desejava nunca ter nascido. E perguntávamo-nos se tínhamos feito a coisa certa, trazendo-as a este mundo. Nunca tivemos dinheiro para lhes comprar um único brinquedo, um que fosse. E AINDA ASSIM brincavam horas a fio nos campos como pardais. Transformavam estacas partidas de videiras em espadas e batiam-se em duelo sob as árvores até empatarem. Faziam papagaios de papel com jornais e madeira balsa a que atavam facas aos cordéis e combatiam nos céus em dias muito ventosos. Transformavam arame e palha em bonecas e faziam-lhes maldades com pauzinhos afiados no bosque. Brincavam à sombra apanha sombra em noites de luar nos pomares, tal como nós tínhamos brincado no Japão. Brincavam a dar pontapés a latas e a mumblety-peg e a jan ken po. Faziam concursos para ver quem conseguia pregar o maior número de caixas umas às outras na noite anterior à nossa ida ao mercado e para ver quem conseguia ficar pendurado na nogueira mais tempo, sem largar. Faziam aviõezinhos e passarinhos de papel e ficavam a vê-los voar para longe. Faziam colecção de ninhos de corvos, de peles de cobras, de conchas de besouro, de bolotas, de estacas de ferro enferrujadas da linha férrea lá em baixo. Aprenderam os nomes dos planetas. Liam as mãos umas das outras. A tua linha da vida é invulgarmente curta. Faziam previsões umas às outras. Um dia vais fazer uma longa viagem de comboio. Iam para o celeiro depois da ceia com as suas lanternas de querosene e brincavam às Mamãs e aos Papás no sótão. Agora dá uma palmada na tua barriga e faz um som como se estivesses a morrer. E nas noites quentes de Verão, quando estavam trinta e seis graus, esticavam os seus cobertores lá fora, debaixo dos pessegueiros, e sonhavam com piqueniques junto ao rio, com uma nova borracha, um livro, uma bola, uma boneca de porcelana com olhos violeta que pestanejam, com sair de casa, um dia, para o grande mundo lá fora. PARA LÁ DA QUINTA, ouviam dizer, havia crianças estranhas e pálidas que cresciam dentro de casa o tempo todo e que não sabiam nada de campos e riachos. Algumas destas crianças, ouviam dizer, nunca tinham visto sequer uma árvore. As mães delas não as deixam ir lá para fora e brincar ao sol. Para lá da quinta, ouviam dizer, havia casas brancas luxuosas com espelhos com molduras douradas e puxadores de cristal e com sanitas de porcelana, cujo autoclismo se puxava dando um puxão numa corrente. E nem sequer cheirava mal. Para lá da 35 quinta, ouviam dizer, havia colchões cheios de molas de metal duro que eram, sabe-se lá como, macios como nuvens (a irmã da Goro tinha ido para a cidade trabalhar como criada e quando voltou disse que as camas lá eram tão moles que tinha de dormir no chão). Para lá da quinta, ouviam dizer, havia mães que todas as manhãs tomavam o pequeno-almoço na cama e pais que se sentavam o dia todo em cadeiras almofadadas nos escritórios a dar ordens ao telefone – e eram pagos por isso. Para lá da quinta, ouviam dizer, onde quer que se fosse era-se um estranho e se, por acaso, se entrasse num autocarro por engano, nunca mais se encontrava o caminho de volta a casa. APANHAVAM GIRINOS e libelinhas perto do riacho e colocavam-nos em frascos de vidro. Viam-nos a matar as galinhas. Descobriam o sítio nas montanhas onde o veado tinha dormido da última vez e deitavam-se nos ninhos redondos dele na erva alta pisada. Arrancavam as caudas aos lagartos para ver quanto tempo é que levariam a crescer outra vez. Não está a acontecer nada. Traziam para casa pardais bebés que tinham caído das árvores e davam-lhes mingau de arroz adocicado com um palito, mas de manhã, quando acordavam, os pardais tinham morrido. «A natureza não se importa», dizíamos-lhes. Sentavam-se na vedação e observavam o agricultor no campo ao lado a conduzir a sua vaca até ao boi. Viram uma mãe gata a comer os seus gatinhos. «Acontece», explicámos-lhes. Ouviam-nos sermos tomadas já alta a noite pelos nossos maridos, que não nos deixavam em paz, apesar de já há muito não devermos nada à beleza. «A beleza não se vê no escuro», diziam-nos. Tomavam banho connosco todos as noites, fora de casa, em tinas gigantes de madeira aquecidas junto a fogueiras e enfiavam-se na água quente a fumegar até ao queixo. Inclinavam as cabeças para trás. Fechavam os olhos. Estendiam os braços à procura das nossas mãos. Faziam-nos perguntas. Como é que sabes se estás morta? E se não houvesse pássaros? E se tiveres pontinhos vermelhos por todo o corpo, mas não te doesse nada? É mesmo verdade que os chineses comem pezinhos de porco? TINHAM COISAS para as proteger. Uma tampinha vermelha. Um berlinde de vidro. Um postal com duas belezas russas a deambular pelas margens do rio Songhua, que lhes fora enviado por um tio do seu posto militar na Manchúria. Tinham peninhas brancas da sorte que levavam nos bolsos a toda a hora e pedrinhas embrulhadas em tecido macio que tiravam de gavetas e seguravam – só por um momento, até o mau pressentimento passar – nas mãos. Tinham palavras secretas que murmuravam a si próprias sempre que se sentiam assustadas. Tinham árvores preferidas às quais trepavam quando queriam estar sozinhas. Por favor, vão-se todos embora. Tinham irmãs preferidas em cujos braços conseguiam adormecer num instante. Tinham irmãos mais velhos que odiavam e com quem se recusavam a ficar sozinhas em casa. Ele matame. Tinham cães de quem eram inseparáveis e a quem podiam dizer todas as coisas que não 36 podiam dizer a mais ninguém. Parti o cachimbo do Papá e enterrei-o debaixo de uma árvore. Tinham as suas próprias regras. Nunca durmas com a almofada virada para o norte (a Hoshiko tinha adormecido com a almofada virada para o norte e, a meio da noite, parou de respirar e morreu). Tinham os seus próprios rituais. Deves sempre atirar sal para onde esteve um vagabundo. Tinham as suas próprias crenças. Se vires uma aranha pela manhãzinha, vais ter sorte. Se te deitares depois de comeres, transformas-te numa vaca. Se usares um balde na cabeça, paras de crescer. Uma única flor significa morte. CONTÁVAMOS-LHES histórias sobre pardais de língua cortada e de grous agradecidos e de pombas bebés que nunca se esqueciam de deixar os seus pais pousarem nos ramos mais altos. Tentámos ensinar-lhes boas maneiras. Nunca apontes com os teus pauzinhos. Nunca chupes os teus pauzinhos. Nunca tires o último pedaço de comida de um prato. Elogiávamo-las quando eram bondosas para as outras pessoas, mas dizíamos-lhes que não esperassem ser recompensadas pelas suas boas acções. Repreendíamo-las quando tentavam ripostar. Ensinámo-los a nunca aceitarem esmola. Ensinámo-las a não se gabarem. Ensinámos-lhes tudo o que sabíamos. Uma fortuna começa com um tostão. É melhor que nos façam mal do que fazer o mal. Tens de devolver o que quer que seja que recebas. Não sejas barulhento como os americanos. Afasta-te dos chineses. Não gostam de nós. Presta atenção aos coreanos. Odeiam-nos. Tem cuidado quando estiveres com filipinos. São piores do que os coreanos. Nunca cases com alguém de Okinawa. Não são verdadeiros japoneses. NO CAMPO, sobretudo, perdíamo-las cedo com frequência. Por causa da difteria e do sarampo. Da amigdalite. Da tosse convulsa. De infecções misteriosas que gangrenavam durante a noite. Uma delas foi mordida por uma aranha preta venenosa no alpendre e caiu doente com febre. Uma levou um pontapé na barriga da nossa mula cinzenta preferida. Uma desapareceu enquanto estávamos a escolher os pêssegos no barracão de embalagem e, ainda que tivéssemos procurado por baixo de cada pedra e árvore por ela, nunca a encontrámos e depois disso nunca mais fomos as mesmas. Perdi a vontade de viver. Uma caiu do camião quando estávamos a levar o ruibarbo ao mercado e entrou num coma do qual nunca acordou. Uma foi raptada por um apanhador de pêras de um pomar vizinho, cujas tentativas de aproximação tínhamos repelido uma e outra vez. Devia simplesmente ter-lhe dito que sim. Uma ficou gravemente queimada quando o alambique de contrabando explodiu nas traseiras do celeiro e só viveu mais um dia. A última coisa que me disse foi «Mamã, não te esqueças de olhar para cima, para o céu». Muitas afogaram-se. Uma no rio Calaveras. Uma no Nacimiento. Uma numa vala de irrigação. Uma numa tina de lavar a roupa que sabíamos que não devíamos ter deixado lá fora durante a noite. E todos os anos, em Agosto, na Festa dos Mortos, acendíamos lanternas brancas de papel nas suas lápides e acolhíamos os seus espíritos de volta à terra por um dia. E, no final desse dia, quando estava na 37 hora de elas partirem, colocávamos as lanternas de papel a flutuar no rio de modo a guiarem-nas de volta a casa em segurança. Pois agora eram Budas, que moravam na Terra da Bem-Aventurança. UMAS POUCAS DE NÓS não as podiam ter e este era o pior destino de todos. Porque sem um herdeiro para dar continuidade ao nome da família os espíritos dos nossos antepassados deixariam de existir. Sinto que vim até tão longe para nada. Às vezes tentávamos ir ao curandeiro, que nos dizia que o nosso útero tinha a forma errada e que não se podia fazer nada. «O seu destino foi traçado pelos deuses», dizia-nos e de seguida mostrava-nos a saída. Ou consultávamos o acupunctor, o Dr. Ishida, que, depois de nos dar uma olhadela, dizia «Demasiado yang» e nos dava ervas para nutrir o nosso yin e sangue. E ainda assim três meses depois dávamos por nós a ter mais um aborto. Às vezes éramos enviadas de volta para o Japão pelo nosso marido, onde os boatos nos acompanhariam para o resto dos nossos dias. «Divorciada», sussurravam os vizinhos. E «Ouvi dizer que é seca como uma parra». Às vezes tentávamos rapar o cabelo e oferecê-lo à deusa de fertilidade na esperança de que ela nos faria conceber, mas, mesmo assim, continuávamos a sangrar todos os meses. E ainda que o nosso marido nos tivesse dito que tanto lhe fazia ser pai ou não, - tudo o que ele queria, tinha-nos dito, era envelhecer ao nosso lado – não conseguíamos deixar de pensar nas crianças que nunca tivemos. Consigo ouvi-las a brincar por baixo da janela nas árvores todas as noites. NA J-TOWN, viviam connosco às oito e nove por quarto nas traseiras das nossas barbearias e balneários e em apartamentos minúsculos que eram tão escuros que tínhamos de deixar as luzes acesas todo o dia. Cortavam-nos as cenouras nos nossos restaurantes. Empilhavam-nos as maçãs nas nossas bancas de fruta. Subiam para as bicicletas e entregavam sacos de compras às portas dos fundos dos nossos clientes. Separavam as roupas de cor das brancas na cave das nossas lavandarias e rapidamente aprendiam a diferença entre uma nódoa de vinho tinto e de sangue. Varriam o chão das nossas pensões. Mudavam as toalhas. Tiravam os lençóis. Faziam as camas. Abriam as portas de coisas que nunca deveriam ser vistas. Pensava que estava a rezar, mas estava morto. Todas as noites levavam a ceia à viúva idosa de Nagasaki do 4A, a Sr.ª Kawamura, que trabalhava como arrumadora de quartos no Hotel Drexel e não tinha filhos. O meu marido era um jogador que me deixou com apenas quarenta e cinco cêntimos. Brincavam no hall com o solteirão, o Sr. Morita, que começou como um engomadeiro na Lavandaria Empress Hand e que ainda hoje lá trabalha como engomadeiro. Passava tudo tão depressa. Seguiam os pais de quintal em quintal enquanto estes faziam as rondas de jardinagem e aprendiam como aparar a sebe e a cortar a relva. Esperavam por nós em bancos de ripas de madeira no parque enquanto acabávamos de limpar as casas do outro lado da rua. Não fales com 38 estranhos, dizíamos-lhes. Estuda muito. Sê paciente. O que quer que faças, não acabes como eu. NA ESCOLA sentavam-se com os mexicanos ao fundo da sala de aulas nas suas roupas feitas em casa e falavam com vozes tímidas, vacilantes. Nunca levantavam a mão. Nunca sorriam. No recreio amontoavam-se todas juntas num canto da escola e sussurravam umas com as outras na sua língua secreta, vergonhosa. Na cantina eram sempre as últimas da fila para almoçar. Algumas delas – os nossos primogénitos – mal sabiam inglês e sempre que as mandavam falar as pernas tremiam-lhes. Uma delas, quando a professora lhe perguntou o nome, respondeu «Seis» e os risos ecoaram-lhe nos ouvidos durante dias. Outro disse que o seu nome era «Mesa» e foi assim que o chamaram para o resto da vida. Muitas imploraram-nos para não as mandarmos para a escola outra vez, mas, passadas semanas, ao que parecia, já sabiam dizer os nomes de todos os animais em inglês e ler em voz alta todas as placas que viam quando íamos às compras à baixa – a rua dos postes altos de madeira, disseram-nos, chamava-se Rua State e a rua dos barbeiros antipáticos era a Grove e a ponte da qual o Sr. Itami se atirara depois do colapso dos mercados era a Ponte Last Chance – e onde quer que fossem conseguiam dizer o que queriam. Um malte de chocolate, por favor. UMA POR UMA, todas as palavras que lhes tínhamos ensinado começaram a desaparecer das suas mentes. Esqueceram-se dos nomes das flores em japonês. Esqueceram-se dos nomes das cores. Esqueceram-se do nome do Deus da raposa e do Deus da trovoada e do Deus da pobreza, de quem nunca podíamos escapar. Não importa durante quanto tempo vivamos neste país, nunca nos vão deixar comprar terra. Esqueceram-se do nome da Deusa da água, Mizu Gami, que protege os nossos rios e riachos e insiste que se mantenham os poços limpos. Esqueceram-se das palavras para luz da neve e sino de grilo e fuga a meio da noite. Esqueceram-se do que dizer no altar aos nossos antepassados mortos, que nos guardavam noite e dia. Esqueceram-se de como contar. Esqueceram-se de como rezar. Passavam os dias a viver na nova língua, cujas vinte e seis letras ainda nos escapavam embora já estivéssemos na América há anos. Tudo o que aprendi foi a letra x para assinar o meu nome no banco. Pronunciavam os r’s e l’s com facilidade. E mesmo quando os mandávamos à igreja budista aos sábados para estudarem japonês, não aprendiam nada. A única razão por que os meus filhos vão é para escaparem do trabalho na loja. Mas sempre que os ouvíamos a falar alto no sono, as palavras que saíam das suas bocas saíam – e disso tínhamos a certeza – em japonês. DAVAM A SI PRÓPRIAS nomes novos que não escolhêramos para elas e mal conseguíamos pronunciar. Uma chamava-se a si própria Doris. Uma chamava-se a si própria Peggy. Muitos chamavam-se George. Todos tratavam o Sabuko por Chinky, porque ele parecia mesmo um 39 chinoca. Tratavam o Toshitachi por Harlem, porque tinha a pele muito escura. O professor da Etsuko, o Sr. Slater, deu-lhe o nome de Esther no primeiro dia de aulas. «É o nome da mãe dele», explicou-nos. Ao que respondemos «Também o teu». A Sumire chamava-se a si própria Violet. A Shizuko era Sugar. O Makoto era simplesmente Mac. O Shinegaru Takagi entrou para a Igreja Baptista com nove anos e mudou o seu nome para Paul. O Edison Kobayashi nasceu preguiçoso, mas com uma memória fotográfica e conseguia dizer o nome de cada pessoa que tinha conhecido um dia. A Grace Sugita não gostava de gelados. Muito frio. A Kitty Matsutaro não esperava nada e não recebia nada em troca. O Pequeno Honda com o seu metro e noventa e cinco era o japonês mais alto que já tínhamos visto. O Mop Yamasaki tinha cabelos compridos e gostava de se vestir como uma menina. O Hayashi Canhoto era a estrela dos lançadores da Escola Secundária Emerson Junior. O Sam Nishimura tinha sido mandado para Tóquio para receber uma educação japonesa adequada e tinha acabado de regressar à América passados seis anos e meio. Fizeram-no começar outra vez desde o primeiro ano. A Daisy Takada tinha uma postura perfeita e gostava de fazer as coisas em séries de quatro. O pai da Mabel Ota tinha ido à bancarrota três vezes. A família do Lester Nakano tinha comprado todas as suas roupas no Goodwill. A mãe do Tommy Takayama era – toda a gente sabia – uma rameira. Tem seis crianças de cinco pais diferentes. E duas delas são gémeas. NÃO TARDAVA MUITO E mal as reconhecíamos. Eram mais altas do que nós e mais pesadas. Eram barulhentas para lá do imaginável. Sinto-me como uma pata que chocou ovos de gansa. Preferiam a sua companhia à nossa e fingiam não perceber uma palavra do que dizíamos. As nossas filhas davam passos grandes e compridos, à maneira americana, e caminhavam com uma pressa pouco digna. Usavam as roupas demasiado largas. Abanavam as ancas como éguas. Tagarelavam como papagaios quando chegavam da escola e diziam o que quer que lhes viesse à cabeça. O Sr. Dempsey tem uma orelha dobrada. As nossas crianças cresciam e tornavam-se enormes. Insistiam em comer bacon e ovos ao pequeno-almoço todas as manhãs em vez da sopa de pasta de feijão. Recusavam-se a usar pauzinhos. Bebiam litros e litros de leite. Enchiam o arroz de ketchup. Falavam inglês perfeito tal como na rádio e sempre que nos apanhavam na cozinha a fazer uma vénia ao Deus da cozinha e a bater palmas, reviravam os olhos e diziam, «Por favor, Mamã». ACIMA DE TUDO, tinham vergonha de nós. Dos nossos chapéus de palha largos e das nossas roupas gastas. Dos nossos sotaques carregados. Como estal você, beim? Das nossas mãos gretadas e com calos. Dos nossos rostos enrugados e escurecidos por anos a apanhar pêssegos e a marcar com estacas as videiras ao sol. Suspiravam por pais de verdade com pastas que saíam para trabalhar de fato e gravata e só cortavam a relva aos domingos. Queriam mães diferentes e melhores, que não parecessem tão gastas. Será que não podes pôr um bocadinho de batom? 40 Receavam os dias de chuva no campo quando os íamos buscar à escola nos nossos camiões da quinta desgastados e velhos. Nunca convidavam amigos para as nossas casas a abarrotar de gente na J-Town. Vivemos que nem mendigos. Não queriam ser vistos connosco no templo no dia de aniversário do Imperador. Não celebravam a Libertação dos Insectos anual connosco no final do Verão no parque. Recusavam dar-nos as mãos e dançar connosco no Festival do Equinócio de Outono. Riam-se de nós sempre que insistíamos que nos fizessem uma vénia logo de manhãzinha e, a cada dia que passava, escapavam-nos cada vez mais. ALGUMAS DELAS adquiriam um vocabulário excepcionalmente bom e tornaram-se nas melhores alunas da turma. Ganharam prémios pelo melhor ensaio sobre as flores silvestres da Califórnia. Tinham as melhores notas a ciências. Tinham mais estrelinhas douradas na ficha da professora do que qualquer outro aluno. Outras ficavam para trás todos os anos na altura das colheitas e tinham de repetir o mesmo ano duas vezes. Uma engravidou aos catorze anos e foi enviada para o Japão ocidental, para viver com os avós numa quinta remota de sericicultura. Todas as semanas me escreve a perguntar quando pode voltar para casa. Uma tirou a sua própria vida. Várias desistiram da escola. Algumas iam por maus caminhos. Formavam os seus próprios gangues. Inventavam as suas próprias regras. Nada de facas. Nada de raparigas. Proibidos chineses. Andavam pela noite dentro à procura de pessoas com quem lutar. Vamos limpar o sebo a uns filipinos. E quando eram demasiado preguiçosas para deixar a vizinhança, ficavam em casa e lutavam entre si. Seu japonês filho da mãe! Outras mantinham as cabeças baixas e tentavam passar despercebidas. Não iam a festas (não eram convidadas para festas). Não sabiam tocar nenhum instrumento (não tinham nenhum instrumento para tocar). Nunca recebiam postais no dia dos namorados (nunca enviavam postais no dia dos namorados). Não gostavam de dançar (não tinham os sapatos adequados). Pairavam tal e qual fantasmas, de hall em hall, com os olhos postos no vazio e os livros contra o peito, como que perdidas num sonho. Se alguém lhes chamasse um nome pelas costas, não ouviam. Se alguém lhes chamasse um nome directamente na cara, não faziam mais do que acenar e seguiam caminho. Se na aula de matemática lhes dessem os livros mais velhos para usarem, encolhiam os ombros e seguiam o seu caminho. Nunca gostei muito de Álgebra, de qualquer maneira. Se as suas fotografias aparecessem no final do livro de curso, fingiam não se importarem. «As coisas são mesmo assim», diziam a si próprios. E, «E depois?» E «Quero lá saber!» Porque sabiam que fizessem o que fizessem, nunca haviam de ser um deles de verdade. Somos apenas um bando de Budaólicos. APRENDERAM que mães é que as deixavam ir brincar lá para casa (a Sr.ª Henke, a Sr.ª Woodruff, a Sr.ª Alfred Chandler III) e quais não deixavam (todas as outras). Aprenderam que barbeiros lhes cortariam o cabelo (os barbeiros dos pretos) e que barbeiros deviam evitar (os 41 barbeiros intratáveis ao sul de Grove). Aprenderam que havia certas coisas que nunca teriam: narizes maiores, tezes mais claras, pernas mais altas, que se viam ao longe. Todas as manhãs faço os meus alongamentos, mas não parece ajudar. Aprenderam quando podiam ir nadar à associação YMCA – Os dias de cor são às segundas – e quando podiam ir à sessão de cinema no teatro Pantages, na baixa (nunca). Aprenderam que deviam sempre ligar para o restaurante antes. Servem japoneses? Aprenderam a não sair sozinhos durante o dia e o que fazer se se encontrassem encurralados num beco depois de anoitecer. Diz apenas que sabes judo. E se isso não funcionasse, aprenderam a defender-se com os punhos. Respeitam-te quando és forte. Aprenderam a arranjar protectores. Aprenderam a esconder a raiva. Não, claro que não. Não faz mal. Está bem. Força. Aprenderam a nunca mostrar medo. Aprenderam que algumas pessoas nascem com mais sorte do que outras e que as coisas neste mundo nem sempre correm como se planeia. AINDA ASSIM, SONHAVAM. Uma jurava que um dia se casaria com um pregador para não ter de apanhar bagas aos domingos. Um queria poupar dinheiro suficiente para um dia comprar a sua própria quinta. Um queria tornar-se num plantador de tomate como o seu pai. Uma queria ser tudo, menos. Um queria plantar uma vinha. Um queria começar a sua própria marca. Vou chamar-lhe Orquídeas Fukuda. Uma mal podia esperar o dia em que sairia do rancho. Uma queria ir para a faculdade ainda que não conhecesse ninguém que tivesse saído da vila. Sei que é loucura, mas… Uma adorava morar no campo e nunca quis partir. É melhor aqui. Ninguém sabe quem nós somos. Uma queria algo mais, mas não sabia bem o quê. Isto não chega. Um queria um conjunto de bateria Swing King com pratos de alta-fidelidade. Uma queria um pónei pintalgado. Um queria o seu negócio de entrega de jornais. Uma queria o seu próprio quarto, com uma fechadura na porta. Quem quisesse entrar, teria de bater primeiro. Uma queria ser uma artista e viver numas águas-furtadas em Paris. Uma queria ir para a escola de refrigeração. Podes tirar por correspondência. Uma queria construir pontes. Uma queria aprender a tocar piano. Uma queria gerir a sua própria banca de fruta na beira da estrada em vez de trabalhar para alguém. Uma queria aprender taquigrafia na Academia Secretarial de Merritt e arranjar um emprego interno num escritório. Teria então conseguido. Um queria tornar-se no próximo Grande Togo no circuito internacional de luta livre. Uma queria tornar-se senadora estadual. Uma queria cortar cabelos e abrir o seu próprio salão de beleza. Um tinha poliomielite e só queria poder respirar sem o pulmão de ferro. Uma queria ser modista. Uma queria ser professora. Um queria ser médico. Um queria ser a irmã dele. Um queria ser um bandido. Uma queria ser uma estrela. E mesmo que víssemos a escuridão a aproximar-se, não dizíamos nada e deixávamo-las continuar a sonhar. 42 Traidores Os boatos chegaram até nós no segundo dia da guerra. FALAVA-SE de uma lista. De que levavam algumas pessoas para longe a meio da noite. Um banqueiro que saiu para trabalhar e nunca regressou a casa. Um barbeiro que desapareceu durante a hora de almoço. Um punhado de pescadores que tinha desaparecido. Aqui e ali, uma pensão assaltada. Um negócio confiscado. Um jornal fechado. Mas tudo isto acontecia num outro lugar. Em vales distantes e cidades longínquas. Na cidade grande, onde todas as mulheres usavam saltos e batom e dançavam pela noite dentro. «Não é nada connosco», dizíamos. Éramos mulheres simples, levávamos vidas pacatas e reservadas. Os nossos maridos ficariam a salvo. FICÁMOS EM CASA durante vários dias, com as persianas fechadas, a ouvir as notícias sobre a guerra na rádio. Tirámos os nomes das caixas de correio. Trouxemos os sapatos da varanda da frente para dentro. Não mandámos as crianças para a escola. À noite, fechávamo-nos a sete chaves e falávamos entre nós em sussurros. Fechávamos bem as janelas. Os nossos maridos bebiam mais do que costumavam e iam para a cama aos tropeções cedo. Os nossos cães adormeciam aos nossos pés. Nenhum homem batia à nossa porta. COMEÇÁMOS A EMERGIR cautelosamente das nossas casas. Estávamos em Dezembro, as nossas filhas mais velhas tinham já partido para trabalharem como empregadas em cidades distantes e os dias eram tranquilos e sossegados. Anoitecia cedo. No campo levantávamo-nos todos os dias antes de nascer o dia e íamos para a vinha podar as videiras. Tirávamos cenouras da terra fria e húmida. Cortávamos aipo. Fazíamos molhos de brócolos. Abríamos regos profundos no solo para apanhar a chuva quando esta caísse. Pairavam falcões pelas filas de amendoeiras nos pomares e, ao cair da noite, ouvíamos os coiotes a gritar uns aos outros nas colinas. Na J-Town, juntávamo-nos todas as noites nas cozinhas uns dos outros e contávamos as novidades. Talvez tivesse havido um ataque-surpresa no condado ao lado. Uma cidade tomada depois de anoitecer. Dúzias de casas revistadas. Fios de telefone cortados. Secretárias reviradas. Documentos confiscados. Mais alguns homens riscados da lista. «Vai buscar a escova de dentes», diziam-lhes e assim era, nunca mais se voltava a ouvir falar deles. ALGUNS DIZIAM que os homens tinham sido levados em comboios e mandados para longe, para lá das montanhas, para a região mais fria do país. Alguns diziam que eram colaboradores do inimigo e seriam deportados dentro de dias. Alguns diziam que tinham sido mortos. Muitas de nós rejeitávamos os boatos como boatos que eram, mas dávamos por nós, ainda assim, a 43 espalhá-los – descontrolada e irreflectidamente, aparentemente contra a nossa vontade. Outras de nós recusavam falar acerca dos homens desaparecidos durante o dia, mas à noite eles chegavam-nos nos nossos sonhos. Algumas de nós sonhavam que eram elas próprias os homens desaparecidos. Uma de nós – a Chizuko, que geria a cozinha do Rancho Kearney e gostava de estar sempre preparada – fez uma pequena mala para o marido e deixou-a ao lado da porta de entrada. Nela estava uma escova de dentes, um kit de barbear, uma barra de sabão, um chocolate – o preferido dele – e uma muda de roupa lavada. Estas eram as coisas que ela sabia que ele teria de levar consigo se o seu nome aparecesse a seguir na lista. No entanto, havia sempre o receio, vago mas insistente, de ter deixado alguma coisa de fora, algum objecto corriqueiro mas essencial que, numa data incerta, num tribunal incerto futuro, serviria como prova da inocência do seu marido. Mas qual poderia ser, perguntava-se ela, esse objecto corriqueiro? Uma Bíblia? Uns óculos de leitura? Um outro tipo de sabão? Alguma coisa mais perfumada, talvez? Alguma coisa mais viril? Ouvi dizer que prenderam um padre Shinto no vale por ter uma flauta de bambu de brincar. O QUE É QUE SABÍAMOS, afinal, sobre a lista? A lista tinha sido redigida, atabalhoadamente, na manhã do ataque. A lista tinha sido redigida há mais de um ano atrás. A lista existia já há quase dez anos. A lista dividia-se em três categorias: «perigoso» (Categoria A), «potencialmente perigoso» (Categoria B) e «inclinações pró-Eixo» (Categoria C). Era quase impossível que o nosso nome fosse parar à lista. Era facílimo que o nosso nome fosse parar à lista. Só as pessoas que pertenciam à nossa raça é que tinham o nome na lista. Havia alemães e italianos na lista, mas o nome deles aparecia perto do fim. A lista tinha sido escrita em tinta vermelha indelével. A lista tinha sido dactilografada em cartões de índice. A lista não existia. A lista existia, mas só na mente do director dos serviços secretos militares, que era conhecido pela sua memória admirável. A lista era uma invenção das nossas imaginações. A lista tinha mais de quinhentos nomes. A lista tinha mais de cinco mil nomes. A lista era interminável. Sempre que se fazia uma detenção, riscava-se um nome da lista. Sempre que se riscava um nome da lista, um outro era acrescentado. Adicionavam-se novos nomes à lista diariamente. Semanalmente. De hora a hora. UMAS QUANTAS DE NÓS começaram a receber cartas anónimas no correio, a informar-nos que os nossos maridos seriam os próximos. Pensaria em mudar de cidade, se fosse a ti. Outras alegavam que os maridos tinham sido ameaçados por trabalhadores filipinos enfurecidos nos campos. Viraram-se a ele com as suas facas de cortar vegetais. A Hitomi, que tinha trabalhado como governanta na herdade Prince por mais de dez anos, foi assaltada à mão armada em plena luz do dia quando voltava para a cidade. A Mitsuko saiu uma noite antes da ceia para juntar os ovos das galinhas e viu a sua roupa a arder na corda. E sabíamos que isto era apenas o princípio. 44 DA NOITE PARA O DIA os nossos vizinhos começaram a olhar para nós de maneira diferente. Podia ser a rapariguinha ao fundo da rua que já não nos acenava da janela da sua quinta. Ou os clientes de longa data que desapareciam de repente dos nossos restaurantes e lojas. Ou a nossa patroa, a Sr.ª Trimble, que nos chamava de parte uma manhã, enquanto passávamos a pano a sua cozinha e nos sussurrava ao ouvido «Sabe que a guerra vem aí?» As senhoras de bem começaram a boicotar as nossas bancas de fruta, porque tinham medo que os nossos produtos estivessem contaminados com arsénio. As companhias de seguro cancelaram os nossos seguros. Os bancos congelaram as nossas contas. Os leiteiros deixaram de entregar o leite à nossa porta. «Ordens da companhia», explicou um leiteiro choroso. As crianças lançavam-nos um olhar e fugiam como veados assustados. Velhinhas agarravam as carteiras e congelavam no passeio quando avistavam os nossos maridos e gritavam «Eles estão aqui!». E ainda que os nossos maridos nos tivessem avisado, – Têm medo – ainda assim, não estávamos preparadas. Para de repente descobrirmos que éramos o inimigo. ERA TUDO, claro, por causa das histórias dos jornais. Dizia-se que milhares dos nossos homens tinham entrado em acção, com a precisão de um relógio suíço, no momento em que o ataque à ilha tinha começado. Dizia-se que tínhamos inundado as ruas com os nossos camiões obsoletos e carriolas. Dizia-se que tínhamos lançado do nosso campo foguetes luminosos aos aviões do inimigo. Dizia-se que, na semana anterior ao ataque, várias das crianças se tinham gabado aos colegas de turma de que «alguma coisa em grande» estava para acontecer. Dizia-se que essas mesmas crianças, quando interrogadas pelos professores, relataram que os pais festejavam já as notícias do ataque há dias. Gritavam banzai. Dizia-se que, na eventualidade de um segundo ataque aqui no continente, seria mais do que provável que, alguém cujo nome constava da lista, se erguesse para auxiliar o inimigo. Dizia-se que os nossos agricultores eram soldados rasos de um vastíssimo exército secreto. Têm milhares de armas nas suas caves para os vegetais. Dizia-se que os nossos empregados domésticos eram agentes dos serviços secretos disfarçados. Dizia-se que os nossos jardineiros andavam todos a esconder transmissores de ondas de rádio nas mangueiras de jardim e que, quando soasse a meia-noite, hora do Pacífico, nos levantaríamos de imediato. Barragens rebentadas. Campos de petróleo queimados. Pontes bombardeadas. Estradas detonadas. Túneis bloqueados. Reservatórios envenenados. E o que nos poderia impedir de entrar num mercado com um cartucho de dinamite à volta da cintura? Nada. TODOS OS DIAS, ao cair da noite, começámos a queimar as nossas coisas: extractos bancários antigos e agendas, altares budistas de família, pauzinhos de madeira, lanternas de papel, fotografias dos nossos parentes de cara sisuda lá na aldeia nas suas roupas de campo estranhas. Vi a cara do meu irmão transformar-se em cinzas e flutuar até aos céus. Lá fora, nos pomares, 45 nos regos por entre as árvores, pegámos fogo aos nossos quimonos brancos de seda do nosso casamento. Regámos as nossas bonecas cerimoniais com gasolina dentro de latas do lixo de metal nos becos das traseiras da J-Town. Livrámo-nos de tudo o que pudesse sugerir que os nossos maridos tinham laços com o inimigo. Cartas das nossas irmãs. O filho do vizinho do leste fugiu com a filha do fabricante de chapéus-de-chuva. Cartas dos nossos pais. Os comboios são eléctricos agora e sempre que passas por um túnel não ficas com a cara cheia de fuligem! Cartas das nossas mães, que elas nos escreveram no dia em que saímos de casa. Ainda vejo as tuas pegadas na lama perto do rio. E perguntávamo-nos por que é que insistimos durante tanto tempo em nos mantermos fiéis aos nossos hábitos estranhos e estrangeiros. Fizemos com que nos odiassem. AS NOITES TORNAVAM-SE MAIORES e mais frias e todos os dias ficávamos a saber de mais uns quantos homens que tinham sido levados. Um distribuidor de mercadoria do sul. Um instrutor de judo. Um importador de seda. Um despachante na cidade que regressava ao escritório depois de um almoço tardio. Apreendido na passadeira enquanto esperava que o sinal ficasse verde. Um produtor de cebola no rio Delta que era suspeito de conspirar para fazer explodir o dique. Encontraram uma caixa de pólvora no celeiro. Um agente de viagens. Um professor de línguas. Um produtor de alface na costa que foi acusado de usar uma lanterna para enviar sinais para os navios inimigos além-mar. O MARIDO DA CHIYOMI começou a deitar-se vestido, no caso de essa noite ser a noite. Porque a coisa mais embaraçosa, dissera-lhe ele, era ser levado de pijama (o marido da Eiko tinha sido levado de pijama). O marido da Asako começou a ficar obcecado pelos seus sapatos. Engraxa-os todas as noites para ficarem brilhantes ao máximo e alinha-os ao fundo da cama. O marido da Yuriko, um vendedor ambulante de fertilizante que lhe fora tudo menos fiel ao longo dos anos, agora só conseguia adormecer com ela ao seu lado. «É um bocadinho tarde», disse ela, «mas o que posso fazer? Quando nos casamos, é para a vida.». O marido da Hatsumi orava em sussurros ao Buda todas as noites antes de ir para a cama. Havia noites em que chegava a rezar a Jesus, porque e se fosse ele o verdadeiro Deus? O marido da Masumi sofria de pesadelos. Estava escuro e todas as ruas tinham desaparecido. O nível do mar estava a subir. Os céus estavam a desabar. Estava preso numa ilha. Estava perdido no deserto. Tinha colocado a carteira no sítio errado e estava atrasado para apanhar o comboio. Via a mulher no meio de uma multidão e chamava-a, mas ela não se virava. Tudo o que aquele homem me deu na vida foi dor. AS PRIMEIRAS CHUVADAS derrubaram as últimas folhas das árvores e os dias rapidamente perderam o seu calor. As sombras alongaram-se lentamente. As nossas crianças mais novas iam para a escola todos as manhãs e voltavam para casa com histórias. Uma miúda engoliu uma 46 caneta no intervalo e quase morreu. O Sr. Barnett estava a tentar deixar crescer o bigode outra vez. A Sr.ª Trachtenberg estava de mau humor. Está naquela altura do mês. Passávamos dias e dias nos pomares com os nossos filhos mais velhos e maridos, a aparar os galhos, a podar os ramos, a retirar as partes mortas que não dariam frutos no Verão ou no Outono. Nos subúrbios cozinhávamos e limpávamos para as famílias para quem cozinhávamos e limpávamos há anos. Fazíamos o que sempre tínhamos feito, mas nada parecia o mesmo. «Qualquer barulhinho me assusta agora», dizia a Onatsu. «Se batem à porta. Se o telefone toca. Se um cão ladra. Estou sempre a ouvir passos.» E sempre que um carro desconhecido passava pela vizinhança, o seu coração começava a bater, pois tinha a certeza de que a hora do seu marido tinha chegado. Às vezes, nos seus momentos mais confusos, imaginava que isso já tinha acontecido, que o seu marido já não estava e, tinha de admitir, quase se sentia aliviada, já que a espera era o mais difícil. DURANTE TRÊS DIAS SEGUIDOS soprou sem parar um vento frio das montanhas. Nuvens de pó levantaram-se dos campos e os galhos das árvores zurziam num céu cinzento e vazio. As lápides tombavam nos nossos cemitérios. As portas dos celeiros abriam-se. Os telhados de chapa chocalhavam. Os nossos cães preferidos fugiam. Um tintureiro chinês foi encontrado inconsciente e a sangrar no cais e deixado para trás como morto. Confundiram-no com um de nós. Incendiaram um celeiro num vale remoto do interior e o fedor pairou dias a fio. À NOITE sentávamo-nos nas nossas cozinhas com os nossos maridos enquanto eles liam atentamente os jornais do dia, escrutinando cada linha, cada palavra, em busca de pistas para o nosso futuro. Falávamos sobre os últimos boatos. Ouvi dizer que nos põem em campos de trabalho para cultivarmos comida para as tropas. Ligávamos a rádio e ouvíamos o noticiário sobre a frente de guerra. As notícias, claro, não eram boas. O inimigo tinha afundado mais seis dos nossos couraçados inafundáveis. Os aviões do inimigo tinham sido avistados a fazer voos de treino nos nossos céus. Os submarinos do inimigo estavam a aproximar-se cada vez mais da nossa costa. O inimigo planeava um ataque combinado na costa a partir do interior e do exterior e era pedido a todos os cidadãos que estivessem alerta e com olhar atento para informarem as autoridades de qualquer quinta coluna que se encontrasse entre nós. Porque qualquer um, relembravam-nos, podia ser um espião. O mordomo, o jardineiro, o florista, a empregada. ÀS TRÊS DA MANHÃ um dos nossos maiores produtores de frutos silvestres foi arrastado para fora da cama e escoltado até à porta da frente. Foi o primeiro dos homens que conhecíamos a ser levado. Vão só atrás dos agricultores mais ricos, diziam as pessoas. Na noite seguinte um trabalhador braçal do Rancho Spiegl foi apanhado no seu fato-macaco enlameado enquanto passeava o seu cão perto do reservatório e interrogado durante três dias e três noites numa sala 47 bem iluminada sem janelas, até que lhe dizerem que podia voltar para casa. Mas quando a mulher foi até à esquadra de carro para o ir buscar, ele não fazia ideia de quem ela era. Pensava que eu era uma impostora que estava a tentar fazê-lo falar. No dia seguinte três mulheres que conhecíamos de uma cidade vizinha vieram dizer que também os seus maridos tinham estado na lista. «Meteram-no num carro», disse uma, «e desapareceu.» Dois dias depois, um dos nossos concorrentes – o outro rancho do vale para além do nosso cujas uvas tinham metade da doçura das nossas – foi algemado a uma cadeira na cozinha durante quatro horas enquanto três homens revistavam a sua casa e depois o libertaram. A sua mulher, contavam as pessoas, ainda serviu café e tarte aos três homens. E quisemos saber: Que tipo de tarte? De morango? De ruibarbo? Merengue de limão? E como é que os homens tomaram o café? Com açúcar ou sem? EM ALGUMAS NOITES os nossos maridos ficavam acordados durante horas, passando o seu passado a pente fino, uma e outra vez, à procura de uma prova de que também os seus nomes poderiam estar na lista. Havia, de certeza, alguma coisa que tinham dito, ou feito, de certeza algum erro que tinham cometido, de certeza alguma coisa da qual eram culpados, algum crime obscuro, talvez, do qual não tinham consciência. Mas qual, perguntavam-nos, é que podia ser esse crime? Será que tinha sido o brinde que tinham feito à nossa terra natal no piquenique anual do ano passado? Ou algum comentário que tinham feito acerca do discurso mais recente do Presidente? Chamou-nos bandidos. Ou será que tinham feito um donativo para a instituição de caridade errada – uma instituição, cujos laços secretos com o inimigo desconheciam? Será que era isso? Ou será que havia alguém – alguém, sem dúvida, com rancor – que tinha apresentado uma falsa acusação contra eles junto das autoridades? Um dos nossos clientes na Lavandaria Capitol, talvez, com quem tínhamos sido um dia desnecessariamente bruscos? (Será que era, então, tudo culpa nossa?) Ou um vizinho descontente, porque o nosso cão usou demasiadas vezes o seu canteiro? Será que deviam ter sido mais cordiais, perguntavam-nos os nossos maridos. Será que os seus campos estavam demasiado desleixados? Será que guardavam as coisas demasiado para si próprios? Ou será que a sua culpa estava escrita nitidamente na sua cara para todo o mundo ver? Será que era por causa da sua cara, na verdade, o motivo pelo qual eram culpados? Será que não agradava, de alguma forma? Pior ainda, será que era ofensiva? EM JANEIRO mandaram-nos registar junto das autoridades e entregar todos os artigos de contrabando à polícia local: armas, bombas, dinamite, câmaras, binóculos, facas com lâminas superiores a quinze centímetros, dispositivos de sinalização, tais como lanternas e foguetes luminosos, tudo o que pudesse ser usado para auxiliar o inimigo em caso de ataque. Depois surgiram as restrições de viagem – ninguém com a nossa descendência era autorizado a deslocar-se para além de cerca de dez quilómetros de casa – e o recolher obrigatório das 20 horas e, ainda que a maior parte de nós não fosse noctívaga, pela primeira vez na vida demos 48 por nós ansiosas por ir dar uma volta à meia-noite. Só uma vez, com o meu marido, pelo pomar das amendoeiras, para saber como é. Mas às duas da manhã, quando olhávamos pela janela e víamos os nossos amigos e vizinhos a assaltar os nossos celeiros, não nos atrevíamos a pôr o pé fora da porta de entrada, com medo de que, também nós, fossemos entregues à polícia. Porque tudo o que era preciso, sabíamos, era um telefonema para vermos o nosso nome na lista. E quando os nossos filhos mais velhos começaram a passar toda a noite de sábado fora de casa na baixa, não lhes perguntávamos onde é que tinham estado quando regressavam tarde na manhã seguinte, nem com quem tinham estado, ou quanto é que tinha custado, ou por que é que estavam a usar pins nos colarinhos da camisa com a frase Eu sou chinês. «Deixa que se divirtam enquanto podem», disseram-nos os nossos maridos. Então desejávamos aos nossos filhos um bom dia cortês na cozinha – Ovos ou café? – e prosseguíamos com o nosso dia. «QUANDO EU ME FOR», diziam-nos os nossos maridos. Nós dizíamos-lhes «Se». Eles diziam «Lembra-te de dar gorjeta ao homem dos gelados» e «Cumprimenta sempre os clientes pelo nome quando entram pela porta». Disseram-nos onde encontrar as certidões de nascimento das crianças e quando pedir ao Pete da oficina para mudar os pneus do camião. «Se ficares sem dinheiro, vende o tractor», diziam-nos. «Vende a estufa». «Liquida toda a mercadoria da loja». Diziam-nos para andarmos direitas – Ombros para trás – e para não deixarmos as crianças desleixarem as suas tarefas. Diziam «Mantém contacto com o Sr. Hauer da Associação de Produtores de Frutos Silvestres. É uma pessoa que dá jeito conhecer e pode ser capaz de te ajudar». Diziam, «Não acredites em nada do que ouvires a meu respeito». E «Não confies em ninguém». E «Não contes nada aos vizinhos». Diziam «Não te preocupes com os ratos no telhado. Trato disso quando voltar para casa». Diziam-nos para andarmos com os nossos cartões de identificação estrangeiros sempre que saíssemos de casa e que devíamos evitar qualquer discussão em público sobre a guerra. Se nos pedissem, no entanto, para darmos a nossa opinião, devíamos denunciar o ataque alto e bom som, num tom de voz sensato. «Não peças desculpa», diziam-nos. «Fala apenas inglês». «Reprime o impulso de fazer uma vénia.» NOS JORNAIS, e na rádio, começámos a ouvir falar sobre remoções em massa. A Câmara dos Representantes realiza audiências sobre a Migração da Defesa Nacional. O Governador insta o Presidente a evacuar todos os estrangeiros inimigos da costa. Enviem-nos de volta ao Tojo! Iria acontecer de forma gradual, ouvimos, durante um período de semanas, se não de meses. Nenhum de nós seria obrigado a partir de um dia para o outro. Seríamos enviados para longe, para um ponto que nós próprios escolheríamos, bem no interior onde não podíamos fazer mal a ninguém. Seríamos mantidos em prisão preventiva durante o período da guerra. Só aqueles de nós que moravam até cento e sessenta quilómetros da costa é que seriam deslocados. Só aqueles de nós que estavam na lista é que seriam deslocados. Só aqueles de nós que eram não-cidadãos é 49 que seriam deslocados. Seria permitido aos nossos filhos adultos ficarem para trás para supervisionarem os nossos negócios e as nossas quintas. Os nossos negócios e as nossas quintas seriam confiscados e postos em leilão. Então comecem já a liquidar. Seríamos separados das nossas crianças mais novas. Seríamos esterilizadas e deportadas o mais rapidamente possível. TENTÁVAMOS PENSAR EM COISAS BOAS. Se conseguíssemos acabar de engomar a roupa antes da meia-noite, o nome do nosso marido seria tirado da lista. Se comprássemos dez dólares de obrigações de guerra, as nossas crianças seriam poupadas. Se cantássemos a canção «The Hemp-Winding» até ao fim, sem cometer um único erro, então não haveria lista, roupa para engomar, obrigações de guerra ou guerra. No entanto, muitas vezes, no final do dia, sentíamo-nos desconfortáveis, como se houvesse alguma coisa que nos tivéssemos esquecido de fazer. Tínhamo-nos lembrado de fechar a comporta? De desligar o fogão? De dar de comer às galinhas? De dar de comer às crianças? De bater três vezes na madeira da cama? EM FEVEREIRO os dias começaram lentamente a ficar mais amenos e as primeiras papoilas floresceram alaranjadas nas colinas. Os nossos números continuaram a diminuir. O marido da Mineko tinha desaparecido. O marido da Takeko tinha desaparecido. O marido da Mitsue tinha desaparecido. Encontraram uma bala no lixo por trás de uma fogueira. O marido da Omiyo foi mandado parar na auto-estrada por estar fora de casa cinco minutos depois do recolher obrigatório. O marido da Hanayo foi preso à mesa por razões desconhecidas. «A pior coisa que algum dia fez foi apanhar uma multa de estacionamento», disse ela. E o marido da Shimako, um camionista da companhia Union Fruit, que nunca nenhuma de nós ouviu proferir uma palavra, foi apreendido no corredor dos lacticínios da mercearia local por ser um espião do alto comando inimigo. «Sempre soube», disse uma pessoa. Outra pessoa disse, «Da próxima vez podes ser tu». O MAIS DURO DE TUDO, disse-nos a Chizuko, era não saber onde ele estava. A primeira noite depois da prisão do seu marido tinha acordado em pânico, incapaz de se lembrar por que estava sozinha. Estendeu a mão e encontrou a cama vazia ao seu lado e pensou, Estou a sonhar, é um pesadelo, mas não era, era real. Mas tinha, ainda assim, saído da cama e vagueado pela casa, a chamar pelo seu marido, enquanto espreitava para dentro de armários e verificava debaixo das camas. Só no caso de. E quando viu a mala dele ainda ao lado da porta de entrada, tirou a barra de chocolate e começou a comê-la devagarinho. «Esqueceu-se», disse. A Yumiko tinha visto o marido duas vezes em sonhos e ele disse-lhe que estava bem. Era a cadela, dizia, que mais a preocupava. «Fica horas e horas deitada em cima dos chinelos dele e rosna-me sempre que eu tento sentar-me na cadeira dele.» A Fusako confessou que, sempre que ouvia alguém dizer que o marido de outra mulher tinha sido levado, se sentia secretamente aliviada. 50 «Sabes, antes a ela do que a mim.» E depois, claro, que se sentia deveras envergonhada. A Hanuko admitiu que não sentia, de todo, a falta do seu marido. «Fez-me trabalhar como um homem e engravidou-me anos a fio.» A Kyoko disse que, tanto quanto sabia, o nome do seu marido não estava na lista. «É administrador de um viveiro. Adora flores. Não há nada de subversivo nele.» A Nobuko disse, «Sim, mas nunca se sabe.» As restantes de nós sustinham a respiração e esperavam para ver o que aconteceria de seguida. SENTÍAMO-NOS AGORA MAIS PRÓXIMAS dos nossos maridos do que algum dia nos tínhamos sentido. Dávamos-lhes os melhores pedaços de carne ao jantar. Fingíamos não perceber quando faziam migalhas. Limpávamos as suas pegadas lamacentas do chão sem um único comentário. Durante a noite, não fugíamos deles na cama. E se gritavam connosco, por não termos preparado o banho como eles gostavam ou ficavam impacientes e diziam coisas desagradáveis - Vinte anos na América e tudo o que sabes dizer é «Harro»? –, ficávamos de boca calada e tentávamos não nos zangar, pois o que seria se acordássemos na manhã seguinte e eles já lá não estivessem? Como é que íamos dar de comer às crianças? Como é que íamos pagar a renda? A Satoko teve de vender a mobília toda. Quem é que ia fazer fumo a meio da noite para proteger as árvores de fruto de uma geada inesperada de primavera? Quem é que ia arranjar o engate partido do tractor? Quem é que ia misturar o fertilizante? Quem é que ia afiar o arado? Quem é que nos ia acalmar quando alguém tivesse sido malcriado connosco no mercado ou nos tivesse chamado um nome tudo menos lisonjeador na rua? Quem é que ia agarrar os nossos braços e abanar-nos quando batêssemos os pés e disséssemos chega, íamos deixá-los, íamos apanhar o próximo barco para casa? Só casaste comigo para arranjar ajuda adicional na quinta. COMEÇÁMOS CADA VEZ MAIS a desconfiar que havia informadores entre nós. O marido da Teruko, segredava-se, tinha entregado um capataz da secção de secagem de folha de macieira, com quem ela tinha tido um caso. O marido da Fumino tinha sido acusado de ser pró-eixo por um antigo sócio, que estava agora desesperado por dinheiro. (Pagavam, ouvimos dizer, aos informadores vinte e cinco dólares por cabeça.) O marido da Kuniko tinha sido denunciado como membro da Sociedade do Dragão Negro, nada mais, nada menos, do que pela própria Kuniko. Ele estava prestes a trocá-la pela amante. E o marido da Ruriko? Coreano, disseram os vizinhos. A trabalhar infiltrado. Financiado pelo governo para manter debaixo de olho os membros da igreja budista local. Vi-o a anotar matrículas no parque de estacionamento. Alguns dias depois foi encontrado espancado numa vala na beira da estrada e, na manhã seguinte, ele e a sua família não foram avistados em lado nenhum. A porta da frente da casa deles estava escancarada, os gatos tinham sido alimentados há pouco tempo, no fogão ainda havia uma panela de água a ferver. E era tudo, tinham desaparecido. No entanto, 51 chegaram até nós notícias do seu paradeiro dali a uns dias. Estão para sul, do outro lado da fronteira. Fugiram para o estado vizinho. Vivem numa casa fantástica na cidade, com um carro novo e sem meios de sustento visíveis. CHEGOU A PRIMAVERA. As amendoeiras começavam a deixar cair as últimas pétalas e as cerejeiras estavam em flor. Os raios de sol escorriam pelos ramos das laranjeiras. Os pardais arrulhavam na relva. Todos os dias desapareciam mais alguns dos nossos homens. Tentávamos manter-nos ocupadas e gratas pelas pequenas coisas. Um aceno cordial de um vizinho. Uma taça de arroz quente. Uma conta paga a tempo. Uma criança posta na cama em segurança. Acordávamos cedo todas as manhãs e vestíamos as nossas roupas de campo e lavrávamos e plantávamos e sachávamos. Arrancávamos ervas daninhas das nossas vinhas. Regávamos as nossas abóboras e ervilhas. Uma vez por semana, às sextas-feiras, prendíamos os cabelos e íamos à cidade às compras, mas não parávamos para dizer olá umas às outras quando nos encontrávamos na rua. Vão pensar que estamos a trocar segredinhos. Raramente fazíamos visitas umas às outras na J-Town depois de anoitecer por causa do recolher obrigatório. Não nos demorávamos muito depois das cerimónias nas igrejas. Agora, sempre que falo com alguém, tenho de me perguntar, «Será alguém que me vai trair?». Também tínhamos cuidado com o que dizíamos ao pé dos nossos filhos mais novos. O marido da Chicko foi entregue como um espião pelo seu filho de oito anos. Algumas de nós começaram mesmo a desconfiar dos maridos: Será que ele tem uma identidade secreta que eu desconheço? NÃO TARDOU até que começássemos a ouvir histórias de comunidades inteiras que estavam a ser levadas. Mais de noventa por cento dos nossos homens tinham sido removidos de uma pequena comunidade de produtores de alface de um vale a norte. Mais de cem dos nossos homens tinham sido removidos da zona de defesa ao lado do aeródromo. E a sul, na costa, numa pequena comunidade de pescadores de barracos negros, todas as pessoas da nossa descendência tinham sido arrebanhadas num dia e numa noite em rusgas sem aviso prévio. Os seus diários de bordo tinham sido confiscados, os seus barcos de sardinha colocados sob custódia, as redes de pesca cortadas em pedaços e atiradas ao mar. Porque os pescadores, dizia-se, não eram realmente pescadores, mas agentes secretos da marinha imperial do inimigo. Encontraram os seus uniformes embrulhados em papel de óleo no fundo das suas caixas de isco. ALGUMAS DE NÓS saíram e começaram a comprar sacos cama e malas para os nossos filhos, só para o caso de sermos os próximos. Outras de nós começavam o seu trabalho como sempre começaram e tentavam manter-se calmas. Um bocadinho mais de goma neste colarinho e fica lindamente, não acha? O que quer que tivesse de acontecer, aconteceria, dizíamos a nós mesmas, não valia de nada pôr os deuses à prova. Uma de nós deixou de falar. Uma outra de 52 nós saiu um dia de manhãzinha para dar água aos cavalos e enforcou-se no celeiro. A Fukubi estava tão ansiosa que, quando foram publicadas as ordens de evacuação, suspirou de alívio, pois finalmente a espera tinha chegado ao fim. A Teiko olhou incrédula para a notificação e abanou a cabeça calmamente. «Então e os nossos morangos?», perguntou. «Daqui a três semanas estão prontos para a apanha». A Machiko disse que não ia, tão simples quanto isso. «Acabámos de renovar o nosso contrato de arrendamento para o restaurante.» A Umeko disse que não tínhamos outra hipótese senão fazer como nos mandavam. «São as ordens do Presidente» disse ela. E quem eramos nós para questionar o Presidente? «Como é que será a terra de lá?» queria saber o marido da Takiko. Quantos dias de sol é que íamos apanhar? E quantos de chuva? A Kiko não fez mais do que dobrar as mãos e olhou para o chão, para os pés. «Acabou tudo», disse ela baixinho. Pelo menos, disse a Haruyo, vamos partir todas juntas. A Hisako disse «Sim, mas o que é que fizemos?» A Isino cobriu o rosto e chorou. «Devia ter-me divorciado há anos e levado as crianças para a minha mãe no Japão.» COMEÇARAM por nos dizer que nos iam mandar para as montanhas, e que devíamos, por isso, certificar-nos de que vestíamos roupas quentes, já que lá fazia muito frio. Então saímos para comprar roupa interior de lã e os nossos primeiros casacos de inverno. Depois ouvimos que íamos ser enviadas para o deserto, onde havia cobras pretas venenosas e mosquitos do tamanho de pássaros pequeninos. Não havia médicos lá, dizia-se, e o lugar estava pejado de ladrões. Então saímos e comprámos cadeados e frascos de vitaminas para as nossas crianças, caixas de pensos rápidos, varas de moxa, emplastros medicinais, óleo de castor, iodo, aspirinas, gaze. Ouvimos dizer que podíamos apenas levar uma mala por pessoa, pelo que cosemos pequenas mochilas de pano para os nossos filhos mais novos, cada uma com o nome bordado. Lá, enfiávamos lápis e livrinhos, escovas de dentes, camisolas, sacos de papel castanho cheios de arroz que deixámos a secar lá fora, ao sol, em bandejas de estanho. Só para o caso de nos separarmos. «É por pouco tempo», dizíamos-lhes. Dizíamos-lhes para não se preocuparem. Falávamos de todas as coisas que faríamos quando voltássemos para casa. Jantávamos todas as noites em frente à rádio. Levávamo-los ao cinema à baixa. Levávamo-los ao circo itinerante ver os gémeos siameses e a senhora com a cabeça mais pequena do mundo. Não é maior do que uma ameixa! REBENTOS DE UM VERDE DESBOTADO irrompiam nas videiras e um pouco por todo o vale os pessegueiros floresciam por baixo de um céu azul límpido. Filas de mostardeiras bravias brotavam de um amarelo vivo nas ravinas. As cotovias voavam das colinas. E, um por um, nas cidades e vilas distantes, os nossos filhos mais velhos e as nossas filhas despediam-se dos seus empregos e abandonavam as escolas e começavam a regressar a casa. Ajudavam-nos a encontrar quem ficasse com as nossas lavandarias na J-Town. Ajudavam-nos a encontrar novos locatários 53 para os nossos restaurantes. Ajudavam-nos a pôr placas nas nossas lojas. Compre agora! Poupe! Todo o stock para venda! No campo, enfiavam os macacões e ajudavam-nos a preparar-nos para as colheitas uma última vez, pois tinham-nos mandado cultivar os nossos campos até ao fim. Esta era a nossa contribuição para o esforço da guerra, disseram-nos. Uma oportunidade para provarmos a nossa lealdade. Uma maneira de fornecermos frutas e vegetais frescos às pessoas na frente interna. NEGOCIANTES EM FERRO-VELHO passavam com os seus camiões pelas ruas estreitas das nossas vizinhanças, oferecendo-nos dinheiro pelas nossas coisas. Dez dólares por um fogão novo que tínhamos comprado por duzentos no ano passado. Cinco dólares por um frigorífico. Um níquel por um candeeiro. Vizinhos com os quais nunca tínhamos trocado uma palavra aproximavam-se de nós nos campos e perguntavam-nos se havia algo de que nos queríamos desfazer. Talvez do cultivador? Daquela charrua? Daquele cavalo? Daquele arado? Daquela roseira Queen Ann no nosso quintal da frente, que admiravam há anos? Estranhos batiam-nos à porta. «Tem cães?», perguntou um homem. O filho dele, explicou-nos, queria muito um cachorrinho novo. Um outro homem disse que morava sozinho numa caravana perto do pátio de um estaleiro e ficaria feliz por levar um gato usado. «Torna-se solitário, sabe.» Às vezes vendíamos precipitadamente e pelo preço que conseguíssemos, e outras vezes oferecíamos as nossas jarras e bules preferidos e tentávamos não nos importar muito, já que as nossas mães sempre nos disseram: Não nos devemos apegar muito às coisas deste mundo. À MEDIDA QUE O DIA da nossa partida se aproximava, pagámos as nossas derradeiras contas aos nossos credores e agradecíamos aos clientes leais que se tinham mantido ao nosso lado até ao fim. À mulher do xerife Burckhardt, a Henrietta, que comprava cinco cestos de morangos todas as sextas-feiras da nossa banca de fruta e nos deixava uma gorjeta de cinquenta cêntimos. Por favor, compre qualquer coisa bonita para si. Ao viúvo reformado, Thomas Duffy, que vinha todos os dias à nossa loja de noodles ao meio dia e meio e pedia um prato de arroz frito de frango. À presidente do Clube das Senhoras Auxiliares, a Rosalind Anders, que se recusava a levar as suas roupas a uma outra lavandaria. É que os chineses, simplesmente, não fazem o trabalho bem feito. Continuámos a trabalhar os nossos campos como sempre fizemos, mas nada nos parecia verdadeiramente real. Pregámos em conjunto caixas para encaixotar colheitas que não conseguiríamos colher. Cortámos os sarmentos das videiras que não amadureceriam antes de partirmos. Revolvemos a terra e plantámos tomateiros, que só dariam tomate no final do verão, altura em que já teríamos ido embora. Agora os dias eram grandes e solarengos. As noites eram frescas. Os reservatórios estavam cheios. O preço das ervilhas de vagem estava a subir. Os espargos estavam quase a atingir um valor sem precedentes. Havia bagas verdes nos morangueiros e, nos pomares, as nectarineiras estariam em breve carregadas de fruta. Mais uma 54 semana e teríamos feito uma fortuna. E ainda que soubéssemos que em breve partiríamos, continuávamos a ter a esperança de que algo iria acontecer e não teríamos de partir. TALVEZ A IGREJA interviesse em nosso nome ou a mulher do Presidente. Ou talvez tivesse havido um terrível engano e, na verdade, fossem outras as pessoas que queriam levar. «Os alemães» sugeriu alguém. «Ou os italianos» disse outra pessoa. Outra ainda disse «E os chineses?» Outras de nós permaneceram em silêncio e prepararam-se para partir o melhor que puderam. Enviámos bilhetes às professoras das nossas crianças a pedir-lhes desculpas, no nosso inglês macarrónico, pela ausência súbita e inesperada dos nossos filhos na escola. Escrevemos instruções aos futuros locatários a explicar-lhes como tratar da chaminé pegajosa da lareira e o que fazer com a infiltração no telhado. É só usar um balde. Deixámos flores de lótus à saída dos templos ao Buda. Visitámos, uma última vez, os nossos cemitérios e despejámos água nas lápides daqueles de nós cujos espíritos já tinham passado para o outro lado. O filho mais novo de Yoshiye, o Tetsuo, que foi escorneado por um boi furioso. A filha do comerciante de chá de Yokohama, cujo nome mal lembrávamos. Morreu da influenza espanhola no quinto dia fora do barco. Percorremos as nossas vinhas uma última vez com os nossos maridos, que não conseguiam resistir a arrancar uma última erva-daninha. Guiámos ramos pendidos nos nossos pomares de amendoeiras. Procurámos lagartas nos nossos campos de alfaces e juntámos mãos cheias de terra preta recentemente remexida. Fizemos as últimas cargas de lavagem nas nossas lavandarias. Guardámos os nossos mantimentos. Varremos os nossos chãos. Fizemos as nossas malas. Reunimos as nossas crianças e, de todas as vilas em todos os vales e todas as cidades, de norte a sul da costa, partimos. AS FOLHAS das árvores continuaram a agitar-se ao vento. Os rios continuaram a correr. Os insectos continuaram a zumbir na relva, como sempre. Os corvos continuaram a crocitar. O céu não desabou. Não houve nenhum presidente a mudar de ideias. A galinha preta preferida da Mitsuko cacarejou uma vez e pôs um ovo castanho quente. Uma ameixa verde caiu demasiado cedo de uma árvore. Os nossos cães correram atrás de nós com bolas na boca, ansiosos por um último arremesso e, por uma vez na vida, tivemos de os afastar. Vai para casa. Os vizinhos espreitavam-nos das janelas. Os carros buzinavam. Os estranhos olhavam-nos fixamente. Um miúdo numa bicicleta acenava. Um gato alarmado mergulhou para debaixo de uma cama à medida que saqueadores começaram a deitar abaixo a porta da frente. Os cortinados foram rasgados. Os vidros estilhaçados. Os pratos do casamento atirados para o chão. E soubemos que seria apenas uma questão de tempo até que todos os sinais de nós tivessem desparecido. 55 O Último Dia Algumas de nós partiram a chorar. E algumas de nós partiram a cantar. Uma de nós partiu com a mão a cobrir a boca e a rir histericamente. Poucas de nós partiram bêbedas. Outras de nós partiram calmamente, com as cabeças curvadas, nervosas e envergonhadas. Houve um idoso de Gilroy que partiu numa maca. Houve um outro idoso – o marido da Natsuko, um barbeiro reformado em Florin – que partiu de muletas com um boné da legião americana enterrado na cabeça. «Ninguém ganha com a guerra. Toda a gente perde», disse ele. A maioria de nós partiu a falar somente inglês, de modo a não irritar as multidões que se juntaram para nos ver ir embora. Muitas de nós perderam tudo e partiram sem dizer o que quer que fosse. Todas nós partimos com etiquetas brancas com números de identificação agarrados aos colarinhos e lapelas. Havia um recém-nascido de San Leandro que partiu sonolento, com os olhos semicerrados, numa cesta de vime oscilante. A sua mãe – a filha mais velha da Shizuma, a Naomi – partiu impaciente, mas elegante, com uma saia de lã cinzenta e com sapatos altos pretos de jacaré. «Acha que lá há leite?», perguntava insistentemente. Havia um miúdo de calças curtas de Oxnard, que partiu a perguntar-se se teriam ou não baloiços. Algumas de nós partiram a usar as suas melhores roupas. Outras de nós partiram com as únicas roupas que tinham. Uma mulher partiu com peles de raposa. A mulher do Rei das Alfaces, murmuravam as pessoas. Um homem partiu descalço, mas com a barba acabada de fazer, com todos os seus pertences asseadamente embrulhados num quadradinho de pano branco: um terço budista, uma camisa lavada, um par de dados da sorte, um par novo de meias, para usar em tempos melhores. Um homem de Santa Barbara partiu levando consigo uma pasta de pele castanha coberta com autocolantes desbotados, onde se lia Paris e London e Hotel Metropole, Bayreuth. A sua mulher partiu três passos atrás dele, levando uma tábua de lavar de madeira e um livro de etiqueta que tinha requisitado na biblioteca de Emily Post. «Só tenho de o entregar no ano que vem», disse. Havia famílias de Oakland que partiram levando sacos de marinheiro de lona resistentes, que tinham comprado no dia anterior no centro comercial Montgomery Ward. Havia famílias de Fresno que partiram levando caixas de cartão volumosas. A família Tanaka, de Gardena, partiu sem pagar a renda. Os Tanakas de Delano, sem pagar os impostos. Os Kobayashis de Biola, depois de branquearem a parte de cima do fogão e lavar o chão do restaurante com baldes de água a escaldar. Os Suzukis de Lompoc deixaram montinhos de sal à frente da porta de entrada para purificar a sua casa. Os Nishimotos de San Carlos deixaram taças com orquídeas naturais da sua estufa para quem quer que se mudasse para lá de seguida. Os Igarashis de Preston fizeram as malas até ao último momento e deixaram a casa revirada. A maioria de nós partiu à pressa. Muitas de nós partiram em desespero. Algumas de nós partiram desgostosas e não desejavam voltar. Uma de nós partiu da ilha Robert agarrada a uma cópia da Bíblia e a sussurrar «Sakura, Sakura». Uma de nós tinha voltado da cidade grande e partiu com as suas primeiras 56 calças vestidas. Dizem que não é um sítio para vestidos. Uma de nós partiu depois de ter arranjado o cabelo, pela primeira vez na vida, no Salão de Beleza Talk of the Town. É algo que sempre quis fazer. Uma de nós partiu de um rancho de arroz em Willows, levando um relicário minúsculo budista no bolso e dizendo a toda a gente que tudo acabaria bem. «Os deuses vão olhar por nós», dizia. O marido partiu com as roupas do campo enlameadas e com todas as suas poupanças enfiadas na biqueira das botas. «Cinquenta cêntimos», disse com um piscar de olho e um sorriso. Algumas de nós partiram sem os maridos, que tinham sido presos nas primeiras semanas da guerra. Algumas de nós partiram sem os filhos, que tinham mandado embora anos antes. Pedi aos meus pais para tomarem conta dos meus dois filhos mais velhos, para poder trabalhar a tempo inteiro na quinta. Um homem partiu da rua East First em Los Angeles com uma caixa de madeira branca, cheia com as cinzas da mulher, pendurada com uma faixa de seda à volta do pescoço. Fala com ela durante todo o dia. Um homem partiu da baixa de Hayward com uma caixa de chocolates, que um casal de chineses, que tinha assumido o contrato de arrendamento da sua loja, lhe tinha dado. Um homem partiu de um rancho de uvas em Dinuba, carregando rancor pelo seu vizinho, Al Petrosian, que nunca lhe tinha pagado o que lhe devia por lhe ter arado as suas terras. Nunca se pode confiar nos arménios. Um homem partiu de Sacramento a tremer e de mãos a abanar e a gritar «É tudo vosso». A Asayo – a nossa mais bonita – partiu do Rancho New em Redwood, levando a mesma mala de rota que tinha trazido com ela há vinte e três anos no barco. Ainda parece nova. A Yasuko partiu do seu apartamento, em Long Beach, levando uma carta de um homem que não era o seu marido, cuidadosamente dobrada, dentro do seu pó compacto no fundo da carteira. A Masayo partiu depois de se despedir do seu filho mais novo, o Masamichi, no hospital em San Bruno, onde morreria com caxumba até ao final da semana. A Hanako partiu cheia de medo e a tossir, mas tudo o que tinha era uma gripe. A Matsuko partiu com uma dor de cabeça. A Toshiko partiu com febre. A Shikh partiu em transe. A Mitsuyo partiu enjoada e inesperadamente grávida, pela primeira vez na vida, com quarenta e oito anos. A Nobuye partiu na dúvida se tinha desligado o ferro da ficha, que tinha usado nessa manhã para retocar as pregas da blusa. «Tenho de voltar atrás», disse ao marido, que olhou fixamente em frente e não respondeu. A Tora partiu com uma doença venérea que contraiu na última noite no Hotel Welcome. A Sachiko partiu a treinar o abecedário, como se fosse só mais um dia normal. A Futaye, que de todas nós tinha o melhor vocabulário, partiu sem palavras. A Atsuko partiu de coração partido, depois de se ter despedido de todas as árvores do pomar. Eram rebentos quando as plantei. A Miyoshi partiu ansiando pelo seu grande cavalo, o Ryuu. A Satsuyo partiu procurando com o olhar os seus vizinhos, o Bob e a Florence Eldridge, que tinham prometido vir despedir-se. A Tsugino partiu de consciência tranquila depois de gritar para dentro de um poço um segredo escabroso e durante tanto tempo mantido. Enchi a boca do bebé com cinzas e ele morreu. A Kiyono partiu da quinta na White Road, convencida de que estava a ser castigada por um pecado que tinha cometido numa vida 57 passada. Devo ter pisado uma aranha. A Setsuko partiu da sua casa em Gridley depois de matar todas as galinhas do seu quintal. A Chiye partiu de Glendale ainda de luto pela sua filha mais velha, a Misuzu, que se tinha atirado à frente de um eléctrico há cinco anos atrás. A Suteko, que não tinha filhos, partiu com a sensação de que a vida lhe tinha, de alguma forma, passado ao lado. A Shizue partiu do Campo nº 8 na Ilha Webb a cantar um sutra, que lhe tinha simplesmente ocorrido passados trinta e quatro anos. O meu pai costumava recitá-lo todas as manhãs no altar. A Katsuno partiu da lavandaria do marido em San Diego a balbuciar «Por favor, alguém me acorde». A Fumiko partiu de uma pensão em Courtland a desculpar-se por qualquer problema que tivesse causado. O marido dela partiu a dizer-lhe para manter o ritmo e para manter a boca fechada. A Misuyo partiu graciosamente e sem qualquer má vontade. A Chiyoko, que tinha sempre insistido para que a chamássemos Charlotte, partiu a insistir que a chamássemos Chiyoko. Mudei de ideias uma última vez. A Iyo partiu com um despertador a tocar algures do fundo da sua mala, mas não parou para o desligar. A Kimiko deixou a carteira atrás na mesa da cozinha, mas só se lembrou quando já era tarde de mais. A Haruko deixou um Buda sorridente de vidro pequenino lá em cima, num canto do sótão, onde ainda está a rir até hoje. A Takako deixou um saco de arroz sob o soalho da sua cozinha para que a sua família tivesse algo que comer quando voltasse. A Misayo deixou no pátio da frente as sandálias para parecer que ainda havia alguém em casa. A Roku deixou o espelho de prata da mãe com a vizinha, Louise Hastings, que prometeu guardá-lo até que ela voltasse. Ajudo-a como puder. A Matsuyo partiu com um colar de pérolas que lhe tinha sido dado pela patroa, a Sr.ª Bunting, cuja casa em Wilmongton tinha mantido imaculada durante vinte anos. Metade da minha vida. A Sumiko partiu com um envelope cheio de dinheiro que lhe fora dado pelo seu segundo marido, o Sr. Howell, de Montecito, que recentemente a informara de que não a ia acompanhar na viagem. Ela devolveu-lhe o anel. A Chyuno partiu de Colma a pensar no seu irmão mais novo, o Jiro, que tinha sido enviado para a colónia de lepra na ilha de Oshima no verão de 1909. Nunca mais falámos dele. A Ayumi partiu de Edenville a perguntar-se se se tinha ou não lembrado de pôr na mala o seu vestido encarnado da sorte. Não me sinto eu mesma sem ele. A Nagako partiu de El Cerrito cheia de remorsos por todas as coisas que não tinha feito. Queria ter visitado a minha aldeia uma última vez e ter queimado incenso na campa do meu pai. A filha dela, a Evelyn, partiu a dizer-lhe «Despacha-te mamã, despacha-te. Estamos atrasadas». Havia uma mulher de uma beleza rara, que nunca nenhuma de nós tinha visto, que partiu a pestanejar e confusa. O marido dela, diziam as pessoas, tinha-a mantido fechada na cave para que mais nenhum homem pudesse pousar os olhos sob o seu rosto. Havia um homem de San Mateo que partiu com um conjunto de tacos de golfe e uma caixa de uísque Old Parr. Ouvi dizer que ele era o criado pessoal do Charlie Chaplin. Havia um homem do clero – o reverendo Shibata da Primeira Igreja Baptista – que partiu a instigar toda a gente a perdoar e a esquecer. Havia um homem num fato castanho brilhante – o cozinheiro Kanda dos noodles Yabu – que partiu a 58 instigar o reverendo Shibata a esquecer o assunto por momentos. Havia um campeão nacional de pesca com moscas da praia Pismo que partiu com a sua cana de pesca de bambu preferida e com um livro de poesia de Robert Frost. É tudo de que preciso realmente. Havia um grupo de campeões de bridge de Monterey que partiram com um sorriso de orelha a orelha e cheios de dinheiro. Havia uma família de meeiros de Pajaro que partiu a questionar-se se voltariam ou não a ver o seu vale. Havia solteirões com a pele envelhecida pelo sol que partiram, de todas as partes e de lugar nenhum, todos ao mesmo tempo. Tinham vindo a seguir as lavouras há anos. Havia um jardineiro de Santa Barbara que partiu com uma estaca de rododendro do jardim da frente do patrão e com um bolso cheio de sementes. Havia um merceeiro de Oceanside que partiu com um cheque sem valor, que lhe foi passado por um camionista que se ofereceu para lhe comprar todos os móveis da sua loja. Havia um farmacêutico de Stockton que partiu depois de fazer os pagamentos do seu seguro de vida dos próximos dois anos e meio. Havia um analista de aves de Petaluma que estava convencido de que todos regressariam dentro de três meses. Havia uma mulher mais velha, bem vestida, de Burbank que partiu orgulhosa, de uma maneira geral, com a cabeça bem levantada. «Filha do visconde Oda», disse alguém. «Mulher do paquete Goto», disse uma outra pessoa. Havia um homem que tinha acabado de ser libertado da prisão San Quentin e que partiu a dever dinheiro a metade dos lojistas da cidade. «É tempo de olhar em frente», disse. Havia raparigas que andavam na faculdade com calças de gabardina pretas – as nossas filhas mais velhas – que partiram com crachás com a bandeira americana nas camisolas e chaves Phi Beta Kappa pendendo de correntes de ouro ao pescoço. Havia rapazes bem-parecidos em chinos acabados de passar – os nossos filhos mais velhos – que partiram a cantar alto a canção da luta de Berkeley e a falar do grande jogo do próximo ano. Havia um casal recém-casado com bonés de esqui iguais, que partiram de braço dado e que não pareciam dar conta de mais ninguém. Havia um casal de idosos de Manteca, que partiu a ter a mesma discussão que tinham desde o dia em que se conheceram. Se disseres isso mais uma vez que seja… Havia um idoso com um uniforme do Exército da Salvação de Alameda, que partiu a gritar «Deus é amor! Deus é amor!» Havia um homem de Yuba City que partiu com a sua filha meio irlandesa, a Eleanor, que lhe tinha sido entregue nessa mesma manhã por uma mulher que ele tinha abandonado há muito tempo atrás. Ele nem sequer sabia da existência dela até à semana passada. Havia um rendeiro de Woodland que partiu a assobiar o Dixie, em tempos o hino dos Estados Confederados da América, depois de ter apanhado a última das suas colheitas. Havia uma viúva de Covina que partiu depois de ter passado uma procuração a um médico amável, que se tinha oferecido para arrendar a sua casa. «Acho que cometi um grande erro.» Havia uma jovem de San José que partiu com um ramo de rosas que lhe tinha sido enviado por um pretendente anónimo da vizinhança, que sempre a tinha admirado à distância. Havia crianças de Salinas que partiram com ramos de relva que tinham apanhado nessa mesma manhã dos seus quintais. Havia crianças de San Benito e Napa que partiram com múltiplas camadas de 59 roupa, de modo a levarem o máximo que pudessem. Havia uma rapariga de um rancho de amêndoas distante em Oakdale, que partiu acanhada e medrosamente, com a cabeça apertada contra a saia da mãe, pois nunca tinha visto tantas pessoas na vida. Havia três rapazinhos de um orfanato em São Francisco que partiram ansiosos pela sua primeira viagem de comboio. Havia um menino de oito anos de Placerville que partiu com uma pequena mochila, feita pela sua mãe adoptiva, a Sr.ª Luhrman, que lhe tinha dito que ele estaria de volta até ao final da semana. «Agora vai e diverte-te», disse-lhe. Havia um rapaz de Lemon Cove que partiu às cavalitas da irmã. «Foi a única forma de o tirar de casa.» Havia uma rapariga de Kernville que partiu com uma pequena mala de cartão cheia de doces e de brinquedos. Havia uma rapariga de Heber que partiu a fazer pinchar uma bola de borracha encarnada. Havia cinco irmãs de Selma – as meninas Matsumoto – que partiram à bulha por causa do pai, como sempre, e uma delas já tinha um olho negro. Havia gémeos de Livingston que partiram com suportes brancos para braços partidos no braço direito ainda que estivessem de perfeita saúde. «Já andam a usar aquilo há dias», disse a mãe. Havia seis irmãos de um rancho de morangos em Dominguez que partiram com botas de cowboys calçadas, por forma a não serem picados por cobras. «Terrenos acidentados pela frente», disse um deles. Havia crianças que partiram a achar que iam acampar. Havia crianças que partiram a achar que iam fazer uma caminhada, ou ao circo, ou passar o dia na praia a nadar. Havia um rapaz de patins que não se importava com o sítio para onde ia, desde que houvesse estradas pavimentadas. Havia crianças que tinham partido a um mês de terminarem a escola secundária. Ia para Standford. Havia uma rapariga que partiu a saber que teria sido a melhor aluna da Secundária Calexico. Havia crianças que partiram ainda desconcertadas pelos decimais e pelas fracções. Havia crianças da aula de Inglês do oitavo ano do Sr. Crozier, em Escondido, que partiram aliviadas por não terem de fazer o teste dificílimo da semana seguinte. Não li o obrigatório. Havia um rapaz de Hollister que partiu com uma pena branca no bolso e um livro com os pássaros norte-americanos, que os colegas da escola lhe tinham dado no seu último dia na escola. Havia um rapaz de Byron que partiu com um balde de lata cheio de lixo. Havia uma menina de Upland que partiu com uma boneca de trapos coxa com olhos feitos de botões pretos. Havia uma menina de Caruthers que partiu a arrastar uma corda de saltar, que recusava largar. Havia um menino de Milpitas que partiu preocupado com o seu galo de estimação, que deu à família do lado. «Acha que o vão comer?», perguntava. Havia um rapaz de Ocean Park que partiu com os uivos sobrenaturais do seu cão, o Chibi, ainda a ecoar nos ouvidos. Havia um rapaz de Mountain View num uniforme de iniciantes para escuteiros que partiu com um conjunto de refeição e um cantil. Havia uma rapariga de Elk Grove que partiu a puxar a manga do pai e a dizer «Pai, para casa, para casa». Havia uma rapariga de Hanford que partiu a perguntar-se pela sua pen pal, a June. Espero que se lembre de me escrever. Havia um rapaz de Brawley que tinha acabado de aprender as horas e que partiu a olhar para o relógio incessantemente. «Está sempre a mudar», dizia. Havia um rapaz de Parlier que partiu com um 60 cobertor de flanela azul ainda com o cheiro do seu quarto. Havia uma rapariga com longas tranças de uma cidade pequena em Tulare que partiu com um pedaço grosso de giz cor-de-rosa. Parou uma vez para dizer adeus às pessoas alinhadas no passeio e depois, com um movimento rápido do pulso, acenou-lhes e começou aos pulos. Partiu a rir. Partiu sem olhar para trás. 61 O Desaparecimento Os japoneses desapareceram da nossa cidade. As suas casas estão agora entaipadas e vazias. As suas caixas de correio começaram a transbordar. Jornais por recolher amontoam-se nos seus pátios e jardins. Carros abandonados mantêm-se no acesso às garagens. Ervas daninhas grossas e nodosas despontam no meio dos seus relvados. Nos pátios das traseiras, as tulipas murcham. Vagueiam gatos vadios. A última roupa lavada ainda está pendurada nos arames. Numa das cozinhas – a de Emi Saito – um telefone preto toca vezes sem conta. NA BAIXA, na rua Main, as suas lavandarias continuam fechadas. Letreiros com Arrenda-se continuam nas janelas. Facturas e recibos andam à deriva com a brisa. A Florista Murata é agora a Flores da Kay. O Hotel Yamato tornou-se no Paraíso. O Restaurante Fuji vai reabrir com a nova gerência no final da semana. O Salão de bilhar Mikado está fechado. A Propriedade Imanashi está fechada. A Mercearia Harada está fechada e, na janela da frente, está um letreiro escrito à mão, que nenhum de nós se lembra de ter visto lá antes – Deus esteja convosco até que nos encontremos de novo, lê-se. E claro que não podemos deixar de nos perguntar: Quem é que pôs o letreiro? Terá sido um deles? Ou um de nós? E, se foi um de nós, qual de nós é que foi? Fazemo-nos esta pergunta enquanto esprememos a testa contra o vidro e perscrutamos para a escuridão, como que à espera que o Sr. Harada, o próprio, salte de detrás do balcão com o seu avental verde desbotado, a impingir-nos um caule de espargos, um morango perfeito, um raminho de hortelã fresca, mas lá não há nada para se ver. As prateleiras estão vazias. O chão, cuidadosamente varrido. Os japoneses partiram. O NOSSO PRESIDENTE DA CÂMARA assegurou-nos de que não havia motivos para alarme. «Os japoneses estão num lugar seguro», como citaram no jornal desta manhã Star Tribune. Não tem, todavia, a liberdade de revelar que lugar é esse. «Pois, não estariam seguros, pois não, se vos dissesse onde estão». Mas que lugar podia ser mais seguro, alguns de nós perguntavam, do que aqui, na nossa própria cidade? AS TEORIAS, claro que abundavam. Talvez tivessem enviado os japoneses para a terra da beterraba – para Montana ou para os Dakotas do Norte e do Sul, onde os agricultores vão precisar desesperadamente de ajuda nas colheitas este Verão e Outono. Ou talvez tenham assumido novas identidades chinesas numa cidade distante onde ninguém sabe quem são. Talvez estejam na cadeia. «Querem a minha opinião?», pergunta um médico reformado da marinha. Creio que estão no mar, a ziguezaguear para fugir dos torpedos. Foram todos enviados de volta para o Japão, de navio, durante a guerra.» Um professor de Ciências na escola secundária local diz que passa noites em claro a recear o pior: foram agrupados em vagões de 62 gado e não vão voltar ou estão num autocarro sem janelas e esse autocarro não vai parar, nem amanhã, nem na próxima semana, nem nunca. Ou estão a marchar numa fila única para atravessarem uma ponte de madeira e, quando chegarem ao outro lado da ponte, vão desaparecer. «Tenho pensado estas coisas. E depois é que me lembro – já partiram», disse. AINDA SE VÊEM os avisos oficiais pregados aos postes de telefone pelos cantos das ruas da baixa, mas já começam a desfazer-se e a desbotar e, depois das fortes chuvadas da Primavera da semana passada, só são legíveis as letras grandes e pretas do cimo – Instruções para Todas as Pessoas de Origem Japonesa. Mas, o que quer que fosse, ao certo, o teor dessas instruções, nenhum de nós se conseguia lembrar com exactidão. Um homem lembrava-se de uma directiva proibindo animais de estimação, bem como de um ponto de partida específico. «Acho que era no YMCA na Rua West Fifth», diz. Mas não tem a certeza. Uma empregada de mesa no restaurante Blue Ribbon diz ter feito várias tentativas para ler o aviso na manhã em que foi afixado, mas apercebeu-se de que era impossível aproximar-se. «Todos os postes de telefone estavam rodeados por pequenas aglomerações de japoneses preocupados», conta-nos. O que a espantou foi a tranquilidade de todas as pessoas. A calma. Alguns dos japoneses, diz, abanavam a cabeça lentamente. Outros tiravam notas. Nenhum deles disse uma palavra. Muitos de nós admitiram que, ainda que passassem todos os dias pelos avisos a caminho da cidade, nunca lhes passara pela cabeça parar e ler um. «Não eram para nós», dizemos. Ou «Estava sempre com pressa». Ou «Não consegui descortinar o que quer que fosse, porque as letras eram muito pequenas.» AS NOSSAS CRIANÇAS SÃO quem parece ter levado o desaparecimento dos japoneses mais a peito. Respondem-nos mais do que o habitual. Recusam-se a fazer os trabalhos de casa. Estão ansiosas. Estão quezilentas. À noite, aqueles que antes dormiam a sono solto, têm agora medo de apagar as luzes. «Sempre que fecho os olhos, vejo-os», diz uma criança. Outra tem perguntas. Onde é que pode ir para os encontrar? Há escola onde eles estão? E o que é que deve fazer com a camisola do Lester Nakano? «Guardá-la ou deitá-la fora?» Na Escola Primária Lincoln, uma turma inteira do segundo ano, convenceu-se de que os seus colegas japoneses se tinham perdido na floresta. «Comem bolotas e folhas e um esqueceu-se do casaco e tem frio», diz uma menina. «Treme e chora. Ou então morreu.» «Morreu», diz o menino ao seu lado. A professora diz que a parte mais difícil do seu dia agora é fazer a chamada. Aponta para as três cadeiras vazias: Oscar Tajima, Alice Okamoto e a sua preferida, Delores Niwa. Tão tímida. Todas as manhãs chama os seus nomes mas, claro, eles nunca respondem. «Então continuo a marcar-lhes falta. Que mais hei-de eu fazer?» «É uma pena», diz o guarda. «Eram bons miúdos. Vou sentir a falta deles.» 63 HAVIA ALGUNS MEMBROS da nossa comunidade, todavia, que ficaram mais do que um bocadinho aliviados por verem os japoneses a partir. Pois lemos as histórias nos jornais, ouvimos os rumores em surdina, sabemos que esconderijos secretos de armas foram descobertos nas caves das quintas dos japoneses em cidades próximas da nossa e, ainda que quiséssemos acreditar que a maioria, senão mesmo todos os japoneses da nossa cidade, eram cidadãos correctos, dignos de confiança, não podíamos ter absoluta certeza da sua lealdade. «Havia tanto sobre eles que não sabíamos», diz uma mãe de cinco crianças. «Deixava-me inquieta. Sentia sempre que havia algo que estavam a tentar esconder». Quando perguntaram a um trabalhador da fábrica de gelo se se sentia seguro a viver do lado oposto da rua dos Miyamotos, este respondeu «Não completamente.» Ele e a sua mulher eram sempre muito cuidadosos perto de japoneses, explica, porque «não sabíamos ao certo. Há bons e maus, penso. Confundo-os todos.» Contudo, a maioria de nós tem dificuldade em acreditar que os nossos antigos vizinhos pudessem representar uma ameaça para a nossa cidade. Uma mulher que costumava arrendar uma casa aos Nakamuras disse que foram os melhores inquilinos que já teve. «Simpáticos. Polidos. E tão limpos, que se podia praticamente comer do chão.» «E também viviam como os americanos», diz o marido. «Nenhum toque japonês em lado nenhum. Nem mesmo uma jarra.» COMEÇAMOS A RECEBER relatórios de luzes deixadas acesas em algumas das casas dos japoneses e de animais aflitos. Um canário apático avistado através da janela da frente dos Fujimotos. Um koi moribundo num lago dos Yamaguchis. E por todo o lado, os cães. Oferecemos-lhes taças com água, bocados de pão, restos das nossas mesas, o talhante manda um pedaço recém-cortado de filet mignon. O cão dos Koyamas fareja educadamente e depois dá meia volta. A cadela dos Uedas passa por nós que nem uma flecha e, antes que a consigamos impedir, já passou o portão da frente. O cão dos Nakanishis – um terrier escocês que é um sósia do cãozinho preto do presidente, o Fala – mostra-nos os dentes e não nos deixa aproximar. Mas os restantes correm para nos cumprimentar, como se nos conhecessem desde sempre, e em poucos dias, encontrámos-lhes novos donos. Uma família diz que ficaria mais do que feliz por adoptar um cão japonês. Outra pergunta se há algum collie. A mulher de um jovem soldado, recentemente chamado pelo dever, levou para casa o beagle preto e castanho dos Maruyamas, o Duke, que a segue de divisão em divisão e não a perde de vista. «Agora é o meu protector», diz. «Damo-nos muito bem». No entanto, às vezes, a meio da noite, ouve-o a choramingar no sono e pergunta-se se está a sonhar com eles. UNS POUCOS DELES, não tardamos a descobrir, ainda estão connosco. O patrão do jogo Hideo Kodama, preso na cadeia do condado. Uma futura mãe no hospital público, já com mais de dez dias de atraso. O bebé simplesmente não quer sair. Uma mulher de trinta e nove anos no asilo para os alienados e que percorre os corredores o dia inteiro na sua camisa de noite e 64 chinelos, a balbuciar discretamente para si própria em japonês coisas que mais ninguém percebia. As únicas palavras de inglês que sabe são «água» e «ir para casa». Há vinte anos, diz-nos o médico, os seus dois filhos foram mortos num incêndio enquanto ela estava no campo com um outro homem. O seu marido tirou a sua própria vida no dia seguinte. O amante deixou-a. «E desde então ela nunca mais foi a mesma». No extremo sul da cidade, no Sanatório Clearview, um miúdo de doze anos está deitado numa cama ao lado da janela a morrer devagarinho de tuberculose pulmonar. Os pais fizeram-lhe uma última visita um dia antes de deixarem a cidade e agora ele está completamente sozinho. A CADA DIA QUE PASSA os avisos nos postes de telefone tornam-se cada vez mais esbatidos. Até que, numa manhã, não se avista um único aviso e, por um instante, a cidade parece estranhamente despida e é quase como se os japoneses nunca aqui tivessem sequer estado. CORRIOLAS bravias começam a crescer nos seus jardins. Trepadeiras de madressilvas espalham-se de quintal em quintal. Por baixo das sebes não cuidadas, enferrujam pás esquecidas. Um arbusto de lilás floresce num roxo intenso por baixo da janela da frente dos Oteros e desaparece no dia seguinte. Um limoeiro é arrancado dos Sawadas. Os cadeados são forçados com um pé-de-cabra das portas da frente e das traseiras. Os carros são desmantelados. Os sótãos invadidos. As chaminés dos fogões esvaziadas. Caixas e malas são arrastadas para fora das caves e enfiadas em pick-ups sob o manto da noite. Puxadores e instalações eléctricas desaparecem. E na Third Avenue, em lojas de penhor e de segunda mão, artigos exóticos do Extremo Oriente revelam-se por breves momentos antes de irem parar às nossas casas. Uma lanterna de pedra aparece entre azáleas num jardim premiado em Mapleridge Road. Um rolo de pergaminho de papel pintado substitui uma fotografia de um banhista desnudado numa sala em Elm. De apartamento em apartamento, os tapetes orientais materializam-se sob os nossos pés. E, no lado oeste da cidade, entre o grupo de mães mais na moda que diariamente frequentam o parque, os enfeites de cabelo de pauzinhos tornaram-se, de repente, no último grito. «Tento não pensar de onde é que os pauzinhos vieram», diz uma mãe enquanto embalava o seu bebé para a frente e para trás num banco à sombra. «Às vezes é melhor não saber». DURANTE VÁRIAS SEMANAS, muitos de nós continuam agarrados à esperança de que os japoneses podem regressar, porque ninguém disse que seria para sempre. Procuramo-los com o olhar na paragem de autocarro. Na florista. Quando passamos a loja de reparações de rádios na Second Avenue, conhecida anteriormente como Nagamatsu Fish. Espreitamos à janela amiudadamente só para o caso de os nossos jardineiros se terem escapulido, sem aviso, para os nossos quintais. Há sempre uma pequena possibilidade de que o Yoshi esteja lá fora a juntar 65 folhas com o ancinho. Perguntamo-nos se não terá sido, de algum modo, tudo culpa nossa. Talvez devêssemos ter dirigido uma petição ao presidente da câmara municipal. Ao governador. Ao presidente em pessoa. Por favor, deixem-nos ficar. Ou simplesmente batido às suas portas e oferecido ajuda. Se pelo menos, dizemos a nos próprios, soubéssemos. Mas a última vez que algum de nós viu o Sr. Morina na banca de fruta, ele foi tão simpático como sempre. «Nunca referiu que se ia embora», diz uma mulher. No entanto, passados três dias, tinha partido. Uma caixa no Associated Market conta que, um dia antes de os japoneses desaparecerem, estavam a abastecer-se de comida «como se não houvesse amanhã». Uma mulher, continua, comprou mais de vinte latas de salsichas austríacas. «Não pensei em lhe perguntar porquê». Agora, claro, gostava de o ter feito. «Só queria saber se estão todos bem». AQUI E ALI, em caixas de correio espalhadas um pouco por toda a cidade, começam a chegar as nossas primeiras cartas dos japoneses. Um rapazinho de Sycamore recebe uma breve nota de Ed Ikeda, que foi outrora o mais rápido velocista da Escola Secundária Woodrow Wilson. Bem, aqui estamos no centro de acolhimento: nunca tinha visto tantos japoneses juntos na minha vida. Algumas pessoas não fazem mais nada se não dormir toda a tarde. Uma rapariguinha de Mulberry Street ouve da sua antiga colega de escola Jan. Vão manter-nos aqui durante mais um tempo e depois mandam-nos para as montanhas. Espero ter notícias tuas em breve. A mulher do Presidente da Câmara recebe um postal curto da sua empregada leal, a Yuka, que apareceu à sua porta no segundo dia depois de ter saído do barco. Não se esqueça de arejar os cobertores no final do mês. A mulher do pastor assistente na Igreja Metodista United abre uma carta endereçada ao seu marido, que começa com, Querido, estou bem e o chão some-se, de repente, de debaixo dos seus pés. Quem é Hatsuko? À distância de três quarteirões, numa casinha amarela em Walnut, um menino de nove anos lê uma carta do seu melhor amigo, o Lexter – Deixei a minha camisola no teu quarto? – e, durante as três noites seguintes, não consegue dormir. AS PESSOAS COMEÇAM a exigir respostas. Será que os japoneses foram para os centros de acolhimento de livre vontade ou sob coacção? Qual é o seu destino final? Por que é que não fomos previamente informados da sua partida? Quem, se é que alguém, é que vai intervir em seu nome? São inocentes? São culpados? Será que partiram realmente? Porque não é estranho que ninguém que conheçamos os tenha visto partir? Seria de supor, diz um membro dos Comandos da Defesa Civil, que algum de nós tivesse visto ou ouvido alguma coisa. «Um tiro de aviso. Um soluço abafado. Uma fila de pessoas a desaparecer na noite.» Talvez, diz um encarregado da defesa contra ataques aéreos local, os japoneses ainda se encontrem connosco, nos observem das sombras, e escrutinem os nossos rostos à procura de sinais de pesar e de remorso. Ou talvez se tenham escondido sob as nossas ruas e estejam a maquinar a nossa morte 66 mais tarde ou mais cedo. As suas cartas, salienta, podem facilmente ter sido falsificadas. O seu desaparecimento, sugere, é uma fraude. O dia do juízo final, avisa, está prestes a chegar. O PRESIDENTE DA CÂMARA instiga-nos a sermos pacientes. «Dar-vos-emos a conhecer o que soubermos quando pudermos», diz-nos. Havia deslealdade por parte de alguns, o tempo urgia e era grande a necessidade de agir. Dizem-nos que os japoneses nos deixaram de livre e espontânea vontade e sem rancor, a pedido do presidente. Continuam com óptima moral. Com apetite. O seu realojamento está a decorrer conforme planeado. Estes são, recorda-nos o presidente da câmara, tempos invulgares. Fazemos agora parte da frente do campo de batalha e o que quer que deva ser feito para defender o país, deve ser feito. «Vai haver algumas coisas que as pessoas vão ver», diz-nos. «E vai haver coisas que as pessoas não vão ver. Estas coisas acontecem. E a vida continua.» O PRIMEIRO SOPRO do verão. As folhas murcham nos ramos das magnólias. Os passeios assam ao sol. Gritos enchem o céu à medida que as últimas sinetas da escola tocam e as aulas chegam, mais uma vez, ao fim. Os corações das mães enchem-se de desespero. Outra vez não, lamentam-se. Algumas começam a procurar novas amas para tomarem conta dos seus filhos mais pequenos. Outras, põem anúncios à procura de novos cozinheiros. Muitas contratam novos jardineiros e empregadas: mulheres jovens robustas das Filipinas, hindus magros de barba, mexicanos baixotes atarracados de Oxaca que, ainda que nem sempre sóbrios, eram suficientemente simpáticos – Buenos dias, dizem e Si, cómo no? – e que estavam dispostos a cortar a relva por uma ninharia. A maioria mergulha de cabeça e deixa as roupa para lavar com os chineses. E apesar de os seus linhos não lhes serem devolvidos devidamente passados e os cantos às vezes estarem levantados, não deixam que isso os aborreça, pois têm a atenção voltada para outras coisas: a procura de um rapazinho chamado Henry, visto pela última vez a balançar-se num tronco na beira de uma floresta («Partiu para se juntar aos japoneses», dizem-nos as nossas crianças), a captura de sete soldados da nossa cidade na batalha de Corregidor, uma conferência no almoço anual do Clube Pilgrim Mothers’ do nazi recentemente refugiado, o Dr. Raoul Aschendorff, intitulada «Hitler: o Napoleão de hoje?», que enche uma sala com todo o público em pé. À MEDIDA QUE A GUERRA prossegue, as famílias começam a sair cada vez menos de casa. A gasolina é racionada. O papel de alumínio, poupado. Plantam-se jardins vitorianos em lotes de terreno abandonados e cheios de ervas daninhas e, em cozinha atrás de cozinha, a caçarola de feijão-verde rapidamente perde o seu atractivo. As mães descosem as suas cintas para doar à carroça da borracha e respirar fundo pela primeira vez em anos. «Temos de fazer sacrifícios», exclamam. Pais cruéis deitam abaixo das árvores os baloiços de pneus das crianças. O China 67 Relief Committee atinge o seu objectivo de dez mil dólares e foi o presidente da câmara em pessoa que telegrafou as boas notícias a dar à Madame Chiang Kai-shek. O pastor assistente passa mais uma noite no sofá. Várias das nossas crianças tentam escrever aos amigos japoneses, mas não conseguem pensar em nada para dizer. Outras não têm coragem para contar as más notícias. Há um menino novo sentado na tua mesa na aula da Sr.ª Holden. Não encontro a tua camisola. Ontem o teu cão foi atropelado por um carro. Uma rapariga em Fremont do Norte é desencorajada pelo carteiro, que lhe diz que apenas um traidor ousaria trocar cartas com os japoneses. ESTRANHOS MUDAM-SE para as suas casas. Okies e Arkies que vieram para o oeste para o trabalho de guerra. Agricultores desalojados dos montes Ozark. Pretos imundos e pobres com as suas trouxas de haveres ainda frescas do sul. Vadios e ocupantes ilegais. Camponeses. Não são um de nós. Alguns não conseguem nem soletrar. Trabalham dez e quinze horas por dia nas fábricas de munições. Vivem três e quatro famílias numa casa. Lavam as roupas fora de casa, em tinas de estanho nos quintais da frente. Deixam as mulheres e as crianças andar ao deus dará. E, aos fins-de-semana, quando se sentam nas varandas a fumar e a beber pela noite dentro, suspiramos pelos nossos vizinhos antigos, os japoneses sossegados. NO FINAL do Verão, os primeiros rumores dos comboios chegam até nós de longe. Eram muito antigos, dizem. Relíquias de uma era distante. Carruagens de dias empoeirados com locomotivas a vapor alimentadas a carvão e com lâmpadas de gás antigas. Os telhados estavam cobertos com caganitas de pássaro. As janelas de vidro enegrecidas por sombras. Passavam por cidade atrás de cidade, mas não paravam. Não apitavam. Viajavam apenas depois do anoitecer. Comboios fantasmas, dizem aqueles que os viram. Alguns dizem que subiam através dos desfiladeiros estreitos das montanhas da Serra Nevada: Altamont, Shasta, o Tehachapi. Alguns dizem que se dirigiam para a ponta ocidental das Montanhas Rochosas. Um cronometrista da estação em Truckee relata ter visto um estore levantado e o rosto de uma mulher revelado por instantes. «Japoneses», diz. Ainda que tenha acontecido tão depressa, era impossível saber ao certo. O comboio não constava do horário. A mulher parecia cansada. Tinha cabelo curto preto e um rosto pequenino redondo e perguntamo-nos se era uma das nossas. Talvez a mulher do Ito da lavandaria. Ou a idosa que todos os fins-de-semana vendia flores na esquina da Edwards com a State. Chamávamos-lhe simplesmente a florista. Ou alguém por quem tivéssemos passado vezes sem conta na rua sem sequer nos darmos realmente conta. NO OUTONO não há nenhum festival budista de colheitas na rua principal. Nenhuma Festa de Crisântemos. Nenhum desfile de lanternas de papel balançantes ao cair da noite. Nenhuma criança num quimono de algodão de mangas compridas a cantar e a dançar ao som das batidas 68 descontroladas dos tambores pela noite dentro. Porque os japoneses partiram, é só isso. «Preocupas-te com eles, rezas por eles e depois só podes virar a página», diz um pensionista idoso que viveu na casa ao lado dos Ogatas por mais de dez anos. Sempre que começa a sentir-se sozinho, sai e senta-se num banco no parque. «Ouço os passarinhos até me sentir melhor de novo» diz. «Depois vou para casa». Às vezes passam vários dias sem sequer pensar nos japoneses. Mas depois vê uma cara familiar na rua – é a Sr.ª Nishikawa da loja de iscas, mas porque é que não acena de volta? – ou um rumor diferente flutua na sua direcção. Encontraram espingardas enterradas por baixo da ameixoeira dos Koyanagis. Descobriram emblemas do Dragão Negro numa casa japonesa em Oak. Ou ouve passos atrás de si no passeio, mas quando se vira não está lá ninguém. E é então que lhe ocorre de novo: os japoneses deixaram-nos e não sabemos onde eles estão. COM AS PRIMEIRAS GEADAS os seus rostos começam a misturar-se e a toldar-se nas nossas mentes. Os seus nomes começam a escapar-nos. Era Sr. Kato ou Sr. Sato? As suas cartas deixam de chegar. As nossas crianças, que outrora sentiam a sua falta tão fervorosamente, deixam de nos perguntar onde eles estavam. As nossas mais novas mal se conseguem lembrar deles. «Acho que vi um uma vez», dizem-nos. Ou «Não tinham todos cabelo preto?» E passado pouco tempo damos por nós a falar sobre eles usando cada vez mais o passado. Em alguns dias esquecemo-nos que eles um dia estiveram connosco, mesmo que, pela noite dentro, emergissem, inesperadamente, nos nossos sonhos. Era o filho do enfermeiro, o Elliot. Disse-me para não me preocupar, que estavam bem, que lhes davam o suficiente para comer e que jogavam basebol o dia todo. E quando acordávamos de manhã, por muito que tentássemos mantê-los presentes, não persistiam durante muito tempo nos nossos pensamentos. UM ANO DEPOIS e quase todos os vestígios dos japoneses desapareceram da nossa cidade. Estrelas douradas reluzem nas nossas janelas da frente. Viúvas de guerra belas e jovens empurram os seus carrinhos pelo parque. Por caminhos obscuros ao longo das margens do reservatório, cães caminham empertigados nas suas longas trelas. Na baixa, na rua principal, florescem narcisos amarelos. O New Liberty Chop Suey enche-se de trabalhadores do estaleiro de navios à hora de almoço. Os soldados de licença em casa vagueiam pelas ruas e o negócio no Hotel Paraíso está ao rubro. A florista Flowers by Kay é agora a loja Foley’s Spirit. A merceraria Harada foi adquirida por um homem chinês chamado Wong, mas à parte isso parece exactamente a mesma e, sempre que passamos à sua janela, é fácil imaginar que tudo é como era antes. Mas o Sr. Harada já não se encontra connosco e o resto dos japoneses partiram. Raramente falamos deles agora, se é que falamos, ainda que notícias do outro lado da montanha continuem a chegar até nós de tempos a tempos – cidades inteiras de japoneses ergueram-se nos desertos do Nevada e do Utah, deram trabalho aos japoneses de Idaho na apanha da beterraba 69 nos campos e, em Wyoming, um grupo de crianças, a tremer e esfomeado, foi visto a sair de uma floresta ao entardecer. Mas tudo não passa do diz-que-diz e não é necessariamente verdade. Tudo o que sabemos é que os japoneses estão algures por aí, num sítio ou noutro, e provavelmente não os voltaremos a encontrar neste mundo. 70
Download