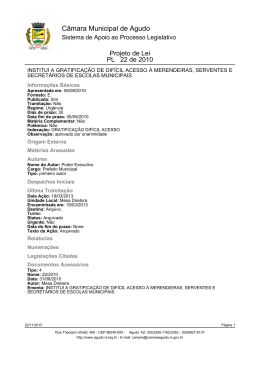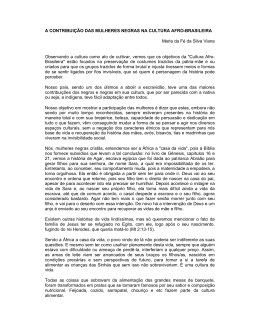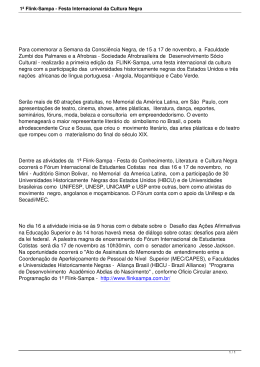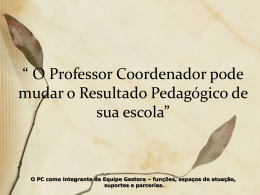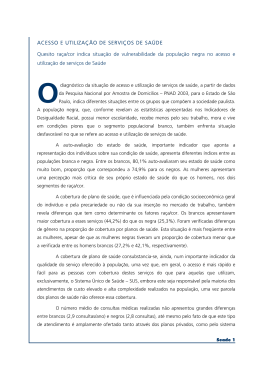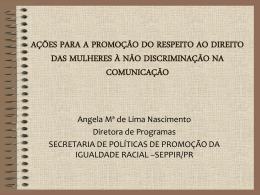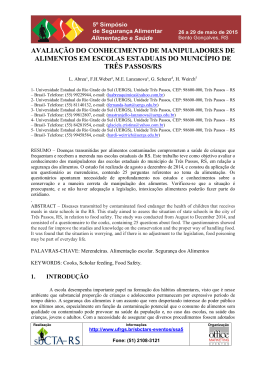Grupo de Trabalho 5 Trabalho e Saúde de Mulheres Negras em Escolas Públicas Fátima Machado Chaves[1] Nossa pesquisa estuda as relações sociais de trabalho e a saúde das merendeiras e serventes, responsáveis pelo preparo e distribuição da alimentação como também pela higienização escolar, categoria que se apresenta em sua maioria composta por mulheres negras. Investigamos se as relações de raça/etnia[2] possibilitam o surgimento de determinados sofrimentos que possam estar afetando o processo saúde/doença dessas funcionárias, considerando as transformações da organização do trabalho no serviço público educacional. Nesse texto, privilegiamos a discussão parcial sobre a saúde do trabalhador em educação, notadamente de merendeiras e serventes, assim como breve revisão bibliográfica a respeito do saúde da população negra brasileira. Definimos trabalho como uma atividade humana que se apropria da natureza transformado-a com a finalidade de produção da vida. Através dele, o homem adquire sua individualidade e sua humanidade, estabelecendo relações consigo mesmo, com os outros seres humanos e com a própria natureza, numa significação subjetiva do trabalho. Por conseguinte, nas unidades escolares municipais cariocas, o trabalho de merendeiras e serventes apresenta, também, um sentido de “produção de vida”, ao contribuir para a educação pública através da manutenção da limpeza dos prédios escolares, assim como da nutrição de seus alunos e professores. O trabalho como ato histórico, produtor da vida, é tão antigo como o próprio homem. No entanto, não apresenta as mesmas características ao longo dos tempos históricos, porquanto a cada modo de produção hegemônico adequa-se uma maneira de institucionalização e de concepções acerca do trabalho. Apesar da aparente importância dada ao trabalho, o capital subjuga-o à tradição cultural da Antigüidade, de origem religiosa, reafirmando-o como uma atividade oposta à liberdade humana, identificando-o com o castigo do tripalium latino. O fazer “manual” de merendeiras e serventes em escolas públicas municipais ainda hoje demonstra como essa concepção perversa de trabalho constituiu-se numa estrutura de longa duração. Thompson (1987) acredita que a classe é uma relação histórica, cuja ocorrência pode ser demonstrada efetivamente. Consideramos que o estudo da estrutura de classes, um fenômeno complexo e ambíguo, permanece como desafio à investigação, através de uma análise concreta de casos específicos e concretamente dados. Neste texto, aceitamos que “A classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, e contra homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus. A experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de produção em que os homens nasceram ou entraram involuntariamente. A consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas em termos culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, idéias e formas institucionais” (Thompson, 1987:10). Apesar do avanço teórico em direção aos problemas contemporâneos, a teoria sobre classe social não está consolidada. Primeiro, porque nas sociedades capitalistas avançadas, a parte da população economicamente ativa que não está vinculada diretamente à produção (trabalhadores dos serviços e do comércio, não produtores de mais-valia) é numericamente considerável e, a partir da década de 70, essas atividades aumentaram de número (Therborn, 1983:412). Segundo, porque o Estado como empregador e sua incidência nas relações de classe dentro da sociedade é um fato geralmente pouco analisado. Contudo, Marx já alertara que “[...] todas as lutas no interior do Estado (...) são apenas formas ilusórias nas quais se desenrolam as lutas entre as diferentes classes” (1977:47). No decorrer do século XX, o Estado capitalista contemporâneo tornou-se um grande empregador. Uma parcela importante do trabalho público, aquela responsável pelo crescimento do emprego estatal, ocupa um trabalho do tipo assistencial, denominado por Therborn, como “trabalho de reprodução humana”. Segundo esse autor, evitou-se o termo “reprodução da força de trabalho” porque nem todos os indivíduos assistidos pelo mesmo destinam-se a serem (re)produtores de mercadorias, além de ser trabalho não submetido, senão de forma marginal, às relações capitalistas de produção. Estamos falando da assistência aos velhos e às crianças; a assistência social, a assistência sanitária e a instrução (grifos nossos). O “trabalho de reprodução humana” até recentemente foi executado ou como trabalho familiar não retribuído ou como trabalho doméstico de servidores pagos com a renda da família. Atualmente, esse trabalho tem assumido caráter cada vez mais público, regulado, por um lado, pela renda pública e, por outro, pela taxa de participação das mulheres na força de trabalho. Por conseguinte, para entender plenamente as estruturas capitalistas, necessário se faz apreender também outra área problemática para a teoria de classe que é a família até porque “[...] ontem, como hoje, o trabalho de reprodução foi sempre em grande parte, trabalho feminino” (Therborn,1983:424-7). Interessa-nos refletir sobre a problemática de classe referente ao trabalho público estatal, tido como assistencial ou educativo e realizado primordialmente por mulheres. A questão é importante para esclarecer a estrutura de classe e suas contradições nas relações de trabalho no interior das escolas públicas analisadas por nós. Dentro da perspectiva sugerida, um estudo do processo de trabalho capitalista não se esgota apenas no interior da produção capitalista direta porquanto existem outros processos de trabalho que não estão (ou não estão diretamente) sob o domínio pleno da lei do valor. São, por exemplo, as funções sociais periféricas, que mantém relações indiretas com a lei do valor, difíceis de serem analisadas, apesar de serem de importância central como aspectos das condições gerais sob as quais está ocorrendo a valorização do capital, ou seja, o trabalho doméstico e os processos de trabalho heterogêneos do setor público sob a direção do Estado (Brighton, 1976:41-2; Hypólito, 1997:78-82). Assim, as estruturas familiares, as escolas, as agências de serviços domésticos, os hospitais e outros, além de serem concebíveis no mundo capitalista são também uma realidade efetiva, porém, os nexos internos entre essas formas “não-produtivas” de trabalho e as “produtivas” ainda não foram formulados. As posições de classe, dentro do Estado, não podem ser simplesmente assimiladas àquelas dentro do processo de acumulação e nem mesmo podemos rotular todos os funcionários públicos como “classe média” [3], utilizando fonte de renda - renda pública - como critério determinante para a colocação de classe (Therborn, l983:431; Hypólito, 1997:45). Salientamos, inclusive, que o nosso objeto, as merendeiras e serventes, também funcionárias públicas, não pertencem à classe média e sim à subalterna.[4] Então, se caracterizarmos as (os) professoras (es), em geral, como pertencentes à classe média ou em uma situação ambivalente entre essa classe e o proletariado, notamos, nas relações sociais e educativas no cotidiano escolar, uma situação diacrítica de classes. Os antagonismos relacionais podem surgir da hierarquia de poder devido à divisão entre trabalho simples e complexo e nem sempre significam diferenças de classe e sim a posição social nas relações produtivas, momentaneamente ocupada pelo trabalhador, assim como os valores culturais que adquiriu em suas experiências (Thompson, 1987: 10). Gramsci esclarecera-nos que “[...] as questões de nível se verificam em qualquer forma de relação, desde as que ocorrem entre os Estados até as familiares. [...] Para muitos, ser ‘alguma coisa’ significa tão-somente que outros homens sejam ainda ‘menos coisa’ (alguma coisa menor)” (1981:280). Por conseguinte, a abordagem das relações sociais do trabalho educativo e a saúde de merendeiras e serventes deverá ser vista, pressupondo que a existência da totalidade das trabalhadoras nas escolas públicas municipais do Rio de Janeiro seguem a lógica do capital e seus antagonismos relacionais. Em âmbito escolar, as que pensam e executam funções “intelectuais” (docentes) e as que executam tarefas “manuais” (merendeiras e serventes) reafirmam a divisão social de classe, a de gênero e a de raça, expressando, na sociedade capitalista, a sustentação da propriedade privada e o poder nela contido e, na escola, a base das hierarquias entre as servidoras[5]. Levaremos em conta a análise de gênero porque ao caracterizarmos o trabalho das serventes e merendeiras como “doméstico”, denotamos que o acesso das mesmas às escolas públicas, em alguns casos, foi possibilitado por serem mulheres, humildes, conhecedoras “naturais” dos ofícios de cozinhar e limpar, ou seja, as “voluntárias”, mães de alunos, normalmente as dos mais pobres, trabalhando, umas, vários anos sem remuneração ou recebendo pequena quantia pela “caixa escolar”, à espera de contratação[6]. Ao introduzir a categoria de trabalho doméstico, sabemos que a discussão que a envolve perpassa, às vezes, sem solução, várias teorias sociais e, não sendo um fenômeno recente, muito pelo contrário, histórico e estrutural, envolve, além das relações entre masculino/feminino, as de produção. O trabalho doméstico explica-se como um dos fatores que contribuem ainda para a opressão econômica das mulheres, afastando-as da produção social, em virtude da suas responsabilidades prioritárias em casa, ou um dos que denotam a hierarquia classista entre trabalhadoras, pois as mulheres em posição social privilegiada podem contar com as subalternas para aquelas atividades em suas residências. Inclusive, em algumas áreas dos Estados Unidos, o trabalho doméstico remunerado tende a aumentar devido a crescente inserção da mulher escolarizada e qualificada no mercado de trabalho (Milkman, 1998: 156,163-164). Caracteriza-se, na divisão sexual do trabalho, regras de convívio social entre homens e mulheres historicamente transmitidas, por vezes conflituosas. A separação entre as esferas feminino/masculino é um fenômeno estrutural, observável em diferentes culturas, onde, de modo geral, os homens controlam quase todas instituições, pressupondo um sistema simbólico de códigos: à mulher destina-se, predominantemente, o espaço doméstico restringindo-lhe sua liberdade profissional e pessoal, enquanto permite-se aos homens a esfera pública e uma independência social e econômica. Existe, culturalmente, um controle das atividades humanas: “[...] a crença de que uma atividade não é característica de seu gênero suscita questões sobre a identidade sexual, atuando como um inibidor para que homens e mulheres exerçam funções lado a lado” (Aguiar,1994:9). Ao longo dos tempos, as mulheres foram destinadas primeiramente ao casamento, à procriação de filhos e cuidados com a família enquanto no mundo do trabalho seu lugar vem sendo definido como uma extensão da vida doméstica: são profissionais que se ocupam do cuidado com crianças e adolescentes - professoras e pediatras -, com pessoas doentes – enfermeiras, psicólogas, fisioterapeutas, fonoaudiólogas – com pessoas idosas – cuidados com os pais, avós, parentes. De forma geral, mulheres têm mais dificuldades no aceso a empregos e na ascensão profissional também em razão das responsabilidades familiares, além disso, as trabalhadoras sofrem outras formas de discriminação, como demissão por gravidez ou exigência de atestado de esterilização e não-gravidez no ato da admissão. Utilizar o enfoque de gênero nas pesquisas sobre saúde parte do conhecimento dos riscos diferenciais de adoecer e morrer a que estão expostos homens e mulheres em suas várias idades e funções que afetam negativamente a um ou outro sexo, principalmente a menina, a mulher adulta ou idosa, assim como pretende melhor elucidar, reduzindo as desigualdades de gênero que condicionam a saúde dos seres humanos. Historicamente, as mulheres apresentam-se como as responsáveis pelos cuidados com as doenças de toda a família e, no passado, antes que a Igreja Católica e a Medicina usurpassem seus saberes e dominassem seus corpos, foram as conhecedoras por excelência dos medicamentos naturais. Então, estudá-las em seus problemas de saúde específicos significa um ressarcimento social. No contexto brasileiro, as desigualdades sociais e raciais ampliam as diferenças de gênero, porquanto a mão-de-obra indicada para o trabalho “doméstico” é normalmente recrutada nas camadas inferiores da população[7], principalmente entre as mulheres, negras e pardas, com condições sócio-econômicas precárias, sem escolaridade ou com a mesma incompleta (Aguiar,1994; Beato,1994; Boletim,1996), como parece ser o caso das merendeiras e serventes de escolas[8]. A historiografia contemporânea apresenta-nos, na cidade do Rio de Janeiro, no século XIX, “escravos de ganho”, homens e mulheres, senhores da rua, cujas tarefas eram necessárias para a vida urbana, auxiliados, posteriormente, pelos imigrantes pobres. As mulheres negras, escravas de certa locomoção autônoma, tiveram uma grande influência na geografia dos espaços urbanos, destacando-se, entre elas, as quitandeiras, as donas de “casas de zungu” e as criadas domésticas (Soares, 1999). O século XX encontra ex-escravas e descendentes sem escolaridade ou qualificação profissional, morando em cortiços e, mais adiante, em favelas, aceitando qualquer tipo de atividade laboral para sobreviverem. Ora, o conceito de trabalho industrial das sociedades contemporâneas parece que não modificou imediatamente a vida dos escravos libertos, porquanto, desde o final do século XIX, as novas relações de trabalho privilegiaram o trabalhador imigrante e excluiu dois milhões de trabalhadores negros. “Com certeza, reside neste momento a projeção das desigualdades raciais no mercado de trabalho, intensificando-se ainda mais no processo de industrialização e urbanização no Brasil...” (Nogueira, 1996: 66). Contemporaneamente, avaliando as especificidades do trabalhador negro assim como as possibilidades ou não de sua integração em mercados urbanos e modernos de trabalho, Beato (1996) explicita que ele concentra-se em setores de menor dinamismo, geralmente, em atividades agropecuárias ou serviços de transporte, realizando trabalho tipo pesado ou sujo, ou ambos, tais como o emprego doméstico remunerado e serviços de manutenção, sobretudo como porteiros, vigias, serventes, garçons, cozinheiros e trabalhadores braçais, sem especificação, percebendo uma renda média mensal de um salário mínimo. Porém, “a sua presença no emprego doméstico remunerado, onde o trabalho feminino representa cerca de 95% da PEA total, é a mais elevada entre todas as atividades” (1996: 34). Temos, novamente, uma posição de exclusão onde a mulher negra recebe um trabalho precário, pré-capitalista, cujo sentido social é desvalorizado pelo mercado. Os estereótipos de inferioridade interferem na auto-estima bem como nas condições de vida: na escolaridade, na escolha de uma profissão, no acesso ao trabalho e seu rendimento[9], na saúde, entre outras. No Brasil, o número do analfabetismo das pessoas de cinco ou mais anos revela que “[...] do total da população de pretos e pardos, 36,3% são analfabetos. Isto é o dobro do número de analfabetos no total da população branca (18%)” (Tavares, 1991:29). Nos dados mais recentes, temos que “[...] em anos de estudo, os brancos detém o índice de 5,6, os pretos 3,3, os pardos 3,6 e os amarelos 8,6” (Lima e Romão, 1997: 34). E, como existe diferenças dentro do universal, as mulheres negras são as mais atingidas, as que a sociedade considera naturalmente inferiores, mantendo-as numa situação subserviente de serviçais: “[...] a PNAD de 1990 revelou que 54,3% das pretas e 51.8% das pardas têm menos de três anos de estudo...” (Castro, 1996?: 10). Porém, apresenta-se a desinformação cultural e profissional do negro, principalmente da mulher negra, derivada de sua “inferioridade natural”... De maneira geral, aceita-se que as relações de saúde e de gênero constituem-se em categoria de análise importante para o estudo das relações de trabalho e particularmente de profissões feminizadas. No entanto, considerando as desiguais oportunidades sociais e educacionais da população negra[10], afirmamos que as profissões e seus papéis sociais, inclusive as existentes nas escolas públicas cariocas, também encontram-se atravessadas pelo racismo. De um lado, docentes, em grande parte considerados brancos apesar de alguns professores negros que, embora “proletarizados” (Hypólito, 1997), realizam um trabalho intelectual considerado socialmente superior. De outro, mulheres da limpeza e da alimentação, em maioria negra e parda, em condições de extrema precariedade, tanto no que diz respeito aos instrumentos de trabalho, aos baixos salários ou às relações sociais e educacionais conflituosas. Acreditamos que a situação atual das merendeiras e serventes guarda resquícios da discriminação: de escravas negras, quitandeiras e criadas domésticas, tornaram-se servidoras públicas subalternas, responsáveis pela merenda, pela limpeza e pela venda de guloseimas na cantina escolar. Ou, devido a intensidade de carinho e desvelo, demonstrados a alunos e professores, tornaram-se as “mães pretas” [11] do imaginário escolar. Ainda hoje, a cozinha de escolas cariocas define-se: “[...] como se fosse uma grande cozinha de fazenda. A imagem que me vem mais próxima, por causa dos panelões e aquelas mulheres negras trabalhando, cortando e fazendo...” (Chaves, 1998: 52). É possível encontrar “significação” nesse tipo de trabalho? Uma servidora municipal vivencia essa contradição - o capitalismo impõe-lhe o sofrimento, porém, ela contrapõe-lhe o prazer: “[...] eu sou merendeira, gosto muito [risos], gosto muito mesmo do que faço, [risos] dessa profissão. Porque, tem assim, contato com criança. [...] Eu estou recorrendo a aposentadoria por vinte e cinco anos, mas eu te juro, eu gostaria de trabalhar meus trinta anos, [...] mas devido as dificuldades que nós temos visto dentro das escolas, [...] vai nos deixando assim com os nervos a flor da pele” (Regina, entrevista. In: Chaves, 1998: 30). Em suma, o ambiente escolar público confirma a discriminação do negro brasileiro: recebe espaços de segunda classe. Analisa-se o trabalho humano, ontológico, a partir da esfera objetiva, realidade física a transformar-se, bem como da esfera subjetiva, realidade que dá sentido à vida e ao próprio trabalho, que vem carregada de emoções, sentimentos e paixões, individuais e/ou coletivas. Ora, se a significação que o trabalhador dá à sua atividade laboral expressa sua subjetividade, de que maneira uma personagem negra, considerada social e culturalmente inferior, vivenciando cotidianamente discriminações e preconceitos, poderá deixar de impregnar com isso seu trabalho de educadora? Como uma trabalhadora negra, cuja afetividade social foi marcada por desconfianças, repúdios e desafetos, permeada de sofrimentos indizíveis, poderá conseguir os vínculos afetivos com os alunos e com outros trabalhadores, numa escola impregnada pelo “branqueamento”? De que forma as merendeiras e serventes negras, historicamente mulheres portadoras de afetos maternais e de ofícios simples, hierarquicamente inferiores, um “fazer” sem “saber”, elaboram seu trabalho em escolas? Os estudos relativos a trabalho/gênero e trabalho/raça “[...] demonstram que o trabalho situa-se como espaço no qual se interseccionam dimensões da cultura e da vida ‘fora’ dos locais de trabalho juntamente com elementos da própria organização laboral” (Nardi, 1997: 243). Em consequência, as representações construídas pelos trabalhadores surgem, geralmente, das experiências no cotidiano de vida e trabalho, pejadas por questões de classe, de gênero e de raça. Enfim, o trabalho aparece definitivamente como um operador fundamental na própria construção do sujeito, revelando-se, com efeito, como um mediador privilegiado, senão único, entre inconsciente e campo social e entre ordem singular e ordem coletiva. Configura-se, também, como um espaço aberto de construção do “sentido vital”, ou seja, de conquista da identidade, da continuidade e historicização do sujeito e, portanto, mediador para a saúde (Dejours, 1994 :143). Semelhantemente a todos seres humanos, os indivíduos negros querem e precisam ser aceitos e reconhecidos em seus trabalhos, porém, suas experiências, às vezes, são carregadas de sofrimento pelo fato de que os espaços e afetos que lhes reservam a sociedade apresentam-se limitados e limitadores, provocando uma subjetividade eivada de inferioridade e de angústias, historicamente construída e situada: “Talvez pela dificuldade que a pessoa tem de vida. Já começa por aí, a dificuldade que a pessoa tem de estudar, ter mais um grau... uma formação melhor, né? E a cor, Fátima, também, é um caso sério. Não parece não, mas cor conta muito... sabe? [...] Para mim não. Assim, colegas minhas, tem muitas que se abalam com isso. Elas ficam assim... entram até em pânico mesmo. Eu tinha uma colega que trabalhava aqui. Ela, quando um aluno - ela era escura - chamava ela de ‘pretinha’, ela entrava em pânico, ela ficava horrorizada, entende, com aquilo. E, às vezes, até discutia com a criança, com professor e tudo, ela tomava, assim, antipatia. Eu não, eu já gosto disso, tanto é que meu apelido na cozinha é ‘crioula difícil’ [risos], ‘nega preta’. Tem professora que me chama de ‘nega preta’ [risos]. Eu, sei lá, eu não me deixo abater com isso, não” (Merendeira Regina, entrevista. In: Chaves, 1998: 56-7). Nessa perspectiva, admitindo que a subjetividade pessoal interpenetra no processo de vida saudável do ser humano, analisar a saúde de parte da população negra em educação, as merendeiras e serventes, pressupõe, obrigatoriamente, compreender o sentido de trabalho concedido à mulher negra, secularmente, incluindo a categoria racial como indicador social no processo de saúde-doença. Propor as categorias de gênero e raça não significa permanecer em polarizações binárias, escamoteadoras da realidade material, tipo masculino/feminino, negro/branco e sim remetê-las à totalidade das relações sociais de produção capitalista, historicamente construídas, ou seja, as classes sociais. A saúde de uma população é condicionada e determinada por diversos fatores, apresentando uma dimensão individual e uma coletiva, ou seja, cada pessoa sente em si mesmo os males de uma doença, no entanto, existe a possibilidade social em que grupos humanos expõem-se à situações que podem ocasionar doenças. As desigualdades sociais tais como educação, emprego e renda podem determinar a incapacidade das pessoas, ou de grupos coletivos, em satisfazer suas necessidades básicas de alimentação, moradia e vestimenta adequadas. Esses fatores acarretam um tipo de estado de saúde, o comportamento e os estilos de vida dos indivíduos com respeito à sua saúde. Assim, a ausência de um eficaz planejamento oficial[12], instrumento destinado a cobrir as necessidades específicas dos diversos grupos sociais, bem como um nível sócio-econômico precário de uma população podem revelar uma saúde coletiva em desequilíbrio. Afora as citadas, de classe, as desigualdades de raça e gênero na sociedade capitalista, indicadoras das relações sociais preconceituosas e discriminatórias que se estabelecem entre homens e mulheres, entre brancos e negros, caracterizam-se como importantes indicadores de dificuldades no trabalho e na saúde. Utilizadas de maneira sutil ou evidente, os estereótipos e as discriminações contra as mulheres e especificamente contra a mulher negra, afetam sua auto-estima e a do grupo social a qual ela pertence, devido a força com que se lhe impuseram, integrando-se à sua própria identidade como pessoa humana. Nesse caso, a raça associada a gênero é fator determinante para o aumento de práticas discriminatórias e de maiores desigualdades no mercado de trabalho: maior subemprego entre mulheres negras, ocupação nos postos mais baixos da escala salarial - além da sociedade reservar-lhe primordialmente os trabalhos manuais[13] e/ou domésticos[14], remuneração desigual em ocupações de igual categoria, discriminação na admissão – a “boa aparência” -, na promoção e na qualificação, assim como demissões injustas. No campo da saúde individual e/ou coletiva, as repercussões das desigualdades racial e de gênero são graves e profundas tanto na saúde física como na mental[15], traduzindo-se por sintomas tais como fadiga, estresse, insônia, perda de apetite, depressão, isolamento, frustração, revolta e medo. “Pesquisas associam esses sintomas com o acelerado aumento das doenças cardiovasculares e do processo reprodutivo e a ao aumento do consumo de substâncias tóxicas” (Programa, 1998: 19-20). Em saúde pública brasileira, os dados, às vezes, são escassos e, levando em conta gênero, ficam mais incipientes. No entanto, em se tratando de mulheres negras, a situação torna-se grave, porquanto além de não se utilizar o “quesito cor” nas estatísticas oficiais sobre a saúde, provavelmente a medicina brasileira não deve possuir muita experiência nesse assunto, pois só desde uns cinquenta anos para cá iniciou-se, de forma generalizada, o tratamento médico da população negra, sendo que até hoje o acesso dos grupos pobres, onde inclui-se normalmente os negros, aos serviços de saúde de boa qualidade é bem precário. Dessa forma, por diversas razões, a população negra utilizou, e ainda o faz, os ensinamentos tradicionais sobre saúde da cultura afro-brasileira. Como não se tem um verdadeiro diagnóstico epidemiológico das doenças consideradas étnico/raciais, as políticas públicas na área de saúde não contemplam as necessidades concretas da população negra, notadamente das mulheres negras, construindo distorções e/ou privilégios para outros grupos sociais. Um exemplo disso, refere-se à falta de uma política oficial para a prevenção da anemia falciforme[16] em recém-nascidos, o que poderia evitar à alta mortalidade infantil e, no entanto, realizam-se testes no nascimento de crianças para outras doenças muito menos abrangentes. O diagnóstico precoce da anemia falciforme tem um papel central, porque, se tratada adequadamente, as consequências dessa doença para a vida adulta poderiam ser evitadas ou reduzidas (Oliveira, 1998: 97, 115136).[17] O Relatório da Mesa Redonda sobre Saúde da População Negra, inserida ao Grupo de Trabalho Interministerial para Valorização da População Negra (GTI) diz que “[...] a população negra brasileira é muito particular do ponto de vista genético. Não corresponde a nenhuma outra população de qualquer parte do mundo. [...] Da perspectiva médica, isso significa que o conhecimento a respeito de todos os aspectos biológicos ligados às raça/etnias negras, incluindo as doenças, podem ter no Brasil características próprias; [...] podem ter comportamento diversos daqueles observados, quer na África, quer em outros países da América ou da Europa [...] Até hoje os estudos que analisam as populações afrobrasileiras são muito escassos [...]” (Mesa, 1996:2). A quase inexistência de estudos sistemáticos sobre a saúde da população negra bem como das denominadas doenças raciais/étnicas[18] com ela relacionadas, deve-se talvez, “[...] da dificuldade de se lidar com a complexidade da questão racial entre nós, seja da incompreensão, por parte de muitos, em admitir que ainda hoje persiste a discriminação entre negros e brancos” (Souza, 1995: 1). Encontramos quinze, pontuais, no Guia de Referências Bibliográficas (NEN, 1998), afora certas referências esparsas em textos sobre a mulher negra. No Cadastro da Produção Intelectual (Barcelos, 1991) existem dois trabalhos sobre a saúde da mulher negra e um referente a racismo e os trabalhadores da saúde. Significativo avanço deu-se na década de 80, sob iniciativa da Profa. Dra. Elza Berquó e colaboradores que iniciaram estudos de demografia da população negra. Em 1992, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), implantou um Programa sobre “Saúde Reprodutiva da Mulher Negra” que, além das pesquisas, forma estudantes negras na área de saúde reprodutiva, realizando, concomitantemente debates e seminários a respeito da saúde/doença interrelacionada à raça, aceitando a anemia falciforme como doença racial e afirmando a hipertensão arterial como patologia de grande prevalência na população negra. Sugere-se, também, considerar o miomatose como uma doença racial da mulher negra (Souza, 1995: 81). Embora não se explique ainda a causa, afirma-se que as mulheres negras são mais predispostas a desenvolverem miomas uterinos do que as mulheres brancas. Diante disso, Souza (1995) aprofundou uma pesquisa de campo junto a um Centro de Saúde na periferia da cidade de São Paulo, numa população de baixa renda, constatando que, também em questões de saúde da mulher, além da discriminação social, existe a racial. Suas conclusões apontam para uma relação entre mioma uterino e saúde da mulher negra de baixa renda que ultrapassa as razões puramente biológicas, ou seja, pode existir uma predisposição biológica para tal doença, porém essa é acrescida das condições materiais de existência de mulheres negras, da pouca e tardia freqüência aos serviços de saúde e da desinformação quanto ao significado dos miomas para a saúde feminina (Souza, 1995: 80-81). Algumas pesquisas recentes têm mostrado que o diabetes tipo II (Oliveira, 1998) porém, ainda não há dados suficientes para diagnosticar todas como doenças genéticas raciais. Já outras análises “[...] apontam que a saúde da população negra não pode ser considerada como resultante da sua condição racial (exceto, a anemia falciforme), mas, sim, decorrente de suas condições sócio-econômicas, educacionais e das desigualdades históricas relacionadas com a pobreza” (Programa, 1998: 17). A desigualdade perante a morte no Brasil apresenta-se como um dado regional (a expectativa de vida é maior nas regiões sudeste e sul) e com acentuado recorte racial/étnico porquanto, pelos dados de 1980, a mortalidade de crianças negras é maior que de brancas, sendo que de cada 1000 crianças negras 105 morreram antes de completar um ano de vida enquanto de 1000 brancas, morreram 77 (Tamburo, 1987 apud Souza, 1995). “No caso de mortalidade adulta feminina constatou-se que a probalidade de sobreviver de mulheres entre 25 e 75 anos, classificadas como brancas, são sistematicamente maiores do que as das mulheres negras [...]” (Cunha 1995, apud Oliveira, 1998: 93-94). O relatório sobre Saúde da População Negra publicou parte das conclusões de Marco Antônio Zago representante da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto (Mesa, 1996:12). NOSOLOGIAS DAS POPULAÇÕES AFRO-BRASILEIRAS Condições geneticamente determinantes, dependentes de elevada freqüência de gene(s) responsáveis pela Condições adquiridas, derivadas de condições sócio-econômicas e educacionais desfavoráveis e intensa pressão social Doenças cuja evolução é agravada ou o tratamento é dificultado pelas condições ambientais indicadas Condições fisiológicas que sofrem interferência das condições ambientais citadas, contribuindo para a evolução de doença ou associada a ela Anemia falciforme Hipertensão arterial Diabete melito Deficiência de glicose-6fosfato desidrogenase doenças Alcoolismo Toxicomania Desnutrição Mortalidade infantil elevada Abortos sépticos Anemia ferropriva DST/Aids Doenças do trabalho Transtornos mentais Hipertensão arterial Diabete melito Coronariopatias Insuficiência renal crônica Cânceres Miomas Crescimento Gravidez Parto Envelhecimento Na atualidade, algumas organizações não-governamentais de mulheres, exemplificadas pelas MUSA-Mulher e Saúde (Belo Horizonte) e Rede Feminista (São Paulo) ou especificamente de mulheres negras como Geledés e Fala Preta (São Paulo), Criola (Rio de Janeiro), apresentam pesquisas sobre a saúde de negras. Entidades do movimento negro contribuem com atividades pontuais na área de saúde, sobretudo na prevenção de HIV/Aids e drogas, sendo que o diagnóstico, prevenção e tratamento da anemia falciforme vem merecendo especial atenção, inclusive com uma organização própria. Na opinião do Boletim Mulher e Saúde (1994), explicase os poucos dados oficiais sobre a saúde da população negra, pois a indicação de raça ou cor[19] não faz parte da maioria das pesquisas nessa área. A ausência do “quesito cor” ou a falta de preenchimento dele nos serviços de saúde impossibilita a pesquisa concreta da saúde da população negra. Diante disso, o movimento negro conseguiu que o Ministério da Saúde, em 1996, o incluísse nas pesquisas científicas[20] e o Programa Nacional de Direitos Humanos propôs, como uma de suas ações governamentais, a “Inclusão do quesito ‘cor’ em todos e quaisquer sistemas de informação e registro sobre a população e bancos de dados públicos” (Programa, 1998: 61). “Ainda não atingimos a compreensão da dimensão das diferenças raciais/étnicas, da opressão de gênero e do racismo na manutenção, recuperação e perda da saúde, em uma sociedade classista. As controvérsias são tantas e tamanhas, que o quesito cor – a identificação racial – é um problema/desafio nos meios científicos, entre profissionais, serviços, formuladores e implementadores das políticas de saúde. Os argumentos a favor e contra o preenchimento da cor das pessoas como da de identificação pessoal são inúmeras. As acusações de posturas racistas partem de ambos os lados. [...] Indicadores de saúde que consideram cor ou raça/etnia, são absolutamente necessários para que possamos avaliar a qualidade de vida dos grupos populacionais raciais ou étnicos; de que adoecem, como adoecem e de que morrem” (Oliveira, 1998: 43-44). Dentre as preocupações sobre a saúde da população negra, afirma-se a importância de considerar os diferenciais gênero, raça e classe social nos indicadores de saúde de cariocas, pois “[...] existem diferenças substantivas de ordem social no atendimento à saúde da população negra quando comparada com a branca. Há maiores índices de mortalidade entre negros, que também possuem famílias maiores e com maior proporção de mulheres-chefes” (Aguiar, 1994: 98). Barbosa (1998), em tese de doutorado, ressaltou que, em São Paulo, o “negro morre antes” do branco, concluindo também que a variável raça, enquanto categoria analítica para avaliar a saúde da população, deva ser inserida na dimensão social do processo saúde-doença. A escola pública, ao nível de primeiro grau, tornou-se, historicamente, locus, por excelência, de trabalho feminino. Contudo, diferencia-se essa “feminização da escola” porque nela coexistem tipos de diferentes atividades femininas: a prática de ensinar, deixada às professoras e a execução da alimentação e da limpeza, essas últimas tradicionalmente femininas e “domésticas”, executadas por merendeiras e serventes. Significativa percentagem dessas trabalhadoras em educação compõe-se de mulheres negras e pardas, com baixa escolaridade e em precária situação de vida que, no Rio de Janeiro, restaram-lhes serem mão-de-obra subalterna, sem especificação, em setores econômicos de menor dinamismo. As atividades laborais dessas trabalhadoras contribuem no processo educativo do ensino público. Primeiro, porque a função molecular exercida pela merendeira (ou pela servente devido a carência de funcionários) relaciona-se com a política pública da merenda escolar, cada vez mais complexa, em conformidade à precariedade dos nossos educandos. Além disso, configura-se, em muitos casos, que a refeição escolar vem cumprindo um papel importante e decisivo também para parte do corpo docente, devido não só ao deslocamento entre escolas, como também à pauperização do mesmo (Sá, 1986; Saviani, 1991; Hypólito, 1997). Em segundo lugar, na proporção que a escola apresenta uma especificidade própria, educar para a vida e trabalho, seus diferentes profissionais devem compartilhar desse objetivo. Então, limpar o ambiente escolar sugere implicações educacionais diferentes do mesmo serviço realizado em empresas ou fábricas. Como o aluno adquirirá hábitos de higiene e limpeza se não encontrar uma escola limpa com profissionais competentes e interessados que lhe ensinam? Serão entendidas as campanhas ecológicas, essenciais para a humanidade, se vislumbrar uma escola onde o lixo não é recolhido ou reciclado? Enfim, merendeiras e serventes configuram-se também educadores devido à interferência no “currículo oculto” do processo pedagógico na medida que, baseando-se nos conhecimentos de vida e trabalho, participam na criação de hábitos, atitudes e valores de alunos, numa efetiva e afetiva atividade de cuidar e ensinar, principalmente em decorrência de outras tarefas que lhes são impostas, como o auxílio no controle disciplinar dos alunos (Chaves, 1998; Codo, 1998:51). De forma geral, as relações de trabalho escolar apresentam-se com relativa harmonia, aparentemente cordiais e familiares. Contudo, existem conflitos, nem sempre sutis, entre o corpo docente – relativamente mais branco - e as merendeiras e serventes - na quase totalidade negras e mulatas -, reveladores dos antagonismos de classe, gênero e de raça do sistema capitalista. As escolas municipais terceirizaram parcialmente o serviço de higienização (cogitou-se, também, o da merenda), a cargo de empresas privadas que utilizam, em grande porcentagem, trabalhadores negros ou descendentes, numa tendência atual da flexibilização do trabalho, conforme a reestruturação do mundo produtivo. Portanto, a questão racial complexifica as condições de trabalho, contribuindo para somatizar o processo saúde-doença dos trabalhadores negros em educação. A trilha de novos procedimentos, teóricos e metodológicos, no campo da Saúde do Trabalhador, no Brasil, implicou novas abordagens sobre a subjetividade humana e concepções em saúde ampliadas, construídas e discutidas por pesquisadores como Canguilhen, Oddone (1981) Dejours (1994, 1998 e 1999), Damien Cru (1988), Kergoat (1989 e 1992), Athayde (1996 e 1998), Brito (1998 e 1999), dentre outros. Nesse sentido, “A prescrição do trabalho, no taylorismo, ignorava o conjunto de atividades mentais e psíquicas, na prática necessário para manter a regularidade da produção. Desconsiderava a variabilidade inerente à própria atividade que se pretendia prescrever. [...] A emergência da centralidade sobre a atividade introduz na Ergonomia, para além dos pares sistema homem-máquina ou sistema homem-tarefa, o [...] engajamento da pessoa por inteiro (corpo biológico, inteligência, afetividade, história de vida, sociabilidade) a cada momento, pelo trabalho” (Athayde, 1996: 5455). Ora, o ser vivo busca, ativa e permanentemente, encontrar forças vitais através da inteligência e da afetividade que o possibilite enfrentar as vicissitudes marginalizadoras do meio, com o fim de construir um equilíbrio saudável, evitando os processos de adoecimento. Com o fim de compreender esses processos subjetivos, adotamos um conceito de saúde ampliado, envolvendo a dinâmica de sua conquista e preservação. Então, falar de saúde humana implica “[...] uma mobilização de corpo e alma, de energia, de sangue, de ossos, de músculos, de memória, de desejos, de ódios. [...] saúde não é algo que vem do exterior [além das condições do meio] não é assunto dos outros, de instituições, do Estado, dos médicos ou dos psicólogos. É algo que se conquista, que se enfrenta e de que se depende, sendo fundamental o papel de cada um nesse combate. [...] ...uma sucessão de compromissos que as pessoas assumem com a realidade ... [...] saúde é um campo de negociação cotidiana e permanente por tornar a vida viável. [...] ... a capacidade das pessoas tolerarem as instabilidades do meio, da vida” (Neves e Athayde, 1998: 31-32, grifos nossos). Logo, o homem sadio é um produto da experimentação, de uma auto-manutenção, um autocuidado, porquanto apresenta a capacidade de refletir e intervir sobre sua saúde e vida. Pressupomos que o corpo humano é um produto social na medida que “[...] su actividad de inscrición em un medio característico, su modo de vida escognido o impuesto, deporte o trabajo, contribuyen a modelar su fenotipo, o sea a modificar su estructura morfológica llevando a singularizar sus capacidades” (Caponi, 1997: 293). Então, a saúde do trabalhador em educação engloba as dimensões históricas, os antagonismos de classe, de gênero e de raça, as tradições culturais e seu imaginário social, reconhecendo a união indissolúvel entre corpo e mente, entre trabalho e vida. A saúde-doença configura-se como um fenômeno biopsíquicosocial porquanto “[...] é uma realidade construída tanto historicamente, como dentro da expressão simbólica coletiva e individual do sujeito” (Minayo, 1997:32). A organização produtiva do trabalho capitalista propicia várias experiências e, além de outras, o sofrimento “inevitável e ubíquo” com raízes na história singular do sujeito. Dejours (1994) acredita que as pressões desestabilizadoras para a saúde mental do trabalhador decorrem principalmente da organização do trabalho, entendida de um lado como a divisão do trabalho (divisão de tarefas, cadência, modo operatório prescrito) e de outro a divisão de homens (repartição das responsabilidades, hierarquia, comando, controle). Destaca que a “divisão de homens” diferencia fortemente as conseqüências psicopatológicas no ambiente de trabalho, pois “[...] solicita sobretudo as relações entre pessoas e mobiliza os investimentos afetivos, o amor e o ódio, a amizade, a solidariedade, a confiança etc”. Seu conceito de homem privilegia a singularidade do sujeito, ser único pensante, “[...] portador de desejos e projetos enraizados na sua história singular” (1994: 126, grifos do autor). Então, na relação homem-trabalho leva em conta “[...] que em qualquer circunstância ou situação o trabalhador não será nunca considerado um indivíduo isolado...” (1994:138). Nessa perspectiva, a individualidade humana permanece estreitamente vinculada à história coletiva de seu tempo e espaço. Seus desejos e projetos partem de um repertório que lhe é dado de acordo com o desenvolvimento das forças produtivas, assim como sua consciência depende da maneira que vive sua sobrevivência material. Se o trabalho é o mesmo para todos porque uns sofrem mais que outros? Conforme Dejours (1994: 123), não é o trabalho por si mesmo que traz a doença mental, o sujeito trabalhador é capaz de compreender sua situação e também de reagir e defender-se, em função dos procedimentos psíquicos que lhe são próprios de acordo com sua história singular, preexistente ao trabalho. O sofrimento em trabalho articula dados temporais e espaciais na medida que sofrer “[...] não só implica processos construídos no interior do espaço da fábrica, da empresa ou da organização, mas convoca de acréscimo processos que se desenrolam fora da empresa, no espaço doméstico e na economia familiar do trabalhador” (Dejours, 1992: 151). Acrescentamos, também, o espaço da escola, onde a infância permanece por longo período, aprendendo a socialização e a cultura vigentes. Incluir a subjetividade humana nas questões sobre saúde-doença, deixa entrever particularidades, singularidades, diferenças que interferem no processo de adoecimento ou não. Descobre-se o “outro”[21]. Dessa forma, a categoria gênero vem sendo aceita como referencial de estudos sobre a saúde das trabalhadoras, permitindo várias constatações sobre diferenças de comportamento entre os sexos no trabalho, dentre delas, as modalidades do “sujeito coletivo” nos grupos operários (Kergoat, 1989: 257). As pesquisas sobre trabalhadoras permitem não mais raciocinar em termos de trabalhador assexuado, nem tão pouco, pelo nosso entendimento, trabalhador desvinculado de um grupo racial/étnico. Então, admitindo que a subjetividade interpenetra no processo de vida saudável do ser humano, analisar as relações de trabalho e a saúde das merendeiras e serventes, pressupõe, obrigatoriamente, compreender o sentido de trabalho concedido à mulher negra, incluindo a categoria racial como indicador social no processo de saúde-doença de merendeiras e serventes. Tradicionalmente, no campo da saúde do trabalhador, estudara-se o trabalhador industrial, portanto a preocupação com os educadores, que vêm sofrendo cada vez mais com a precarização da escola, configura-se como novidade e grande desafio (Brito et alli, 1998: 5). Hoje em dia, temos contato com projetos pontuais sobre saúde do educador surgidos em Salvador, João Pessoa, Vitória, Betim e Rio de Janeiro[22], destacando-se nessa demanda, algumas vezes, os esforços dos sindicatos de professores, públicos ou particulares. Dentre as pesquisas sobre o trabalhador subalterno na escola, citamos o Projeto Merendeiras e Serventes que o Centro Municipal de Saúde “Píndaro de Carvalho Rodrigues”, na Gávea, realizou, em 1988-1989, como parte do Projeto Saúde/Educação, desenvolvido pela Comissão Regional Saúde/Educação do Rio de Janeiro, em convênio com o então 3º Distrito de Educação e Cultura (DEC), atual 2a Coordenadoria Regional de Educação (CRE), na zona sul (Rio de Janeiro, SMS, Relatório, 1989). A equipe multiprofissional do referido projeto, composta por assistente social, enfermeiro, clínico geral, ginecologista, nutricionista e psicóloga atenderam vinte e seis escolas municipais localizadas nos bairros: Gávea, Leblon, Ipanema, Copacabana, Urca, Botafogo, Laranjeiras, Flamengo e trechos da Tijuca e Vila Isabel, dentre vários. O objetivo era atender merendeiras e serventes de todas as escolas da região, através do exame clínico e ginecológico, “[...] bem como pela realização de grupos de debates, com o enfoque da valorização (ou não) institucional destes servidores (Rio de Janeiro, SMS, Relatório, 1989). Do total de 240 servidores das escolas, 228 compareceram e participaram tanto dos debates quanto submeteram-se ao exame clínico, demonstrando bastante interesse no tratamento de saúde. Os resultados firmaram um ou mais diagnóstico de doença para a maioria dos servidores, de ambos os sexos. A patologia mais frequente foi a hipertensão arterial (63.5% e 57.9% de mulheres e homens, respectivamente), dectando, também, outras, como: distúrbios neurovegetativos, tireoidopatias, verminoses e onicomicoses. Os dados de 1995, coletados pela pesquisa do CESTEH confirmam a freqüência da hipertensão arterial, então, será essa doença detectada porque merendeiras e serventes pertencem à população negra, mais propensa à mesma? (Oliveira, 1998: 44-93). Em termos ginecológicos, 98.2% das mulheres examinadas apresentaram diagnósticos de doenças, encontrando, portanto, apenas dois casos de mulheres sadias. As conclusões do projeto foram: “Ao relacionarmos as patologias detectadas nos exames realizados nos servidores e a sua fala sobre as condições de trabalho e de vida, evidencia-se a influência destas na saúde do trabalhador: a falta de material de proteção X insalubridade da tarefa executada, a organização fortemente hierarquizada X estresse, as condições de trabalho (excessivo e pesado, ambiente quente) X estresse” (Rio de Janeiro, SMS, Relatório, 1989). Um reflexo das péssimas condições de vida e trabalho de serventes e merendeiras constata-se no tempo médio, trabalhado pelas mesmas, antes de readaptarem-se: sete anos para as merendeiras e doze anos para os serventes (CESTEH, 1999), justificando o argumento da Secretaria Municipal de Educação para legitimar a terceirização da higienização escolar. O processo de readaptação é um direito que todo servidor municipal possui, garantido pelo seu Estatuto e sancionado pela junta médica do Departamento de Perícias Médicas da Prefeitura. No entanto, é uma solução paliativa e não curativa para graves problemas de doenças, evitando-se a aposentaria, pois não há acompanhamento médico, encaminhamentos a tratamentos oficiais, seja de fisioterapia ou outro qualquer. A servidora precisa cuidar-se sozinha. Normalmente, nas escolas, marginaliza-se a servidora readaptada, subentendo-se que a readaptação fora conseguida pela sua vontade e não como o resultado de alguma doença, na maioria, ligada ao trabalho. Na verdade, as readaptadas deveriam continuar trabalhando em serviços mais leves mas, atualmente, devido a desestruturação organizacional da escola pública, com a carência de funcionárias, as merendeiras e serventes readaptadas exercem quase a mesma função anterior: “Bem. Aqui na escola mesmo já tivemos duas merendeiras readaptadas: uma com um problema de coluna, [...] acabaram aposentando ela. E tínhamos uma outra, ela veio até a falecer, porque ela tinha assim, um problema. [...] no coração e ela não podia fazer certos esforços mas, como ela trabalhava aqui, ela insistia. Às vezes, nós falava até assim... muita coisa para poupá-la. E ela estava sempre em atividade e foi indo, caindo, piorando mesmo o estado dela. [...] Ela chegou a ser aposentada, mas veio a falecer” (Merendeira Regina, entrevista. In: Chaves, 1998: 139). “A gente sai bem de casa e acha a doença no trabalho” (Rio de Janeiro, SMS, Relatório, 1989). Apesar da sabedoria contida no depoimento de um funcionário de apoio, de maneira geral, as serventes e merendeiras não relacionaram as condições de trabalho nas escolas com suas doenças. Não se apercebem da problemática que lhes acarreta ganharem baixos salários, insuficientes para o sustento e precisarem trabalhar sempre em outros serviços, causando com isso, entre várias doenças, desgaste físico e estresse. Bem exemplificam as condições de trabalho atuais, a existência de uma merendeira que, em 1998, morando em Nova Iguaçu, município vizinho ao Rio de Janeiro, demorava duas horas para chegar à escola, onde era considerada subalterna; cozinhava e servia mais ou menos 300 refeições, encarregando-se de limpar os utensílios assim como os espaços utilizados para tal tarefa. Após vinte e seis anos desse tipo de atividade, ganhava R$215,00 líquidos e, gastando R$76,00 mensais em passagens (mais de 30%), sobrava-lhe R$124,00 para sua sobrevivência. Diante disso, responsabilizava-se, nos fins de semana, pela conservação e a faxina de uma clínica médica, localizada na Barra da Tijuca, local também muito distante de sua moradia. Estaria doente? Sua possível doença teria relação com suas condições de vida e trabalho? “Não, por enquanto não. Até, às vezes, neste ponto, eu sou privilegiada porque eu vejo outras pessoas que tem problemas na coluna: sente dor aqui, sente dor ali. Eu, graças a Deus, [risos] eu agradeço muito a Deus por não sentir nada disso, entende? No final do dia, nós estamos assim cansada, às vezes até estressada mas, assim, doença propriamente dita, não” (Merendeira Regina, entrevista. In: Chaves, 1998: 133). Ora, o senso comum não considera doentes pessoas cansadas, nervosas, agitadas, com insônias, enfim apresentando todos os sintomas do estresse que, na grande maioria das vezes, é consequência do excesso de trabalho. Assim, ela sente-se privilegiada. Na verdade, quase inexistem estudos sobre a saúde de docentes negras em escolas públicas e, muito menos, de funcionárias negras que realizem trabalhos “manuais” e “femininos”, cozinhar e limpar. Porém, em nossa permanência como professora durante quase trinta anos e recentemente durante nossa observação sistemática do cotidiano escolar, numa pesquisa de mestrado em educação, constatamos que as trabalhadoras negras e pardas experenciam condições de vida e trabalho que refletem negativamente em seu estado geral de saúde, acarretando-lhes problemas físicos e/ou psíquicos. Exemplificam-se as hierárquicas e discriminatórias relações de trabalho, aparentemente cordiais mas, por vezes, conflituosas, interligando questões de classe, gênero e raça. Sendo apresentadas, geralmente, pela comunidade escolar como “empregadas domésticas”, recebem tratamento funcional, socialmente semelhante à esse tipo de trabalho no setor privado: salários mínimos, ausência de planos de carreira, de qualificações e/ou reciclagens, condições de trabalho precárias - seus locais e instrumentos de trabalho apresentam-se inadequados, ineficientes e insuficientes -, inexistência de concursos públicos para suprir a imensa carência de funcionárias, acarretando um acúmulo e desvio de funções. Sem noções de segurança no trabalho, usam, sem indumentárias adequadas, produtos de limpeza acondicionados, às vezes, em latas sem rótulos e de qualidade duvidosa[23], limpam banheiros e diversos tipos de lixos, carregam panelas quentes e pesadas (Chaves, 1998; Silva, 1999: 6). No que diz respeito à prevenção[24] e ao tratamento da saúde, há uma carência de postos médicos e/ou hospitais próprios dos servidores públicos. Objetivando dar uma solução ao problema, os governos municipais propuseram um novo plano de saúde. Mas, “[...] agora nós tamos até sem plano do governo, porque tem o desconto no contra-cheque e a gente não sabe nem aonde ir. Ninguém consegue explicar o que é aquilo. Pelo menos as pessoas que eu pergunto ninguém sabe explicar o que é isso... [...] então, do governo, nós estamos assim desprovidos de... Para tratamento de saúde nós estamos sem nada” (Merendeira Regina, entrevista. In: Chaves, 1998: 141). Se levarmos em conta o valor em dinheiro recebido pelas merendeiras e serventes, sabemos que não possuem condições de pagarem planos de saúde particulares, apesar de algumas descontarem quase um quarto de seus salários para determinada associação de funcionários públicos, a qual oferece consultas e exames pela metade do preço, além de cestas básicas, pagas em prestações bem pequenas (Merendeira Helena, entrevista. In: Chaves, 1998: 141). Outras servidoras negam-se ao plano particular, “[...] primeiro, que o dinheiro não dá para isso e, depois, as coisas que você vê são tão controvérsias contra os plano de saúde. Então, eu não pago plano de saúde não” (Merendeira Regina, entrevista. In: Chaves, 1998: 141). A locomoção para o trabalho das merendeiras e serventes apresenta-se desigual nas escolas pesquisadas. Em geral, as “voluntários”, convidadas para o serviço público, ficaram em escolas situadas perto de suas moradias, mas as que realizaram concursos públicos foram lotadas em regiões diversas da cidade do Rio de Janeiro, algumas, precisam utilizar até dois ônibus diários, em duas horas de percurso: “[...] sempre tive aquela confusão de ter que faltar porque não tinha dinheiro pra passagem, trabalhar num lugar, morar em outro. Por isso, as coisa começaram a enrolar muito na minha vida...” (Merendeira Helena, entrevista. In: Chaves, 1998: 141). Para determinadas a questão do transporte tornou-se problemático, agravado pela dificuldade em conseguir remoções. A metade de serventes e merendeiras de uma escola, num total de dez, residiam em bairros de periferia e trabalhavam na zona sul, gastando tempo e dinheiro para chegarem aos locais de trabalho. Então, demonstravam hábitos de faltas ao trabalho, acarretando uma sobrecarga para as assíduas e gerando, às vezes, conflitos com a comunidade escolar. Tornaram-se, na verdade, em termos funcionais, péssimos colegas e servidoras. “Eu tenho que sair às 5:30h da manhã, porque se eu não pegar o ônibus de 5:30h, criatura, o trânsito na [avenida] Brasil... eu vou chegar muito tarde na escola, 8:00h. Eu tenho que chegar cedo, por isso que eu tenho que sair muito cedo. [...] A passagem foi pra R$ 0,65; eu pego quatro ônibus: dois pra ir, dois pra voltar. É muito dinheiro. [...] Tem uma ajuda, aí, no contracheque que o prefeito dá. É uma mixaria. [...] Eu tenho uma porção de faltas; eu acho que eu tenho três meses de falta. Quando eu tiver que me aposentar, vou ter que pagar isso tudo ao município” (Merendeira Helena, entrevista. In: Chaves, 1998: 142). Ainda em 1999 comprovava-se isso. Existem serventes que moram em outro município, São Gonçalo, distante uns setenta quilômetros da escola, precisando apanhar dois transportes e demorando de duas a três horas no percurso (Observação). O tempo e o dinheiro gastos com o transporte tornou-se uma reclamação imediata e constante de algumas servidoras que desejavam obter a possibilidade de trabalhar próximo às suas moradias. As situações a respeito da distância entre trabalho e moradia, às vezes, são tão problemáticas que um servente, indignado, fêz-nos refletir: “Faz a conta de uma pessoa que mora no Meier, Engenho Novo, Campo Grande que vem trabalhar em Copacabana. Vê quanto essas pessoas gastam de passagem. [...] O que sobra no mês? Nada! Vai sobrar o quê? Vai viver de quê? De passagem? Eu quero ver. Essas meninas nossas aqui, que pegam dois ônibus... [...] Então, você bota dois ônibus por dia nestas pessoas e a senhora faz a conta, no final do mês, de R$120,00, o que vai sobrar para elas? Esquece que os filhos comem? [...] Mas, a questão não é ter marido, a questão é que é sacrificado o salário de trabalho. [...] Não, claro que não compensa. [...] Eu acho que está trabalhando só para pagar passagem. Agora, em torno de si próprio não está ganhando nada” (Servente Sérgio, entrevista. In: Chaves, 1998: 142-3). Contudo, mesmo com as distâncias, parece que existe elevada permanência da servidora na mesma escola, talvez, pelos laços de amizade com a instituição, as direções, os professores e, principalmente, os alunos, tornando-se a “tia” e, algumas vezes, o “tio” de toda a comunidade escolar. Dependendo da conjuntura, preferem trabalhar nos mesmos ambientes a arriscar situações novas em escolas desconhecidas, permanecendo, geralmente, até aposentarem-se e só o fazem quando se faz extremamente necessário e, comumente, retornam, para ajudarem no que for preciso ou ganharem um “extra”. Dentre os vários exemplos, citamos uma merendeira que trabalhava na mesma escola desde os 18 anos, perfazendo um total de 26 anos e outra que, após aposentar-se, vendia, diariamente, salgados e doces na cantina, além de ajudar na limpeza do refeitório. Sem noções de segurança no trabalho, juntamente com às péssimas condições dos equipamentos, ocorrem, em inúmeras ocasiões, acidentes de trabalho, que, às vezes, não se configuram como tal: queimaduras leves ou mais sérias em panelas e/ou alimentos quentes, cortes leves e profundos com as facas, quedas ao lavar a cozinha ou correndo para atender rapidamente as criznças, reações alérgicas a produtos químicos (CESTEH, 1998: 6). Em 1992, numa escola municipal, em Jacarepagua, Rio de Janeiro, uma merendeira, ao ligar a coifa em cima do fogão, morreu eletrocutada. Constatou-se que as telhas quebradas, já há bastante tempo, permitira a entrada de chuva, acontecendo, assim, um curto circuito (Sátyro, [1994]:1). Atualmente, além de toda a precaridade das condições de trabalho acrescentou-se o temor à violência do tráfico de drogas (Rocha, 1998).[25] Revelou-se que, do início do ano letivo até meados de abril de 1998, 95% das informações, recebidas pelo serviço de utilidade pública, o “Disque Denúncia”, envolvem escolas públicas, num total de 132 acusações sobre traficantes. Um dos fatos que demonstram, concretamente, o lugar de subalternidade, reservado às funcionárias administrativas, é a questão salarial e a inexistência de planos de carreira. “[...] eu, por mim, completaria meus trinta anos de serviço.[...] Nosso serviço, nosso sacrifício, tudo podia ser um pouquinho mais valorizado. Até mesmo o aumento do salário. Você sabe que a gente tem um aumento de salário aprovado e esse aumento não sai nunca. O Prefeito não está ligando” (Merendeira Regina, entrevista. In: Chaves, 1998: 145). É conveniente, para o estado capitalista e sua gestão da trabalho de acordo com o taylorismo/fordismo, pagar altos salários a uma aristocracia operária, os trabalhadores intelectuais. Primeiro, porque os rendimentos assalariados servem para a manutenção do nível de vida adequado ao dispêndio particular de energias musculares e nervosas; segundo, seria antieconômico substituir, constantemente, os trabalhadores especializados que compõem um organismo e, finalmente, mas não menos importante, bons salários significam não apenas uma das formas possíveis de se obter a persuasão e o consentimento de uma determinada parcela da sociedade (Gramsci, 1980: 405-7) como também cria e potencializa os consumidores das mercadorias. Estabelece-se, então, uma hierarquia financeira entre os trabalhadores assalariados, beneficiando alguns, enquanto as remunerações de outros, semelhantemente às merendeiras e serventes, encontram-se no patamar do mínimo. Inclusive, recebem menos que determinadas empregadas domésticas que, além de melhor salário, às vezes, usufruem de outras vantagens. “Fiz agora, dia 10 de janeiro [1998], vinte e cinco anos de estar no município. Meu vencimento, por 25 anos de trabalho, é R$ 145,92. Tenho auxílio-transporte de R$ 28,40, salário família que recebo para minha mãe é R$ 6,18 e o triênio, que é de R$ 65,88. Então, o total é de R$ 244,14. Tenho de desconto R$ 28,00 e recebo R$ 215,00. Quer dizer, este salário não dá para ninguém sobreviver. Então, eu tenho outro trabalho por fora, que é para complementar esse salário” (Merendeira Regina, entrevista. In: Chaves, 1998: 146). Talvez, as razões da baixa remuneração sejam porque o estado burguês pressupõe uma facilidade no consentimento ideológico do segmento social das merendeiras e serventes ou porque a reprodução dessa força de trabalho, de fácil substituição, necessita de mínimos cuidados. Ou, ainda, pela fragilidade política e econômica, apresentada pelo trabalhador simples, devido à grande oferta dessa mão-de-obra no mercado, acrescida, nos nossos dias, pelo intenso desemprego. Marx já afirmara que a diferença valorativa entre os trabalhos simples e complexo baseia-se também na “[...] situação desamparada de certas camadas da classe trabalhadora...” (1983:162), que não lhes permite condições de pressionar para melhores salários. No caso específico das merendeiras e serventes constata-se, também, a maneira que o Estado carioca propõe a educação: a merenda escolar está sendo reservada aos filhos de extratos subalternos da classe trabalhadora e, para assisti-los, utiliza-se de trabalhadores superexplorados: “É ruim! Acho que o prefeito também nem lembra que a gente existe” (Merendeira Helena. Entrevista. In: Chaves, 1998: 145). Portanto, os salários pagos a serventes e merendeiras das escolas expressam o valor que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro lhes dá, como também, seu projeto de escola pública. Praticamente, todas as serventes e merendeiras precisam trabalhar para aumentar o rendimento. Comprovando as diferenças de gênero, as mulheres fazem comidas, doces ou salgados para vender e, “[...] às vezes, eu faço um bico, lavando roupa, passo roupa numa casa, passo em outra, já fiz faxina, agora que a idade está chegando, eu aguento mais é passar roupa” (Servente Joana, entrevista. In: Chaves, 1998: 147-8). Já os servidores de sexo masculino trabalham como pintores, pedreiros, ladrilheiros, vigias, jardineiros, ambulantes ou lavadores de carros. Afirmamos que a divisão de trabalho, negando valor social ao trabalho simples, determina, na nossa sociedade capitalista, posições subalternas. O setor educacional expressa esse fato quando a Secretaria Municipal de Educação diferencia os profissionais de educação entre trabalhadores manuais e intelectuais: concedeu um relativo aumento salarial aos professores mas, apesar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, desde 1996, ter aprovado um vencimento de R$250,00 para os funcionários, não cumpriu a lei. Em março de 1998, prometeram conceder 20% de gratificação para os funcionários administrativos e, dentre eles, os serventes e merendeiras. Porém, “[...] apesar do aval do prefeito, [...] eu acho que a secretaria [de educação] está com muito pouco empenho, muito pouca vontade política de pagar a gratificação” (Jusciara, merendeira militante SEPE, entrevista. In: Chaves, 1998: 147). A grande maioria dos serventes e merendeiras moram em bairros pobres ou em favelas, locais marginalizados, geralmente de difícil acesso e de alto risco. Assim, desejando uma moradia melhor situada e sem encargos financeiros, uma servente procurou uma vaga de residente em escola municipal, mesmo que essa fosse longe da região sul, onde vivia anteriormente e apresentasse outras desvantagens funcionais como não poder ausentar-se da escola sob hipótese alguma (Observação). No entanto, alguns, ao longo de suas vidas, conseguiram possuir residências um pouco mais decentes, normalmente em conjuntos residenciais de periferia, próximas de seus locais de trabalho, demonstrando gostarem do local onde moram (Servente Luíza, entrevista. In: Chaves, 1998: 148). Um caso excepcional é o de uma merendeira: “Moro em casa própria que eu ganhei. [...] Eu não tive condições de pagar mais aluguel aí, eu fiz um barraco numa área de alto risco. [...] e é perigoso. Deram [a prefeitura] uma casinha decente pra todo mundo. Eu tenho a minha e procuro dar o máximo de valor que eu posso, ao que eu consegui. [...] Minha casa é um cômodo, tipo quitinete. Tem um banheiro, tem uma cozinha e tipo uma sala onde pode se fazer um quarto também. E um quintal lá atrás, para crescer. Neste quintal atrás que eu estou fazendo os quartos” (Merendeira Helena, entrevista. In: Chaves, 1998: 149). A situação de pobreza e a precariedade das moradias dos funcionários subalternos das escolas públicas paulistas assemelha-se à encontrada nas do Rio de Janeiro. Logo, uma diretora, ao visitar determinada servente, em sua casa, comentou: “Ontem eu me espantei... Nossa servente aqui, a Alba, que é muito arrumada. [...] Ela mora aqui perto ela foi operada e tá de licença. Eu fui vê-la. Eu me espantei! Eu me espantei! Eu fiquei pasma, e as outras também ficaram, que foram comigo. [...] Ela mora numa casa de dois cômodos. É um quarto e uma cozinha...[...] E a cozinha... E o banheiro é lá fora. Me deu um desespero” (Paro 1995:183). Perante esses fatos, a partir de 1996, a Secretaria de Funcionários do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (SEPE), em parceria com o Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Escola Nacional de Saúde Pública (CESTEH/ ENSP/FIOCRUZ) e o Instituto de Psicologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), vêm procurando viabilizar uma “comunidade ampliada de pesquisa”, objetivando o conhecimento das relações entre as condições de trabalho e a saúde na escola[26]. A nível nacional, o projeto “Relações de Trabalho, Organização e Saúde dos Trabalhadores em Educação”, realizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e o Laboratório de Psicologia do Trabalho da Universidade de Brasília relata a existência da “Síndrome de Burnout”[27], - também conhecida por síndrome especial de “esgotamento” profissional (Seligmann-Silva, 1994: 76) -, em docentes e funcionários de escolas públicas. Embora admitamos a imensa contribuição dessas pesquisas, mostrando, algumas, a importância da categoria gênero na análise da saúde do trabalhador em educação, a não inclusão da problemática racial torna-os incompletos, porquanto desprovidos de uma subjetividade fundamental para a análise do educador, negro ou não, assim como estão ausentes uma abordagem que articule as políticas de saúde e educação e o processo histórico de transformação do trabalho nas unidades escolares. As considerações finais da primeira fase do projeto do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana dizem que: “Os dados aqui apresentados nos revelam uma realidade caracterizada por um trabalho desgastante, ambientes e organização do trabalho inadequados e que contribuem para potencializar o desgaste já produzido pelas atividades inerentes a esse tipo de trabalho. Isso tudo determina as condições de saúde dos profissionais da educação, que são revelados também pela readaptação profissional, que se configura um indicador das condições de trabalho dessa categoria. [...] as queixas de saúde também se configuram reflexos e resultados das condições de trabalho a que são submetidas merendeiras e serventes, potencializados pelo seu modo de vida, que por sua vez é determinado pela sua posição no mercado de trabalho e pelo reconhecimento (ou não) do seu trabalho, expressos pelos baixos salários e pelo não investimento em reciclagem, em reposição de profissionais tendo em vista a defasagem em que se encontra” (CESTEH, 1998: 39-40). Entre os fatores que prejudicam a saúde das merendeiras e serventes podemos citar alguns relacionados ao tipo de trabalho que executam e à forma organizacional do trabalho escolar assim como outros referentes aos de sua vida pessoal. Dentre os últimos, destacamos algumas características da categoria: a maioria é composta de mulheres não muito jovens, entre 35 a 55 anos de idade, negras e pardas, pobres, com pouca escolaridade, sem formação profissional, com salários reduzidos e, algumas são “chefes de família”. Necessitam, portanto, trabalhar em outras atividades para sobreviverem e/ou sustentarem seus filhos e família, perfazendo assim uma dupla ou tripla jornada de trabalho, com uma sobrecarga de trabalho e pouco tempo para repouso. Como as escolas públicas não realizam exames médicos periódicos, observando a saúde do trabalhador, as merendeiras e serventes, sem condições financeiras para tratamento, não têm uma acompanhamento médico durante suas vidas. As atividades laborais que realizam, cozinhar e limpar, sendo que, às vezes, cuidam da disciplina de alunos, assemelham-se ao que fazem em seus lares, tornando-se repetitivos e monótonos que podem “[...] levar ao esgotamento ao longo do tempo” (Silva, 1999: 4). As condições e a organização de trabalho em escolas públicas apresentam escassez de funcionários, tempo curto para preparo das refeições e para limpeza de banheiros e salas de aulas, precariedade e inadequação dos equipamentos, instrumentos e ambientes de trabalho. Podemos considerar esses fatores de trabalho escolar e vida como iguais para merendeiras e serventes brancas ou negras. Porém, existem outros que os agravam. Falamos da negação ao reconhecimento social e à auto-estima, tradicionalmente suportada pela população negra, notadamente pelas mulheres negras (Violência, 1998). Em relação à saúde, temos que as mulheres negras vão menos ao médico, quando o fazem é mais tarde, demoram a casar e ficam menos tempo com companheiros fixos (Souza, 1995). O segundo relatório parcial do CESTEH, de dezembro de 1999, revela-nos tabelas e gráficos das frequências das readaptações de merendeiras e serventes no ano de 1995, conforme os dados recolhidos no Departamento Médico. Vide tabela 6 (CESTEH, 1999:5): DISTRIBUIÇÃO POR PORCENTAGEM DAS READAPTAÇÕES CONCEDIDAS NO ANO DE 1995 SEGUNDO O TEMPO DE SERVICO DOS PROFISSIONAIS: TEMPO DE SERVIÇO MERENDEIRAS SERVENTES 0,5 – 5 1,2 0,4 5 – 10 60,0 29,5 10 – 15 18,8 37,3 15 – 20 16,5 19,2 20 – 25 25 – 30 30 – 35 TOTAL 1,2 2,3 00 100 12,1 0,7 0,4 100 Levando em conta o tempo de serviço anterior à readaptação, podemos concluir que o tempo útil[28] de trabalho de merendeiras e serventes varia de cinco a quinze anos (78,8% e 67,3 respectivamente), constatando uma maior incidência entre 5-10 para as primeiras e entre 10-15 para as segundas, numa média de 7 e 12 anos. Se compararmos esses números com o tempo de trabalho útil dos escravos brasileiros - 7 a 8 anos -, veremos que a situação de trabalho da população negra aparentemente pouco ou nada mudou. Mulheres negras continuam cozinhando e limpando, adoecendo prematuramente, dispondo de uma vida bem abaixo do desejado, segundo o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, que pressupõe um bem estar do indivíduo. Vejamos a tabela 3 (CESTEH, 1999:2): PERCENTAGEM SEGUNDO AS CLÍNICAS DOS CASOS DE READAPTAÇÃO NO ANO DE 1995 NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO RIO DE JANEIRO CLÍNICA MERENDEIRAS SERVENTES CARD 36,9 44,2 PSI 5,9 6,3 ORTO 21,5 18,6 REU 20,2 12,0 CLIN GER 5,9 8,1 ORL 1,2 1,7 NEU 4,8 5,3 OFT 0 1,4 DER 2,4 1,4 PNEU 1,2 1,0 Observando as clínicas médicas, notamos que a cardiologia, a ortopedia, a reumatologia, a psiquiatria e a clínica geral são as mais constantes nas readaptações em merendeiras e serventes, sendo que a cardiologia, no caso de serventes, supera inclusive as específicas desse tipo de trabalho (Ortopedia/Reumatologia), aproximando-se, em relação às merendeiras. Ora, a hipertensão arterial causa cansaço excessivo, dor no peito, turvação da visão, tonteiras, queixas normalmente citadas por merendeiras e serventes em suas entrevistas (CESTEH, 1998:4). Então, será que haveria relação entre os problemas cardiológicos de merendeiras e serventes e o fato de serem mulheres negras, conforme incidência dessa patologia em negros? (Spínola, 1994:2; Oliveira, 1998: 110-111). “A vida da gente é que bota a gente já assim, mas eu não posso me concentrar nisso...” (Merendeira Helena, Entrevista. In: Chaves, 1998: 174). Mesmo com todas as dificuldades de relacionamentos, as péssimas condições de trabalho e saúde, os salários baixos, a sobrecarga de trabalho devido ao desvio e acúmulo de funções, afora alguns direitos trabalhistas negados, merendeiras e serventes continuam trabalhando nas escolas públicas. Talvez, para que exista um local onde os filhos dos trabalhadores subalternos, possam estudar. Todavia, também, porque essas instituições de ensino, ainda que, às vezes, abandonadas, representam a base material de suas existências. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS A POPULAÇÃO negra e os problemas da saúde pública no Brasil: três aspectos importantes. In: Seminário Relações Raciais e Mercado de Trabalho. Belo Horizonte: Pontifícia Universidade Católica, 1997. AGUIAR, Neuma. Rio de Janeiro Plural: um guia para políticas sociais por gênero e raça. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos: IUPERJ, 1994. 168 p. ANPUBH-S. Saúde, Educação, Trabalho. Belo Horizonte: Associação Profissional dos Docentes da UFMG/ Seção Sindical da ANDES-SN, 1997. ATHAYDE, Milton R. C. de. Gestão de Coletivos de Trabalho e Modernidade: Questões para a Engenharia de Produção. (Tese de Doutoramento). Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1996. BARBOSA, Maria Inês da Silva. Racismo e saúde. São Paulo: 1998. 134 p. ilus, tab. (Tese de Doutoramento). Departamento de Saúde Materno-Infantil. Faculdade de Saúde Pública. Universidade de São Paulo. BARCELOS, Luiz Cláudio [et al.]. Escravidão e relações raciais no Brasil: Cadastro da produção intelectual (1970-1990). Rio de Janeiro: Centro de Estudos Afro-Asiáticos, 1991. BEATO, Lucila Bandeira. O negro e o Mercado de Trabalho no Interior Paulista. In: Outros Olhares. Centro de Memória - Unicamp, n.1, jan./jun. 1996. BERENO, A.. A pós-modernidade: a política de alteridade como um princípio educativo. (Mimeo). BERQUIÓ, Elza (coord.). População negra em destaque. São Paulo: CEBRAP, 1998. BOLETIM Estatístico sobre a situação sócio-econômica dos grupos de cor no Brasil e em suas regiões. Os números da cor. Rio de Janeiro: Conjunto Universitário Cândido Mendes, 1996. BOLETIM Mulher e Saúde. São Paulo: Sempreviva Organização Feminista, 1994. BRIGHTON Labour Process Group. O processo de trabalho capitalista. In: Silva, T.T. (org.). Trabalho, educação e prática social: por uma teoria da formação humana. Porto Alegre: Artes Médicas, 1991. BRITO, J. et alli. O trabalho das merendeiras e serventes das escolas públicas do Rio de Janeiro: um debate sobre saúde e gênero. In: BRITO, J., ATHAYDE M e NEVES, M. Saúde e Trabalho na escola. Rio de Janeiro: CESTEH, ENSP, FIOCRUZ, 1998. BRITO, J. C., REIS, K. e MARQUES, B.. Concepções e política de Saúde do Trabalhador: desafios para os trabalhadores da educação. In: Revista do SEPE, Rio de Janeiro: SEPE/RJ. Ano 1, n.2, Fev/abril de 1999. BRITO , J. C.. Saúde, trabalho e modos sexuados de viver. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1999 CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO. Requerimento de Informação nº 1070/95, 21 fev. 1995. (Mimeografado). CAPONI, Sandra. Georges Canquilhem y el estatuto epistemológico del concepto de salud. In: História, Ciências, Saúde, Rio de Janeiro: FIOCRUZ. vol IV (2): 287-307.jul/out de 1997. CARVALHO, Olgamir Francisco de. A escola como mercado de trabalho: os bastidores da divisão do trabalho no âmbito escolar. São Paulo: Iglu, 1989. CASTRO, Lúcia Maria Xavier. Mulher Negra. Rio de Janeiro, s. n. t.. (mimeo). CESTEH, ENSP, FIOCRUZ. Trabalho e saúde dos (as) profissionais de educação: o caso das merendeiras e serventes da rede estadual e municipal de educação. Rio de Janeiro. Relatório. abr. 1998. (Mimeo). CESTEH, ENSP, FIOCRUZ. As Relações de trabalho na escola e saúde: o ponto de vista de merendeiras e serventes para a ação sindical. Rio de Janeiro. out. 1998. (Mimeo). CESTEH, ENSP, FIOCRUZ. Tendências relativas das readaptações concedidas aos profissionais de educação da rede pública do Rio de Janeiro no período de 1995. Relatório. Rio de Janeiro, dez. de 1999. (Mimeo). CHAVES, Fátima Machado. O trabalho de serventes e merendeiras de escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro. Niterói: 1998. Dissertação (Mestrado em Educação). Centro de Estudos Sociais Aplicados. Faculdade de Educação. Universidade Federal Fluminense. CHAVES, Fátima Machado. O quotidiano do trabalho das merendeiras e serventes nas escolas públicas cariocas: uma abordagem de história oral. In ANAIS DO II CONNGRESSO LUSOBRASILEIRO DE HIST’ROIRA DA EDUCAÇÀO. v. I .São Paulo: Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 1998. CHAVES, Fátima Machado. O trabalho feminino e “doméstico” na escola pública carioca: serventes e merendeiras. In: BRITO, J., ATHAYDE M. e NEVES, M.. Saúde e Trabalho na escola. Rio de Janeiro: CESTEH/ENSP/FIOCRUZ, 1998. CHAVES, Fátima Machado. Partilhando a subalternidade de merendeira e servente. In: Cadernos do SEPE – Série Acadêmica, v. II (3): 6-49, nov.1999. CODO, Wanderley (coord). Educação: carinho e trabalho. Petrópolis: Vozes - Brasília: Confederação dos Trabalhadores em Educação/UnB. Laboratório de Psicologia do Trabalho, 1999. DEJOURS, C.. Uma nova visão do sofrimento humano nas organizações. In: Chanlat, J.F. (org). O indivíduo na organização: dimensões esquecidas. São Paulo: Atlas, 1992. DEJOURS, C.. Itinerário teórico em Psicopatologia do Trabalho. In: DEJOURS, C. [et al.]. Psicodinâmica do trabalho: contribuições da Escola Dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo: Atlas, 1994. DEJOURS, C.. A banalização da injustiça social. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999. GRAMSCI, A.. Concepção dialética da história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981. GRAMSCI, A.. Maquiavel, a política e o estado moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980 GUIA de Referências Bibliográficas. O que você pode ler sobre o negro. Florianópolis: Núcleo de Estudos Negros, 1998. GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Racismo e anti-racismo no Brasil. São Paulo: Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo; Ed. 34, 1999. 240 p. HYPÓLITO, Á. M.. Trabalho docente, classe social e relações de gênero. Campinas, São Paulo: Papirus, 1997. KERGOAT, Dàniele. Lutas operárias e relações de sexo: sobre a construção do sujeito coletivo no universo de trabalho operário. Paris: Gedisst – CNRS, 1989. KERGOAT, Dàniele. Relações sociais de sexo e divisão sexual do trabalho. In: Revista “M”, Paris, n. 53-54, abr/mai, 1992. LIMA, Ivan C. e ROMÃO, Jeruse. Os negros, os conteúdos escolares e a diversidade cultural. I - II. Florianópolis: Núcleo de Estudos Negros/NEN, 1998. LUCKÁCS, Georg. As bases ontológicas do pensamento e da atividade do homem. TEMAS de Ciências Humanas. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas Ltda, v. 4, p. 1-18, 1978. MARK, K e ENGELS, F.. Ideologia Alemã. São Paulo: Grijalbo, 1977. MARK, K. . O capital. São Paulo: Abril Cultural, 1983. v. I, livro I, tomo I. MELLO, S. L. Trabalho e sobrevivência: mulheres do campo e da periferia de São Paulo. São Paulo: Ática, 1988. MESA redonda sobre a saúde da população negra: relatório final. Ministério da Saúde. Brasília: O Ministério, 1996. 21 p. MILKMAN, R., REESE, E. e ROTH, B.. A macrossociologia do trabalho doméstico remunerado. In: Revista Latinoamericana de Estudios del Trabalho, 4 (7): 143-167, 1998. MINAYO, M. Cecília de Souza et alli. Subjetividade e Trabalho. In: CATTANI, A. David. Trabalho e tecnologia. Petrópolis: Vozes/ Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1997. MINAYO, M. Cecília de Souza. Saúde e doença como expressão cultural. In: AMÂNCIO Filho, Antenor (org.). Saúde, trabalho e formação profissional. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1997. MOSSOI, Paulo. Sob as tendas dos excluídos. Jornal do Brasil, 22/06/97, p.43. NARDI, Henrique Caetano. Saúde do Trabalhador. In: CATTANI, A. David. Trabalho e tecnologia. Petrópolis: Vozes/ Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1997. NEVES, Mary Yale e ATHAYDE, Milton. Saúde, gênero e trabalho na escola: um campo de conhecimento em construção. In: BRITO, J. Athayde M e Neves, M. (org.). Saúde e Trabalho na escola. Rio de Janeiro: CESTEH/ENSP/FIOCRUZ, 1998. NOGUEIRA, João Carlos. Negros e o mundo do trabalho. In: O (des) emprego no país do real. São Paulo, Partido dos Trabalhadores, 1996. ODDONE, I. [et al.]. Para a recuperação da experiência operária: instruções a um sócia. In: Redescobrir a experiência operária: por uma outra Psicologia do Trabalho. Paris: Messidor/Ed. Sociales, 1981. OLIVEIRA, Fátima. Por uma bioética não sexista, anti-racista e libertária. In: Estudos Feministas, 3(2), 1995. OLIVEIRA, Fátima. Oficinas Mulher Negra e Saúde. Belo Horizonte: Mazza, 1998. 160 p. PESSANHA, Eurize Caldas. Ascenção e queda do professor. São Paulo:Cortez, 1994. PARO, Vitor Henrique. Por dentro da escola pública. São Paulo: Xamã, 1995. PRETOS e discriminação. In: Retratos do Brasil. São Paulo: Editora Política, 1984. p. 55-60. PROGRAMA Nacional de Direitos Humanos. Brasil, gênero e raça: todos unidos pela igualdade de oportunidades. Brasília, 1998. . RELAÇÕES de Trabalho, Organização e Saúde dos Trabalhadores em Educação. Funcionários Operacionais: uma escola com “pés de barro”. CNTE: Universidade de Brasília: Instituto de Psicologia: UNICEF, (1998). RELATÓRIO da Reunião Nacional de Mulheres Negras. Belo Horizonte, 20 a 21/ set./1997. RIO DE JANEIRO (Cidade). Centro Municipal de Saúde “Pindaro de Carvalho Rodrigues.” Relatório de atividades elaborado pela Equipe de Saúde. 1989. (mimeo). ROCHA, Carla e GONÇALVES, Liane. Tráfico de drogas faz escola nas salas de aula. In: O Globo, Rio de Janeiro, p. 18, 19 abr. 1998. SÁTYRO, Vera Lúcia Pinheiro. Repensando a escola pública pela ótica dos não-docentes. Rio de Janeiro: SEPE, 1994. (mimeo). SELIGMANN-SILVA, Edith. Desgaste mental do trabalho dominado. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; Cortez Editora, 1994. SINDICATO dos Professores no Estado da Bahia. Condições de Trabalho e Saúde da rede particular de ensino. Salvador, 1998. (mimeo). SILVA, Edil Ferreira. O drama cotidiano das merendeiras: compreender para transformar. CESTEH, ENSP, FIOCRUZ, 1999. (Mimeo). SILVA, Therezinha da. Carta à Secretaria de Funcionários Administrativos do SEPE/RJ. 1993. SPÍNOLA, Fernando. Hipertensão arterial, obesidades, diabetes. Rio de Janeiro: SESI/DN, 1994. SOARES, C.E.. A negregada Instituição: os capoeiras na Corte Imperial. Rio de Janeiro: Access, 1999 SOUZA, Vera Cristina. Mulher Negra e Miomas: uma incursão na área da saúde, raça/etnia. Dissertação de Mestrado em Ciências Sociais. Pontifícia Universidade Católica. São Paulo, 1995. TAVARES, Ricardo. Negros e mestiços: vida, cotidiano e movimento. Proposta. Experiências em educação popular. Rio de Janeiro: Fase, v. 15 (51), nov. 1991. THERBORN, G. A análise de classe no mundo atual: o marxismo como ciência social. In: HOBSBAWM, E. [et al.]. História do Marxismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. THOMPSON, E. Paul. A formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. VIOLÊNCIA contra a mulher, uma questão de Saúde Pública. Anais do II Encontro Nacional de Entidades Populares, 28 a 31/ maio/ 1997. Santos, São Paulo. [1] Professora de História da cidade do Rio de Janeiro, Mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense e Doutoranda em Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. [2] Utilizaremos o termo “racial”, porquanto, “[...] quando a raça está presente, ainda que seu nome não seja pronunciado, a diferenciação entre tipos de racismo só pode ser estabelecida através da análise de sua formação histórica particular, isto é, através da análise do modo específico como a classe social, a etnicidade, a nacionalidade e o gênero tornaram-se metáforas para a ‘raça’ ou vice-versa” (Guimarães, 1999: 35). [3] Pessanha sintetiza “classes médias” através de Ianni (1978); Marx (1985); Mills (1989); Neto (1990); Oliveira (1989); Poulantzas (1976, 1988); Przeworski (1977), pressupondo seu surgimento em razão da “burocratização da vida social”. Tendo como campo de ação a esfera pública (incluindo a sociedade política e a civil), “[...] assumiram a função de articuladoras e tradutoras, tanto da razão do Estado quanto das razões privadas...” (1994:67-8). [4] Exemplifica-se essa afirmação pela história de vida de Jacira Xavier de Santos, 60 anos, diabética que, ao fim de sua vida, como servidora pública aposentada, resta-lhe dividir com sua filha uma precária barraca no terreno ocupado pelo Movimento dos Sem-Terra, na Pavuna, subúrbio do Rio de Janeiro (Mossoi, 1997: 43). [5]No Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação configurou-se conflitos. “É preciso que o . [...] A experiência terrível que vivi dentro do nosso sindicato em função do Encontro de Aposentados tudo tem a ver com . O massacre a que são submetidos, geralmente, os funcionários administrativos, tem como fundamento a questão de ”. Esse depoimento, manuscrito ao I Encontro de Funcionários Administrativos, em 1993, pertence a uma professora “[...] com a legitimidade que me é conferida pela minha condição de mulher negra, filha de uma merendeira e de um metalúrgico (ferreiro)” (Silva, 1993 - grifos da autora). [6] “Entrei para escola como voluntária, trabalho até hoje. Fui contratada em 88, entrei como voluntária em 84. [...] Eu trabalhei como voluntária porque tinha filhos na escola. Eu pedi para a diretora para ser voluntária. Trabalhava na merenda, [...] como servente e ajudava também: ia à rua, ia ao DEC [atual CRE]. [...] como voluntária, não ganhava também. Passamos quatro anos trabalhando ‘de graça’, esperando ser contratada. Quando eu fui contratada ganhei salário mínimo” (Servente Luíza, entrevista. In: Chaves, 1998:60). [7] “O serviço doméstico remunerado é a principal fonte de emprego para as mulheres dos segmentos de baixa renda, que têm opções limitadas de inserção no mercado de trabalho dado seu baixo nível de qualificação” (Aguiar, 1994:49). [8] Constata-se, na sociedade carioca, que 51% dos serventes e 66% dos cozinheiros são mulheres e que 68% dos serventes e 54% dos cozinheiros são negros (Aguiar, 1994:36). [9] Apresenta-se assim o nível de rendimento da população brasileira: “[...] 38% dos ‘pretos’ e 35,1% dos ‘pardos’ ocupados ganhavam até um salário mínimo, contra 18,6% dos ‘brancos’ com igual rendimento. Somente 1,2% dos ‘pretos’ e 2,5% dos ‘pardos’ ocupados possuíam renda superior a 10 salários mínimos contra 9,3% dos ‘brancos’ com renda neste patamar” (Castro, 1996?:11). [10] “Segundo reivindicação do Movimento Negro, incorporada ao Programa Nacional de Direitos Humanos, a população negra é constituída por pretos, mulatos e pardos”. Para isso, o citado Programa como proposta “Determinar ao IBGE a adoção do critério de se considerar os mulatos, os pardos e os pretos como integrantes do continente da população negra” (Programa, 1998: 10 e 62). [11] Confirmando uma das representações sociais bem como os limites da inserção da mulher negra na história do Brasil, em setembro de 1968, o Congresso Nacional aprovou a “Lei de Gratidão à Mãe Preta” (Pretos, 1984: 60). [12]A Constituição Federal, artigo 198, inciso III, reafirma um dos direitos universais, a integralidade, a equidade e a qualidade na atenção à saúde. Porém, no Brasil, a saúde pública, principalmente a da população negra, é agravante. [13]As mulheres negras ocupadas em atividades manuais perfazem um total de 79,4%: emprego doméstico (51%) e lavadeiras, passadeiras, cozinheiras, serventes (28,4%) (Programa, 1998: 10). [14] Exemplifica-se essa situação o fato da Reunião Nacional de Mulheres Negras, em 1997, reivindicar como uma das suas bandeiras de luta a “[...] garantia do trabalho doméstico sem discriminação”, aprovando uma monção “[...] sobre a luta das trabalhadoras domésticas de todo o Brasil” (Relatório, 1997: 13 e 21). [15]Dentre todas as formas de violência contra a mulher negra, destacamos a psicológica resultante da discriminação racial que não aparece nas estatísticas de saúde, ou seja, o sofrimento mental como depressão, ansiedade, desordem alimentar e outros problemas psíquicos, doenças decorrentes de um estado permanente de humilhação e violação dos direitos humanos (Violência, 1998: 17, 26 e 54). [16] A anemia falciforme é a doença genética mais comum da população negra. “A causa da doença é uma mutação do gene da globina beta da hemoglobina, originando uma hemoglobina anormal, denominada hemoglobina S (HbS), ao invés da hemoglobina normal, denominada hemoglobina A (HbA). [...] Estimativas, com base na prevalência, permitem estimar a existência de mais de dois milhões de portadores do gene da HbS no Brasil, mais de 8.000 afetados com a forma hemozigótica (HbSS) e outro tanto de afetados pelas outras formas de doenças falciformes. Estima-se o nascimento de 700-1000 novos casos anuais de doenças falcifomes no país” (Oliveira, 1998: 118-119). [17] O Programa de Anemia Falciforme do Ministério da Saúde (PAF/MS), aprovado em 1996, foi elaborado por um Grupo de Trabalho, recomendado pelo Relatório Final da Mesa Redonda sobre Saúde da População Negra, inserida ao Grupo de Trabalho Interministerial para Valorização da População Negra (GTI). Porém, o PAF ainda não foi implementado totalmente pois o Ministério da Saúde apenas elaborou as diretrizes gerais, cabendo aos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde definir quanto, como e onde aplicar os recursos financeiros, o que não quer dizer que os Conselhos vão aplicá-los no PAF (Oliveira, 1998: 50). [18]Doenças raciais-étnicas são as patologias que prevalecem ou são quase exclusivas em determinados grupos populacionais, considerados raciais e étnicos, ou seja, negros, brancos e amarelos, ciganos, judeus etc. Maiores informações, ver Oliveira, 1994, 1995 e 1998. [19] No Brasil, a classificação adotada é a do IBGE que coleta como dado de identificação racial a cor da pele (quesito cor) através da auto-classificação em um dos cinco itens: preta, parda, branca, amarela, indígena. [20]A partir do Grupo de Trabalho Interministerial para Valorização da População Negra, realizado em 18 de junho de 1996, indica-se a necessidade de se incluir os indicadores de “raça” em pesquisas da área de saúde (Mesa, 1996), determinado pelo Decreto do Ministério da Saúde, em 1996 (Oliveira, 1998: 47). [21] Há que se fazer uma advertência no uso da alteridade. “Antes de a alteridade ser a consciência singular é o resultado de um sistema de diferenciações presentes em sociedade cuja sociabilidade é fundamentalmente atravessada pelo capital. [...] o caso da ‘condição’ feminina ou o fato de ser ‘negro’ [...] há uma legitimidade que nos parece inquestionável. [...] O problema do pensamento pós-moderno em torno da afirmação da alteridade está na recusa de admitir que tais particularismos não se autodeterminam, mas sofrem o grave atravessamento da lógica do capital, que é totalizante” (Bereno, 1996:12-3). [22]Essas pesquisas encontram-se interligadas através de pesquisadores institucionais e de profissionais que cursam mestrados e doutorados, assim como de debates em oficinas e congressos, entre outros intercâmbios. [23] “Aquele sabão faz ‘unheiro’ quando vai limpar as salas, dependendo da água sanitária também, [...] eu acharia que tem que ter luva, botas para lavar banheiro, a gente lava banheiro de menino, toda hora tem que lavar” (Servente Luíza, entrevista.). “[...] eu acho que nós temos que ter insalubridade porque banheiro de menino é uma coisa que entra, né, outros garotos, adultos também e a gente trabalhar de chinelo é um pouquinho perigoso” (Servente Joana, entrevista. In: Chaves, 1998: 136). [24]“[...] todos os funcionários que trabalhassem na cozinha ou no apoio, eles teriam que ser obrigados a passar por um exame médico periodicamente. Sabe que eu já trabalhei com dengue dentro da escola e a diretora nem descobriu? [...] Estou com unheiro, isso é que é errado, você trabalhar na cozinha com ‘unheiro’, [...] Como que eu vou colocar a mão numa comida pra fazer com o meu dedo assim?” (Merendeira Helena, entrevista In: Chaves, 1998:136). [25] Além das notícias nos jornais, surgiram reportagens em revistas e livros, como a da professora Eloisa Guimarães. . Rio de Janeiro: UFRJ, 1998. [26]Essa pesquisa permanece ativa e os resultados sobre merendeiras e serventes estão sendo publicados parcialmente. No ano 2000, será ampliada para a saúde do docente. [27] “É uma síndrome através da qual o trabalhador perde o sentido da sua relação com o trabalho, de forma que as coisas já não o importam mais e qualquer esforço lhe parece ser inútil. Essa síndrome afeta principalmente, profissionais da área de serviços quando em contato direto com seus usuários. Como clientela de risco são apontados os profissionais de educação e saúde, policiais e agentes penitenciários...” (Codo, 1998: 238). [28] Termo usado pelo peritos médicos para designar o tempo saudável que o trabalhador dedica ao trabalho assalariado.
Download