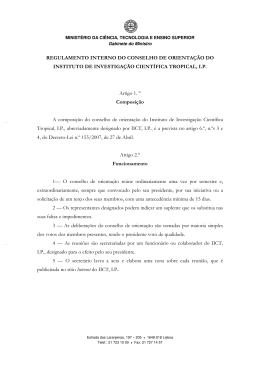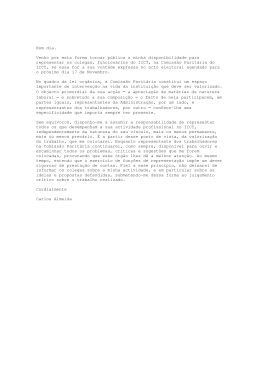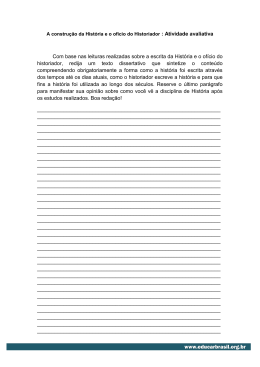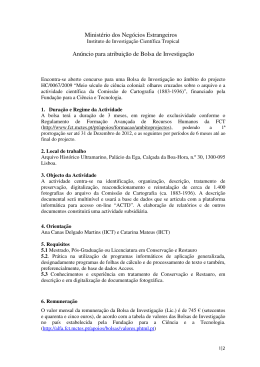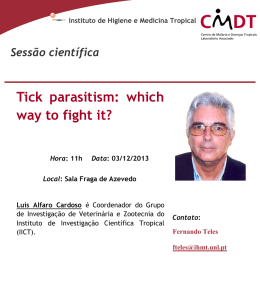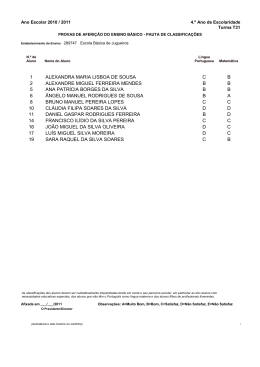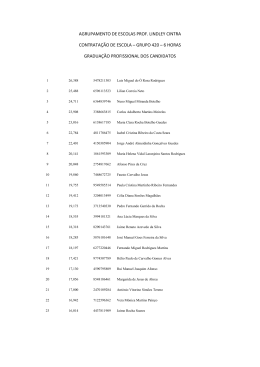A memória e a investigação histórica no IICT O texto publicado no sítio electrónico do IICT pelo dr. Miguel Jasmins Rodrigues, no pretérito dia 2 de Agosto, tem a grande virtude de apelar para a necessidade de um debate participado por todos os investigadores que, partindo das questões de fundo suscitadas pelo Relatório do Grupo de Trabalho Internacional sobre a Reforma dos Laboratórios do Estado (GIARLE) no que concerne ao IICT, se prolongue na “reflexão crítica sectorial e individual sobre o trabalho realizado e sobre as respectivas formas de organização”. Na sua contribuição para esse debate, o dr. Miguel Rodrigues reflecte sobre o ofício do historiar e a sua relevância social, e bem assim sobre o seu lugar no contexto de um Laboratório Público de Investigação Científica como o IICT. Parece-me um debate de toda a pertinência e oportunidade que, como bem diz o dr. Miguel Rodrigues, “não pode nem deve ser limitado no tempo”. As linhas que, de seguida, se expõem, pretendem dar uma contribuição, necessariamente parcelar, para esse debate. Norteiam-se, importa sublinhá-lo, por critérios de clareza e frontalidade que o respeito pessoal exige e que o debate intelectual recomenda. O texto do dr. Miguel Rodrigues parece particularmente preocupado com as questões da relevância social da História, na dupla vertente da pertinência da produção historiográfica – “o investigador que trabalhe sobre o que melhor lhe apeteça” – e da sua divulgação – “os avanços científicos não têm repercussão social na comunidade que os suporta”. Subjacente a toda a sua reflexão está a questão da rentabilidade do financiamento da investigação histórica. Questões, todas, da maior importância e actualidade. Importa começar, entretanto, como manda o bom ofício do historiador, pela indispensável definição conceptual. Neste particular, o texto do dr. Miguel Rodrigues parece laborar em alguns equívocos e pouco recomendáveis indefinições. Na sua óptica, o ciclo de produção do trabalho historiográfico, passando embora pela “História” inicia-se e termina na “memória”. Não está claro o que se entende por “memória”. Parece todavia evidente que a memória é um objecto de estudo do historiador e nunca se confunde com a História. No plano individual, o trabalho do analista que recupera dos corredores esconsos do passado, os factos tantas vezes esquecidos de um trajecto pessoal não é sobreponível, nem pode em nenhum momento submeter-se, à operação consciente de reconstrução do passado levada a cabo pelo próprio sujeito, sob pena de comprometer, decisivamente, o alcance e a eficácia última daquele ofício. Do mesmo modo, a construção social da memória que determinada sociedade ou grupo produzem sobre o seu passado é um processo que pouco tem que ver com o labor do historiador que, na exegese hermeneutica dos textos, escritos ou de qualquer outra natureza, e na sua reelaboração heurística, constrói um discurso explicativo, propondo um sentido inteligível para o devir dos homens. Em ambos os casos, a memória, individual ou colectiva, é um objecto de estudo, um texto como os outros, que o historiador deve submeter ao crivo da crítica. Nunca o contrário. Sempre e quando os planos se confundem, o historiador ou o analista tornam-se presas fáceis, do indivíduo ou do grupo social, reduzidos à função instrumental de sacralizadores de uma verdade sobre o passado. O conhecimento histórico faz-se, sempre, apesar da memória, tantas vezes contra a memória, mas nunca em obediência ou decorrência a ela. Significa isto que Memória e História são adversários antagónicos e o seu relacionamento impossível? Longe disso. Talvez que em determinados contextos, como ocorre, por vezes, em algumas celebrações comemorativas, ambas possam convergir e beneficiar da elaboração produzida em cada esfera respectiva. Mas sempre com uma distância prudente, com a consciência que o olhar que uma projecta sobre a outra visa objectivos diferenciados. Não cabe à primeira determinar os rumos da segunda, da mesma forma que não é o paciente, no divã, que conduz o questionário do analista. Já por seu turno, a História, a produção historiográfica, possui a lucidez necessária – que lhe advém do seu próprio passado e existência social – para não querer ambicionar ser o factor ordenador da memória, mas tão só e apenas, um dos instrumentos com que ela se constrói e nem sempre, o mais poderoso. Neste particular, o dr. Miguel Rodrigues defende que é a “divulgação dos resultados da investigação junto de um público alargado de não especialistas” que garante a “apropriação social” do saber e que os historiadores devem chamar a si esse trabalho. Eis um tema que não é possível aqui desenvolver mas a que poderemos, sem embargo, retornar, em outras ocasiões. Contudo, sempre diremos que, em história, a divulgação é o que há de mais diverso da água: não é transparente, nem inodora, nem incolor, nem insípida. Ainda assim, importa não menosprezar o poder da história, sobretudo porque, ao fazê-lo, pode subestimar-se a importância e o alcance das tentativas para a colocar a reboque de todos os utilitarismos. A defesa da liberdade de investigação, no seu sentido inteiro e pleno, é a fronteira ténue que defende o historiador desses assaltos. Aqui chegados, impõem-se algumas considerações sobre a difícil equação proposta pelo dr. Miguel Rodrigues entre “interesse público”, “interesse político” e “individualismo”. Não retomo aqui os comentários, que subscrevo, já expendidos pelo dr. João Pedro Marques, neste mesmo espaço, a propósito desta espécie de “ditadura da equipa” que se veicula em muitos círculos institucionais, com implicações directas, essas mais graves, no financiamento da investigação científica. Considere-se, para os efeitos que aqui, em particular, nos ocupam, que o investigador que trabalha “sobre o que melhor lhe apetece” representa o ofício mesmo do historiador, num plural magestático integrador de todas as modalidades de organização do trabalho, submetidas, essas, aos interesses do questionamento insondável da pesquisa. Trata-se, no caso, então, de responder à pergunta difícil de saber como pode articular-se o “interesse público” e a investigação histórica, prosseguida esta de forma individual ou em equipa, mas sempre, em ambos os casos, guiada apenas pela determinação voluntária dos seus objectivos de pesquisa ou, na forma mais coloquial sugerida pelo dr. Miguel Rodrigues, trabalhando sobre “o que melhor lhe apeteça”. Para ele, a resposta não oferece dúvidas: interesse público e investigação histórica entregue a si própria são inconciliáveis porque, como refere, a segunda, quando assim orientada, desenvolve-se “sem quaisquer preocupações de retorno para com a sociedade que o remunera”. Tal ideia implicaria, a contrario sensu, que uma investigação preocupada com o “retorno para com a sociedade” seria aquela que se pautaria por um critério de “interesse público”. O problema sobrante seria o de saber como e em que sede seria identificado esse referido “interesse público”, visto que, na perspectiva do dr. Miguel Rodrigues, ele não é assimilável ao “interesse político”: onde, pergunta-se, para além do terreno da decisão política, mesmo que democraticamente escrutinável, se define o “interesse público”? Eis um beco cuja saída se afigura difícil, a menos que, e uma vez mais, se reelaborem conceptualmente os dados do problema. Desde logo, a questão do retorno social da investigação histórica à qual subjaz esse outro problema, mais venal e menos filosófico, do financiamento. Do meu ponto de vista, a qualidade e seriedade da investigação histórica é, neste contexto, o único critério pertinente. A rentabilidade do labor historiográfico só pode ser avaliada pela pertinência das ideias propostas, pela criatividade das hipóteses explicativas construídas sobre um objecto de estudo determinado, pela audácia das rupturas provocadas nos conhecimentos tidos por adquiridos, pela elaboração de novas perspectivas de análise para os factos mais ou menos conhecidos, pelas interrogações que o olhar fundado sobre o passado pode projectar para o presente das sociedades, em suma, pela sua contribuição para a formação do espírito crítico de determinada sociedade. A natureza intrínseca dos conhecimentos produzidos no seu âmbito não é redutível a patentes comerciais, inovações tecnológicas ou descobertas científicas, com uma aplicação prática mais ou menos imediata e uma directa implicação mercantil. A esta luz, parece-me, é possível pensar o interesse público da investigação histórica de uma tal maneira que não a situe como escrava, nem do interesse político, nem da memória, também esta, politicamente motivada. Sem equívocos, nem tibiezas. Se é verdade que o decisor político tem a legitimidade que lhe é dada pela circunstância do voto para aferir e determinar, conjunturalmente, a prossecução do interesse público, a ele compete definir o nível e qualidade do investimento na qualificação da consciência crítica da sociedade, da elevação da sua capacidade para interrogar novos e velhos dogmas, e enfrentar, com criatividade, o futuro. Nesse contexto, é indispensável um investimento sério e consistente na modernização dos instrumentos e ferramentas que suportam o trabalho do historiador. É inteiramente justa, por isso, a opção no sentido da salvaguarda, preservação e divulgação do património do IICT, em especial, no que à história diz respeito, ao Arquivo Histórico Ultramarino. É também de esperar que os historiadores dêem a sua contribuição nesse processo. E, todavia, esse esforço será sempre limitado e, em certa medida, improdutivo se, concomitantemente, não for acompanhado de uma aposta estratégica na construção e fortalecimento de centros de produção de saber, no caso do IICT, tendo em conta a sua vocação e orientação política, sobre as regiões tropicais e a relação histórica com o espaço da CPLP, e, para o tema que aqui nos ocupa, de saber historiográfico. Uma e outra vertente não se excluem, podem ser complementares mas não são confundíveis. O IICT será uma instituição de investigação tanto mais credível e socialmente útil quanto for capaz de projectar-se, para além do património que possui e disponibiliza, na qualidade do saber que souber produzir e difundir sobre a sua área de referência. Não partilho da visão optimista do dr. Miguel Rodrigues relativamente ao modo como o IICT é reflectido no Relatório do GIARLE. Creio mesmo que a especificidade que, todos concordamos, o IICT possui no concerto dos Laboratórios do Estado, está longe de ali estar reflectida. No espaço e na ocasião que me foram proporcionadas exprimi o meu pensamento sobre esse particular e não será, agora, o momento para aí regressar. Numa coisa estamos, entretanto, de acordo: é necessário que o debate e a reflexão crítica prossigam, pois a natureza dos problemas assim o exige. A bem do presente e do futuro do Instituto de Investigação Científica Tropical. Lisboa, 4 de Agosto de 2006 Carlos Almeida Programa Sociedades e Culturas Tropicais Departamento de Ciências Humanas IICT
Baixar