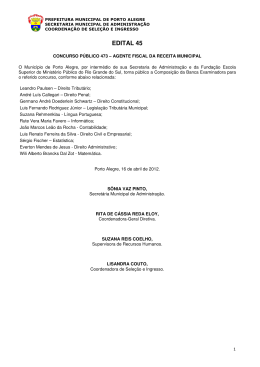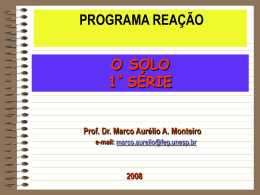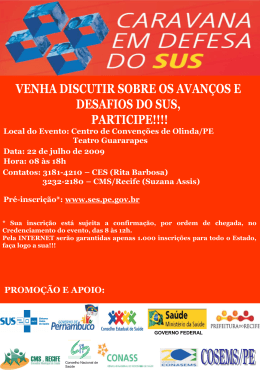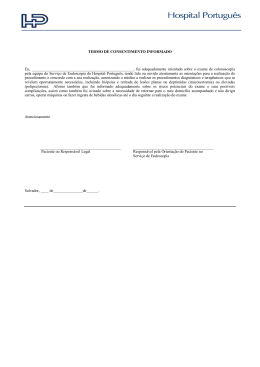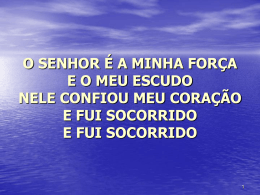Projeto SOS Mata Atlântica 18 Anos Depoimento: Cláudio Benedito Valladares Pádua Entrevistado por: Beth Quintino e Rodrigo Godoy Embu, 20 de janeiro de 2005 Realização Museu da Pessoa Código do depoimento: SOSHV-038 Transcrito por: Maria da Conceição Amaral da Silva P/1 – Você gosta de ser chamado de Cláudio, de Pádua? R – Cláudio. P/1 –Boa tarde, Cláudio. R – Boa tarde. P/1 – Obrigado por você estar aqui com a gente. R – De nada, um prazer. P/1 – Você poderia falar o seu nome completo, data e local de nascimento? R – Ok, Cláudio Benedito Valladares Pádua. Rio de Janeiro, 14 de abril de 1948. P/1 – Cláudio, os seus pais são do Rio? R – Os meus pais são mineiros, mas se mudaram para o Rio de Janeiro depois de casados. Já, não muito tempo depois de casados. Então parte da família é mineira parte é do Rio. P/1 – E qual a atividade dos seus pais? R – Meu pai é um advogado aposentado e está vivo, está com 90 anos. Minha mãe é do lar. Também está viva, tem 80 anos. P/1 – E você tem irmãos? R – Tenho 4 irmãos e uma meia irmã. O meu pai é viúvo do primeiro casamento, com quem ele teve uma filha. Depois disso, com a minha mãe, ele teve 4 filhos, dos quais 3 são vivos e um morreu. P/1 – E onde vocês moravam no Rio de Janeiro quando você era criança, na sua infância? R – Nós moramos no Rio, desde que eu me lembro, no bairro de Copacabana, na Rua Raul Pompéia. Moramos lá até eu fazer mais ou menos uns 14 anos; foi quando a gente se mudou para o bairro da Gávea, em uma casa onde fiquei até sair para casar. P/1 – E como era a infância assim, as casas que você morou, o bairro? R – Eu vivi um momento muito bom do Rio, principalmente na minha adolescência e quando eu já estava um pouco mais velho. Minha infância no Rio foi extremamente agradável porque o Rio é uma cidade maravilhosa mesmo. E o Rio de Janeiro, antes dessas crises todas que vem vivendo nos últimos anos, era uma cidade melhor ainda. Então eu morava na Rua Raul Pompéia - acho que vocês não conhecem o Rio de Janeiro, mas a Rua Raul Pompéia hoje é impossível de você pensar em fazer qualquer coisa nela. É um tráfego extraordinário em Copacabana. Copacabana virou um bairro extremamente populoso e eu morava no fundo de prédios e a rua terminava mais ou menos onde a gente morava. Em seguida vinha o morro do Pavão e Pavãozinho, que está aí na mídia toda hora e nas músicas do Marcelo D2 também. P/2 – (riso) R – (riso) E a gente morava nesse prédio, morava no andar térreo. A gente conseguia brincar de jogar futebol ou polícia e ladrão, essas coisas todas, na rua. Alguns anos depois - foi por isso que nós nos mudamos de lá - eles abriram um túnel entre a Rua Raul Pompéia e a Rua Barata Ribeiro e o tráfego começou a escoar por ali. E aí a rua ficou inviável do ponto de vista de brincar ou de fazer qualquer coisa. E nesse momento a gente resolveu sair; meu pai resolveu sair e se mudar para uma casa na Gávea. Esse apartamento não era dele, era alugado, então ele resolveu que era hora de comprar uma casa. E comprou uma casa na Gávea em uma rua tranqüila também, para onde nós nos mudamos. Esse momento foi muito agradável, uma vida de garoto de rua bem divertida. Depois, quando já mais adolescente, o Rio de Janeiro viveu um momento e – eu não vivi muitos momentos do Rio, é verdade – mas é um momento fantástico, porque nós estamos falando dos anos 60. E os anos 60 no Rio de Janeiro, apesar de toda uma repressão que havia, foi um momento de grande criatividade na cidade. Então a cidade era pura música, época dos “Festivais da Canção”. Eu ia para a praia, ia para o bar, encontrava Vinicius de Moraes e Tom Jobim. Eu tinha 18 para 19 anos, convivia com esse Rio de Janeiro e era extraordinário. A música estava em todo lugar, a alegria estava em todo lugar - apesar de a revolução já ter acontecido e haver certa repressão. Mas o começo da revolução não era muito repressivo. Então houve, além disso, um sistema repressivo, que gera uma tentativa de criatividade para mostrar isso. Então foi um momento espetacular no Rio. P/1 – E como que era a relação na casa de vocês? Era uma casa muito freqüentada, com muita gente? A relação de vocês com os seus pais? R – Meus pais são pessoas que vêm de uma tradicional família mineira. Meu avô foi governador de Minas e foi por esse motivo que meu pai saiu de Minas, na verdade. Meu pai não tinha a menor intenção de sair de Minas, mas em 1945 meu avô era governador de Minas e era getulista, e Getúlio cai depois da guerra. Naquela época haviam três partidos importantes no Brasil: PSD, o PTB e a UDN. E a UDN começa a fazer uma campanha muito forte contra o PTB e o PSD, que era o partido do Getúlio. O PSD era o partido fundado pelo meu avô e a casa do meu pai começa a ser apedrejada e coisas do gênero. E ele resolve passar uma temporada no Rio, na verdade para sair desse momento de confusão. E isso foi logo depois da guerra, então é mais um motivo para fazer essa mudança. E foi para o Rio por uns tempos, mas acabou resolvendo ficar no Rio, começou a fazer vida no Rio. Meu avô ainda tinha muita importância política; naquela época você era nomeado advogado do Estado - que naquela época não era estado, era o Distrito Federal - advogado do Distrito Federal pelo Getúlio. E era um cargo de salário muito razoável e bastante prestígio e assim ele ficou. Ele exerceu muito pouco a advocacia e depois eu falo mais dele. Minha mãe é uma pessoa que foi criada no Palácio da Liberdade em Minas, e de certa forma, em certos momentos, tem ares de princesa, mas é uma pessoa muito intelectualizada e boníssima, uma pessoa muito boa. Com razão, eu acho que tem certa frustração – como todas as mulheres daquela geração – que tiveram a chance de ser intelectualizadas, mas não tiveram a chance de entrar no mercado de trabalho. Então ela tem um conhecimento, uma cultura profundíssima, mas nunca pôde, não era normal, não era bom entrar no mercado de trabalho. E a minha vida foi uma vida de garoto, filho de uma família com algumas posses, de classe média alta, vamos dizer assim. Estudei em bons colégios, me dava muito bem com meus irmãos. Uma vida bastante normal de classe média alta. Nunca fui um grande aluno, nunca fui um bom aluno, contrário aos meus irmãos, que sempre foram bons alunos. Mas era uma vida normal, de brincar; e a vida familiar era pacífica e agradável. Meu pai está casado com minha mãe até hoje - imagine, ele tem 90 anos, ela 80; casados são 60 e tantos anos. E uma vida normal, de gente de classe média alta. P/1 – E quando você tinha 18 anos que você conviveu com... R – Esse Rio de Janeiro. P/1 – É, com esse Rio de Janeiro, com Vinicius, com Toquinho; você estava na escola nesse período, fazendo cursinho? R – Eu estudei em um colégio chamado Colégio São Fernando, que não existe mais no Rio de Janeiro. E eu estudei primeiro em um coleginho de bairro em Copacabana porque era próximo do nosso apartamento. Depois quando a gente se mudou para a Gávea eu mudei de colégio também, e passei para o Colégio São Fernando, que foi um colégio razoavelmente famoso no Rio. A criadora dele chamava-se Lucia Magalhães, que era uma pessoa famosa no mundo da educação; mas com a morte dela, o colégio acabou desaparecendo. E eu, embora não tenha sido bom aluno, também tive muita segunda época, essas coisas - mas também nunca fui reprovado. E fui passando, até que nessa época que eu estou falando, de 1966, eu tinha 18 anos, estava terminando o segundo grau. Naquela época era clássico e científico, então terminei o terceiro ano clássico e entrei para a Escola de Direito nesse ano. E passei no vestibular e fui fazer Direito na Universidade Cândido Mendes. P/1 – E você prestou Direito por influência do seu pai ou era uma coisa que... R – Na verdade eu fiz dois testes vocacionais: um quando eu estava no ginásio, porque naquela época o ensino era dividido diferentemente, era o sistema europeu de ensino; e um outro quando eu já estava no clássico. Todos os dois indicaram que eu devia fazer Agronomia. Na verdade já indicaram que eu tinha um gosto pelo mundo do ar livre, pela natureza. Mas Biologia, Engenharia Florestal, essas coisas, não eram profissões correntes naquele momento e então indicaram que eu devia fazer Agronomia. Mas quando eu estava mais ou menos com 17 para 18 anos, eu comecei a namorar minha mulher, que é minha mulher hoje. E isso significava que se eu fosse fazer Agronomia eu precisava sair do Rio de Janeiro, porque as escolas de Agronomia são todas fora das cidades grandes. Então eu ia ter que ir para a área rural do Rio, para Piracicaba ou Lavras, em Minas. E eu estava namorando e muito apaixonado - não estava com a menor vontade de sair do Rio de Janeiro. E, além disso, o meu pai é advogado, havia sempre uma pressão para não fazer nada diferente das três profissões tradicionais: médico, advogado e engenheiro. Eu não ia conseguir ser engenheiro mesmo; minha mãe estava convicta que eu devia ser médico - mas eu não queria ser médico coisíssima nenhuma. Então fui estudar Direito. P/1 – E como foi essa sua entrada na Faculdade de Direito? Você podia contar um pouquinho para a gente. R – Nessa mesma época comecei a trabalhar; comecei a trabalhar, na verdade, com meu pai. Como ele era advogado do Estado e tinha, como eu te contei, uma relação política grande por causa da família - em certo momento ele era chamado de parente da República, porque meu avô era, nesse momento, senador por Minas e o cunhado dele, o Carlos Lopes, era ministro da Fazenda; o Juscelino, que era primo dele, era presidente. Então o Negrão de Lima, que era governador do então Estado da Guanabara, foi ser diretor do Instituto, foi diretor do Teatro Municipal durante 15 anos no Rio, teve vários cargos de chefia no governo do estado. Nessa época foi ser diretor do Instituto de Previdência e perguntou se eu não queria trabalhar, começar a trabalhar. Eu falei que queria, então ele me colocou como assessor administrativo no Instituto de Previdência; é assim que eu começo a trabalhar. Então em 1966 eu entro para a Escola de Direito. Eu tinha 18 anos e começo a trabalhar durante o dia e estudar durante a noite na Universidade Cândido Mendes. P/1 – Como foi essa sua fase de faculdade ? R – Era um momento muito divertido; mas de 1966 a 1968, as coisas começam a mudar no Rio de Janeiro. O divertimento continua, a alegria, o momento de criatividade continua, mas 1968 é um ano marcante. Em 1968 os jovens começam a se rebelar contra a revolução e começam a ir para as ruas. E naturalmente eu, estudante de Direito, entrei na mesma história. Nunca com uma violência muito grande, porque vinha de família de políticos e políticos conservadores, então vivi uma vida meio conservadora. Mas eu não tinha como fugir da situação. E 1968 é marcante; tem livros e mais livros sobre 1968. Eu fui à Europa em 1968 e assisti não só a juventude do Rio de Janeiro; 1968 é um ano que marca porque a juventude como um todo resolve romper com os anos 50 e um pedaço dos anos 60, resolve romper com o establishment. Então eu estava em Paris, os estudantes viravam os carros nas ruas e para mim aquilo era uma coisa toda do outro mundo, fantástica. O mundo está virando de cabeça para baixo, os estudantes estão se revoltando contra a situação estabelecida e no Rio de Janeiro a mesma coisa. E aconteceu que alguns estudantes começaram a liderar um processo contra a revolução. Houve uma marcha de estudantes, a marcha dos 100 mil. Surgiram algumas lideranças: Vladimir Palmeira, tem um que hoje é repórter da Globo - esqueci o nome dele agora... P/2 – É CBN mesmo. R – CBN, não é? Esqueci o nome dele... Martins. Franklin Martins, era líder também. Então tiveram alguns líderes importantes naquele momento, todos muito jovens. E eles armaram uma grande passeata. O centro da cidade está em revolta o tempo todo. E havia na Praia do Flamengo o Aterro, mas tinha restado no Aterro um restaurante que a gente chamava de Calabouço, que era o restaurante onde os estudantes iam comer por preço barato. E em uma dessas revoltas a polícia começa a atirar e mata um estudante que não tinha nada a ver com aquela história, estava ali só comendo, por um acaso. Não estava fazendo revolta nem na rua nem nada, e ele morre. E aí isso gera o motivo para um grande conflito entre estudantes e polícia, e governo e tudo. E a missa de sétimo dia dele, na Candelária, é um marco na história da resistência e eu estava pertinho. E fui à missa da Candelária; o pau quebrou e foi uma confusão, com bomba de gás lacrimogêneo para todo lado, a polícia batendo. Então foi um momento de grande tensão nesse sentido. Mas saía dali a vida era de Festival da Record, os grandes Festivais da Canção, todos nesse ano. E até que chegou a um ponto que situação começa a ficar complicada, o Castelo Branco tinha acabado de sair. O Costa e Silva era presidente e decide criar o Ato Institucional Número 5; aí as liberdades cessam razoavelmente. Há uma repressão, começa a ser preso gente - aí que começa a repressão forte. Começa a ser preso gente, mas incrivelmente continua todo o processo de criatividade e um momento artístico efervescente no Rio, excepcional; e eu vivi nessa história. E enquanto estudei Direito - eu fiz 2 anos de Direito só - mais do que nunca, porque eu estava muito próximo da confusão no centro da cidade. E aí no segundo ano de Direito eu resolvi que aquilo não era a minha vida mesmo, eu não queria fazer Direito. Resolvi largar e resolvi estudar Administração de Empresas, que era aquilo que eu achava que podia se aproximar do que eu gostava. Não foi muito bem recebido em casa porque era uma das profissões novas, consideradas novas, mas saí e fui fazer o vestibular de Administração. Fiz e entrei para a escola de Administração e aí fui até o fim. Terminei, estudei Administração até o fim. Mas enquanto isso eu estava trabalhando também, ganhando dinheiro. P/1 – Você continuava no mesmo emprego? R – Continuava no mesmo emprego. Quando eu estava terminando o curso de Administração acabou o governo e o novo governo que entrou não era o mesmo, aí eu perdi o emprego. Perdi o emprego nessa época; eu me casei em 1971, então fiquei sem emprego nas vésperas de casamento, que já estava marcado. E aí apelei para alguns amigos e parentes e acabei indo trabalhar na Eletrobrás. Continuei trabalhando e terminando o curso de Administração. Aí me casei em 1971. E aí a vida muda, porque já é vida de casado; não tive filhos logo, a gente não queria ter filhos. Então fui vivendo uma vida a dois, muito agradável - ainda é muito agradável a vida no Rio. P/1 – E como que era trabalhar na... R – Na Eletrobrás? P/1 - ...na Eletrobrás. R - Eu, na verdade, não estava com muita vontade de trabalhar, mas eu fazia o que era possível, o mínimo necessário para as coisas não ruírem, não se perderem. Não estava muito satisfeito com aquilo, mas ganhava um salário, estava casado, precisava daquilo. Mas não estava extremamente satisfeito. Mas era uma vida, e depois eu tinha milhões de amigos, quer dizer, tinha uma vida paralela muito boa. A minha casa vivia cheia de gente e quantidade grande de amigos. P/1 – E sua esposa também fez faculdade? R – Minha esposa também fez faculdade. Ela estudou na Universidade Católica. Ela também morava na Gávea, então ela entrou na Universidade Católica para estudar. Naquela época o curso era de Desenho Industrial e Programação Visual, então ela estudou as duas coisas e se formou nisso. Ela sempre trabalhou, dava aula de inglês - ela estudou em uma escola americana do Rio. Então sempre trabalhou, a vida toda trabalhou. Então nós tínhamos uma vida razoavelmente confortável e agradável, muitos amigos. Quando trabalhava no Instituto de Previdência, eu comecei a juntar dinheiro e comprei um pequeno apartamento de quarto e sala, em Copacabana, para investir. Depois eu vendi ele, vendemos algumas outras coisas que tínhamos e compramos um apartamento na Gávea quando casei. E fiz uma dívida daquelas da Caixa Econômica e nos mudamos para o apartamento, que era um apartamentinho de três quartos, muito simpático, no bairro da Gávea, onde a gente queria. E ali ficamos alguns anos também. P/1 – E da década de 60 para 70 o Rio teve uma mudança nesses bairros? R – Para mim na década de 70 o Rio começa a ficar mais confuso, mais complicado - aliás, todas as cidades do Brasil começam a ficar complicadas nessa época, porque dos últimos 40 anos é a grande migração do campo para a cidade. Então não é culpa da cidade, mas começa a inchar. As cidades começam a ficar absurdamente cheias porque a população no final dos anos 60, creio eu, era 30% urbana e 70% rural. E hoje - me disseram hoje no nosso encontro - que era 82% urbana. Então você imagina, pulou de 30% para 82% nos últimos 40 anos. E naturalmente São Paulo e Rio foram as cidades que mais sofreram com isso, porque foi onde teve um maior afluxo de pessoas. E o Rio começa a piorar nos anos 70. Mas ainda hoje é uma cidade extremamente agradável, apesar da gente ter que ficar atento o tempo todo, como em qualquer cidade grande, para falar a verdade. Cidade grande você tem que estar atento o tempo todo. P/1 – E você ficou quantos anos trabalhando como administrador? R – Depois da Eletrobrás, meu irmão mais velho – esse que morreu já –comprou uma corretora de valores e aí começa a trabalhar com essa corretora e ela começa a crescer. E começa a crescer, crescer, crescer; os anos 70 são os anos do grande boom - o começo dos anos 70 principalmente - do milagre brasileiro. Era governo da revolução, Delfim era Ministro, e é o milagre brasileiro. O Brasil crescia em uma velocidade extraordinária, qualquer negócio dava certo. Então ele compra essa corretora e começa a crescer tremendamente. Até que ele me chamou na Eletrobrás e perguntou se eu não queria vir gerenciar a parte administrativa da corretora. E aí nessa época ele já estava montando, já estava comprando outras empresas, todas no mercado financeiro. O mercado financeiro era extremamente descontrolado; era novo e descontrolado no Brasil. Não que ele seja controlado hoje, mas era muito menos controlado naquela época. Meu irmão era maníaco depressivo e aí ele começa a construir um castelo de cartas monumental. Então vai comprando empresas, criando um monstro econômico, mas sem nenhuma base de solidez; e eu fui com ele envolvido naquilo. Mas nesse momento eu estava ganhando extremamente bem e começo a ter uma vida de executivo de salário alto; o meu apartamento melhora consideravelmente, tinha carro esporte, Suzana tinha carro. E a Suzana, minha mulher, começa a trabalhar também como decoradora. Ela trabalhou na Globo por alguns anos fazendo programação visual; e na própria Globo, um diretor, um dia, perguntou se ela não queria decorar a sala dele. Ela decorou a sala dele e isso a botou no mercado de decoradora, porque ele contou para o outro, contou para o outro e vai de boca em boca; ela virou uma decorada de razoável sucesso no Rio. Como uma ex-amiga dela de juventude que tinha acabado de se separar estava precisando trabalhar, as duas começaram a trabalhar e com bastante sucesso, com clientes ricos e ligados à rede Globo - você imagina, a diretoria da Globo tem bastante dinheiro. Então nós dois ainda sem filhos, vivendo com salários elevados de executivos e de decoradora, a gente tinha uma vida bastante confortável por um grande período de tempo. P/1 – Vocês viajavam muito nessa época? R – Não, nessa época a gente viajava muito pouco, exceto viagens curtas; tinha casa no campo, em Petrópolis e Búzios, e essas coisas que a gente faz no Rio de Janeiro, mas sem grandes viagens para o exterior ou para qualquer outra coisa. Viagem para o exterior veio na minha vida mais recentemente. P/1 – Você ficou a década de 70 toda trabalhando, quer dizer, uma parte dela, com seu irmão? R – A década de 70 eu fiquei trabalhando com o meu irmão. Depois os negócios dele começaram a ruir, porque chegou a um ponto de loucura completa e total dele e aí envolveu a família toda. Porque meu pai era só nominalmente presidente das empresas para dar o nome e aí chegou a um ponto em que as crises de depressão do meu irmão eram grandes e quando saía dela vinham às crises de euforia assustadora. E um dia ele me deu um papel em branco transferindo as ações da empresa para mim e sumiu. E nesse sumiço eu fui para o meu pai e para outros diretores e disse: “Olha, nós vamos falir. A situação é impossível.” Aí meu pai, que tinha acabado de passar por uma operação no pé, de muleta ele falou: “Vamos então ao Banco Central e nós mesmos vamos pedir a intervenção.” E aí o Banco Central intervem nos negócios da família e meu pai, que toda vida sonhou em ter uma vida calma, pacata e sem nenhuma encrenca, se mete em uma encrenca do tamanho do mundo e todos nós também. Todos nós estamos encrencados com essa situação e isso foi um baque familiar, naturalmente. Não que a gente tenha perdido muito do ponto de vista econômico-financeiro. O crime do colarinho branco no Brasil não tem uma penalidade muito grande, mas os negócios todos ficaram parados, os bens de todo mundo indisponível e isso gera confusões nos recursos familiares. Eu estou tentando me lembrar porque nessa fase, nos anos 70, eu estava ganhando bem também... a gente resolve se mudar para uma casa, eu e minha mulher, para uma casa no Cosme Velho. E eu não sei, não me lembro mais por que motivo eu fui parar nessa casa; era um chalé, com mais de 100 anos, no Cosme Velho, no Rio, que estava mais ou menos abandonado. E nós cismamos que queríamos comprar o chalé; eu fiz uma proposta para o dono, que morava em Mato Grosso. Achei que ele ia recusar, mas ele aceitou e nós compramos o chalé; reformamos - levou um tempo reformando - e nos mudamos para lá. Daí a gente sai da Gávea e vai para o Cosme Velho, isso final dos anos 70, um pouco antes dessa confusão toda. Depois - eu estou pensando o que é que acontece nesse final de anos 70 e começo dos anos 80... - em 1979 nasce o meu primeiro filho; eu já estava nesse chalé no nascimento dele. Então, com a história da falência do grupo financeiro, a família da minha mulher tinha uma média para grande empresa industrial, na área de produtos veterinários, uma indústria farmacêutica de produtos veterinários, vacinas, essas coisas. E eles me chamam para ir trabalhar com eles e eu vou trabalhar com eles como executivo também. E fico lá - isso foi 1975 - e acontece a grande confusão da corretora; uma das pessoas que trabalhavam comigo na corretora vai trabalhar em uma empresa de comércio de ferro e aço, chamada Aços Rio, e me chama para ir trabalhar com ele. Era uma empresa de um português muito bem sucedido e eu vou para lá; fiquei o ano de 1975 e 1976 trabalhando com ele. Aí a empresa da família da minha mulher me chama e eu vou trabalhar com eles durante o final do ano de 1976 e começo no ano de 1977 como executivo. E aí no meio do ano 1977 eu começo a achar que a vida não estava sendo levada do jeito que eu gostaria. Embora minhas posses não fossem pequenas, quer dizer, eu não estava milionário, mas tinha algum dinheiro, eu estava me sentindo infeliz com aquela situação. E aí em 1977 eu tomo a decisão de que eu ia mudar isso. Eu tinha um colega da Eletrobrás que ficou sendo meu amigo, sobrinho do Burle Marx, chamado Alberto Marx Brown, que ficava falando para mim assim: “Você tem duas alternativas na vida - ou você tem muito dinheiro para comprar o seu tempo, ou você não tem dinheiro quase nenhum para ter o seu tempo.” E essas coisas ficavam. Foram momentos de introspecção e discussão sobre as razões de fazer as coisas e por que é que a gente faz, por que é que a gente quer ser rico. E uma brincadeira que a gente fazia, eu e ele, era que “tem que ter muito dinheiro para comprar o último modelo de televisão para sentar na frente dele e dizer que eu sou feliz.” Isso foi gerando certa angústia existencial que culminou em 1979, quando um dia eu saio pela porta da indústria no final de uma tarde e digo: “Eu não volto mais aqui, agora rompi.” E vou para casa e comunico à minha mulher que rompi com o sistema. E eu já tinha um filho, naturalmente a satisfação dela não foi muito grande; no mínimo ela falou: “Você não quer ver um psiquiatra? Não gostaria de faze psicanálise?” Eu falei: “Olha, eu já fiz psicanálise, posso até voltar a fazer. Enquanto eu estava na empresa do meu irmão eu fiz algum tempo de psicanálise, mas não é isso; a solução não está aí.” P/1 – E você tinha quantos anos naquela época? R – Eu tinha 30 anos em 1978. E aí fica uma situação complicada, uma situação doméstica naturalmente muito complicada. Eu não queria baixar o padrão de vida, então continuei gastando como se nada tivesse acontecendo, mas não entrava dinheiro. E eu fiquei um ano tentando trabalhar com coisas de natureza, eu não sabia exatamente o quê, mas estava buscando qualquer coisa; tentando ser fotógrafo, algo que me levasse a trabalhar com a natureza. E, naturalmente, todo mundo achava aquilo uma loucura, todo mundo me olhava com um olhar de “ficou maluco, pirou”. Mas eu estava convicto de que estava fazendo a coisa mais certa do mundo. Mas isso tem conseqüências, você não faz uma ruptura dessas sem conseqüências. Então tem conseqüências grandes de todo lado e tem custos elevados. E naturalmente meu dinheiro acabou e ao ponto de não ter dinheiro para pagar conta de luz, não querer dizer que não tem dinheiro para pagar conta de luz e a luz ser cortada. Para a minha mulher é algo extremamente desagradável; é para qualquer um, mas para ela especialmente, é uma pessoa muito certa nas coisas que faz. Então isso gerou um grande tumulto e ela me ameaçando de divórcio e eu dizendo para ela o seguinte: “Olha, eu estou convicto então se for para divorciar eu vou ao divórcio. Não é o que eu quero. Continuo apaixonado por você, te amo muito e não é o que eu quero. O que eu estou tentando dizer é que a alternativa está entre um marido mais pobre e feliz dentro de casa, ou um marido muito rico e infeliz dentro de casa. Então você tem que fazer essa decisão, eu também, mas eu não vou voltar para a situação antiga.” E ela foi super legal, apesar da confusão toda. Imagine, eu teria me divorciado de mim. P/1 – (riso) R – Mas ela não, ela foi resistindo da melhor maneira que podia, trabalhando cada vez mais para tentar suprir a minha ausência. Em certo momento, disse para ela – as coisas que a gente faz – eu disse para ela: “Não, você estudou um monte de tempo, eu te sustentei, não custa nada você me sustentar um pouco.” Fala cada bobagem. Mas enfim, nesse período procurando, procurando, procurando uma saída para aquela situação sem achar, e eu resolvi fazer uma tentativa de ir à Brasília. O IBAMA é o resultado da junção de quatro instituições, e a mais conhecida delas era o IBDF, onde estavam os Parques Nacionais do Brasil, as reservas todas. Depois tinha um outro chamado SEMA, que o professor Paulo Nogueira Neto comandou; e uma que cuidava só de seringueira e outra de pesca. Essas quatro instituições foram unidas na criação do IBAMA. E no IBDF a diretora era uma agrônoma chamada Maria Tereza Pádua, que não é minha parente direta mas era casada com um primo chamado Luis Fernando Pádua. E eu pedi uma audiência e fui falar com a Maria Tereza. Ela é uma famosa ambientalista, foi, sei lá, 15 anos diretora de Parques do IBDF, criou a maior parte dos parques nacionais do Brasil, principalmente os da Amazônia. E faz parte de uma geração - Coimbra Filho, Almirante Ibsen, Nogueira Neto, Maria Tereza. Quando se fala em um você fala sempre nos quatro. E eu fui falar com ela; eu falei: “Maria Tereza, eu estou nesta situação e estou procurando trabalhar na coisa da natureza. Eu não sei bem por que é que eu entrei nessa situação, mas meu coração dizia que eu devia fazer isso. Minha mudança foi drástica, porque se não fosse drástica não ia ter mudança. Foi sofrida porque também eu não ia conseguir fazer se não fosse assim. E eu não estou vendo alternativa na minha vida, eu não quero voltar a trabalhar em administração e não consigo achar um lugar para trabalhar nas coisas que eu queria fazer.” Ela disse: “Olha, Cláudio, eu não tenho como te ajudar. Você é administrador de empresas, todo mundo sabe disso, e não vejo saída.” Eu já tinha tentado Zoológico de São Paulo, tentado um monte de lugares, inclusive tentando ser administrador nesses lugares. Mas sem sucesso. Ela disse: “Você é administrador. Não tem jeito.” Eu falei: “Então, me diga uma coisa: o que é que você faria no meu lugar?” Aí ela disse assim: “Eu estudaria Biologia.” Aí eu falei: “Você acha que isso resolveria, é?” Ela falou: “Eu acho que ajudaria.” Eu falei: “Está bom.” Aí saí, peguei o ônibus, que não dava para pegar avião, voltei para o Rio de Janeiro e abri o jornal e comecei a procurar onde é que tinha vestibular de Biologia. E aonde é que tinha vestibular de Biologia, tinha curso noturno, porque eu precisava, eu sentia que eu ia precisar trabalhar, a situação estava calamitosa. E aí a Universidade Gama Filho, que é uma universidade particular grande do Rio, tinha um vestibular próximo e com curso noturno e eu me inscrevi. Eu me inscrevi, fiz vestibular e passei, uma das melhores classificações no vestibular e aos 30 para 31 anos entrei na Escola de Biologia para estudar Biologia, com mulher e um filho. E aí eu resolvi fazer certa concessão e voltar a trabalhar em administração, mas não de tempo integral, tentando fazer consultorias e trabalhos esporádicos, para poder sobreviver. E comecei estudar Biologia dessa forma. P/1 – E na verdade, existia nessa época um cenário ambiental? Como que era isso, assim, para você ter tanta vontade para você querer fazer parte? R – Não, conservação da natureza, meio-ambiente, começa a aparecer em 1972, na verdade com a Conferência de Estocolmo. Mas era muito mais para o lado da poluição e de outras preocupações com a sociedade global começa a tomar conhecimento dos riscos para a sua saúde e para a saúde do planeta da situação de poluição, da industrialização que nós estávamos vivendo e da era industrial e etc. Claro que tem alguns expoentes desde que o mundo é mundo, em termos de meio-ambiente e de natureza. Mas de uma maneira mais sistemática só acontece de 1972 para frente. E que na verdade só vai realmente ficar mais forte nos anos 80 e 90 principalmente quando vem a Conferência do Rio. Então é uma coisa muito recente nesse mundo, essa consciência de que precisava ter essa mudança. O que eu não contei para vocês, é que o meu avô apesar de todos terem se mudado para o Rio de Janeiro, ele era fazendeiro em Minas também, além de político tinha uma fazenda no município de Pará de Minas, onde nasceu minha mãe e eu passava minhas férias todas lá. Então o primeiro dia de férias eu estava na fazenda e vivia uma vida rural parcial nas minhas férias, tanto de julho quanto nas férias de dezembro. E era o programa melhor possível para todos nós era ir para a fazenda do meu avô. E por conta disso acabei me virando caçador também, porque meu avô gostava de caçar. E você começa, desde pequeno tive uma convivência grande com o mundo da natureza, nesse sentido, como caçador, e na fazenda. E depois disso, porque gostava de caçar, alguns amigos meus também gostavam no Rio de Janeiro, e eu desde garoto andava caçando com eles e tal. Eu tenho um compadre que continua caçando até hoje, mas nós caçamos juntos anos e anos e anos, padrinho do meu filho mais velho. E o caçador, o amador como eu era – e naquela época era possível ser caçador amador – eu hoje acho que não tem o menor sentido, mas no aspecto de você viver com a natureza tem algo de importante. Porque você está matando um animal, mas você também está convivendo com a natureza e vendo como é que ela funciona e como é que ela trabalha. Então eu acho que essa parte do processo que me influenciou nessa mudança. Mas, você vê que os meus testes vocacionais davam que eu era agrônomo, então eu já tenho desde pequeno o desejo, o que eu não tinha feito era posto empenho suficiente para começar isso desde jovem. E achei que era hora de fazer, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi essa mudança. Hoje eu posso dizer que foi a melhor coisa, naquele momento foi complicado. P/1 – Quando você entra na faculdade, qual era a sensação? R – Começa muito complicado. Os meus colegas todos tinham 18, 19 anos, e eu tinha 30 anos; então eu era naturalmente o aluno mais velho da sala. E eu trabalhava durante o dia e estudava durante a noite. Aliás, muitos deles também faziam à mesma coisa, mas eu tinha uma cultura dez mil vezes maior do que a deles, um conhecimento muito maior do que o deles, por causa da experiência de vida que eu tinha. Mas eu me diverti muito. E estudando Biologia nessa fase e fui trabalhando, fui levando e as coisas foram dando certo. Tive meu segundo filho. Quando eu estava no terceiro ano de Biologia uma outra pessoa que me influenciou nessa mudança é um amigo da família, mas mais da família da minha mulher do que da minha família, mas amigo da minha família também, chamado Arnaldo Ferreira Leal, que é uma pessoa riquíssima do Rio de Janeiro. Ele herdou uma fábula de dinheiro e tem uma casa monumental, um palácio na Rua das Laranjeiras onde ele tinha o jardim zoológico dele. E o Arnaldo também gosta das coisas da natureza e também com ele eu aprendi uma porção de coisas da natureza. Ele tinha uma literatura grande, me mostrava as coisas. E o meu sogro que também era um caçador e foi caçador profissional por algum tempo, por incrível que pareça. Hoje ele seria considerado o inimigo público número um. (riso) Mas o meu sogro matou tigre, elefante. A sala da casa dele na Gávea tinha troféus e foi assim que eu fui conhecer minha mulher na verdade. Porque eu fui conhecer meu sogro que era caçador. E era herói dos caçadores todos do Brasil. Havia dois grandes caçadores no Brasil, um de São Paulo, que tinha o apelido Quirombose porque caçou na África muitos anos e outro era meu sogro, que caçou na África, na Índia, no Alaska, em todo lugar. Uma sala de troféu daquela de filme. E então fui estudar Biologia com uma experiência completamente diferente dos meus colegas, mas a gente se dava extremamente bem. Foi divertidíssimo, foi um curso de Biologia razoavelmente fácil. Mas o que eu estava chegando é que no terceiro ano eu encontro na casa desse meu amigo Arnaldo Ferreira Leal, que é um amigo comum, eu encontro o professor Coimbra Filho, que estava aqui conosco nesse evento, mas que eu já conhecia, porque ele era um pesquisador famoso já naquela época. Conhecia de nome, de trabalhos, de congresso, essas coisas. E aí uma tarde conversando com ele, um sábado de tarde, nós nos reunimos lá, um grupo de pessoas que gostavam de bicho, de Biologia. Todo sábado à tarde a gente ia para lá. E eu ia, levava, minha mulher ia que também é amiga da família, levava meus filhos. E uma casa grande, você imagina, tem um jardim enorme todo mundo ficava se divertindo. E o Coimbra disse: “Você não quer vir trabalhar comigo?” E eu confesso a você que o que eu queria na verdade, naquele momento, era estudar um bicho chamado cachorro-do-mato vinagre, mas não tinha nenhum recurso para fazer isso. Então, eu não pensava em trabalhar com primatas, nada disso. Embora na minha juventude eu tenha, na fazenda do meu avô eu ganhei um desses sagüis e eu andava de sagüi para todo lado pelo Rio de Janeiro, tinha um sagüi domesticado que ficou comigo alguns anos. E aí eu falei: “Quero. Quero trabalhar com você.” Ele falou: “Então vamos fazer um esforço nesse sentido.” E o Coimbra era diretor de um centro de pesquisas chamado Centro de Primatologia do Rio, que pertencia a um órgão do governo do estado chamado FEEMA. E havia uma dificuldade muito grande, ele não tinha força suficiente para me contratar. E então eu comecei a fazer um esforço para tentar conseguir usar os nossos conhecimentos políticos para ser contratado, por um lado, e ele pelo outro lado. E acabou dando certo. O Tancredo Neves tinha acabado de fundar um partido novo, e imagina, Tancredo Neves, político tradicional mineiro, devia a sua carreira em parte a meu avô, e eu fui conversar com ele. E ele disse: “Não, eu vou te ajudar.” Porque ele tinha fundado um partido novo com o governador do estado do Rio daquele momento. Ele foi falar com o governador. O governador disse que sim, que não, houve certa confusão, levou algum tempo, mas acabei sendo contratado para o Centro de Primatologia do Rio como técnico, porque eu ainda não era formado. E aí eu entro na carreira de biólogo. Quando eu entro na carreira de biólogo – e aí nós estamos falando do ano de 1981, eu acho – e eu trabalhei com o Coimbra de 1981 até 1984, quando eu fui para os Estados Unidos fazer mestrado. P/1 – Só voltando um pouquinho. Eu fiquei curiosa, você falando, do nome do seu avô? R – Ah, ele era o governador Valladares. Chamava Benedito Valladares. P/1 – (riso) R – É. A cidade de Governador Valadares chamava-se antigamente Figueira do Rio Doce. P/1 – Hum. R – E era uma cidadezinha mínima à beira do Rio Doce. A Rio-Bahia não existia ainda. E eles, naquela época você podia homenagear político vivo, hoje não pode mais. Eles queriam homenagear ele. Ele foi muito poderoso, porque ele foi é, feito pelo Getúlio. O Getúlio tinha um poder extraordinário. Então o pessoal queria homenagear ele. Ele falou assim: “Escolhe uma cidadezinha bem pequenininha aí.” E eles disseram: “Que tal Figueira do Rio Doce?” Ele falou: “Está ótimo.” Eles mudaram o nome de Figueira do Rio Doce para Governador Valadares e naturalmente por causa disso ele ajudou bastante a cidade. E a Rio-Bahia ajudou também, hoje é uma cidade enorme. P/1 – Enorme. R – É. P/1 – Nós vamos trocar a fita. P/1 – Nessa época você já tinha umas ligações com o movimento ambiental? (pausa) R – A única ONG grande que tinha no Rio de Janeiro na área ambiental chamava-se Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, que foi uma criação de muitos anos antes. Com o próprio Coimbra, e o Almirante, o José Cândido de Melo Carvalho. O Almirante era um naturalista amador, mais os outros eram naturalistas; na verdade eram pessoas do Museu Nacional, naturalistas que se preocupavam com essa coisa, não havia uma coisa sistemática de movimento grande. E nos anos 80 em São Paulo tinha passeata, “Salve a Baleia” e tal - mas “Salve a Baleia” vem do Greenpeace internacional, é quando começa. Toda a fase dos anos 70 até os anos 90 é a fase na minha visão, do indivíduo tomando consciência. Então a Greenpeace vive de doação de milhões de pessoas com pequenas doações. E a WWF é a mesma coisa, vivia da doação de milhões de pessoas, pequenas doações, o individuo. Hoje o individuo representa pouco na entrada de dinheiro deles. Eles hoje, grandes corporações e outros países. A gente fala depois mais para frente. P/1 –Você estava fazendo mestrado? R –Não, eu estava no Centro de Primatologia. E aí no Centro de Primatologia eu descobri... bom, primeiro eu descobri que a administração continuava me servindo, porque ninguém sabia fazer nada de administração lá. E embora eu me dedicasse quase que exclusivamente à pesquisa lá eu também comecei a ajudar na parte administrativa porque as pessoas não sabiam fazer. E isso foi importante para o Centro, eu tenho certeza disso. O Coimbra tinha um grande amigo, um americano chamado Russell Mittermeier, que é presidente da Conservation International - não fundador, mas presidente hoje em dia - que nessa época trabalhava no WWF americano. O Mittermeier chegou ao Brasil nos anos 70 talvez, o Coimbra já trabalhava com primata nos anos 70. E o Mittermeier era estudante de pós-graduação em Harvard, muito garoto; queria estudar primata brasileiro, bateu na porta do Coimbra e disse: “Eu gostaria de estudar primata brasileiro.” O Coimbra o recebeu e fizeram uma amizade que persiste até hoje. E o Mittermeier freqüentava o Centro de Primatologia com grande assiduidade. Todo ano ele vinha duas, três vezes, então acabou ficando meu amigo também. E ali a gente começou a trabalhar, fazendo pesquisa com primata e eu fazia um pouco de administração. Nós éramos quatro, cinco pessoas só. Eu estudava ainda Biologia, meu dia era enorme; como era longe do Rio de Janeiro, em Magé, na Baixada, caminho de Teresópolis, a viagem para lá levava uma hora e meia, duas horas. E o Coimbra era uma pessoa extremamente sistemática, queria estar lá no horário certo. Então tinha que acordar 5 horas da manhã; era uma Kombi que passava para me pegar as 6 horas para as 8 horas estar lá no horário de trabalho. E saía de lá umas 5 horas, saltava em casa, pegava o carro para ir estudar de noite. Eu falo com as pessoas que nessa época eu fumava quatro maços de cigarro por dia, que é um exagero. Mas na verdade é porque eu dormia pouquíssimo também, meu dia era imenso e eu chegava da universidade a meia-noite. A universidade era no subúrbio do Rio também, chegava 11 horas, meias noite, daí eu jantava, conversava um pouco com a minha mulher. Então eu dormia 4 horas por noite por um bom período - mas estava feliz como nunca. Estava rindo até para acidente, como diz um amigo meu. P/1 – (riso) R – E felicíssimo, levando essa vida. E aí o Coimbra tinha ligações com o zoológico na Ilha de Jersey, no Canal da Mancha, que é um zoológico especializado em espécie ameaçada de extinção. E como eu falava inglês, esse zoológico começou um programa de treinamento em espécies ameaçadas e o Coimbra me ofereceu se eu não queria ir passar uma temporada lá. Eu achei que era ótimo, por que também era uma chance de aprimorar o meu inglês. Foi no ano que nasceu a minha segunda filha, a minha última filha. E passei 2 meses na Inglaterra fazendo esse estágio. Foi muito importante na minha vida porque foi quando eu tomei contato com o mundo internacional da conservação. E o nosso mundo no Brasil era pequeno e ativo, mas eu descobri que existia um mundo internacional bastante maior e preocupado com as mesmas coisas que a gente estava. Eu pude ver isso de perto. E aí continuei o meu trabalho. Em 1983 o Mittermeier um dia veio ao Brasil e me chamou; ele falou que queria conversar comigo. Ele disse: “Olha, você quer fazer mestrado?” Eu falei: “Claro.” Ele falou assim: “Eu descobri um lugar para você fazer mestrado. Você vai fazer mestrado na Universidade da Flórida em um curso novo que foi criado esse ano lá por um primatólogo chamado John Robinson e o negócio está ficando muito bacana; eu acho que você devia ir para lá.” E aí já estava formado, já biólogo, porque eu já tinha sido promovido a biólogo quando me formei. E já com os três filhos, a vida estava razoavelmente organizada. Ganhava pouco, mas estava organizada. E aí no ano de 1983 eu resolvo que era hora de ir fazer o mestrado e começo a trabalhar para esse sentido. Também nesse mesmo ano, a Maria Tereza Pádua, a mesma Maria Tereza Pádua que tinha deixado o IBDF era muito amiga do professor José Goldemberg, que hoje é secretário do Meio Ambiente de São Paulo, ele era professor na USP, mas ele foi convidado para ser presidente da CESP nessa época. E veio para a CESP e convidou ela para ser diretora de Meio Ambiente da CESP. Então a mesma Maria Tereza nesse momento está como diretora de Meio Ambiente da CESP. E a CESP está construindo três barragens no oeste de São Paulo, uma chamada Rosana, a outra Taquarussu, a outra Porto Primavera. E o Coimbra ficou muito famoso porque redescobriu uma espécie ameaçada de extinção, uma espécie considerada extinta, que é um dos micosleões, chamado mico-leão preto. E ele fez essa descoberta em 1971 e isso tornou ele famoso, com trabalho no mundo científico, foi uma coisa super legal. E o Mittermeier já o ajudava nessa época, difundiu essa história de que uma espécie considerada extinta foi reencontrada por ele. E ele também trabalhou com os outros micos-leões, então ele também estava mais ou menos famoso do ponto de vista científico nesse sentido. E aí a Maria Tereza telefona para o Coimbra e diz: “Olha, nós vamos inundar um pedaço do Parque Estadual do Morro do Diabo, onde você reencontrou o mico-leão-preto. E eu só descobri isso agora e a CESP não prestou atenção para isso e certamente vai inundar a floresta onde tem mico-leão. E eu estou apavorada porque na hora que a imprensa internacional souber isso vai ser um escândalo e você precisa vir me ajudar então.” Ele falou : “Está bom, eu vou te ajudar.” E ela fez a mesma coisa com o professor Célio Vale da Universidade Federal de Minas Gerais, que também era uma pessoa que estudava primatas não o tempo, mas estudava. E no final de 1983 o Coimbra me chamou: “Você não quer ir comigo lá?” Eu falei: “Vou.” Então o Coimbra, eu, o Célio Vale e um auxiliar do Célio Vale viemos para São Paulo. A CESP, naquele momento, estava fazendo qualquer coisa para resolver essa situação; nos colocaram em um avião da CESP, pousamos no próprio Parque Estadual Morro do Diabo e passamos 2 dias fazendo uma avaliação da situação. E eu ia como assessor do Coimbra, na verdade - o Coimbra era a pessoa importante nesse momento. E esse momento é um momento chave da minha vida, porque no final do segundo dia a gente tinha visitado tudo o que a CESP e o Instituto Florestal de São Paulo – que é quem gerencia o Parque – queria que a gente visitasse e houve uma reunião de avaliação da situação. E o Coimbra é uma pessoa que quando tem que falar uma coisa ele fala, não pensa duas vezes. E todos estavam esperando a palavra dele e ele reuniu todo mundo, o chefe do Parque, os diretores da CESP e todo mundo, e falou o que tinha que falar e o que não tinha que falar. (riso) P/1 – (riso) R – Disse que estava tudo errado; eu não vou reproduzir o que ele falou, mas ele perdeu uma boa hora dizendo que eles estavam completamente errados, que só tinha visto coisas erradas, que aquilo era um absurdo completo, tanto do Parque quanto no processo todo que eles estavam encaminhando. E depois disso, ao estilo dele, ele disse: “Olha, e tem mais: eu não quero saber disso não. (riso) Eu vou-me embora e o Cláudio fica aí cuidando disso.” (riso) E me largou lá. E eu passei o fim-de-ano de 1983, reveillon de 1983, na cidade de Teodoro Sampaio, resolvendo, acalmando os ânimos das pessoas que Coimbra tinha dado uma bronca tremenda. (riso) E na verdade esse momento desagradável me levou a querer me dedicar a esse processo, a esse trabalho, que era o trabalho de salvação do bicho. E acabou virando tema das minhas pesquisas daí para frente por muitos anos. O que tinha lógica, inclusive, porque era seqüência das pesquisas do Coimbra. Então, e o Coimbra tinha esse mico que estava em cativeiro, era o bicho mais ameaçado do Brasil, um dos cinco mais ameaçados do mundo, então tinha toda uma lógica por trás disso e houve um inventivo do Mittermeier também. E em 1983 eu me envolvo então com o meu objeto de pesquisa, pela primeira vez eu tenho um objeto de pesquisa claro. E não eram os primatas ameaçados do Brasil, como todos os do Centro de Primatologia - mais um, claro. E pesquisa de campo que na verdade era o que eu queria fazer, porque no Centro de Primatologia o que a gente fazia era pesquisa de animais em cativeiro. E voltei para o Centro de Primatologia e aí começa um processo de montagem de um projeto. A Fundação Brasileira de Conservação da Natureza, onde o almirante Ibsen era o diretor entra no processo, é contratada pela CESP, o Instituto, enfim, começa a se formar um esquema para salvar os micos-leões. E esse esquema vai caminhando e eu vou visitar uma outra reserva que tem no meio de 1984 e tudo. Mas no final de 1983 eu vou a um congresso de zoologia onde o Mittermeier, já tinha me falado da história de eu estudar no exterior e eu encontro com algumas pessoas que estavam estudando lá. Aí eu tomo a decisão definitiva de fazer mestrado na Universidade da Flórida e aí passo a acelerar o processo. E aí tenho que contar com o Coimbra que eu tinha resolvido e foi um momento difícil, convencer o Coimbra de que eu ia estudar fora. E ele não se conformou, não tinha alternativa, eu disse: “Eu vou, e eu vou e acabou.” Em julho de 1985 eu passo a pesquisar o mico-leão preto e aí em agosto de 1985 eu embarco para a Flórida, no final de julho na verdade, para montar a casa para depois a minha família ir para lá. E, você imagina, eu era biólogo, a Suzana era decoradora, mas a nossa vida era uma vida de gastos razoáveis, então a gente tinha poucas economias nesse momento. Como biólogo do estado eu ganhava muito pouco. E fomos embora. E fui aceito lá e ganhei bolsa do CNPq. O professor Célio Vale foi quem ajudou a conseguir a bolsa do CNPq para mim e eu fui embora. E pouco tempo depois até eu conseguir a casa na universidade aí a Suzana foi. Aí eu conversei com ela: “Olha, Suzana, estou querendo estudar lá fora ainda por cima.” E aí, esse momento foi um momento muito mais fácil porque a vida de decoradora é uma vida que você ganha bem, mas tem que lidar com clientes ricos e cheios de vontade. E ela já vinha fazendo isso há alguns anos e ela viu nesse momento uma oportunidade de tirar umas férias do processo de decoradora. E a bolsa era pequena, mas a vida ia ser de estudante, ela gosta muito de estudar. Então, a Universidade da Flórida não era apropriado para ela. Os programas deles da área de artes ou de programação visual são fraquíssimos, mas tinha um programa de História da Arte razoável e ela falou: “Não, eu vou, depois eu faço mestrado em História da Arte também.” E fomos. Embarcamos, ela foi depois com os meninos. Eu já tinha casa e comecei um processo de pós-graduação e aí a vida ficou muito agradável na verdade e a vida familiar ficou muito agradável. A vida nos Estados Unidos embora ela seja em certos momentos sem graça, mas quando você está em uma universidade, está com um objetivo e fazendo mestrado, é... As casas das universidades são razoavelmente confortáveis, eu ganhava uma bolsa do CNPq que não era muito grande, mas dava para viver bem, com economia. Então a vida familiar estava muito estável, meus filhos estavam em escolas excepcionais, escolas públicas, mas escolas públicas muito boas. A cidade de Gainsville era uma cidade muito boa, mas o mais incrível disso é que eu fui o segundo brasileiro a ir para lá. Antes de mim tinha chegado o Gustavo Fonseca, que hoje é vice-presidente da Conservation International e é, na verdade, uma das pessoas que manda na Conservation International, que vinha da escola do professor Célio Vale, de Minas. E eu cheguei lá, o Gustavo foi que me recebeu inclusive, me ajudou bastante no começo. Mas a história do curso da Universidade da Flórida é uma história importantíssima. Porque no final dos anos 70 nos Estados Unidos - 1978 , 1979 alguns ecologistas e similares se juntaram e em um workshop concluíram que o tema de estudo deles estava desaparecendo. O que eles estavam estudando, que era a natureza, estava desaparecendo a passos muito rápidos. Isso já vinha sendo falado por vários autores, a grande crise de perda de biodiversidade que a gente estava vivendo nos momentos atuais. A consciência sobre ela e a tomada lá nesse período nos anos 70 e tal mas eles começam a se preocupar fortemente não só em denunciar isso, mas como é que eles iam fazer para resolver essa situação. E esse workshop gera um livro, que se chamou “Conservation Biology” - Biologia da Conservação – Uma ciência da escassez. Eles criam uma ciência nova nesse momento. Eram 20 pesquisadores americanos famosos e nasce uma ciência nova nesse workshop. E um dos autores do livro era um famoso emérito pesquisador americano chamado John Eisenberg, um dos maiores mamalogistas vivos, principalmente especializado em mamíferos neo-tropicais. John Eisenberg era diretor de pesquisa da Smithsonian em Washington, ligado ao jardim zoológico. Uma pessoa fantástica, brilhante, extremamente brilhante. Ele foi meu professor na Flórida, mas uma pessoa fisicamente muito feia, porque tinha tido um acidente e alcoólatra também. Então a convivência com ele às vezes era estranha, mas o brilhantismo dele era tanto que suplantava qualquer coisa. Ele conversou coisas comigo e quando ele bebia, ficava mais inteligente ainda, o danado. Ele conversou coisas comigo inacreditáveis quando ele estava bêbado. Eu ficava sempre de queixo caído com a conversa dele. Uma memória prodigiosa, um conhecimento de tudo e de todos, sabia tudo, sabia, uma maravilha, Eisenberg. Eu estou contando isso para mostrar que ele era uma pessoa extremamente conhecida no mundo da ciência, mas já estava um pouco mais velho; e a Universidade da Flórida ganhou um dinheiro de uma milionária. Essas universidades americanas ganham dinheiro de milionários para contratar professores eméritos e fez uma concorrência. Essa senhora chamava-se Catherine Audrey. Além disso tinha dinheiro para pesquisa, tinha reserva, tinha tudo acoplado em um pacote para contratar professor emérito nesta área - os americanos chamam de wildlife - para a Universidade da Flórida. E foi feita concorrência nacional e quem ganhou em primeiro lugar não foi o Eisenberg, foi um outro pesquisador famoso de Princeton, que quando foi discutir o salário não gostou, resolveu não ir. E o Eisenberg ficou em segundo lugar e aí o chamaram e ele resolveu ir. Ele já estava mais velho e queria sair do frio de Washington e mudar para a Flórida. Como os americanos todos fazem quando vão ficando mais velhos, a idéia é mudar para a Flórida, para o calor da Flórida também. E ele tinha lá em Washington três ou quatro estudantes de pós-doutorado, jovens, além da mulher dele que não quis - que é uma famosa pesquisadora também nessa área e tem umas relações grandes com a gente no Brasil também - mas ela não quis ir. Mas esses três ou quatro jovens pesquisadores que faziam pós-doutorado com ele resolveram ir. E um chama-se John Robinson, o outro chama Kent Redfort, o outro chama-se Mel SunQuist; esses são os mais importantes que vieram com ele. E ele foi para a Flórida e os levou; ele tinha uma cadeira, tinha tudo isso, mas eles não tinham nada. Estavam lá como pós-doc dele e não sabiam muito bem o que é que iam fazer. Ao mesmo tempo em que está nascendo à ciência da Biologia da Conservação e o John Eisenberg é um dos autores do livro e trás isso para o grupo dele. Então o John Robinson, brilhantemente, nesse momento raciocina o seguinte: “Eu vou fazer disso aí algo.” E resolve criar um curso de pós-graduação na Universidade da Flórida de Biologia da Conservação. Ele não podia fazer, criar um curso, mas o que ele tenta é montar um esquema junto com o Eisenberg de forma que dentro dos cursos existentes na Flórida eles conduzissem nesse sentido. E é o primeiro curso no mundo do assunto, de pós-graduação. E eu caí lá, honestamente, confesso que sem querer. Confesso que sem querer pelo seguinte: é claro que Mittermeier pressentiu que isso ia acontecer. Mas o Mittermeier não sabia a grandeza que ia ter o curso da Flórida. Ele não sabia isso. E aí caio lá na hora certa, no momento certo, é a coisa de um pouco de sorte na vida da gente também, de cair na hora certa no lugar certo. E isso foi fundamental, porque esse curso ficou um curso famosíssimo. Ele deu origem à criação de 22 outras pós-graduações no mesmo tema nos Estados Unidos. Ele formou um grupo grande de pessoas que fizeram um network poderoso. Eu não tenho um lugar que eu vá no mundo hoje, no mundo da conservação, que não tenha alguém que passou pela Flórida mandando. Em Washington, na Europa em qualquer lugar, ou na América Latina toda. E a maior parte dos estudantes deste curso não eram americanos, que foi a outra grande coisa. O John Robinson como ele fazia pesquisa na Venezuela, e o Eisenberg também, ele começa a abrir uma brecha para os estudantes latino americano e arranja um jeito de burlar um pouco o sistema americano para poder entrar. Nem todos conseguiam cumprir com os requisitos e ele ajudava bastante nesse sentido. P/1 – Só interrompendo um pouquinho nisso que você falou: “a maioria dos estudantes não eram americanos”. Isso ocorria porque não havia tanto interesse, era um interesse maior dos estudantes latinos ou não? R – Não, isso ocorria porque poucas universidades americanas ofereciam um espaço para os alunos internacionais. Por causa disso, os requisitos para entrar em uma universidade americana são muito difíceis, para quem não fala inglês bem, para quem essas coisas todas, primeiro. Segundo, os professores da Flórida todos trabalham, a Flórida é uma escola conhecida por sua ação no mundo tropical, tem uma motivação. Ela é semi tropical, mas ela é ligada a pesquisas na área tropical. Então ou eles trabalham na África, ou na Ásia ou na América Latina, mas trabalham principalmente nos trópicos. Então tinha uma grande quantidade, além desse grupinho já tinha uma grande quantidade de professores trabalhando nesse país. O que esse grupo fez foi conseguir recursos e abrir brecha para trazer alunos desses países. E houveram levas, vieram levas. A primeira na verdade, os dois primeiros alunos um veio da Indonésia e o outro vem da Colômbia. Os primeiros alunos do John Robinson, orientados dele. Depois veio uma leva de brasileiros, enorme. E começa com o Gustavo; eu fui o segundo e o Carlos Perez o terceiro. E aí vem uma quantidade grande, grande que eu digo para um curso de pósgraduação, passaram por lá uns 20 ou 30. E depois veio a leva dos peruanos, dos mexicanos e aí vem. Ele abre a brecha e isso se espalha. E se espalha e a aceitação é grande. Primeiro porque ele também tinha dinheiro, ele conseguiu dinheiro para isso. Mas também porque havia uma demanda reprimida nesses países. Nós todos que estávamos aqui eu te contei a minha trajetória, eu queria estudar, eu queria trabalhar com isso e no Brasil não tinha a menor chance de ter escola nenhuma para isso. Então da mesma forma que eu descobri do ponto de vista da minha carreira profissional no mundo acadêmico, levou muitos anos para o mundo acadêmico perceber isso. E o pessoal da Flórida percebeu com certa velocidade. E como eu tinha gente em todos os países da América Latina de demanda reprimida querendo entrar nessa história e querendo entrar do ponto de vista de aprender do mundo acadêmico. Então foi o tchan. Houve uma grande quantidade de alunos de todos, de países do mundo inteiro da África, da Ásia, mas principalmente da América Latina que foram para lá. E isso formou certa rede, uma confraria grande desses alunos e não só por esse lado. Eu, por exemplo, criei a Associação dos Alunos dos Trópicos enquanto eu estava lá. Isso foi gerando e foi atraindo um monte de gente e pessoas que hoje estão em comando no mundo todo. A Flórida, este momento da Flórida foi um momento riquíssimo, importantíssimo e que tem influências fortíssimas em mim até agora e você vai ver por que daqui a pouco. E aí fiquei lá estudando, 1984 até 1987. E em 1987 eu terminei o mestrado e resolvi que eu ia ficar e terminar de fazer o doutorado. O CNPq, que era quem dava a bolsa, interpretou que se eu quisesse ficar, eles tinham me dado 4 anos de bolsa, eles me dariam 4 anos de bolsa, que é a bolsa de doutorado e nem mais um dia. Então eu já tinha levado 3 anos para fazer o mestrado. Mas uma boa parte dos cursos do meu doutorado já tinham sido feitos, mas não dava para eu terminar em mais um ano; então eu falei: “Mas eu vou fazer assim mesmo. Agora eu vou.” E aí em 1987 eu tinha terminado os cursos e tinha que fazer pesquisa de campo. E aí vem a segunda história com a Suzana. Nesse momento eu falei com a Suzana: “Estou precisando ir para o Brasil fazer pesquisa de campo e adoraria que você fosse comigo e tal, com os meninos.” “Para onde é que nós vamos?” Eu falei: “Não, nós vamos para o Pontal do Paranapanema, e nós vamos morar em Teodoro Sampaio. A CESP nos ofereceu uma casa na vila de engenheiros deles e os confortos da CESP.” E era verdade. Então vamos para lá. E aí eu vim antes, porque eu vim fazer uma pesquisa, todo ano eu vinha fazer uma pesquisa para o meu mestrado. Eu fiz pesquisa de mestrado com o mico-leão-preto já, mas no verão americano, que é como os americanos fazem. No verão americano que é maio, junho e julho, você vai para o campo, coleta dados e depois o resto do ano você fica fazendo matéria e escrevendo. E aí eu tirei umas fotos de Teodoro Sampaio de ângulos muito bonitos, na verdade confesso que enganei a Suzana um pouco nesse sentido - e ela falou: “Vamos então, vamos embora.” E aí nós chegamos ao Brasil em 1987 para ir morar lá. E aí quando nós chegamos em São Paulo, aquele diretor da CESP naquele momento me disse: “Olha, Cláudio, mudou o presidente da CESP. Eu vou cair e não tenho como te dar a casa. Não tem casa para você.” E aí eu fui para Teodoro Sampaio tentar alugar uma casa. E não tinha nenhuma casa alugável, porque com a construção das barragens às casas estavam todas ocupadas, tinha uma demanda enorme, uma cidadezinha desse tamanhinho. E nos anos, no começo do projeto a Fundação Brasileira de Conservação da Natureza, ganhou um dinheiro do Mittermeier, do WWF, e construiu uma pequena casa de madeira lá no parque para pesquisadores. Uma casa tinha o tamanho desse quarto, talvez, quarto com banheiro ali e tudo. Uma das coisas que me chamaram a atenção é que tinha uma tomada só. P/1 – (riso) R – Então, e eu falei com a Suzana: “Suzana, só resta uma casa aqui. E nós vamos ter que ir para ela.” Aí ela falou: “Não tem outro jeito, então vamos.” E fomos eu, ela, três filhos e umas 40 caixas de coisas americanas em uma casa do tamanho desse quarto. E a Suzana olhava para mim e chorava, chorava, chorava. Falou: “Como é que você me traz para um lugar desses.” E por azar meu, era verão brasileiro. Teodoro Sampaio no verão é quentíssima e mosquito, aquilo era um inferno mesmo. Os meus filhos vindos da Flórida, não queriam sair de casa de jeito nenhum, apavorados com a possibilidade dessa floresta. Está no meio da floresta então, sair de casa é cair no meio da floresta, que para eles era algo assustador. Foi um primeiro momento desastroso, dificílimo. E a Suzana não tinha nada a ver com aquilo, estava me acompanhando e eles também. E vindo de uma vida confortabilíssima da Flórida. E esse momento foi chatíssimo, foi dificílimo e tem lances inacreditáveis porque, eu conto para as pessoas. E eu com mania de formar gente, logo que eu fui para lá eu chamei quatro estagiários; o Parque estava com dinheiro da CESP construindo uma hospedaria, mas esta hospedaria não tinha telhado ainda. E eles ficaram hospedados lá e os estagiários me chateavam todos os dias porque não tinha água quente. A vida foi ficando um inferno. E só tinha um carro, só tinha dinheiro para um carro no projeto. E o carro foi dado pelo meu orientador na Universidade da Flórida, John Robinson, que era um carro que tinha sido usado por uma outra aluna dele na Bahia e ela acabou a pesquisa dela e me passou o carro. Uma Parati branca, velha, mas era o único carro que a gente tinha e estava bom. E a história da única tomada é séria, porque os meninos queriam ver televisão, a Suzana queria usar a batedeira, tinha que usar dois, três ‘Ts’, aquilo desligava a casa. Até que eu consegui um eletricista na cidade para botar mais tomadas na casa e melhorar. Aí o pessoal da CESP se compadeceu e veio em peso, e melhorou a situação ali, mas isso já tinha um mês que a gente estava lá. E aí a gente foi se acostumando ali com a vida naquela casa, mas estava péssimo para falar a verdade e eu não conseguia achar uma saída para a situação. E aí, e eu comecei a trabalhar e fazer pesquisa, então eu passava os dias muito fora de casa. Os meninos começaram a ir para a escola pública de Teodoro Sampaio, a vida começa a querer entrar nos eixos. E eu tentando convencer o diretor do parque de construir uma, porque tinha dinheiro da CESP, de construir uma casa para ele. Como ele não morava lá de construir uma casa para ele, para eu poder morar na casa (riso) enquanto eu estivesse lá. P/1 - (riso) R – Ele era uma pessoa que eu conheci em 1985, um diretor do Instituto Florestal lá da região de Assis. E eu fiz uma coisa certa, em 1985 eu bati na porta dele quando eu vim fazer pesquisa no Morro e ele tinha acabado de ser nomeado diretor do parque, embora ficasse em Assis. Trouxe um presente para ele dos Estados Unidos, falei: “Eu vim conversar com você porque eu gosto de entrar na casa dos outros pela porta da frente. Eu quero que você saiba que eu vou lá, assim, assim, assado.” E ele ficou muito bem impressionado com essa conversa. E a gente conversou e ele ficou muito feliz com isso e virou meu grande protetor na verdade. Porque eu até hoje tenho problemas no Instituto Florestal aqui e ali porque não sou da casa, mas convivo com eles há muitos anos e isso gera certo ciúme e tudo e ele era um grande defensor. Ele se aposentou recentemente, o que está me causando algumas dificuldades. (riso) Mas o fato é que eu tentando convencer ele de construir a casa - o que acabou acontecendo. Porque também o meu dinheiro de pesquisa foi melhorando, eu fui conseguindo dinheiro de pesquisa e eu propus a ele: “Olha, eu pago metade da casa.” E aí as coisas que você não conseguir pagar, eu pago.” No Instituto tem uma fábrica de casa, ele conseguiu convencer o diretor da fábrica de casa a fazer uma casa de madeira maior e eu paguei a mão-de-obra e ferragens e essas coisas todas. Então uns 8 meses depois a gente estava em uma casa grande e confortável, que talvez tenha sido uma das casas mais agradáveis que eu já vivi na minha vida e Suzana fala a mesma coisa, porque ela desenhou a planta, inclusive. O homem da casa de construção, o diretor da fábrica de casas disse que não queria construir de jeito nenhum, porque ele disse assim: “Isso aqui não é casa de pesquisador.” P/1 – (riso) R – A Suzana desenhou a casa que ela queria, então um espetáculo de casa. E ele falou assim: “Se eu fizer uma casa dessas, nunca mais eles saem de dentro do parque. Você não vai fazer pesquisa coisa nenhuma.” Mas nessa época a vida ficou mais confortável. Mas nesse primeiro momento a vida estava muito dura e os assistentes me chateando, me chateando. Um deles era vegetariano, o outro não era - eles não conseguiam se juntar para comprar comida juntos, uma das coisas que me deixava mais irritado. Então cada um tinha que ter a sua comida, então tive que comprar uma geladeira nova. E aí tinha camundongo, um cismou que não podia ter a comida porque tinha camundongo. Tive que comprar armário para trancar a comida. Então foi um inferno aquela coisa. E eu tendo que fazer minha pesquisa, saindo todo dia cedo, madrugada para ir para o campo. Eu tenho uma pessoa que eu considero que é um anjo da guarda, um dos guarda-parques do Morro do Diabo, hoje está aposentado, chama-se senhor José. E o senhor José eu conheço desde a primeira vez, desde 1983 ele que me acompanhou. E ele é uma das pessoas melhores que eu conheço, além de ser um sábio, uma pessoa do bem e ele é extremamente bom. Eu nunca vi senhor José falar mal de ninguém, nunca consegui o fazer falar mal de ninguém. E ele foi chave no processo, porque o que os estagiários não me davam ele supria com facilidade. Ele me ajudava em tudo e resolvia um monte de coisa. Eu, pela trajetória você viu que eu não tinha tanta habilidade, eu tinha começado a fazer pesquisa há pouco tempo. E não tinha tanta habilidade na natureza, no meio do mato, de andar no mato, de trabalhar no mato, assim para poder fazer sozinho. Ele foi meu professor em muitas coisas e eu convivi com ele muito intimamente. E quando a gente faz pesquisa no meio do mato à intimidade chega às raias das confidências mais íntimas possíveis. Então você passa dia e noite com uma pessoa. Eu passei 3 anos da vida, de 1987 a 1990 fazendo pesquisa dessa forma. E o dia amanhecia eu já estava dentro do mato e o dia anoitecia, eu ainda estava dentro do mato. Então aquilo era uma vida íntima intensa. E ele foi me ensinando às coisas todas da natureza e também da vida. Uma das coisas que eu falo do senhor José que me admira muito é que a filha dele era professora da minha filha, que nessa época era uma menininha de 4 anos, jardim da infância. E ela morreu em 24 horas de meningite; eu fui visitar o senhor José, naturalmente logo depois da morte dela e ele virou-se para mim e falou assim: “Sabe, doutor” – ele me chama de doutor – “sabe, doutor era uma flor tão bonita que Deus precisava dela no jardim Dele.” Então só para te dar o exemplo do nível de pessoa que ele é. E os estagiários me chateando muito, me chateando muito, me criando problemas; até o ponto em que tinha uma estagiária chamada Andiara, do Rio de Janeiro, que eu saí um dia de manhã com senhor José, um dos grupos que eu estudava tinha que pegar o barco para ir. Então eu saí de barco com ele, o Parque Estadual do Morro do Diabo está na beirada do Rio Paranapanema, que é um rio grande. E eu saí de barco com ele e nós só íamos voltar a noite. E ela resolveu ser gentil de tarde, foi, pegou a Parati e levou para a barranca do rio para deixar lá para quando eu chegasse de barco ter o carro para subir para a minha casa. E bateu a porta do carro, mas não freou nem engrenou e a barranca do rio assim... E um outro estagiário foi com o carro do Parque para trazer ela de volta. E o outro estagiário está acenando para ela e ela está acenando para ele de volta e o que ele estava dizendo era que o carro estava descendo o barranco. (riso) E quando ela virou para olhar o carro já estava mergulhando no Rio Paranapanema e mergulhou e desapareceu no Rio Paranapanema, meu único carro. P/1 – (riso) R – Imagina a minha satisfação e da Suzana com essa situação. E ela ficou tão nervosa que subiu lá no Parque foi falar com um guarda parque e ele falou assim: “Não, eu vou lá te ajudar.” Pegou um trator do parque, desceu, mergulhou no rio e tentou achar um lugar para passar a corrente para puxar o carro. Onde ele achou foi o eixo traseiro, então ele passou a corrente no eixo traseiro, armou, tem uma peça que prende a corrente, e puxou com o trator. O carro tinha desaparecido dentro do rio, então estava totalmente cheio d’água. O carro sumiu, totalmente cheio d’água. E na hora que ele puxou, o carro pesado demais, o eixo traseiro não agüentou. Veio um pedaço do eixo traseiro no trator. (riso) P/1 – (risos) R – Aí ele começou a ficar nervoso também. E aí ele mergulhou de novo, abriu os vidros do carro, passou a corrente por dentro dos vidros, armaram lá de novo, armou o trator e puxou e o carro; aí levantou, fez assim. E a água, parte da água escorreu e essa parte no fundo do rio e aí ele não sabia o que fazer puxou de novo. Na hora que ele puxou o cabo, pum, caiu de costas. Ele arrastou o carro de costas, então o carro saiu da barranca de costas, lotado de lama, sem o eixo traseiro e amassado, o teto completamente amassado. Quando eu cheguei de barco (riso) o que eu encontrei foi meu carro nessa situação e um monte de gente em volta com cara de, sem saber o que dizer. E aí ela me contou o que aconteceu e eu falei assim: “Olha, eu não quero te ver nunca mais na minha vida. Some da minha frente, não quero mais te ver. Desaparece.” Ela falou: “Mas, por quê? Mas por quê?” “Desaparece.” Ela acabou desaparecendo mesmo e aí eu fiquei sem carro, sem poder trabalhar. Só podia trabalhar com esse grupo do rio porque tinha barco. Suzana sem carro para ir a cidade levar as crianças para ir para a escola e sem dinheiro para comprar um carro. E eu falei assim: “Meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser?” E aí eu peguei falei assim: “Não, vou apelar para uma doadora nossa.” Apelei, ela me deu um pouco de dinheiro e eu consegui comprar – isso passado um mês dessa situação – consegui comprar um Buggy velho e uma motocicleta. Falei assim: “Agora eu resolvo.” E aí eu mandei os estagiários todos embora aos poucos. Falei assim: “Eu não quero mais estagiário na minha vida. Vou ficar só com o senhor José, porque é isso que resolve a vida.” E fiquei muito tempo só com o senhor José, não tinha estagiário nenhum. E mudamos para a casa e a vida começou a ficar muito mais confortável, muito mais agradável. Nesse momento eu falei com a Suzana: “Olha, Suzana a sua vida – a Suzana estava dando um pouco de aula de inglês em Teodoro Sampaio para fazer alguma coisa – a sua vida não está muito agradável, não é?” Ela falou: “Não, está uma vida agradável, mas profissionalmente está deixando muito a desejar.” Mas os filhos estavam no momento precisando, ela estava também, e aí eles estavam totalmente habituados na cidade. Eles hoje me agradecem porque aquele momento foi um momento especial de aprender subir em árvore, nadar em rio essas coisas todas. E aí eu falei assim: “Olha, eu quando estava no Centro de Primatologia, tive um casal de americanos que fez um programa lá na Reserva de Poço das Antas com mico-leão-dourado, ele trabalhou com a pesquisa e ela trabalhou com educação ambiental. Você é uma pessoa muito inteligente, muito eclética, quem sabe você resolve trabalhar com educação, aproveitar esse tempo que você está aqui, e fazer um trabalho com educação ambiental nessa região que tanto precisa.” Ela falou: “Vou pensar.” E depois ela me disse: “Como é que eu faço para falar com essa pessoa?” Aí eu falei: “Você quer ir lá?” Ela falou: “Quero.” Então eu liguei para a Luene, que ela me conhecia nessa época e pedi à Luene para receber a Suzana. E a Suzana foi para o Rio e ficou um tempo com a Luene, fez um estágio com ela lá. E quando voltou, voltou decidida a criar um programa de Educação Ambiental. E não só isso, decidida a mudar o foco dela na Universidade da Flórida, porque essa altura ela estava fazendo mestrado em História da Arte, devagarinho, porque não tinha dinheiro. E aí nós conseguimos um recurso de pesquisa e fomos à Flórida passar um mês, para eu fazer uma apresentação para o meu comitê da evolução do meu projeto e ela convenceu ao meu coorientador, um membro da minha banca de orientar ela em um programa de educação ambiental. Estava entrando na Flórida uma nova professora dessa área, mas que não podia orientar ainda, e mudou para educação ambiental o mestrado dela. E voltou e fez uma revolução no Parque Estadual do Morro do Diabo, e em Teodoro Sampaio. Criou um programa de Educação Ambiental considerado até hoje, modelar. Virou uma das maiores autoridades do Brasil e do mundo em Educação Ambiental. Fez mestrado e doutorado com isso, mudou a vida dela também. E o fato é que nós passamos esse tempo todo. E da minha saída do Morro do Diabo, a Suzana, chorava muito mais do que na nossa chegada. Ela já não queria mais sair do Morro do Diabo aí ela fez uma diferença enorme para aquela região como o que continuou fazendo. Ela andava pelas ruas com 50 meninos atrás dela. Era uma das pessoas mais populares da cidade. O programa era um sucesso extraordinário e ela trouxe para o Brasil toda uma metodologia científica de avaliação de educação, coisa do gênero, que foi, fez e está fazendo escola no Brasil. A quantidade de educadores que são seguidores da Suzana é muito grande. A vida com a casa nova e essas coisas todas, a vida ficou bastante agradável. E o Projeto Mico-Leão Preto cada vez mais bem sucedido. P/1 – Só quero te perguntar: o mico-leão-preto ele é só daquela região? R – O mico-leão-preto é só do interior de São Paulo. O Brasil tem quatro micos-leões. O Brasil tem mais de 70 espécies de primatas, tem quatro micos-leões e cada um é endêmico, a gente chama que é só exclusivo de um lugar. Um é o mico-leão dourado, que é o conhecido da família, o primo rico, como a gente mesmo brinca. Além da história em quadrinhos, ele é do Rio de Janeiro, o de cara-dourada é da Bahia, o mico-leão preto é do interior de São Paulo. É o único dos micos-leões que é do interior. E em 1990 foi descoberto um novo, de cara-preta no litoral do Paraná, e um pedacinho de São Paulo. P/1 – Ele é todo douradinho com a cabecinha... R – Esse do Paraná é. Todo douradinho com a cabecinha preta. É a coisinha mais linda do mundo. P/1 – Gente. R – Mas esse foi descoberto agora, há pouco tempo atrás. E ainda está descobrindo primata na Mata Atlântica, você imagina. Você não sabe nada, a gente não sabe nada... P/1 – E assim... R – O que restou da Mata Atlântica é nada e ainda tem espécie, não é de inseto nem nada disso, é de macaco que não é reconhecida na ciência. De ninguém não é reconhecida. É incrível. P/1 – Estou impressionada. Vamos defender o mico-leão-da-cara-preta. R – É, então, e o mico-leão preto hoje está menos ameaçado graças ao nosso trabalho. Mas o da cara-preta continua muito ameaçado, porque ele tem muitos poucos indivíduos. Quando é que eu parei? É... P/1 – Acho que você estava voltando... R – Então, estava no Morro do Diabo, Suzana com programa de Educação Ambiental, eu terminando a minha pesquisa e ficamos de 1987 a 1990 fazendo isso. Quando no ano de 1990 eu vim, tiveram dois eventos importantes além da pesquisa. Eu vim, a SOS fez um evento, um workshop da Mata Atlântica, e eu fui convidado para vir. Porque o Morro do Diabo está em um pedaço da Mata Atlântica, que é um pedaço que as pessoas não conheciam, que não eram o litoral. E eu vim para o evento e neste evento eu encontrei um professor da ESALQ chamado Paulo Kageyama e eu tive a chance de conversar com ele e nós dois começamos a discutir a possibilidade de criar uma instituição de conservação. Então foi um momento de discussão nesse sentido durante o evento. Foi muito bom porque eu comecei a conhecer também outros pesquisadores do Brasil que eu não conhecia. P/1 – E você já conhecia a SOS, já tinha ouvido falar? R – Eu já tinha ouvido falar, mas não muito. Mas ela fez o evento, convidou pesquisadores do Brasil todo, da Mata Atlântica toda. E ele gerou esse plano de ação que a gente, nesse evento que eu estou aqui está sendo revisto. Eu já conhecia o almirante Ibsen, que foi o coordenador naquela época; provavelmente por causa do almirante Ibsen que eu fui convidado. E o outro evento importante é que eu fui dar um curso no zoológico de Sorocaba e encontrei um outro professor da ESALQ; na época não era professor, ele era um pesquisador da ESALQ, chamado Luciano Verdade. E eu disse a ele que eu ficava muito frustrado porque eu tinha tido vários estagiários que não deram certo. E eu tenho essa idéia de formar pessoas, eu gosto disso, acho que é importante e tinha me frustrado muito essa situação. E ele disse assim: “Então eu vou ajudar você. Eu vou te mandar um estagiário que você nunca mais vai se arrepender, e vai se redimir os estagiários. E em final de 1989, começo de 1990 ele me mandou um aluno da ESALQ chamado Laury Cullen Junior, que era estudante de Engenharia Florestal. E que era estagiário lá dele lá na ESALQ, ele passou para mim. E o Laury veio e de fato redimiu todos os estagiários. O Luciano falou a verdade certinho. E aí em 1990 quando eu fui, a minha relação com o Laury já era tão profunda que eu falei: “Olha, eu vou mas você quer ficar e continuar tocando o projeto? Porque eu terminei a minha parte da pesquisa, mas tem muitas pesquisas para serem feitas ainda com esse animal.” Ele falou: “Não, eu fico.” E ele ficou morando no Morro do Diabo e eu e minha família fomos para empresas Estados Unidos terminar o meu doutorado e o mestrado da Suzana. A Suzana terminou o mestrado dela e eu avancei bastante o meu doutorado. Mas quando eu estava, isso já no final de 1990, por aí, começo de 1991 talvez, quando eu cheguei na Flórida na verdade, o meu orientador não estava mais lá. O programa da Flórida pagou um preço pelo sucesso dele, os melhores professores acabaram sendo contratados por outras instituições. O John Eisenberg ficou, mas o John Robinson tinha saído já nessa época, depois saiu o Kent Redfort, saíram vários por conta disso. E aí o John me ligou e me disse assim: “Cláudio, vem aí a Conferência do Rio, em 92. O Márcio Aires...”– que é um famoso primatologista, que morreu há uns 2 anos atrás – “...é diretor do IBAMA. O Márcio está com descolamento de retina...” – o Márcio era muito querido do John – “...e teve descolamento de retina; ele quer sair do IBAMA. Eu estou querendo indicar seu nome. Você quer ser diretor do IBAMA?” Eu falei: “Eu não. Eu estou muito satisfeito em terminar meu doutorado. Eu preciso terminar. Eu já comecei muito tarde, você sabe disso. E eu quero terminar.” Ele falou: “Cláudio, mas eu acho que você deveria considerar porque vem aí a Conferência do Rio, você ser diretor do IBAMA durante a Conferência do Rio para a sua carreira vai ser extraordinário e quando acabar a Conferência, provavelmente, vai ser todo mundo demitido mesmo e você volta para terminar seu doutorado.” E ele tanto fez, tanto fez, que eu resolvi vir conversar com o presidente do IBAMA na época e passei um sábado com ele conversando e aí resolvi aceitar o convite dele. E fui para lá. Falei: “Suzana, vamos voltar para o Brasil porque eu vou ser diretor do IBAMA, e ficamos 2 anos no Brasil e depois eu volto para terminar.” Empacotamos tudo, a família toda e voltamos. Nessa altura, eu já não sabia mais aonde era a minha casa, porque minha casa do Rio de Janeiro estava alugada, (riso) eu já não tinha mais casa em Teodoro Sampaio. E eu não sabia bem para onde eu ia. Então eu combinei com a Suzana o seguinte, e o Laury que era de Piracicaba, e o Kageyama, que eu encontrei em 1990. E o Laury insistia: “Por que é que você não vem para Piracicaba? Vem e fica aqui. E depois é um lugar muito legal. A universidade está aqui, a Suzana pode morar aqui. E você vai para Brasília, até você organizar a vida em Brasília ela fica por aqui. Depois que organizar a família vai para Brasília.” Eu não sei bem por que eu fiz isso. Mas não, não tem nada de errado mas eu não sei que razões me levaram a ir para Piracicaba. E foi, alugamos uma casa pequena em um Distrito de Piracicaba, e eu aproveitei aquele momento, tinha chegado um outro professor dos Estados Unidos para a universidade e eu e o Kageyama resolvemos criar uma instituição, que é o IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas. Então eu e o Kageyama, o Paulo Sodera, um outro professor, o Luciano Verdade, que iria entrar e resolveu não entrar no final. E aí eu mudei o meu orientador nos Estados Unidos porque o John Robinson tinha saído da universidade e o Kent Redfort, que era um outro professor importante, me aceitou para continuar como meu orientador. Então fiquei com o Kent, trouxe o Kent para ser da instituição também. Deixa eu ver se tem mais alguém fundador... Acho que basicamente éramos nós e Suzana; éramos os fundadores. E o primeiro funcionário era o Laury. Alugamos uma sala, alugamos uma casinha. Quando isso estava organizado e a Suzana ia tocar o IPÊ, ia levar um mês mais ou menos para organizar eu aí liguei para Brasília e quis falar com o presidente do IBAMA para dizer: “Olha, estou de volta para assumir.” Ele aí não me atendeu. Eu liguei mais uma vez, duas, três, quatro, cinco, liguei várias vezes. Tentei falar com o chefe de gabinete dele, ninguém me atendia. E aí eu entendi que eles tinham desistido. E na verdade eu fiquei furioso porque me tiraram do meu doutorado, desistiram, o Márcio Aires melhorou de saúde, resolveu ficar. Eu fiquei sabendo disso muito tempo depois, mas ele nem veio ao telefone se dignar para dizer que tinha desistido. O fato é que isso foi ruim para um lado mas foi bom para o outro. Porque eu aí pude me dedicar a consolidar o IPÊ. E o Paulo Kageyama me levou para dentro da ESALQ como professor convidado, eu passei 2 anos na ESALQ fazendo pesquisa e esporadicamente dando aula e tocando o IPÊ junto com a Suzana, o Laury. E aí com vários estudantes novos da ESALQ que começaram, o Laury foi trazendo, foi atraindo para dentro da instituição. P/1 – E qual era a linha de pesquisa do IPÊ? R – O mico-leão preto. Na verdade, ele sucedeu o mico-leão-preto, o que a gente chamava de Projeto Mico-Leão Preto. E naturalmente, porque eu estava terminando doutorado com fauna, e essas coisas, e mamíferos, eu atraía gente dessa área. O que era muito importante, porque no Brasil não tinha quase ninguém trabalhando com isso em nível acadêmico. Então eu atraí muita gente naquele começo. Muita gente queria vir para perto porque queria estudar primata e mamífero. Estudar primata estava bem na onda naquele momento. E aí fomos, fomos tocando. Uma casinha em um distrito de Piracicaba, muito simpático, distrito de italianos, era divertidíssimo. Toda noite saíam de sanfona para as ruas para dançar e tomar vinho e a ESALQ é uma escola muito boa. E eu resolvi tentar criar um mestrado de Biologia da Conservação dentro da ESALQ. E passei os 2 anos seguintes então tocando o IPÊ e tentando criar um mestrado. O IPÊ começou a se consolidar e uma das minhas estagiárias do Morro do Diabo estava em Piracicaba nesse momento, uma carioca e a melhor das minhas estagiárias e eu não pude manter porque não tinha dinheiro. Ela foi a última a chegar e ela estava em Piracicaba e ela se juntou ao grupo. E se juntaram outros alunos da ESALQ, fomos formando um grupo, fomos formando um grupinho, no final nós tínhamos umas seis ou sete estudantes, eu e Suzana. E os conselheiros eram conselheiros não ligavam muito. E eu comecei a me atritar muito com os conselheiros na verdade, porque eles começaram a querer usufruir da instituição e coisa do gênero. Não o Paulo, mas de uma maneira geral. E fomos indo. Tínhamos um escritoriozinho, o projeto continuava no Pontal, começamos a pensar em outros projetos e foi indo. E aquilo era para mim, foi um momento muito bom porque eu estava com tempo e eu pude dar tempo a eles. Eu trouxe computadores - foi a primeira vez que eles viram computadores. Eu já usava a internet - eles a primeira vez que eles viram internet. Então, para eles, era um mundo novo que se abria e eles se agarraram com unhas e dentes. E juntou-se nesse processo também uma moça chamada Gracinha e ela se juntou, mas não de tempo integral, muito mais de tempo parcial, depois de tempo integral, que era uma estagiária da Suzana. A Suzana tinha monitoras de Educação Ambiental, não estagiárias, mas monitoras, meninas da região de Teodoro Sampaio. E a Gracinha, quando eu fui para os Estados Unidos em 1990, ela era monitora desde que a Suzana começou o projeto em 1989, por aí e o programa de Educação Ambiental. E ela é uma dessas jovens, meninas com uma energia e uma cabeça extraordinária, era pequenininha e muito inteligente. O pai é semi-analfabeto, analfabeto, a mãe também; jardineiro da prefeitura, tem uma vida razoavelmente humilde e simples. Mas ela viu na Suzana a chance da vida dela. E se agarrou a essa chance completamente. Então agarrou na Suzana, e não largava. Hoje a gente ri, porque eu disse a ela que nós éramos primatas e ela ficou furiosa comigo. P/1 – (riso) R – (riso) Eu falei: “Mas Gracinha, nós somos primatas. Nós somos primatas humanos, mas somos.” “Não, só se for você, eu não sou não.” E a Suzana me pediu para que, eu uma vez por semana eu fazia uma discussão com esses monitores deles, sobre as coisas de ecologia do parque e tal. Aí eu mostrava para eles, botava a mão da gente junto com o desenho da mão dos primatas e tal. E ela foi se convencendo, mas muito brava com isso. Ela é uma pessoa interessantíssima, inteligentíssima e excepcional. E aí quando nós fomos em 1990, ela chegou, veio conversar comigo disse assim: “Eu queria estudar, eu queria ir para a universidade.” E eu falei: “Olha, Gracinha, eu não tenho dinheiro para pagar a universidade para você. Mas eu faço o seguinte: se você passar no vestibular eu te dou 50 dólares da minha bolsa nos Estados Unidos. Está bom assim?” Ela falou: “Está.” E ela fez vestibular para Biologia na Unesp e passou em terceiro lugar. E eu por um ano dei 50 dólares da minha bolsa e era assim que ela vivia. E foi bom que eu fiz isso, porque ela é excepcional. Depois foi para os Estados Unidos, foi para a Inglaterra, mestrado, é uma pesquisadora competentíssima da nossa instituição. A instituição começa a se formar com alguns novos alunos que vem da ESALQ, o Laury que já vinha comigo do Morro do Diabo, a Cristiana que veio do Morro, mas estava em Piracicaba e a Gracinha que estava estudando na Unesp, mas que estava ligada. E é esse o núcleo que começa a formular a instituição. E quando esse núcleo estava um pouco mais organizado se juntou também uma moça que não era da ESALQ, mas era de Piracicaba e que eu gostei extremamente dela, se chama Fabiana. E ela tinha o curso de Técnico de Contabilidade, além de ser bióloga. E para mim aquilo era uma grande vantagem, porque eu falei: “Você pode ajudar na administração?” Ela falou: “Posso.” Então arranjamos alguém que ajudava na administração e esse foi o grupo. Teve um rapaz chamado Eduardo Ditti, estudante de Agronomia; a namorada dele que eu achei que é quem ia ficar, e não ficou, foi embora - era uma moça chamada Patrícia Médici, que era estudante de Engenharia Florestal. Esse foi o grupo central que criou a instituição, da qual a instituição nasceu e os conselheiros que eram aqueles professores que eu te falei. Em 1992 eu desanimei com a ESALQ, eu desisti da ESALQ. Eu falei: “Olha, eu não agüento mais a ESALQ, não vou conseguir fazer o mestrado aqui.” A burocracia era insuportável e eu falei: “Vou embora para os Estados Unidos, a coisa está mais ou menos organizada. A Suzana está aí ela pode tomar conta. Eu vou embora para os Estados Unidos terminar meu doutorado, por que se não eu não vou ter nenhuma coisa nem outra. Eu fico lá 3 meses, termino, defendo e volto. E a gente continua tocando o IPÊ.” P/1 – Isso aconteceu antes da Rio 92? Como é que já estava sendo formado o cenário das ONGs? Por que na década de 90, explodiu o movimento. R – E a Rio 92 é um marco. Junto com ela, funda-se um monte de ONGs. Então em 1992 cria-se o IPÊ e aí o momento era extremamente propício para isso, 20 anos de 1972, da Conferência de Estocolmo. A Conferência de Estocolmo para mim foi uma Conferência extremamente complicada. O Brasil teve uma postura muito ruim na Conferência de Estocolmo e Cubatão é resultado da postura brasileira na Conferência de Estocolmo, onde os delegados brasileiros diziam: “O pior tipo de poluição é a pobreza.” E não conseguiam ver que poluição e pobreza andam juntas e que se você não consegue resolver um, não resolve o outro também. E os anos 70, de 1972 para frente, começam a se formar os movimentos organizados, as ONGs, mas ainda sobre o aspecto de doação de pequenos doadores para combater poluição. Mas nos anos 80 e por força um pouco de atuação de algumas, porque algumas pessoas e o Mittermeier é uma delas na verdade, mas têm outros e alguns interessantes. Eu acho que não vale a pena nesse depoimento aqui, mas um que me vem à mente é um advogado americano chamado Bruce Rich, que parou a estrada BR-364, só por ação junto ao Banco Mundial. Ele começou a pressionar o Banco Mundial sozinho e acabou parando a estrada. Os seringueiros começam a se movimentar em 1984 e começa a dar voz à Floresta Amazônica. Forma-se uma organização em Nova York só para dar voz aos povos da floresta e isso vai se espalhando não só no Brasil como em todos os países que tinham floresta tropical. E nos anos 80 a crise da biodiversidade começa a ser pressentida e a preocupação com as florestas tropicais, grande foco de biodiversidade começa a acontecer, e isso tudo começa, culmina em 92, quando o mundo, na verdade o mundo empresarial diz, que a luta era contra o mundo empresarial poluidor, mas o mundo empresarial como se capitulasse diz: “Olha, nós nos rendemos e a verdade é que não é possível continuar desse jeito. Nós estamos vivendo em um mundo insustentável.” E começa a nascer a idéia de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e eles se apropriam um pouco do processo de conservação e de melhoria ambiental. Foi muito bom por um lado, foi muito ruim pelo outro para falar a verdade, mas isso a gente pode discutir mais para frente. Eu tenho um irmão que foi diretor da Greenpeace que diz que: “O desenvolvimento sustentável é o mesmo e velho desenvolvimento, com um novo diretor de marketing.” E isso se reflete nas coisas que a gente vai conversar aqui. E então em 92 culmina um movimento de protesto, acirrado, de desejo de mudança começado com a Conferência de Estocolmo. E aí surge também uma porção de Organizações Não Governamentais no final dos anos 80. Mas em 92 são várias delas, que se você for olhar, têm a data de inauguração em 92. E isso é porque a Rio-92 virou um happening internacional de proporções inimaginável, foi um negócio do outro mundo. E eu fui lá, fui ver, fui conferir, ficamos lá uma semana. Minha família é do Rio, então era muito fácil para mim. Eu levei gente, hospedei gente em casa, porque tinha que ver aquilo, são coisas que a gente tem que ver. Porque são momentos da história que se você tem chance você tem que ver porque não vai ter outra igual. E da parte oficial da Conferência, eu tinha relação com o pessoal da Embaixada do Canadá, então nós tivemos oportunidade de acompanhar um pouco pelo lado canadense. Mas a gente participou mesmo pelo lado não oficial da Conferência que, na verdade, era extremamente divertido. E teve palestras, e tomada de decisão, e tomada de consciência. E aí veio de tudo, veio de tudo para o Rio. E coisas famosas, políticos famosos. Esse candidato à Presidência dos Estados Unidos agora, o Kerry, conheceu a mulher dele na Rio-92 aqui. P/1 – (riso) Não sabia. R – Ele era senador americano; ela já era casada com o Heinz, que também era político e dono do catchup e vieram os dois e se conheceram aqui. E como é o Al Gore, todos vieram para cá, os políticos americanos, políticos do mundo inteiro vieram. Tinha representantes de todos os países, tinha presidente de todos os países. E o Brasil vivia um momento de certa euforia com a eleição do Collor de Melo que nos frustrou tanto, mas que naquele momento ainda era uma coisa muito importante e assumia uma liderança no novo mundo da conservação. Porque era um novo mundo da conservação em que poluição tinha importância, mas também começa a ter importância e a consciência da crise da biodiversidade. E crise essa, que eu já te falei que no final dos anos 70 os pesquisadores já tinham percebido e Biologia da Conservação surge em 1979 e 1980, mas que vem culminar para uma coisa muito mais ampla em 1992. E aí veio à tona todo esse processo, a imprensa divulgando como nunca. Nunca os jornais tiveram tantos jornalistas especializados em meio-ambiente e foi um momento de euforia completa na perspectiva de uma mudança global para melhor. E nós, naturalmente, criamos a instituição nesse ano e um dos motivos é esse, quer dizer, que estava todo mundo contaminado pelo vírus da coisa. E aí começa a ter várias organizações e as que existiam começam a mudar de certa forma. Porque em 92 começa a mudança do perfil da denúncia da advocacia, como os americanos falam, e mesmo as organizações internacionais, que hoje a gente chama de Bingo Big International NGO´s -, que naquela época eram o WWF, a UICN e outros, começam a mudar também, se tornar mais profissionais, porque elas começam a casar com o mundo da corporação e os seus associados. P/1 – E quando você monta... R - O IPÊ. P/1 – O IPÊ, a sua organização, que tem tudo a ver com a Mata Atlântica... R – Tem. P/1 – Você fica mais próximo da SOS ou ainda não? R – Na verdade, a idéia do IPÊ nasce dentro de um evento da SOS. Mas naquele momento a SOS era uma ONG mais de denúncia ainda, do que ela é hoje e eu estava criando uma organização completamente diferente disso. Uma organização dos novos tempos que era uma organização de conservação com base em pesquisa científica. Então na verdade nós tínhamos uma diferença no jeito de agir, mas de certa forma nos complementávamos. E isso valeu daí para frente a vida toda. E o Mário Mantovani ele já é meu amigo desde aquela época e o Clayton Lino, que era o diretor da SOS. A SOS também não tinha uma expressão, ela começa grande e tal, mas não é tão grande assim. Mas eu sempre digo isso: como nós temos esse perfil, todas às vezes que a gente precisa de uma ação que é muito mais uma ação de advocacia, de protesto ou de mostrar uma realidade, nós não somos capazes de fazer isso, a gente apela naturalmente para a SOS. E a SOS por sua vez, todas às vezes, muitas vezes que precisa de pesquisa apela para a gente. Então a gente se completa e desde essa época a gente se completa bastante. A gente trabalha muito juntos nesse complemento. Todas vez que eles fizeram o Atlas e tinha confusão no Pontal, imediatamente eles me chamavam. Nessa época as pessoas eram outras, mas eu não vou me lembrar o nome agora. Não era a Márcia e o Mário, mas a gente sempre teve essa sinergia. Quer dizer, como a gente atua pela conservação da biodiversidade de maneira diferente em muitos momentos a gente se completou. E é uma relação que não é nenhuma parceria formal, mas de uma parceria de grande amizade entre as duas instituições e que existe e vai continuar existindo. Você vai ver que mais na frente, em certo momento que foi importante para o IPÊ, quem foi comigo para uma ação que era uma ação séria, foram os advogados da SOS. Quer dizer, na hora que eu precisava desse tipo de apoio é a SOS que apóia a gente nesse momento. E isso não é só com o IPÊ; é com uma grande parte das instituições. Aí volto aos Estados Unidos para terminar meu doutorado, que deveria ser feito em 3 meses, mas acabou sendo em 9 meses. A Suzana fica tomando conta e os meninos ficam. E aí quando eu termino o meu doutorado, como eu tinha, como eu disse, eu tinha bolsa para 4 anos e ele levou 5 anos e tanto, eu estava devendo uns 20 mil dólares no cartão de crédito e não tinha como pagar. E eu tinha acabado de defender; aí recebo um telefonema de um diretor de uma organização grande, chamada The Nature Conservancy, que diz que está indo à Flórida, queria conversar comigo. Ele vai lá e me convida para ser diretor do programa do Brasil da Nature Conservancy, diretor científico do programa do Brasil e se eu aceitaria. Eu estava tão falido que falei: “Essa é a minha oportunidade.” E aceitei. E aí ele voltou, falou: “Eu vou para Washington, ver se te contrato.” Acabou não conseguindo me contratar naquele momento, mas pouco tempo depois ele me procurou: “Arranjei uma segunda vaga e eu quero que você venha.” E aí eu fui contratado e vim ao Brasil para buscar a família. Enquanto ele estava organizando o meu visto de trabalho eu vim ao Brasil, fui para Piracicaba para organizar a família e nós íamos mudar para os Estados Unidos, para trabalhar na The Nature Conservancy. E a minha casa de Piracicaba virou a sede do IPÊ, já era um pouco sede, porque muitas das coisas eram resolvidas, quando eu fui para os Estados Unidos a gente fechou o escritório e as reuniões eram feitas na minha cama, a minha casa era meio escritório. E quando eu fui virou um escritório da instituição mesmo. E ficaram os jovens Laury, Eduardo Ditti, Patrícia, tomando conta da instituição, trocando idéias por internet e eu voltei para o Estados Unidos para trabalhar na The Nature Conservancy. E fiquei trabalhando com eles um ano lá, mas sempre o IPÊ era a chave da história. Quer dizer, eu estou sempre por internet controlando e discutindo e chefiando. Em 1994 eles resolvem abrir um escritório no Brasil, em Brasília e me pedem para eu e uma outra pessoa para vir abrir o escritório. Então eles resolvem mandar parte da equipe para o Brasil, então eu volto com a família para Brasília para abrir o escritório em Brasília. A gente abre o escritório, aluga casa em Brasília. Eu trabalhei com eles, uma boa parte do ano de 1994. Chegou no final de 1994 a Universidade de Brasília abriu um concurso exatamente na minha área. E, não que eu não gostasse da The Nature Conservancy, mas ela é uma organização muito grande e estava me burocratizando terrivelmente. Eu estava virando administrador de empresas de novo, muito antes de eu desejar fazer isso. Não que hoje eu não faça muita administração no IPÊ, mas naquela época eu estava no começo da minha carreira de pesquisador não podia virar burocrata. E eu disse a eles: “Olha, eu vou fazer concurso na universidade. Eu não quero sair, eu adoro a instituição. Quer fazer um acordo comigo: vocês me pagam muito menos do que eu ganho eu dou trabalho para vocês em tempo parcial e vou para a universidade em tempo parcial. O que não vai ser ruim para vocês porque eu mantenho um pé no mundo acadêmico e tal.” Eles ficaram com muita raiva, disseram que: “Não, de jeito nenhum.” E me demitiram e como eu era contratado pelas leis americanas tinha 7 dias para sair, saí desempregado. Por sorte eu fiz o concurso na universidade e fui aprovado, e passo a ser professor da Universidade de Brasília, que fui até o ano passado quando me aposentei. E a Suzana continuou sendo um expoente em Educação Ambiental e conduzindo no IPÊ - ela é a presidente do IPÊ - mas conduzindo principalmente o pessoal que trabalha com educação ambiental. E o IPÊ começa a crescer, de 1992 para frente começa a crescer. Nós temos uma visão muito diferente das coisas e a equipe é quase toda montada por gente que vem como estagiário e vai ficando na instituição. Eles são muito mais donos da instituição do que eu e foram todos também sendo muito incentivados a estudar e hoje são seis doutores e uns 20 mestres. Ano que vem serão uns 10 doutores e uns 16 ou 15 mestres. É muito mais do que o meu departamento da UnB tinha, são 60 pessoas. A instituição foi crescendo brutamente e foi se espalhando pelo Brasil. Porque as pessoas vão ganhando conhecimento e vão dizendo: “Olha, eu estou querendo ter meu próprio projeto” e passou para outro lugar. Hoje atua em cinco lugares do Brasil e é um prazer enorme trabalhar. E agora com a minha aposentadoria na UnB eu estou podendo me dedicar de novo exclusivamente ao IPÊ e é um prazer enorme trabalhar com esses jovens todos. E eles todos: a Gracinha, o Laury, aquela turma toda hoje é pesquisador sênior; embora sejam muito jovens, mas já são pesquisadores seniores e com muito sucesso, ganhando prêmios e mais prêmios. E eles, por causa do trabalho deles basicamente, eu também acabo ganhando prêmios. Então uma das coisas que eu me orgulho é que a Revista Time o ano passado, considerou a mim e a Suzana como os heróis do século na área de conservação. E Laury ganhou o prêmio Rolex desse ano, que é um dos prêmios mais afamado na área de conservação. Então tem um reconhecimento internacional e acho que a instituição está fazendo um belíssimo trabalho. E o meu desejo de capacitar às pessoas e de ter estagiário continua e a gente resolveu recentemente criar um curso de pós-graduação dentro da instituição, independente da universidade. Uma grande empresa brasileira adorou a idéia e nós estamos trabalhando hoje. Compramos o terreno e estamos construindo; vamos começar a construir um campus novo em Nazaré Paulista e vai virar uma universidade - sem graduação, só pós-graduação - mas vai virar uma universidade com alojamento. Vai ser um campus grande, vai ser uma coisa muito grande. É um sonho de todo mundo no IPÊ, porque todo mundo acredita na formação de outras pessoas, senão não tem saída. E eu confesso a você que eu tenho certa decepção com a universidade brasileira. Eu adoro a Universidade de Brasília, para mim a melhor coisa que tinha em Brasília depois da minha família era a Universidade de Brasília. Mas a burocracia da universidade pública é terrível, ela não consegue se movimentar para a modernidade. E a universidade privada, com raríssimas exceções, é mercenária ao extremo, só pensa em dinheiro. Então nós resolvemos tentar uma coisa diferente e independente e não queremos dependência, porque nós queremos criar um centro de excelência na área de conservação e de formação de pessoas. Para a conservação e sustentabilidade também. P/1 – Só um pouco. P/1 – Pegando um pouquinho do que você estava falando, assim: são anos que você está se dedicando à pesquisa ligada ao meio-ambiente, às causas ambientais. Que balanço que você faz da questão ambiental nesses anos todos? R – Olha, eu acho que a gente está ganhando batalhas, mas perdendo a guerra, por enquanto. Olhando os 20 anos que eu estou envolvido nisso mais de perto, e as pessoas não se percebem disso, mas há um aumento tremendo de consciência, mas aumento de consciência – Suzana me ensinou – não significa mudança de comportamento. Há uma mudança de comportamento também, há uma geração, porque nós temos uma geração, nós estamos falando de 1992. Quer dizer, tem uma geração que nasceu dentro de uma nova visão, de uma tentativa e mudanças não acontecem com essa velocidade. Então eu sou otimista, eu acho que as coisas têm solução. Nós não temos tempo para não ser otimista para falar a verdade. Mas eu acho que a gente está perdendo inúmeras batalhas. Agora, se a gente não tivesse aqui, quer dizer, se esse grupo, as ONGs, os ambientalistas, o pessoal que tomou uma consciência mais de perto, que viu mais cedo as coisas que iam acontecer, a situação – eu tenho certeza –estaria muito pior. Então o que eu posso dizer é que nós estamos retardando o processo e continuo lutando para parar ele. Quando as pessoas me perguntam isso eu digo que li um livro há uns anos atrás chamado Treblinka, que é a uma história que me chocou profundamente; uma história de um campo de concentração de Treblinka, que não é uma história bonita. Mas a parte que me faz pensar, e que está ligada à parte ambiental, é que em certo momento em Treblinka, a vida estava tão desagradável para os judeus que estavam concentrados no campo, que eles começaram a se suicidar em massa. E o suicídio em massa era melhor do que a vida sofrida dentro do campo. E de repente um deles disse assim: “Não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que lutar para permanecer vivos e para lutar contra isso, mesmo sabedores que é muito sofrido, nem que seja para mostrar para as gerações futuras que as coisas não foram feitas sem resistência. Que houve resistência, que houve gente lutando contra. E essas gerações futuras que podem ser um pouco mais inteligentes do que nós, vão ter no nosso exemplo uma razão para uma mudança maior.” E eu digo isso, eu vou morrer lutando. Porque nem que seja para as gerações futuras verem que houve nesse momento na história. Gente que tinha visão e que estava lutando por um mundo melhor para eles. E isso eu não vou deixar passar de jeito nenhum. E acho que todos nós que estamos nisso. Há muitos momentos que você desanima completamente porque é um esforço brutal e de repente um pequeno detalhe põe por água abaixo coisas que você levou anos fazendo, mas também tem os sucessos enormes. Temos conseguido sucessos enormes e entre eles a formação de uma quantidade grande de pessoas com esse espírito com essa formação. E se a gente conseguir fazer uma corrente desse tipo as coisas vão naturalmente ser melhor ou menos piores. Eu tenho tido alguns exemplos que me deixam muito entusiasmado e inclusive com empresários. Nos últimos 2 anos incrivelmente, com empresários brasileiros. Porque existe uma onda nesse momento de você ser socialmente correto, socioambientalmente correto, não, são empresários que eu estou conhecendo que eu chamo de corrente do bem até, porque eles são genuinamente preocupações com o futuro do planeta também. E isso me dá um novo animo, porque eles têm poder grande na mão deles e esse poder é, o poder do governo e dos empresários é muito grande, maior do que nós, dos homens. No meu modo de ver, se eles se conscientizarem a gente tem que se juntar nessa corrente do bem e fazer desse planeta um planeta melhor para gerações futuras. As pessoas acham que não dá para ter compromisso com as gerações futuras, mas não é com as gerações futuras não, são meus filhos, sou eu mesmo. Quer dizer, se eu não tivesse começado há 20 anos atrás estaria vivendo uma vida pior hoje. E a gente esquece muito rápido. A gente não tem uma visão, é como violência, você acha que sempre vai acontecer com o vizinho. Ninguém toma uma atitude porque vai acontecer com o vizinho. “Não, vamos tomar uma atitude”. E nisso as Organizações Não Governamentais têm sido fundamentais no Brasil, nisso e em outras mudanças. Embora ainda não haja uma compreensão correta do papel que elas exercem pela sociedade como um todo, principalmente pelo governo. Mas elas são origem de uma frustração, porque as coisas não seguem o melhor caminho. Alguém no evento de hoje dizia assim: “O futuro da SOS é não existir a SOS.” Quer dizer, o sucesso da SOS é não existir a SOS. O sucesso como organização de conservação, não como de pesquisa; mas como organização de conservação, eu adoraria não precisar fazer nada. Eu adoraria que as espécies estivessem em boas condições, que a Mata Atlântica tivesse em quantidade grande. Mas essa não é a realidade que a gente vive e a gente tem que enfrentar a realidade de frente. Agora, é uma combinação de coisas que tem que envolver educação, tem que envolver a pesquisa. Tem que envolver em muitos momentos as ações mais fortes para criar uma mudança de comportamento e é uma luta sem cessar. Estou convencido, eu não larguei à toa o que eu fazia. Eu digo sempre isso: se fosse para ganhar dinheiro eu continuava sendo empresário. Eu larguei porque a gente tem uma missão nesse mundo e minha missão é fazer um mundo melhor. P/1 – E, Cláudio, quais os piores problemas enfrentados hoje não só em termos nacional, internacional, pelos ambientalistas? R – O que aconteceu foi que da mesma forma que o mundo se globalizou nos últimos anos as questões ambientais também se globalizaram. E muitas das coisas que a gente sofre aqui não estão daqui, elas vem de decisões tomadas fora. Então um grande órgão de fomento como é o Banco Mundial, por exemplo, uma decisão dele afeta o mundo inteiro. Se ele for ambientalmente correto as coisas são melhores, se ele não for afeta o mundo inteiro. Porque tem uma quantidade de volume de dinheiro enorme e tudo mais. Então na verdade o desmatamento é sério em todos os lugares do mundo. A perda de biodiversidade é séria em todos os lugares do mundo. E o que mais me frustra nesse processo, é que do ponto de vista de Brasil, mesmo que nós estivéssemos pensando em desenvolvimento do país, nós estamos insistindo em um desenvolvimento com base agrícola e de agro-business. Em termos desenvolvimentistas isso são dois ciclos atrasados. Nós já passamos o ciclo industrial e o Brasil tem uma parte industrial, mas nós estamos vivendo a era do conhecimento e o ciclo dos serviços, e a era dos serviços, e dos conhecimentos que é um baixo consumo de recursos natural. Então nós estamos desmatando para plantar soja para engordar gado de país rico, que nos vende um microchip desse tamanho, que não consumiu recurso natural com um sobre-preço monumental, porque ali dentro você tem uma quantidade enorme de conhecimento. Da mesma forma com a biodiversidade: gastar a floresta vendendo madeira é um erro fatal do ponto de vista econômico. Porque vale muito mais um esforço para adquirir os conhecimentos sobre a biodiversidade que tem um sobre-valor muito maior do que o da madeira. Isso é complicado porque as pessoas precisam viver no dia-adia. Para você dar um passo desse precisa de um pacto nacional. Eu escrevi um artigo sobre isso, precisa de um pacto nacional. Precisa que todas as instituições: pesquisa, ONGs e tudo, conseguissem se unir para um grande esforço nacional de aumento do conhecimento sobre a biodiversidade, com uma visão inclusive de utilização econômica deste conhecimento, não da biodiversidade, mas do conhecimento que nos desse um salto qualitativo e quantitativo em termos econômicos. E sem o consumo da nossa floresta tropical nem nada disso. É uma luta aí que a gente tem que bater nela, e bater e bater. Sabe o que é que eu descobri? Eu descobri, as pessoas me falam assim: “O sucesso é 10% inspiração, 90% transpiração.” E eu digo sempre: “Põe em cima disso 100% de persistência.” Então a gente tem que ficar persistindo, persistindo, persistindo até ver as coisas mudarem. Se você não persistir não pode esquecer um minuto. Pá, pá, pá, pá. E na verdade, quer dizer, tem inúmeras organizações de altíssima qualidade no Brasil. Algumas internacionais atuando no Brasil, outras nacionais atuando no Brasil. Há uma rede internacional pensando nisso. Há certa competição, eu não vejo nada de mal de competição entre as Organizações Não Governamentais. Acho que certa competição é saudável. As coisas avançam porque existe certa competição, se não as coisas não avançariam. A ciência avança por conta disso também. E eu acho que a gente foi muito longe já, mas o caminho a seguir ainda é muito grande. O professor Lutzembergr dizia que as coisas só vão mudar quando as pessoas começarem a sofrer mais de perto os grandes desastres ambientais que virão por aí. Porque a gente está mudando de tal forma. E mesmo que seja assim a gente tem que estar preparado para oferecer soluções à hora que os desastres aparecerem. P/1 – Como é que você vê a Mata Atlântica de quando você começou a trabalhar com ela e hoje? R – A história da Mata Atlântica nos tempos recentes, a história da Mata Atlântica é fantástica, a história da destruição da Mata Atlântica está fantasticamente descrita em um livro de uma pessoa que eu conheci pessoalmente. Tive um prazer enorme de conhecer, me visitou no Morro do Diabo quando eu morava lá, um pesquisador americano chamado Warren Dean, que pesquisou muito no Brasil e escreveu um livro chamado “A Ferro e Fogo”. É a história da destruição da Mata Atlântica e de todos os artifícios e artefatos que foram feitos para destruir a Mata Atlântica. E a gente aprende muito lendo o livro, o que não se deve fazer. Resta muito pouco e esse muito pouco tem que sobreviver. Mas acima de tudo o que precisa fazer hoje na Mata Atlântica, e é um grande esforço da minha instituição, é restauração. Quer dizer, são duas coisas, uma luta pelo fim do desmatamento e uma luta pela restauração da Mata Atlântica. É preciso restaurar porque senão o que está aí não vai sobreviver. É tão pouco e hoje as pesquisas mostram que se você não tiver um número mínimo e certo arranjo da paisagem aquilo vai se tornar uma nova coisa. Não é mais Mata Atlântica, é uma outra, um outro ecossistema antropogênico, mexido pelo homem e que não é Mata Atlântica. Agora, a grande destruição da Mata Atlântica na verdade vem dos anos 20, 50 do século passado para cá. E nesses últimos anos tem grandes exemplos, quer dizer, de grandes áreas que estão mais ou menos cuidadas. Muitas unidades de conservação foram criadas e embora haja uma diminuição eu acho que o volume ou o ímpeto da diminuição, da redução da Mata Atlântica está reduzido. O ímpeto, não a redução. Em compensação em outros lugares ela está se restaurando, aqui e ali. O que é preciso, o ideal é desmatamento zero que a gente não vai conseguir. Mas é preciso um esforço de restauração e um esforço que se cumpra a lei. Se a gente cumprisse a lei, o Código Florestal ele é muito bem feito, eu acho, nesse sentido. Se ele fosse cumprido haveria uma quantidade razoável de Mata Atlântica. Agora, honestamente, eu não espero que, não é possível a gente pensar que vai ser 100% de floresta em lugar nenhum. Quer dizer, a população humana vive, precisa sobreviver, precisa comer. Seria muito inocente da parte de qualquer pessoa achar que não vai ter atividade econômica. Em compensação é muito burro você fazer a atividade econômica em cima de um ecossistema tão importante. As pessoas não sabem o quanto da vida delas está ligado a uma floresta. E é muito difícil de você explicar isso. O Capobianco, que hoje está no Ministério foi da SOS, escreveu um artigo há uns anos atrás no Globo que eu fiquei muito admirado. Porque quando eles apresentaram o Atlas ao governador Brizola, que na época era governador do Estado do Rio, o Brizola falou assim: “Mas o que é que vocês esperam que eu salve a Mata Atlântica ou os meninos de rua?” E esse era o título do artigo que o Capô escreveu no Globo, um editorial do Globo. E o que ele mostra no artigo, o que ele chama a atenção, e eu penso que ele tem toda a razão nisso é que se a gente ver as coisas independentes, e essa é uma visão cartesiana, de que não existe ligação entre as coisas. Porque é muito mais fácil para nós, a gente tem um raciocínio cartesiano desde pequenininho. A gente não consegue ver o holístico. E nesse raciocínio cartesiano você tende a dividir todas as coisas e você não vai ver que menino de rua está completamente ligado à destruição da Mata Atlântica. Porque está ligado ao tipo de desenvolvimento que a gente está buscando. E o que o Capobianco conclui com muita propriedade é que ele não está fazendo uma coisa nem outra, nem salvando Mata Atlântica nem cuidando dos meninos de rua. Porque se ele estivesse ele estaria fazendo as duas coisas juntas. Eu acho que precisa de mudanças pragmáticas grandes e aí de políticas públicas. E aí as ONGs têm um papel importante, que elas não estão percebendo, eu acho, ou estão e não estão conseguindo agir, de tentar influenciar políticas públicas de maneira grande. E não é fácil influenciar política pública. Em alguns momentos as pessoas acham que influenciam política pública simplesmente pelo escândalo. Eu acho mais fácil influenciar a política pública pela pesquisa. Você mostrando para aquelas pessoas que são responsáveis, tomadoras de decisão, do ponto de vista de pesquisa bem feita e apropriada para uma mudança você consegue muitas vezes alcançar uma mudança maior do que simplesmente pelo ataque frontal. P/1 – Como que você vê hoje, que você está aqui participando de um workshop, a SOS? R – Eu vejo a SOS como aliada, como parceira e irmã. A SOS tem esse perfil e essa característica. Eu já tentei incentivar, eu já convenci o Mário Mantovani da SOS, mas o Mário não consegue convencer o Roberto Klabin, presidente da SOS, de que a SOS tem um papel mais importante de que ela consegue imaginar. E eu disse a ele que ela devia ter uma atuação mais difundida em toda a Mata Atlântica e eventualmente mudar para o Brasil todo. No estilo do que as organizações americanas fazem criando o que chamam de capítulos nos Estados Unidos, um capítulo em cada estado. A SOS tem um papel, eu acho que o papel catalisador e de junção e de apoio. A SOS é muito mais importante do que o papel de ação da SOS. Essa é a minha visão da organização. E depois ela tem consistência. Ela é um orgulho para nós de diversos aspectos, porque ela consegue uma sobrevivência econômica de maneira razoável, tem uma competência na captação dos seus recursos. E tem uma competência na utilização dos mesmos. Então isso tudo é motivo da gente admirar ela e de tentar copiar. Eu digo sempre que eu tento copiar a SOS em vários aspectos. A gente tem que aprender, procurar copiar quem faz coisa bem feita. Mas acima de tudo, esse lado catalisador de: “Não, olha, vamos fazer isso juntos aqui. Você, você, vamos juntar os grupos para ações, usando do conhecimento de que cada um possui.” Eu acho que é um dos grandes tchans da SOS Mata Atlântica. Não é muito fácil você juntar grupos para uma ação e a SOS faz isso com muita propriedade, com muita facilidade. Porque ela já nasceu fazendo isso e de certa forma está acima de suspeita e tem certa independência. Então as pessoas não podem dizer: “Ela está querendo tirar proveito de mim.” Então como ela tem essa independência, independência moral e econômica ela tem a possibilidade de usar essa independência para catalisar ações que torna a conservação muito mais forte na Mata Atlântica. P/1 – Cláudio, qual o peso que tem a questão ambiental na sua vida? R – Hoje em dia a questão ambiental é tudo na minha vida; na verdade, é importantíssima. Eu falo dela dia e noite sem parar e quanto mais que em casa a minha mulher também está envolvida. Então os meus filhos chegam a se queixar, porque a conversa é isso o tempo todo. Mas é porque nós estamos correndo contra o relógio. Então quem trabalha por missão não tem tempo a perder. E não tem dia, não tem hora, não tem nada. A gente tem que estar atento o tempo todo. E isso torna a questão ambiental, principalmente à questão do lado da biodiversidade da questão ambiental a missão da minha vida. É a minha missão. P/1 – Você acha que valeu a pena esses anos todos de luta? R – Não tenho a menor dúvida. Eu não mudei à toa. Eu mudei porque, porque uma coisa, uma força interna me dizia: “Você tem que mudar” e isso é missão. E quando a gente trabalha por missão... Nem todo mundo trabalha por missão e eu já não trabalhei por missão algum momento da minha vida. Quando você trabalha por missão tudo, o pessoal do IPÊ umas vezes fala assim para mim: “Você vai ter um treco. Você vai ter um enfarto. Você está viajando e trabalhando.” Porque como eu tenho uma ação internacional também, eu viajo para lá, para cá. E isso. E hora eu estou no Pontal, e hora eu estou nos Estados Unidos e estou em um workshop na Europa. E eles dizem assim: “Não, você vai, não é possível essa vida que você está levando.” E eu digo assim: “Olha, quando a gente gosta do que faz não cansa nem um pouco.” O problema é quando você não gosta do que faz. Quando você gosta do que faz não me cansa nem um pouco. Eu estou fazendo aquilo que eu gosto, eu estou fazendo aquilo que eu quero, eu estou fazendo aquilo que é minha missão de vida. Então se não ganhasse também eu fazia, ganhando eu vou fazer também. Não tem cansaço, não tem dia, não tem hora. Eu vou continuar fazendo. P/1 – Você queria deixar um recado para a SOS nesses 18 anos que ela está completando? R – Eu queria. Deixo o recado que a SOS tem que saber, e que ela talvez não saiba, da importância dela. Muitas vezes a gente nessa luta a gente não sabe da importância da gente. Você está lutando tanto, você está tão preso na sua luta, que se não vier alguém de fora e disser da sua importância você não toma ciência. Porque você está fazendo porque você está fazendo, não é porque é importante. Mas eu como sou de fora posso dizer da importância da SOS nesses anos todos para a Mata Atlântica. Mas não só para isso, para a formação de uma quantidade enorme de organizações para a manutenção dessas organizações que se espelham nela e se apóiam nela e que cria uma rede importantíssima em todos os cantos da Mata Atlântica. Porque tem uma quantidade enorme de pequenas organizações que a SOS apóia de uma maneira ou de outra. E isso forma um exército, um contingente. Individualmente elas não seriam nada, mas esse contingente catalisado, unido pela SOS é uma força espalhada pela Mata Atlântica, e que a SOS apóia e muitas vezes, é muito importante, dá voz a essa gente. A SOS tem um papel importantíssimo porque ela é a voz das pequenas organizações que sem a ajuda dela não conseguiriam fazer a sua mensagem chegar às pessoas que tomam a decisão. P/1 – É, Cláudio, você quer falar alguma coisa que eu não perguntei? Que você está lembrando agora? Ou pessoal ou uma coisa mais voltada para a questão ambiental? R – Não. Acho que a gente conversou quase tudo. Naturalmente tem muito mais detalhes, mas os detalhes nesse momento não são importantes. E como é um depoimento que vai ficar guardado, o que eu acho que tem que ficar de mensagem é que a luta continua e nós não vamos parar de lutar. E é uma luta séria. Muitas vezes alguns grupos tentam desmoralizar essa luta. A gente não pode se abater com isso. É preciso estar de cabeça em pé, erguida. Porque a nossa causa é justa, é boa, e é importante para esse planeta, para nós, para os nossos filhos e para os filhos deles. P/1 – Obrigada, Cláudio, por você ter vindo. P/2 – Muito obrigado. R – De nada. Está bom.
Download