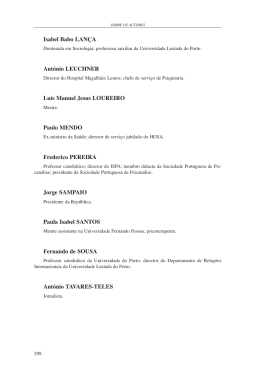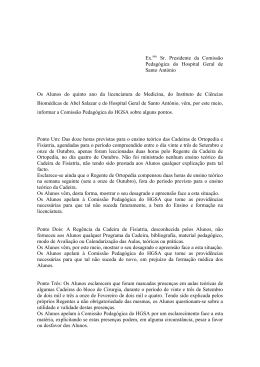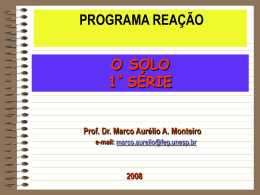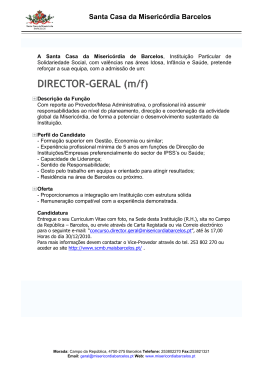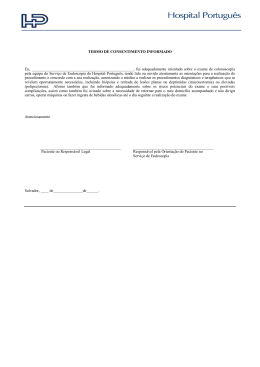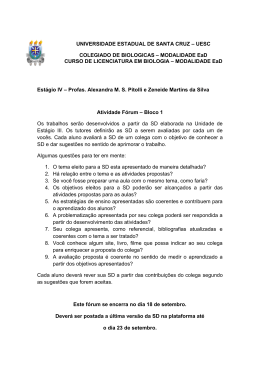Luís de Carvalho AUTOBIOGRAFIA 1 Caminante, son tus huellas el camino, y nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ven la senda que nunca se há de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. António Machado, Poesías Completas 2 DEDICATÓRIA À minha saudosa mulher, Maria Luiza, que viveu quase todo o meu percurso descrito neste livro. Às minhas filhas e aos meus netos, que foram actores na minha vida aqui evocada e resumida. Aos meus amigos e colegas, tantas vezes co-intérpretes, nas “aventuras” em que participei. Aos colegas e colaboradores, que ao longo de dezenas de anos me ajudaram a pôr de pé os projectos comuns em que acreditávamos. A todos eles, dedico estas páginas evocadoras do esforço da minha geração e de outras que nos antecederam ou continuaram. AGRADECIMENTOS Para elaboração deste livro, contribuíram, em primeiro lugar, os meus netos João Luís e Patrícia, que, no Natal de 2009, me ofereceram um volume intitulado Autobiografia, que constituía o texto de um manuscrito que eu guardava “na gaveta”, desde 2005, com indicações de ser publicado após a minha morte. A edição desse texto, num só exemplar, muito me sensibilizou e fez-me refletir sobre a eventual vantagem de publicar mais cedo, ainda em vida, um texto que permitia dar a conhecer melhor a época em que vivi. Reformulado o manuscrito inicial, publica-se agora um volume de “memórias” em que se tratam episódios importantes da minha vida e da minha família, em particular da minha falecida mulher, e dos meus filhos e netos. Com a ajuda de todos eles, foi possível preparar uma edição em que todos participaram e que traduz uma vivência muito intensa de grandes acontecimentos da história dos meus contemporâneos. Para a preparação deste livro contribuíram, à sua medida, todos os meus netos para quem vai o primeiro agradecimento. Não posso deixar de referir aqui a figura tutelar permanente para todos nós que foi a da avó Maria Luiza. Para os meus amigos Paulo Mendo, Mário Brochado Coelho, Ernesto de Carvalho, Serafim Guimarães, Margarida Lima, Arquiteto Joaquim Brito e tantos outros, que tiveram papel mais ou menos destacado no meu trabalho, vão os meus agradecimentos pelo permanente estímulo que deles recebi. 3 PREFÁCIO Em Outubro de 2008, completei 75 anos de idade. Em 1999, havia solicitado a aposentação da função pública, no termo do mandato de presidente do Conselho de Administração do HGSA. Na situação de aposentado, fui contratado como assessor do Director do Hospital que me sucedeu, Dr. Vítor Ribeiro. Desde 1988, que abandonara a prática da neurocirurgia, especialidade que pratiquei, percorrendo todos os graus da carreira hospitalar, até ao grau máximo de chefe de serviço. A prática da neurocirurgia não deve sofrer interregnos tão prolongados, o que ocasionaria diluição da prática e diminuição da sua qualidade. Sendo assim, optei por dedicar parte do meu tempo de reformado à história do HGSA, o que fui fazendo, ao longo de mais de doze anos. Desse labor, resultou a publicação de vários trabalhos de investigação histórica que culminaram na edição, em 2009, do livro Contributos para a História do Hospital Geral de Santo António. Destas investigações resultou a vontade de trabalhar para recuperar memórias perdidas de homens e instituições, assim como de acontecimentos vividos que poderiam ser reconhecidos pelas gerações mais recentes, como condicionantes das suas próprias vivências. Ao reflectir sobre estes assuntos, dei-me conta que eu próprio, apesar da modéstia do meu papel social, vivi muito próximo do centro dos grandes acontecimentos do pósguerra, em Portugal, sendo actor, embora secundário, em vários episódios da história recente, dos quais gostaria de deixar registo. O testemunho pessoal é, por vezes, difícil de obter, sobretudo quando se pretende compreender a importância dos acontecimentos da petit histoire na descrição dos grandes movimentos sociais. Quanto a mim, poderei testemunhar, momentos da história recente de Portugal, como o desaparecimento do Estado Novo e a emergência de um novo regime democrático, as grandes modificações sociais, sobretudo nas áreas da saúde e educação, o que poderá constituir um capital de memória que, em regra, é reconhecido aos mais idosos, em quase todas as civilizações. Entretanto, uma desgraça nos sucedeu, que foi a doença terrível que atingiu a minha mulher e companheira de muitas lutas, mãe das minhas filhas e educadora dos meus netos, Maria Luiza. A doença inexorável prosseguiu a sua acção destruidora e, em pouco mais de um ano, vitimou-a. 4 Alguns meses após o seu falecimento, alguns amigos insistiram comigo para publicar relatos dessas memórias. Daí resultou a publicação do livro Fragmentos de uma Biografia Cívica, em que recolhi alguns episódios da minha história pessoal. Finalmente, admitindo que as memórias da minha vida possam interessar a outras pessoas, tomei a decisão de escrever a autobiografia que agora vem a lume. Luís de Carvalho Fevereiro de 2012 5 CAPÍTULO I – INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA Os primeiros anos Nasci em Milhazes, aldeia do concelho de Barcelos, a 5 km na direcção da Póvoa de Varzim. Residiam os meus pais na Casa Grande da aldeia. Chalet de brasileiro, mandado construir pelo irmão de meu avô Luís, Agostinho, emigrante bem sucedido no Brasil. O meu pai, Manuel, terceiro filho dos seis que foram a prole de meu avô, aos 21 anos, empregou-se no escritório duma empresa de moagem, em Barcelos, que foi, afinal, quase o único emprego que teve em toda a vida, lá ficando até à reforma, depois de ter adquirido formação de contabilista (guarda-livros) em cursos por correspondência. Meu pai, como os cinco irmãos, nasceu e habitou sempre em Barcelos – cidade, onde o pai era comerciante de mercearia, depois de ter começado a vida como caixeiro na loja que depois adquiriu ao patrão. Também ele, nascido em Milhazes, segundo filho entre seis irmãos, trabalhou toda a vida no mesmo local, a loja na avenida principal de Barcelos, que só encerrou após a sua morte. Em três gerações sucessivas, nota-se um elemento comum, a estabilidade no emprego. Meu pai e meu avô trabalharam, praticamente, toda a vida na mesma empresa, e eu, após uma curta passagem de apenas dois anos e meio no H. S. João, fixei-me no HGSA, onde me mantive até à reforma, em 1999. Mas voltemos a meu pai, Manuel, empregado de escritório de uma fábrica de moagem de Barcelos (Fábrica de Moagem do Cávado), citadino que passara dois anos no Rio de Janeiro, dos 14 aos 16 anos, a trabalhar, no Banco Borges e Irmão, mas sem vocação para enriquecer! Mandado regressar pelo pai, assentou praça como voluntário aos 18 anos no Regimento de Artilharia da Serra do Pilar, no Porto, tendo participado como soldado na repressão da revolução de 7 de Fevereiro de 1927 (aos 19 anos não sabia bem o que se passava!). Saído da tropa como 1º cabo, passava férias de Verão no casarão de Milhazes, onde o pai foi adquirindo propriedades agrícolas, atingindo um escalão social e de rendimento que o fazia quase um homem rico. 6 O problema é que, nos anos trinta, aceitou ser fiador de outro comerciante de cereais, homem sério mas quase analfabeto, que foi metido por um filho, que exercia funções de gerente da firma, num negócio pouco claro de letras, que terminou em falência e julgamento com prisão. No fim de contas, o fiador teve que entrar com o dinheiro, passando anos para pagar tudo, e assim a família acabou numa situação económica difícil, de que só recuperou, e em nível de vida bem inferior, anos depois. Nessas idas a Milhazes, conheceu a jovem professora primária que, por volta de 1926, fora ocupar o lugar criado na nova escola primária, mandada construir e oferecida à freguesia por um benemérito “brasileiro” rico, lá nascido (Manuel Campinho ou Campos). O mecenas que se instalara na Póvoa de Varzim, como capitalista regressado do Brasil, pusera como condição da oferta da Escola que o lugar de Professora fosse ocupado por uma sobrinha que pouco antes completara o curso na Escola Normal do Porto e residia com a mãe (irmã do mecenas) e duas irmãs na Póvoa. A jovem Rosa Campos da Fonseca, nascida na Póvoa, filha de uma natural de Milhazes (a minha avó Justina) era a professora que se cruzou, posteriormente com o jovem barcelense Manuel, o que sem dúvida foi facilitado pelo facto de a escola se situar no largo fronteiro ao chalet brasileiro, propriedade dos irmãos Carvalho. A poveira Rosa e o barcelense Manuel acabaram por casar em 24/9/1932 e ficaram a viver no casarão de Milhazes, o que era como que um regresso às origens para ambos. Desse casamento nasceram, na casa da família, eu, Luís, em 30/10/1933, e minha irmã Nela, em 23/9/1936. Os partos de ambos foram assistidos pela parteira D. Filomena, de Barcelos, casada com o Sr. Lázaro, enfermeiro de profissão liberal, pais dum “playboy” de Barcelos, o Zeca Lázaro, e sogros do Sr. Almeida, contabilista no Porto e irmão de um médico pertencente às “hostes” republicanas e anti-salazaristas do Porto, o Dr. Henrique de Almeida, por coincidência médico da Família Marvão, que nos anos quarenta se fixou em Massarelos, onde ele residia. A supervisão do parto foi feita pelo Dr. Aires Duarte, distinto médico em Barcelos, formado e especializado em Obstetrícia em Coimbra, que trabalhava no Hospital de Barcelos, do qual foi Director Clínico. Já no fim dos anos sessenta, estando eu a afirmar-me como neurocirurgião em treino, a procurar espaço vital autónomo, foi o Dr. Aires, Director Clínico, que me convidou para 7 manter uma consulta quinzenal de neurologia/neurocirurgia, às Quartas-Feiras à tarde, no Hospital de Barcelos. Fechado mais este parênteses, regressemos a Milhazes, nos anos 30. Para minha mãe foi uma benesse ter o local de trabalho em frente à residência, o que lhe permitiu criar os dois filhos. Meu pai, que trabalhava em Barcelos, deslocava-se todos os dias para o emprego num velho automóvel Darracq (seria assim?) com capota de lona e janelas de plástico, até que, com o início da Guerra, o vendeu e trocou por bicicleta. Entre as mais antigas recordações da infância, lembro-me dum tempestuoso dia de inverno em que o meu tio Alberto, músico de profissão, veio a Milhazes tratar de qualquer assunto de coros na Igreja, matéria em que era perito. À noite (ainda tínhamos o automóvel), o meu pai foi levá-lo à Póvoa, A minha mãe e eu (com quatro ou cinco anos?) e o António do Monte, caseiro e amigo do meu pai, éramos os restantes passageiros. Na viagem de regresso, passada a freguesia de Necessidades, faltou a luz dos faróis e o carro caiu na valeta. Noite escura, temporal com muita chuva, a minha mãe comigo pela mão, na estrada alagada, “protegidos” por um guarda- chuva pequeno, observávamos o meu pai que, com uma lanterna de pilhas, verificava os estragos, enquanto o António do Monte foi à aldeia de Necessidades pedir ajuda. Chegou com dois homens armados de trancas que usaram como alavancas para repor o carro na estrada. E lá viemos até Milhazes, sem faróis, debaixo de chuva, com o caminho vagamente iluminado pela lanterna colada ao para-brisas. Uma aventura! A recordação mais antiga creio ser a do meu avô e padrinho Luís, morto, no caixão, tinha eu dois anos e meio. A imagem que me ficou é de um caixão enorme, na sala da frente da casa de Barcelos, com o meu avô de fato preto, e o que mais me impressionou, foi uma almofada de cetim branco sob a cabeça. Foi a primeira confrontação com o mistério e a perplexidade da morte. A escola A minha mãe, logo que tive algum entendimento, talvez a partir dos dois anos, levavame com ela para a escola, onde ensinava alunos da 1ª à 4ª classe, rapazes, dado que na sala ao lado era a escola de raparigas, com outra professora. 8 Ficava a assistir às aulas de tal modo que, aos três anos, comecei a ler e a escrever; a minha irmã era ainda bebé (nascera em 1936) e ficava em casa com a empregada, só indo à escola em frente para mamar. Recordo a extrema pobreza da aldeia nesses anos trinta, em que, na escola, praticamente só eu usava sapatos (botas de carneira no inverno) e calções. Todos os rapazes da escola vestiam calças compridas e roupa sempre cheia de remendos, que nos mais pobres pouco mais era do que farrapos. Não me lembro de colega algum sem remendos, pelo menos na escola; talvez os mais abastados (ou menos pobres) vestissem roupa melhor aos domingos. Quanto a calçado, no Verão a regra era andar descalço (alpargatas, os mais afortunados) e no Inverno os filhos dos lavradores mais abastados usavam chancas ou tamancos de sola de pau, que eram o produto do trabalho diário do tamanqueiro da aldeia Manuel Donana. Este era pai da Bertilina, que viria a trabalhar comigo, como enfermeira, no Serviço de TCE do HGSA, durante mais de 20 anos. Também a alimentação era diferente, Eu, menino de cidade embora a viver na aldeia, comia ao pequeno-almoço pão de trigo e café com leite e tinha duas refeições por dia com sopa, prato e sobremesa. Os meus colegas da escola tinham como base de alimentação o caldo de couves e a broa (pão de milho) cozida em casa para uma semana. Era esse o pequeno-almoço para todos, mais pobres ou menos pobres. Pão de trigo só aos Domingos e dias festivos e só para os filhos dos “lavradores”. Os filhos dos jornaleiros comiam broa, no máximo, o bolo quente saído do forno no dia da fornada semanal. Além do caldo de couves e da broa, comiam-se batatas e bebia-se vinho verde, e, talvez, umas peças de fruta surripiadas da árvore no S. Miguel. Carne só nos dias de festa ou Domingos, excepto uma galinha ou coelho criados em casa, para realizar algum dinheiro na venda do animal ou dos ovos na feira de Barcelos. Peixe era raro, embora aparecessem, de vez em quando, na aldeia, os pregões da “sardinha fresquinha”, e alguns lá conseguiam comprar três ou quatro sardinhas para os pais e ranchos de quatro ou cinco filhos. Não havia luz eléctrica na aldeia, nem água canalizada. Na nossa casa, de gente citadina e de nível social mais elevado, a iluminação era baseada nos candeeiros de petróleo e 9 nos gasómetros de carboneto e a água era tirada do poço por bomba manual, que permitia encher o depósito. Os outros iam de cântaro de barro à fonte pública da aldeia. Lembro agora a história do Carlos, aluno da escola da minha mãe, pobre entre os mais pobres, que num Inverno desses anos trinta, num dia de chuva chega à escola com os farrapos que vestia, encharcados de água, descalço, com um ferimento a sangrar na fronte, mas com um insólito rasgado sorriso de felicidade. Perante o espanto da minha mãe conta que, como de costume, saiu de casa só com o caldo de couves (ou nem isso) e foi pedir esmola, batendo à porta de um lavrador mais abastado. Chovia a cântaros e a dona da casa veio à janela do primeiro andar e atiroulhe um pedaço de broa tão dura que lhe caiu na cabeça e a pôs a sangrar. Mas a broa mesmo dura, talvez amaciada pela água da chuva, foi o seu pequeno-almoço. Daí a sua felicidade, apesar da molha e da cabeça rachada! Recordo desse tempo alguns companheiros de escola. O Manuel Barreto, afilhado dos meus pais e filho de um pedreiro, talvez o mais inteligente da classe, “Distinto” no exame da 4ª, mas que foi trabalhar com o pai, como pedreiro, logo que fez o exame, para ajudar a dar de comer aos irmãos todos mais pequenos; o Manuel Loureiro, meu irmão de leite, pois a mãe, Joaquina, também me alimentou a mim, quando o leite faltou à minha mãe, tinha eu 15 dias. O contraste entre uma vida de pequenos burgueses, a de minha casa, e a miséria geral da maioria dos aldeões, foi sem dúvida o caldo de cultura das preocupações sociais que marcaram toda minha vida futura. Entretanto rebentou a guerra (II Guerra Mundial), em 1939, e, apesar de Portugal ser neutro, a situação social piorou, com senhas de racionamento e várias dificuldades. Acabou a gasolina, o meu pai vendeu o carro, apareceram os gasogénios nos automóveis de praça (em Milhazes não havia) e nas camionetas de carreira, sendo muito raros os particulares. Recordo o ciclone de Fevereiro de 1941, ao fim da tarde, e a aflição da minha mãe, em Milhazes, pois o meu pai vinha de bicicleta de Barcelos, tendo que atravessar pinhais cerrados no meio da tempestade. Tarde, já noite fechada, acabou por chegar encharcado, com a bicicleta pela mão, o que para nós, com sete e quatro anos, parecia quase heróico. 10 Em 1942, fiz exame de 3ª classe e os meus pais entenderam que era melhor ir fazer a 4ª a Barcelos, para preparar o liceu, que se seguiria. Fui o único da escola da aldeia que continuou os estudos. Assim, num chuvoso dia de Outubro, com oito anos (completaria nove a trinta desse mês), pela mão de meu pai, desci a estrada que, da nossa casa de Milhazes, nos levava à paragem da camioneta da carreira Póvoa-Barcelos, a cerca de dois quilómetros. Iria morar em Barcelos em casa da minha avó, enquanto os meus pais não arranjassem casa. Recordo a tristeza e as lágrimas que me corriam na face, quando olhava para trás, na estrada, e me despedia da minha mãe e da minha irmã, que me acenavam duma janela do 1º andar, uma das 23 que possuia o casarão do brasileiro. Sentia que a despreocupação da vida da aldeia e a protecção permanente da mãe acabavam nesse dia e eu iria ter que contar sobretudo comigo próprio. A cidade - Barcelos Lá fiquei a morar durante alguns meses na casa da avenida onde a minha avó vivia com dois filhos e duas filhas solteiros; a tia Mimi viria a casar em 1940 com o tio Zé Pereira, numa breve cerimónia na Igreja de Milhazes, de que recordo apenas a hora matutina (6h ou 7h da manhã) a que se realizou. Depois foi a Escola Gonçalo Pereira, com o professor Peixoto que me fez escrever com a mão direita, pois até então era canhoto. Na escola, arranjei novos amigos, o Ilídio Pimenta, o Machado, o “Maria Nova”. Entretanto, os meus pais alugaram uma casa no Campo 5 de Outubro, o Jardim Público. Era um conjunto de seis casas de rés-do-chão e 1º andar, todas iguais, no lado nascente do largo, onde passava a estrada para Viana. Para sul, seguia-se à nossa casa, a primeira das seis, a mercearia do Sr. Fernandes, com os filhos Leonel e Humberto ao balcão. Por cima, no 1º andar, morava a nossa senhoria, D. Emília Pena, e os filhos, Luís e Dalila, um pouco mais velhos do que eu. A vida da família transformou-se: passou a minha mãe a deslocar-se para o emprego, tomando diariamente a camioneta da Póvoa que a deixava na paragem da “Farrapa”, a dois quilómetros da Escola de Milhazes. O meu pai beneficiou, pois ficou a trabalhar em Barcelos, perto de casa. 11 O nosso vizinho, na casa seguinte, era médico dentista com consultório no rés-do-chão, o Dr. Joaquim Reis, algarvio de Portimão que fizera a tropa nos Açores, nos primeiros anos da guerra, recém-formado em medicina. Veio estabelecer-se em Barcelos, onde para tratar dentes só havia o velho Camilo Ramos, cirurgião-dentista, personagem importante da sociedade local, sempre de chapéu de “revirão”, polainitos e bengala. O jovem Dr. Reis impôs-se rapidamente e pouco depois nasceu o primeiro filho, o Zé Pedrinho, futuro endocrinologista do H. S. João, Dr. José Pedro Lima Reis. Após dois ou três anos, nasceu o segundo filho, o Quim Zé, que viria a morrer na guerra colonial. A família integrava três senhoras, a esposa do Dr. Reis, a D. Inês, a mãe desta, D. Adília, e a avó, D. Teresa. Na casa seguinte morava o Sr. Manuel Correia, velho amigo de meu pai, figura patriarcal com os seus cabelos totalmente brancos, pai do Celestino, meu colega no colégio, embora um ano mais velho em idade e em curso, que veio a ser engenheiro no Porto, meu amigo de muitos anos. O Celestino, já próximo dos 60 anos, sofreu um enfarte e foi internado no HGSA, quando eu era Director Clínico. O meu amigo Pimenta, director da Cardiologia, transferiu-o para Coimbra, para ser operado às coronárias, e eu fui despedir-me dele quando embarcou na ambulância, cheio de esperança numa cura que não obteve, pois sofreu paragem cardíaca peroperatória, que o deixou em coma crónico, vindo a morrer no HGSA, para onde fora devolvido pelo cirurgião de Coimbra (Dr.Manuel Antunes). O Celestino tinha uma irmã mais velha, de que não recordo o nome, que morreu com uma tuberculose fulminante, e um irmão, o Manuel, mais tarde também engenheiro, que vivia com os avós maternos, em Vila do Conde, e só vinha a Barcelos nas férias. Na casa seguinte morava a D. Laurinda, viúva de um médico, Dr. Lopes Rodrigues, que morrera novo, tuberculoso, e lhe deixara dois filhos pequenos, o José Augusto, o Zeca Narizinho, colega da minha irmã no colégio, e o João de Deus. Anos depois vim a encontrar o Zeca no Porto, onde era bancário. Na casa seguinte não recordo quem morava e, finalmente, na última, habitava o Padre Torres, irmão do advogado Lima Torres, que vivia com uma criada idosa. Depois era a Garagem Machado, propriedade do Sr. Machado, que mais tarde tratava do carro Fiat do meu pai. O seu filho mais velho, que andava três ou quatro anos à minha frente no colégio, foi mais tarde capitão miliciano, com várias comissões na guerra 12 colonial, sempre muito formal, como se estivesse permanentemente na forma, mas que não era mau homem. Ao fundo do jardim, no seu lado norte, ficava a grande casa dos Teotónios, dois irmãos aristocratas endinheirados, gente da mais importante da terra. Eram dois solteirões. O mais velho, Dr. José Teotónio da Fonseca, era formado em Direito, mas nunca exerceu, e o António Luís vivia dos rendimentos. Andavam sempre juntos, muito altos e direitos, sempre de chapéu, com a pose de quem estava numa cerimónia e não apenas a caminho do café! Tinham um automóvel Dodge, que guiavam à vez, mais até o António Luís, ou então guiava o motorista. Um cunhado, de seu nome Miguel Matos Graça, marido de uma irmã deles, era outra personagem da cidade. Morava no “Solar do Benfeito”, belo palacete barroco, do século XVIII, desenhado por Nazzoni (?) pertença antiga da família, e tinha duas filhas, a Paji e a Mizinha, companheiras da Nela, minha irmã, nas brincadeiras no jardim. Outras companheiras eram as duas filhas de um funcionário público, que foram educadas pelos pais como aristocratas, embora vivessem com dificuldades e moravam numa casa do lado oeste do Largo. Anos mais tarde, quando morávamos no Largo do Cruzinho, no Porto, eu já casado e com uma filha, a Olga Maria, veio morar para o apartamento ao lado com uma das irmãs, que casara com outro aristocrata de pouco dinheiro, filho de um D. Dinis, a quem a minha irmã se referia como “ O Lavrador”, e dois (ou três?) filhos pequenos. Voltemos à volta que vínhamos a dar ao jardim de Barcelos, oficialmente Campo 5 de Outubro. Do lado poente, em frente à nossa casa, outro palacete barroco, pertencente à família Bessa e Menezes, e que mais tarde, nos anos sessenta, passou a residência do meu colega Manuel Monteiro de Carvalho, que casara com uma das duas filhas do José de Bessa, chefe da família; a outra casou com o António Sampaio Falcão, meu colega mais velho no colégio, filho de um comerciante que enriqueceu durante a guerra e que se revelou como um génio dos negócios, com actividades no comércio, indústria, sistema bancário, etc., sendo, no fim do século XX, conhecido como o homem mais rico de Barcelos, dono de uma das maiores fortunas do norte. Logo a seguir, a Pensão “Chucha”, de uma tia do Paccelli. O Pacceli, alcunha de um banal Manuel Silva, resultava da sua grande semelhança com o Cardeal Paccelli, que por esses anos chegara a Papa com o nome de Pio XII. O Paccelli foi o primeiro 13 militante anti-salazarista que conheci e que, aos meus doze anos, me pretendia doutrinar (e conseguiu) apesar do primarismo provinciano das suas dissertações nos bancos do jardim, como só mais tarde, já na Universidade e no MUD Juvenil, vim a perceber. Pobre Paccelli, era preso frequentemente pela PIDE, por curtos períodos, fazendo lembrar a blague do “Casablanca” em que o capitão Renault mandava “prender os suspeitos do costume”. Morreu novo, anos depois, pobre, sem nada, nem mesmo a aura romântica dos tempos do pós-guerra e dos movimentos “unitários”. Passado este interlúdio regressemos à cronologia dos acontecimentos, isto é, à escola Gonçalo Pereira, onde fiz exame da 4ª classe, ficando “Distinto”, pelo que fiquei dispensado do exame de admissão ao Liceu. O júri, presidido por uma professora que já não recordo, integrava um veterano, professor Matias Fernandes, colega que a minha mãe muito respeitava, e o jovem Ferreira Carmo que, anos mais tarde, sendo eu já médico, reencontrei como delegado de propaganda do Laboratório Lederle e que durante anos me visitou no consultório da Rua Sá da Bandeira. Éramos quase quarenta, na turma da 4ª classe, mas só três ou quatro seguimos para o liceu. Lembro o Zé Carlos Mesquita Lavado, filho do chefe dos CTT e da D.Alda, irmão da Maria Cândida, uns anos mais velha, namorada crónica do Viana Lopes, que acabou por casar com a minha colega de colégio, Fernanda. O Zé Carlos, após o 5º ano, foi fazer o 6º, como eu, no Alexandre Herculano, no Porto. Depois eu segui medicina e ele foi para a Escola do Exército e creio que se reformou como Brigadeiro. Em 1943, entrei para o Colégio Alcaides de Faria, escola particular e única do ensino secundário em Barcelos. O meu grande amigo desses anos era o Costa (António Augusto da Silva Costa), sobrinho do meu colega da 4ª classe, Ilídio Pimenta (o Ti Lidinho) e quase da mesma idade. O Costa fizera a primária numa escola privada, e encontrou-me no 1º ano, quando o Ti Lidinho foi para os Açores, viver com um irmão mais velho, que trabalhava como especialista naval ou coisa parecida. Passou lá anos, fez o Liceu na Horta, e quando regressou, o meu amigo era o Costa, e aliás, pouco depois, em 1948, mudei-me para o Porto. O Costa, comandante e filho de comandante de bombeiros no futuro, deixou os estudos no 5º ano, foi trabalhar e terminou como industrial têxtil bem sucedido. No colégio, durante os cinco anos que lá passamos, foi sempre o meu melhor amigo; outro era o Vitor Mendes, filho do professor primário de S. Romão da Ucha, que abandonou os estudos depois da 14 morte do pai, mas acabou por retomar, como estudante trabalhador, formando-se já tardiamente em medicina, aí pelos anos sessenta, exercendo Clínica Geral em Barcelos. Também havia o Torres, de Barcelinhos, e a irmã Eva Torres, baixinha e gordinha, e a Alice Coutinho, maria rapaz sem complexos, grande e desengonçada. É necessário dizer que o Colégio era misto, e por isso as brincadeiras também, em regra, o eram. Eu fui sempre o melhor aluno, às vezes acompanhado pelo Zé Carlos, mas enquanto ele era um urso eu gostava das paródias; talvez por isso nunca nos demos muito bem. O Director do Colégio era um gordo, careca e alto professor de matemática, que ensinava tudo que fosse preciso, quando faltava um professor. Até inglês, de que ele pouco mais sabia do que duas ou três frases idiomáticas. O Dr. Viriato, alcunhado por nós como o “Vitordo” ou “Bitordo”, morava no Colégio, tinha dois filhos, mais novos do que nós, a Cidália, “Cidalinha”, do ano da minha irmã, e um rapazinho mais novito, também chamado Viriato, a quem alcunhamos de “Vitordinho”. No ano em que entrei (1943), o Dr. Viriato, que era oriundo de Viseu, contratou no Porto dois professores novos, recém formados, e que vieram revolucionar pela competência e entusiasmo, os anquilosados métodos do Dr. Viriato. O Dr. Agostinho Reis, formado em Letras, ensinava História e Geografia e o Dr. José Fernandes, Ciências Naturais e FísicoQuímicas. Ambos solteiros, integraram-se bem na sociedade barcelense, tendo o Dr. Fernandes casado com uma jovem da terra, filha do Sr. Vasconcelos, comerciante de tecidos, com loja na chique Rua Direita. Nunca mais saiu e quando o Dr. Viriato morreu, comprou o Colégio, que dirigiu até ao seu encerramento, já nos anos noventa. A sua filha casou com o médico Fernando Reis, Presidente da Câmara em vários mandatos. A esposa, que eu cheguei a observar no consultório (nos anos 70 ou 80), morreu, há anos, com um tumor cerebral. O Dr. Agostinho Reis, mais “playboy”, era amigo de pândegas do meu tio Francisco, também “playboy” e solteirão durante toda a vida, até ser surpreendido, aos 81 anos pela morte em que não acreditava, pelo menos para ele. Era ele o meu tio “Imortal”, como eu o definia aos meus amigos e colaboradores, quando nos anos noventa, uma Quinta-feira em cada mês, me aparecia no gabinete de Director Clínico e depois de Director, que eu ocupava no HGSA, para irmos almoçar ao restaurante Romão, ali em Carlos Alberto. O Dr. Reis acabou por, ao fim de alguns anos, casar com uma barcelense e fundou ou foi dirigir outro colégio, creio que em Famalicão. Foram professores com quem aprendi e que respeitava. 15 No fim do ano lectivo de 1944/45, completei o 3º ano, que obrigava a exame nacional (nessa altura eram o 3º, 6º e 7º anos), que só os liceus do Estado faziam. Em Barcelos, o exame deveria ser no Liceu Sá de Miranda, em Braga. Foi uma paródia. Os nossos pais, meus, do Costa e do Vitor Mendes, alugaram em Braga um quarto com três camas, numa casa particular, cuja proprietária tinha um filho de 18-20 anos (eu tinha 12 e os outros 13 ou 14), chamado Vasco, que nos elucidava sobre a grande cidade que para nós era Braga. Em mim, provinciano de calções, que se supunha adulto, só porque podia circular sozinho, o que mais impressão causou foi o transporte em eléctrico! De eléctrico subíamos a ladeira que da Arcada nos levava ao Liceu. Na plataforma do eléctrico, fumei os meus primeiros cigarros, comprados avulsos no quiosque e com grande escândalo das mães de família que me apontavam a dedo. Lá fizemos exame de 3º ano e regressámos a Barcelos, já não me recordando agora da classificação que obtive. Comecei o 4º ano, sendo um bom aluno nas disciplinas normais, mas embirrando radicalmente com o Latim, que nessa data era obrigatório. O resultado foi um chumbo redondo, com oito nos três períodos. Não conseguia encarar os meus pais nessas férias, mas acabei por ser salvo pelo gongo, que foi a reforma desse ano de 1946, que acabou com o Latim e fez terminar o 2º ciclo no 5º ano, em vez do 6º. Tivemos, todos os atingidos pela reforma, que estudar no 5º ano o previsto para 5º e 6º, com exame nacional no fim do 5º. Estudei bravamente e lá fui ao Liceu de Braga fazer exame de sete ou oito disciplinas. As notas mais elevadas que tirei: 19,4 a Físico-Químicas e 17,5 a Ciências Naturais, as mais baixas, 12 a Matemática e 10 a Desenho, sendo a média de 15. Fui o melhor do Colégio de Barcelos e os meus pais decidiram, nessa altura, que teria condições para justificar o esforço financeiro no 3º ciclo que não havia em Barcelos, obrigando a passar para liceu em Braga ou no Porto. Mas lá iremos. Para já voltemos atrás, ao colégio. Um dos professores que, creio que no fim do 5º ano, nos calhou em rifa, em Fisica e Matemática, foi um Dr. Narciso, pequenino e já um tanto idoso, com cabelos brancos cortados à escovinha, que nas expressões com “Pi”, que por vezes obrigavam a Pi ‘ (linha) nos obrigava a dizer “Pi com linha”, para não chocar as meninas da turma. Imaginem o gozo geral! Outro professor foi um padre muito bronco que pretendia ensinar história. Alcunhámo-lo de “ Boy” e nas aulas chegámos a fazer fogueiras na carteira. Os principais contestatários eram eu e o Costa, a Alice e a Eva Torres. 16 Nesses anos quarenta, acompanhava a evolução da guerra, com entusiasmo, pelas revistas de propaganda que a Embaixada Britânica enviava aos corajosos anglófilos, como meu pai, que as pediam, como, por exemplo, a Guerra Ilustrada e outras. Os germanófilos, que eram os salazaristas, olhavam-nos de soslaio, pelo menos até 1943, e liam a Esfera e outras revistas alemãs. Também aprendi com meu pai a ouvir a BBC, que em Milhazes obrigava a um rádio com baterias. Informando-me e apoiando as potências democráticas, fui construindo um suporte mais afectivo que racional para a estrutura ideológica que fui desenvolvendo na adolescência, com leituras mais ou menos anárquicas, e a observação quotidiana de injustiças e miséria, que me vinham marcando desde a infância. Foi nestes anos do fim e pós-guerra, que aprendi a ler os livros de Jorge Amado, que o meu tio Francisco importava do Brasil, através da Livraria Atena, do José Augusto, na Rua Direita No colégio, o meu pai nunca me deixou pertencer à Mocidade Portuguesa, recusando-se a comprar uma farda “obrigatória” que tinha no cinto a fivela em forma de S (Salazar). O meu pai dizia (como eu o admiro agora) que filho seu não usaria nunca o “carimbo do dono”. Por mim reconheço que tinha alguma pena de não entrar nas paradas de “lusitos” e não tocar tambor, tanto mais que eu era praticamente o único do Colégio que só via passar a formatura. A Guerra terminou em 1945 e ainda me lembro daquele 8 de Maio em que os barcelenses vieram para a rua aos vivas e eu tinha ido dormir a sesta e só vi a parte final da janela da nossa casa, no largo do Jardim Público. Nos anos seguintes, o Paccelli ia-me doutrinando, passando-me escritos clandestinos, creio que oriundos do Partido Comunista. Entretanto, ia lendo o Jorge Amado, as Terras do Sem Fim, S. Jorge dos Ilhéus, Jubiabá, Capitães da Areia, mas também o Ferreira de Castro, A Selva, Emigrantes, A Lã e a Neve, A Tempestade, Os Pequenos Mundos (através deste livro adquiri um certo fascínio pelos pequenos povos como Andorra, S. Marino, etc.), Terra Fria, Eternidade, A Volta ao Mundo, que me fez sonhar, aos quinze anos, com as viagens que felizmente pude fazer depois dos cinquenta! 17 Voltemos ao colégio e às malandrices do grupo, a que por vezes se juntava a irmã mais velha do Costa, que andava um ou dois anos à nossa frente, a Euridice. Uma das partidas que pregamos ao “Boy” consistiu em encher algumas carteiras que tinham forma de caixas fechadas com abertura para tinteiro, com papéis, e depois enfiar pela abertura fósforos acesos e ficar à espera da reacção. Quando se declarava o “incêndio”, já nós estávamos candidamente sentados nas nossas carteiras, enquanto o boy arriscava a apoplexia! Outra vez, descobrimos que o Vitordo tinha uma garrafeira no quintal, junto do campo desportivo do Colégio. Resolvemos cavar um buraco ao fundo do terreno, assaltar a garrafeira e enterrar as garrafas no buraco. O pior é que fomos descobertos e demos com o Vítor, que transportava as garrafas, a correr, perseguido pelo Director e a gritar “ fujam que vem aí o Vitordo”. Dessa vez foi mais sério, pois os nossos pais foram chamados ao Director e a conversa não devia ter sido agradável. Só recordo que tivemos que transportar de novo todas as garrafas para o lugar de origem; felizmente que não se partiu nenhuma. As férias de Verão Os anos lá foram passando, com a pacatez provinciana de Barcelos, só quebrada pelas férias de Verão. Quando éramos pequenos, costumávamos passar Agosto na Póvoa em casa da minha avó, mas, talvez a partir de 1940, começamos a frequentar a Praia de Ofir, então em construção pela iniciativa do Engenheiro Sousa Martins, com o restaurante sobre a duna (nessa altura ainda não se falava em Ecologia) e mais tarde o hotel, as casas no pinhal, etc. Durante os primeiros anos, os meus pais alugavam uma casa e nos últimos ficavamos na Pensão da D. Hirondina, onde fizemos amizade com uma família do Porto, a de um engenheiro que tinha um filho mais pequeno e uma filha de idade próxima das nossas (eu e a Nela), que era a Ana Maria, mais tarde casada com o Nuno Grande. As férias em Ofir começavam com a chegada a nossa casa do Zé do Aires, motorista de táxi e primo do meu pai, que guiava um Citroën Arrastadeira de sete lugares, que levava a família de quatro pessoas e as bagagens para um mês. Depois, era o encontro com os amigos dos meus pais, de que recordo: o Manuel Fernandes1, ex- estudante de Direito que trabalhava num tribunal, homem rico, parente de 1 Nome fictício. 18 um ministro de Salazar, casado com D. Filomena2 e pai da Nani3, da idade da minha irmã, meia maria rapaz e um tanto desajeitada. O Manuel Fernandes era um boémio que bebia muitas vezes um copo a mais, sempre muito inteligente e comentando tudo com fina ironia; morreu relativamente novo. Faço agora nova incursão no futuro. Por volta do fim dos anos 80, trabalhava eu no consultório da Rua Sá da Bandeira, apareceu-me com consulta marcada uma bela balzaquiana, muito bonita, alta, muito bem vestida, com estilo de alta sociedade, que começa por dizer que não estava doente. Apresenta-se como minha companheira de infância e eu fiquei varado, pois estava irreconhecível, para melhor. Confessa-me que desde os doze anos, no Ofir, tinha uma paixão por mim, que lhe dominou a vida pelo que se manteve sempre solteira. Residia em Lisboa, há muitos anos, e, naquela altura, descobriu que eu existia, que era médico no Porto e resolveu vir fazer a declaração que, há quarenta anos, a dominava. É claro que o meu ego de macho se sentiu lisonjeado, mas a verdade é que eu era bem casado, pai de família e não tinha culpa das fantasias de uma rapariguinha feita mulher. Lá lhe procurei explicar que, apesar da simpatia que a história me despertava e mesmo tendo em conta a sua beleza actual, eu não estava em condições de lhe resolver o problema. Será que se tratava mesmo de um insólito pedido de casamento? Ela lá saíu, muito digna, despedimo-nos com um beijo à porta do consultório e ela lá deixou de novo a minha vida onde, de facto, nunca chegara a entrar. Outro amigo de meu pai era o Agostinho de Oliveira, proprietário abastado do concelho. O grande amigo do meu pai era, no entanto, o Sr. Manuel Carvalho, de Barcelos, conhecido pelo “Carvalho Pequeno”, empregado da Têxtil João Duarte, casado com a D. Júlia, pai do Óscar, que era o meu melhor amigo das férias, irmão da Ondina e da Julieta, minha colega de turma no colégio. A Ondina veio a casar com um dos Quintas, família importante de Barcelos, o António, que fizera o liceu em Braga, e, com alguma dificuldade, entrou em medicina, depois de mim, não chegando a completar o curso. A Julieta casou com o Domingos Moreira, funcionário da Previdência, um dos três irmãos Moreira, de Barcelinhos, ou antes Beleza Moreira, primos do José António Beleza, futuro farmacêutico e comandante dos Bombeiros de Barcelinhos; os outros dois irmãos eram o Zé, funconário do Banco de Portugal no Porto, onde era colega do José Luís Martins, filho do professor Martins, da 2 3 Nome fictício. Nome fictício. 19 Escola Primária Gonçalo Pereira. O Zé Moreira casou com a Maria Ribeiro, licenciada em Farmácia no Porto, morando muitos anos na Rua da Restauração, junto da Porto Editora, pelo que nos encontrámos, frequentemente, nas imediações do HGSA. O Zé Luís casou com a Lídia Rodrigues, funcionária da Companhia dos Telefones na Picaria, filha do Alfredo Rodrigues, um dos melhores amigos do meu pai, e que tinha outra filha, Antonieta, que casou com o Jorge Carvalho, irmão mais novo do Camilo e do Luís Fortuna de Carvalho. O terceiro dos irmãos Moreira era o Ilídio Manuel, engenheiro geógrafo, que residiu em Matosinhos, desde que saiu de Barcelos, nos anos cinquenta. Foi o Manuel Moreira o grande impulsionador dos encontros de barcelenses no Porto, com o Luís Fortuna de Carvalho, reformado da CGD, no Porto, casado com a Maria Augusta Soucaseaux. O meu homónimo Luís de Carvalho desempenhou um papel destacado nos meios culturais da cidade do Porto, em particular na Cooperativa Árvore e no Cine-Clube do Porto, onde teve funções directivas durante muitos anos. O Manuel Carvalho, pai do Óscar, era um dos três Manuel Carvalho, todos empregados na indústria: este era conhecido como o Carvalho Pequeno e o terceiro, colega do meu pai na fábrica de Moagem, era um homem alto e gordo, a quem chamavam o Carvalho Grande, casado com a modista D. Guidinha, com ateliê e residência na Rua Direita, e onde trabalhavam as minhas duas tias, Mimi e Ginda. Tinham dois filhos, um pouco mais velhos do que nós: o Manuel Monteiro de Carvalho, meu contemporâneo na FMP, especializou-se em Psiquiatria e trabalhou em Barcelos, até à reforma, e a Elizabeth, brilhante aluna de matemáticas na Faculdade de Ciências que, após licenciada, muito católica, casou com um engenheiro, de quem teve dez filhos. Sofreu de doença crónica, tendo eu participado no seu tratamento orientado pelo Dr. Resende. Voltemos à praia de Fão-Ofir. Um dos nossos ídolos, gente de dezoito, vinte anos, quando nós tínhamos doze ou treza, era o Júlio Anciães, farmacêutico em Esposende e arquitecto, bela figura de homem, loiro, de farto bigode, estrela das festas no clube, especialista em imitações, que casou mais tarde com a Tété, Teresa de seu nome, filha do meu amigo, quando eu era estudante e militante do juvenil, Décio Nunes, democrata destacado em Barcelos. O Júlio era irmão da Rosete Anciães, médica, três ou quatro anos mais velha do que eu, fazendo clínica em Esposende. Depois eram os irmãos Moura Leal, o mais velho, Rui, arquitecto, veio a ser meu vizinho no prédio da Pasteleira, desde 1973; o mais novo, Fernando, engenheiro, morreu novo. Os primos, os irmãos Sampaio e Castro, Eurico, capitão da Marinha Mercante, e José Emilio, 20 advogado, muito moreno, filhos de um advogado no Porto, o Dr. Sampaio e Castro, casado com uma das irmãs Moura (outra era a mãe do Rui Leal). Também havia a família do Sr. Germano Nobre, rico industrial do Porto, pai do Germaninho e da Nita, “petit nom” da Graça Nobre, e de mais dois ou três filhos. A Nita estudava pintura na ESBAP (foi colega da Verónica) e casou com o Luís Pádua Ramos, arquitecto dos mais importantes da cidade, coleccionador da melhor e maior série de peças de artes do fogo (vidro trabalhado) da Europa, de que, nos anos 1990, vi uma admirável exposição no Museu Soares dos Reis. Pádua Ramos associou-se com o arquitecto José Carlos Loureiro para fundarem um prestigiado gabinete de arquitectura, o GALP (Gabinete de Arquitectura Loureiro e Pádua) que, entre outras obras destacadas da cidade, executou o projecto de remodelação e ampliação do HGSA. Nessas férias de Verão, foi necessário tomar decisões quanto ao meu futuro. Todos os anos passávamos Agosto na praia de Fão e Setembro em Milhazes, a acompanhar as vindimas. Aí tinha um amigo, o António Garrido, um pouco mais novo do que eu, filho de um dos lavradores mais abastados da aldeia, com propriedades e casa de lavoura próximas da nossa casa. O irmão Mário, mais velho, sucedera ao pai e transformou-se num dos primeiros empresários agrícolas da aldeia. Tinha um irmão, o mais velho, que era padre recém-ordenado, o Padre Carlos, que teve uma “conversa de adultos” comigo sobre as minhas perspectivas futuras. Recordo que lhe disse que admitia concorrer a um lugar nas Finanças (só tinha 14 anos!), pois não supunha que os meus pais pudessem pagar estudos que não podia fazer em Barcelos, onde só havia meios até ao 5º ano, que eu acabara de completar. Os meus pais, mais realistas, concluíram que, tendo sido um bom aluno, exceptuando o chumbo em latim, felizmente sem consequências, deveria continuar a estudar, num dos locais onde havia 3º ciclo do liceu: Braga ou Porto. O problema estava nos custos da deslocação para fora de casa, que um casal, que na altura ganhava menos que o dobro do vencimento de um professor primário (meu pai ganhava menos que minha mãe), com outra filha a estudar, teria que suportar. O problema resolveu-se quando o meu pai decidiu recorrer aos primos do Porto, família do irmão de meu avô Luís, José Gomes de Carvalho, que na diáspora de Milhazes foi trabalhar para o Porto, quando os outros dois, Agostinho e Francisco, emigraram para o Brasil, e o meu avô foi ser caixeiro em Barcelos. 21 O liceu Alexandre Herculano Fomos no comboio, os meus pais e eu, que nunca passara de Braga ou da Póvoa, com 14 anos e uma enorme curiosidade pela “capital” do Norte, a casa do Sr. José Chasco, casado com a prima Lucinda, filha do tio José Gomes de Carvalho. O meu pai pretendia negociar o alojamento do filho, com dormida e refeições, de modo a poder matricular-se no Liceu Alexandre Herculano, que ficava próximo, na Avenida Camilo, a dez minutos a pé. Cederam-me um quarto interior e as refeições, mediante o pagamento de 500$ por mês, o que, na época, era bastante. Ficou acordado que eu me iria matricular no liceu para, em 7 de Outubro, iniciar o 6º ano. Os meus pais, além dos 500$00 de pensão, davam-me mais 300$00 por mês, com que deveria fazer face a todas as despesas, livros, material, propinas, dinheiro de bolso, etc. Não dava para muito, mas foi com esse total de 800$00 por mês que eu tive que me governar até casar, isto é, de 1948 a 1956, e mesmo depois de casado, continuei a receber o mesmo enquanto não terminei o curso e comecei a ganhar. Lá entrei no Alexandre, liceu masculino, pois as raparigas tinham o Liceu Rainha Santa, separado do masculino pela Rua Barros Lima. Havia duas turmas no 6º ano, A e B. Eu fiquei na A, com o número 3, na mesma turma do meu colega do Colégio de Barcelos, José Carlos Mesquita Lavado, que ficou com o número 23 ou 24. Logo no primeiro dia, na apresentação dos alunos, ouvi o número 2 identificar-se com um vozeirão de respeito e um ar muito solene, como Álvaro Teixeira Lopes, vindo de Lisboa do Liceu Camões. O número 1 era o Alfredo Calheiros, meu futuro colega em medicina, o número 4 era o Castro Marques, sobrinho do Professor de Matemática com o mesmo nome e que, após o 7º ano, iria para a Escola do Exército; finalmente, a 5ª e última carteira da primeira fila, era a do Lino Manuel Duarte Silva, vindo do Liceu de Aveiro, futuro engenheiro, morto de acidente na Guerra Colonial. O Álvaro, que iria ser o meu melhor amigo, durante muitos anos, entrou para Medicina um ano depois de mim, pois chumbara em matemática no 7º ano. Fomos companheiros no Juvenil, estivemos juntos em Penamacor e, com grande pena minha, e dele também, presumo, a vida foi-nos afastando, ele, cardiologista no H.S.João, eu, neurocirurgião no 22 HGSA, e pouco convivemos nos últimos anos, até que ele morreu de enfarte, na viragem do século. Deixou viúva a Olga Berémy, ruiva e sardenta, de ascendência húngara, e dois filhos, um dos quais, Álvaro, brilhante pianista, formado em Viena de Áustria. Um irmão do Álvaro, António Emílio, frequentava a turma A do 7º ano, onde era colega do Paulo Mendo, este uma estrela do liceu, sempre o melhor aluno da turma. O António Emílio após o 7º ano, foi cursar Arquitectura na ESBAP. No 6º ano A, recordo os colegas que seguiram Medicina: além do Calheiros e do Álvaro, o Meireles, de Paço de Sousa, que foi exercer para Portalegre, o Armando Moreno, futuro ortopedista, professor e escritor, o Noro Gomes, que emigrou para os EUA, onde fez carreira como cirurgião cardíaco, o Vítor Moura, de Nespereira, Cinfães, o cómico da turma e na faculdade, que foi anestesista no HGSA, até se reformar. Entre os engenheiros, os meus grandes amigos Jorge Guedes e Jorge Baía da Rocha, que passaram umas férias comigo em Milhazes, onde demos grandes passeios de bicicleta, alugada na oficina do antigo caseiro de meus pais, António do Monte, com o já falado António Garrido. Outros que recordo agora, o Sá Pinto (António Augusto), de Santo Tirso; o Belo (António Tomás Belo Pinto Ferreira), sempre calmo e sorridente, pequenote de estatura mas bom amigo; o Nunes da Póvoa, que haveria de morrer anos depois de paramiloidose, tendo sido seguido no meu Serviço de Neurologia, onde eu fui assistindo à sua lenta deterioração; o Fernando Campilho Gomes. Para a Escola do Exército, além do Lavado e do Castro Marques, foi o Fernando Rui Mesquita de Passos Ramos, chefe de turma, amigo respeitado por todos, com o seu bigode à Errol Flynn, e outros que já não recordo. Reformado como General, desempenhou, quando oficial dos serviços de informação na Guerra Colonial em Angola, papel importante na vertente político-diplomática da Guerra, como, já no século XXI, foi mostrado, na reportagem de grande qualidade que Joaquim Furtado apresentou na TV sobre a Guerra Colonial. Um seu irmão desempenhou papel semelhante na guerra da Guiné-Bissau, onde foi vitimado por uma emboscada que lhe provocou a morte. Havia depois o Rui Correia Monteiro, “Rui Carolina”, que dizia querer ser engenheiro eletrotécnico, mas mau aluno, nem completou o 7º ano. Sempre me pareceu que o que mais lhe agradava era a sonoridade do nome do curso. Recordo ainda o Rui da Costa Marques, o “Brasas” que também não chegou à universidade, e outros. Na turma B, lembro o Carlos Krug de Noronha, futuro radiologista, amigo de sempre, que chegou a ser meu vizinho no Largo do Cruzinho; o Álvaro Siza Vieira, que saiu no fim do 6º ano, para entrar na ESBAP, vindo a ser o mais famoso arquitecto português; o Belmiro 23 Neves Antão, futuro engenheiro, que seria um dos meus grandes amigos, através de quem aderi ao Mud Juvenil. O Belmiro, ruivo e sardento, era um rapaz pobre, educado e sustentado por um padrinho, alfaiate na Rua do Bolhão. Acabou por morrer, anos depois, num acidente de carro, correndo que teria sido vítima de rotura de aneurisma da aorta. O Liceu, cujo Reitor era o Dr. Sena Esteves, era uma importante instituição da cidade que, na época, tinha dois liceus masculinos (o outro era o D. Manuel II) e dois femininos (o outro era o Carolina Michaellis), pelo que a sua frequência marcou todos os que por lá passaram, nesta época. Dos professores, recordo o Balacó, de Ciências Naturais, dos mais respeitados e competentes, que seguramente contribuiu para a minha formação em Biologia, o velho e rabujento Pires, de Físico-Químicas, o terrível Castro Marques, de Matemática, o Curado, de Desenho. Usava uma velha gabardina esbranquiçada, que o tornava muito parecido com o bizarro detective Columbo, popularizado muitos anos depois por uma série de TV. Mais tarde, constou que um dia saiu de casa com ar normal e nunca mais voltou, estando desaparecido desde os anos cinquenta ou sessenta, mistério que nunca foi esclarecido. No 6º ano, o professor de Organização Política era um velho oposiocionista, Ribeiro Braga, conhecido por Zicker, que fora director do Banco do Minho, levado à falência anos antes, pelo caso Angola e Metrópole, caso a que ele chamava “engole a metrópole”. No princípio do 7º ano, o Zicker morreu de repente e nós, os esquerdistas do curso (eu, T. Lopes, Baía, Guedes, Antão) fomos de comboio a Braga, ao funeral, como competia a alunos que admiravam o professor. O Professor de Filosofia, Cruz Malpique, excelente pessoa, mas totalmente incapaz de manter disciplina, deixando-nos confundir liberdade com desordem, pretendia ensinar a reflectir e a estudar os filósofos, no meio da bagunça, com alunos mais tempo fora da sala do que dentro, barulho, risos, anedotas, sei lá... O bom homem lá nos conseguiu ensinar a fazer fichas e a registar “pensamentos” e manter notas bio e bibliográficas. Lembro as constantes citações de um “filósofo” argentino (José Ingenieros), de que nunca mais ouvi falar, mas de que recordo uma máxima que me ajudou muito em toda a vida: “aprende-se a nadar, nadando”. No 7º ano, Malpique (pai de uma minha futura colega de curso em Medicina, a distinta psiquiatra e professora no ICBAS, Celeste Malpique) passou a reger Organização Política, em substituição de Ribeiro Braga, e para Filosofia transitou D. Domingos Pinho Brandão, Bispo Auxiliar do Porto e Professor de Moral desde o 6º ano. D. Domingos foi uma figura notável de homem e de pedagogo, que nos ensinou a reflectir, respeitando a nossa liberdade, gostando sobretudo 24 de discutir com os não conformistas. Ficou meu amigo para sempre desde que escrevi um ponto cheio de preocupações sociais e recusa de dogmas religiosos, seguramente com a ingenuidade dos 15 anos, mas de que ele soube compreender a sinceridade. Anos mais tarde, médico do HGSA, encontrei-o como doente de hemodiálise e foi para mim comovente e gratificante a forma como ele me reconheceu e se lembrava da contestação no liceu e da que se seguiu nos tempos da PIDE e do MUD Juvenil. Durante anos o fui cumprimentar, quando vinha aos tratamentos, sempre com alegria de quem amava a vida apesar da doença que o vitimou, anos depois. Foi com desgosto e saudade dos tempos do liceu e das aulas de filosofia, em que Kant era menos essencial do que as nossas angústias juvenis, que soube da sua morte. Voltando ao Liceu, devo dizer que quando me matriculei na alínea f) ou área de ciências, não tinha ainda decidido que futuro profissional iria escolher, luxo a que nesse tempo, sem numerus clausus, tínhamos direito. Minha mãe dizia que as notas do 5º ano apontavam para as profissões de médico ou engenheiro, recordando que as melhores notas foram 19,4 a Físico-Químicas e 17,5 a Biologia; entendia a minha mãe que o 12 que tivera a Matemática não augurava muito bom engenheiro e talvez tivesse razão. Durante o 6º e 7º anos, creio que foram as amizades que mais influenciaram a escolha da medicina, também eleita pelo melhor amigo daqueles anos, o Álvaro T. Lopes; é provável que os aspectos sociais que eu antevia na profissão também tivessem influência. De qualquer modo, não foi uma vocação avassaladora, mas antes pragmática. Fui aluno regular durante o ciclo, só tirei negativa a Matemática e a Desenho, num período do 7º ano. Na Matemática, desforrei-me no período seguinte com a Aritmética Racional, capítulo que estimulou a minha imaginação de tal modo que o teste de período não tinha qualquer erro mas o professor, depois da negativa anterior, desconfiou e só me deu 14 valores. Em Desenho, o problema foi a Geometria Descritiva de que não percebi nada. Nas férias do Natal, o meu pai arranjou-me um explicador que, no café Quiosque da Calçada, em Barcelos, em dez dias, me ensinou os truques da disciplina. Tratava-se de um pintor, formado na ESBAP, que fora colocado como professor de Desenho no liceu e demitido por motivos políticos. Vivia mal e as explicações, como encomendas de caricaturas ou retratos, permitiam-lhe sobreviver. Chamava-se Gonçalves Torres e ficámos amigos para sempre, a 25 ponto de, em 1956, ser um dos quatro amigos com quem, em Barcelos, festejei a minha despedida de solteiro. Tendo decidido ir para Medicina, precisava de, para ser dispensado do exame de aptidão à universidade e assegurar assim a entrada por antecipação, ter 14 de média e 14 nas duas disciplinas “nucleares” (Ciências Naturais e Físico-Químicas). Já não me lembro de todas as notas, mas sei que na prova escrita tinha tirado média de 14 e nas nucleares, a Ciências 16 e 14 a Físico-Químicas. Era necessária prova oral nas nucleares, dispensando-se quando a classificação da escrita era igual ou superior a 16. Sendo assim, apenas teria que fazer oral de Física e manter o 14 da prova escrita, para dispensar da aptidão. O professor na oral era o Pires, que tinha sido meu professor durante dois anos e me dera no 7º ano nota de 14 nos três períodos. Fui fazer exame oral convencido que já tinha passado, mas o facto é que tive uma espécie de amnésia selectiva e dei um estenderete total, o que irritou profundamente o Pires que parecia pensar que eu o estava a gozar! Correu-me com ameaça de chumbo. É claro que, desesperado, esperei o fim dos exames, perto da uma hora da tarde, e lhe fui pedir para me manter a nota de 14, obtida na prova escrita. Depois do bode e descompostura inevitáveis lá consegui expor as minhas razões que eram no essencial: fora aluno de 14 durante o ano com o mesmo professor, tivera 14 na escrita, tinha todas as condições para ser dispensado (tinha média de 16 na outra disciplina nuclear), bastava não descer a nota da escrita, não penalizando o estenderete oral, manifestamente fora do contexto e portanto acidental. Após mais descompostura, lá acabou por prometer o 14, promessa que cumpriu. Entretanto, quando terminou, aparece o Jorge Lino, meu colega da turma B, que tirara 10 na prova escrita e também se estendera na oral. Diz o professor: “Também queres 14? Não faltava mais nada!”; “ Não, Sr. Dr., só quero passar!”. “Ah vá lá. Vai-te lá embora e não olhes para trás”. O Jorge Lino acabou por não passar no 7º ano, aliás como o Álvaro T. Lopes, por causa de terem chumbado a matemática. No ano seguinte, lá entraram ambos em Medicina, quando eu já passara para o 2º ano. O contacto com o MUD Juvenil Em Janeiro de 1949, no 7º ano, verificou-se em Portugal um episódio maior da luta antisalazarista, que foi a candidatura à Presidência da República do General Norton de Matos. No liceu, vivemos o momento com intensidade, sobretudo o grande comício da 26 Fonte da Moura, onde fomos, alguns, para lá a pé e à volta num autocarro à cunha, mas onde a polícia não permitia ninguém de pé. Como já não havia lugar para mim depois de os companheiros terem entrado, meteram-me debaixo do banco, com sobretudo vestido, e encolhido lá segui até ao Carmo, suponho. Na sequência desses acontecimentos, surgiu o grupo informal de opositores ao regime, de que recordo os futuros engenheiros Jorge Baía da Rocha (mais tarde genro do advogado António Macedo, uma das grandes figuras da oposição, que no 25 de Abril, era Presidente do PS), Jorge Guedes e Belmiro Antão, o Álvaro T. Lopes e eu. Por volta de Maio de 1950, alguém descobriu aqueles miúdos desenquadrados e tratou de os arregimentar. Creio que foi o Jorge Baía, que nos convocou para uma reunião em casa do pai do Ângelo Veloso, o médico ORL Veloso de Pinho. O Ângelo tinha sido aluno do liceu e entrara para a Universidade (Lisboa – Economia) nesse ano. Na reunião estava ele e um estudante de Medicina, Rui Gradim, que nos constituiu em comissão do Liceu do MUD Juvenil, movimento que conhecíamos de nome e fama, semi-clandestino e com aura de romantismo e heroicidade que nos entusiasmou e a que aderimos logo. No entanto, com a aproximação dos exames o entusiasmo arrefeceu, não voltamos a ver o Rui Gradim, que soubemos depois que morrera tuberculoso. O Ângelo provavelmente foi para Lisboa e não se falou mais nisso. 27 FOTOS – CAPÍTULO I A casa de Milhazes, Barcelos, onde nasci e vivi. Aos dois anos, no quintal dos avós, em Barcelos. Aos três anos, em Barcelos. A família do meu pai: Luís e Rosa Carvalho (meus avós) e cinco dos seis filhos (Francisco ainda não nascera). Mimi, Ginda, Manuel, Arminda. Atrás, Zé Maria. Eu e a minha irmã Manuela, 1942. Bisavós António d'Afonseca e Maria Vitória da Conceição. 28 O meu avô Luís Carvalho, entre 1930 e 1935. O meu avô João Fonseca. O meu pai Manuel. A minha mãe Rosa. 29 Os meus pais, nos anos sessenta. 1949. Dois dias de férias em Barcelos, com o António Miranda, colega do Liceu (que usava capa). 1949. Excursão ao Luso do liceu Alexandre Herculano. Início dos anos cinquenta. 30 CAPÍTULO II – A UNIVERSIDADE E O MUD JUVENIL A Faculdade de Medicina Dispensado do exame de aptidão à Universidade, preparei-me para iniciar a nova vida, numas férias livres de preocupações, e, em Outubro de 1950, (exactamente a meio do século) lá me apresentei na Faculdade de Medicina, ainda com 16 anos, pois só completei 17 em 30 de Outubro. A família do Sr. José Chasco tratava-me com grande cordialidade, integrando-me no seu ambiente habitual. Entre os amigos e familiares que passavam lá por casa, lembro o Fernando, de pouco mais de vinte anos, um entusiasta do Esperanto, e que se esforçou por me converter, sem êxito, mau grado as visitas e as explicações que me impingia, e de que só me livrava com o pretexto, aliás bem real, de necessitar de estudar. Em 1950, como disse, entrei para Medicina, tendo como colega um parente afastado das minhas primas, que morava nas proximidades, numa travessa à entrada da Rua do Heroísmo, e que entrara, nesse ano, para medicina. Embora três ou quatro anos mais velho do que eu, era meu colega de ano e por vezes de turma, pelo que íamos juntos diariamente para a Faculdade. Tratava-se do Joaquim Andias Martins Ferreira, futuro ortopedista brilhante no HGSA, e que desde essa altura foi sempre um dos meus mais dilectos amigos. O Joaquim tinha um irmão e duas irmãs, que já todos trabalhavam, e era filho dum médico que falecera novo, ficando os quatro filhos a ser educados pela mãe, Virgínia Andias, oriunda de Aveiro, e professora primária, tendo nós descoberto que havia sido colega e amiga, na Escola Normal, de minha mãe, Rosa. Esta coincidência ainda contribuiu mais para cimentar a nossa amizade. O Joaquim tinha uma grande admiração pelo pai e o seu objectivo essencial, como estudante, era conseguir continuar o seu sonho (dele, pai) de ser médico, que a morte prematuramente interrompeu. Conseguiu, pois e, aos 75 anos, ainda é considerado um distinto profissional, reformado de Chefe de Serviço de Ortopedia do HGSA, mas exercendo as funções de Director Clínico do Hospital de Santa Maria. Para a Faculdade, o transporte usual era o eléctrico 12, que ia de Campanhã à Praça da Liberdade (duas zonas – 1$00), passando por S. Lázaro (uma zona - $60). Em regra, só gastávamos um bilhete de 6 tostões ($60), e depois íamos a pé até ao Carmo. Quando o dinheiro faltava, no fim do mês, por exemplo, as viagens eram a pé ou, quando muito, 31 pendurados nos eléctricos apinhados, fugindo ao cobrador, saltando em andamento, quando ele conseguia atingir a plataforrna. Outros companheiros de viagem até à faculdade eram o José Manuel Rodrigues Pereira, bom amigo que recordo com saudade, pois já faleceu, filho de um médico pneumologista, morador no início da Rua do HeroÍsmo, do lado norte, o Vitor Cardoso, do curso antes do meu, que morava mais à frente na rua do Heroísmo, lado sul, perto de Nova Sintra, futuro cirurgião no H. S. João, sobrinho do Mestre das Pontes, Engenheiro Edgar Cardoso, o Gabriel Gaucha Reis, ainda um ano mais antigo (eu no 1º, o Vitor no 2º, ele no 3º), que veio a ser médico e coronel da Força Aérea, em Lisboa, e que na altura morava na Rua da Estação. Por vezes, também aparecia o Jofre Pinto Fernandes que vinha de Gondomar na camioneta da Auto-Gondomarense, e saía em Campanhã para tomar o 12. O Jofre que era do ano do Gabriel, veio a ser fisiatra privado em Gondomar e casou com a minha querida amiga e colega, médica da minha mulher e das minhas filhas, a Teresa Nunes. Ambos já faleceram, mas nunca esquecerei que os meus quatro netos vieram todos ao mundo, no Hospital de Santa Maria, pelas mãos da Teresa, obstetra competente, que fez toda a sua carreira na Ginecologia do HGSA. O primeiro ano na faculdade Os meus primeiros contactos na Faculdade foram com os colegas que ia conhecendo, recordando entre os primeiros com quem fiz amizade, o José Augusto Dias Alves, que na altura andava a fazer o serviço militar numa modalidade “às prestações”, compatível com a frequência simultânea da Faculdade, e que aparecia nas aulas de farda número 1 e botas altas de cavalaria. Mais tarde, seguiu a carreira de Psiquiatria Militar, nunca mais tendo ouvido falar dele, nestes últimos 20/30 anos. Outro colega com quem rapidamente estabeleci empatia foi o Nuno Grande, que residia em Gondomar em casa duma irmã casada com um médico local, mas era oriundo e residente em Vila Real, de onde também provinha um dos alunos mais classificados do curso, o Sílvio Guedes de Azevedo, que tocava na Orquestra de Tangos, suponho que violino, e veio a ser cardiologista distinto no H. S. João. Recordo com saudade um amigo e colega, que me acompanhava muito, o José Mário Oliveira e Sousa, um modesto rapaz de Vila Nova de Gaia, a quem por vezes o pai, engenheiro, emprestava um antigo mas bem tratado Austin azul-escuro. O Zé Mário era 32 um rapaz apagado, estudante aplicado mas com notas mais baixas do que a média, que tinha uma grande admiração por mim, sobretudo porque nunca fiz proselitismo político com ele e o tratei sempre com estima e respeito. Quando fui preso, anos mais tarde, deveria ter sido um choque para a sua educação conservadora, mas depois continuou meu amigo como antes. Acabou o curso, penso que sem perder anos, e foi ser um modesto clínico geral na Feira. Passaram-se muitos anos sem o ver, até que, em Outubro de 2005, ao passear na Foz Velha, dou de caras com o Zé Mário. Creio que eu o vi e reconheci primeiro e quando lhe abri os braços e disse (fui sempre famoso por saber nomes completos de muita gente, sobretudo de amigos e colegas) olha o Zé Màrio de Oliveira e Sousa! Respondeu ele: olha o Luís Manuel Fonseca de Carvalho! Afinal não era só eu que decorava o nome dos amigos! Esse encontro, depois de 30 ou mais anos sem nos vermos, foi para mim muito gratificante, por o Zé Mário ter referido, entre recordações dos tempos de Faculdade, que ao longo dos anos seguira a minha carreira profissional, dizendo: “Tu foste sempre um intelectual (!) mas trataste sempre sem sobranceria os colegas e conhecidos e nunca esqueceste os amigos”. O abraço com que nos despedimos, selou a nossa velha amizade, depois de percursos tão diferentes, ambos reformados, ele com dez netos e a frequentar curso de História numa universidade da 3ª idade, eu ainda a esbracejar para produzir escritos que possam interessar a alguém (será que conseguirei?!). No primeiro ano, tínhamos disciplinas na Faculdade de Ciências (Botânica Médica, Zoologia Médica, Física e Química Médicas) e na Faculdade de Medicina, junto ao HGSA (Histologia e Embriologia e História da Medicina). Por isso, o local onde passávamos mais tempo era o Piolho que ficava a meio caminho. Das disciplinas de Ciências, só recordo Botânica em que o velho Professor Manuel Ferreira, médico e pedagogo de nível, nos abriu as portas de uma área, então novidade, que veio a dar a imunologia; foi ele que nos falou na reacção antigénio-anticorpo, no fenómeno do stress, nas reacções de complemento, etc., tudo a partir da botânica. Na Zoologia, o Prof. Santos Jr., também médico, mas essencialmente entomologista, surdo como uma porta, desconfiado das malandrices dos alunos, quando, de costas, escrevia no quadro. Nessas alturas, o Vitor Moura e outros eram estrelas, mas um dia o pacato Sílvio, sempre atento na primeira fila, foi apanhado a rir-se, quando o professor se voltou de repente, sendo mandado para a rua (expulso da aula)! Na Física, as aulas eram dadas por um Prof. Ilídio e as de química pelo Prof. Humberto de Almeida, que alguns diziam que gostava de falar em congressos, nos quais “só sábios éramos seis!” 33 Além do Prof. Manuel Ferreira, nada guardo de especial na memória dessas aulas. A Histologia e Embriologia eram no último piso (3º) da Faculdade, com o Prof. Manuel da Silva Pinto, que fazia clínica como Oftalmologista, os assistentes eram o Doutor Eugénio Corte Real, doutorado e que veio a fundar o serviço de sangue e a hematologia do HGSA, e que, 22 anos mais tarde, foi um dos dois adjuntos do Director Clínico do HGSA, Doutor Ignácio de Salcedo; o outro era eu. Havia, na Histologia, mais dois assistentes, não doutorados, Dr. Couto Soares e Dr, Castro Fernandes. O professor de História da Medicina era Luís de Pina, que mais tarde nos ensinou Psiquiatria, foi Provedor da SCMP e Presidente da CMP. O meu curso, entrado em 1950, que eu acompanhei, como veremos, até 1954, tinha elementos brilhantes, que ilustraram a escola e de que me orgulho de ter tido como condiscípulos. Alguns nomes de Professores da FMP deste curso foram: Nuno Grande, já citado, anatomista e fundador do ICBAS; Luis Pereira Leite, obstetra; Fleming Torrinha, patologista e imunologista, Director da Faculdade e do H. S. João, quando eu era Director do HGSA; Falcão de Freitas, cardiologista e internista de grande mérito, colaborador do Dr. Corino na PAF, meu companheiro de julgamento no MUD Juvenil, infelizmente falecido em 2005; Celeste Malpique, já citada; José Carvalho de Oliveira, ortopedista e sucessor de Carlos Lima. Um dos mais brilhantes era o setubalense Vitor Faria Blanc, que veio a ser estrela na anestesia do HGSA e do país, emigrante dois anos em Marrocos (onde ajudou a fundar, com Leão Ramos e Paulo Mendo, a Neurocirurgia em Rabat), e, desde 1964, em Montreal, Canadá, onde acabou por se radicar e reformar. Desse curso fizeram parte os já referidos Mário Noro Gomes e Sílvio Guedes de Azevedo, a Maria Irene Coutinho Dias, uma das primeiras mulheres a praticar cirurgia, que fez carreira no H. S. João com o Prof. Magano, a Eva Xavier, primeira Directora de serviço no HGSA, fundadora da Nefrologia e Hemodiálise no Hospital, primeira Presidente da Comissão Nacional, professora de Clínica Médica no ICBAS, a Maria Helena Cruz, Directora de Obstetrícia no HGSA. O ano escolar passou sem acidentes, fiz todas as cadeiras em Julho. Já não recordo as notas, mas penso que tive 13 a histologia e as outras devem ter sido 12 ou 13. O acontecimento mais significativo do ano, pelas suas consequências futuras, foi o reencontro com o Juvenil. Vamos à história. Em fins de Outubro ou início de Novembro, fui procurado pelo Belmiro Antão, que estava em Engenharia, a falar-me num movimento em curso e que seria um “Congresso Nacional de Estudantes” apoiado pelo Juvenil. Fui 34 com ele a uma reunião numa tarde de Outono, que se realizou na Rua de Júlio Dinis onde estaria o secretário-geral do congresso que exporia a situação e o programa de acção. Lá fomos e descobri que era a casa de um médico com tabuleta na porta, Veiga Pires de seu nome, que tinha fama nos meios da oposição. Mais tarde vim a saber que o Dr. Veiga Pires tinha um filho, José Arnaldo, que era aluno do 5º ano (último do curso, na época) de Medicina, mas que não estava na reunião. Quando chegamos, estavam na sala uns 12 ou 15 estudantes, todos desconhecidos para mim, e a presidir, sentado a uma secretária, um sujeito de cabelo comprido, tão moreno que o supus goês, com um ar esquálido, tipo revolucionário profissional, e que o Belmiro me disse ser o tal secretário-geral, aluno da Faculdade de Ciências e que se chamava Júlio Neto. Já não recordo nada do que se disse na reunião ou se fez na sua sequência, mas penso que, pouco depois, o movimento foi mais ou menos proibido pela PIDE, o Júlio ficou também tuberculoso (daí o seu aspecto que até lhe conferia um certo ar romântico) e foi internado no Sanatório da Guarda. Anos mais tarde, haveríamos de ser amigos e até compadres. Ainda o visitei no fim de 2005, internado no HGSA, tendo sofrido de grave doença, acabando por sofrer ataque cardíaco, quando parecia em recuperação, que o vitimou, no fim do ano. Falhada a aproximação do Juvenil, fui algumas semanas depois procurado na Faculdade pelo Paulo Mendo, que eu conhecia do Alexandre Herculano, onde ele andava no 7º ano, quando eu frequentava o 6º; lembro-me agora que na turma dele estavam os meus amigos e vizinhos de Barcelos, os irmãos Celestino e Manuel Correia, que entraram para engenharia, assim como o A. E. Teixeira Lopes, que foi para arquitectura. O Mendo, que na altura usava sempre capa e batina, ostentava também um romântico ar um tanto pálido e mal alimentado, com óculos sem aro e uma das lentes partida e reduzida a metade, o que potenciava o romantismo. Na conversa que manteve comigo, a descer a rua Sá da Bandeira, informava-me que sabia da minha adesão ao Juvenil no liceu e que, dada a morte já referida do Rui Gradim, passaria a ser ele a minha ligação. Entretanto, a certa altura do percurso, fico enquadrado à direita pela capa do Mendo e à esquerda por um tipo de gabardina/trincheira, também com um ar um tanto macilento e emagrecido (mais tarde vim a saber que viera há pouco de um Sanatório, onde tratara uma tuberculose!). O recém-chegado misterioso, apresentou-se como meu colega de Medicina e do mesmo ano, embora da “antiga reforma”, dado que entrara em 1948 para o então chamado FQN, que interrompera por doença; Era ele o responsável político pela comissão de escola ou universitária (já não sei) e chamava-se Hermínio Marvão. 35 Esta introdução romântica na actividade quase secreta e clandestina da actividade do juvenil foi potenciada quando, pouco depois, surge na rua, a fazer umas perguntas ao Mendo, um tipo da nossa idade, com um ar ainda mais macilento, que mais tarde vim a saber chamar-se Manuel Pires e trabalhar na Efa-Acec; pouco depois, o Mendo, já na praça, e creio que após a despedida do Hermínio, troca umas palavras, quase em código, sem interromper a marcha, com um jovem, mas este já mais nutrido, que depois soube chamar-se Paulo Monteiro, e veio a ser um dos meus grandes amigos, e que morreu aos 60 anos, na década de 1990. Fiquei um tanto convencido, com esta experiência, de que a acção “revolucionária” tinha grande probabilidade de conduzir à tuberculose, de resto na linha dos romancistas russos e outros! A capa e batina do Mendo convenceu-me a aceitar a oferta do Belmiro Antão para pedir ao padrinho alfaiate, que iria fazer para ele um fato desses, a fazer para mim um preço especial, uma vez que devia pedir dinheiro aos meus pais e não poderia ser muito. Lá se resolveu o negócio e eu tive a capa e batina, que de resto pouco usei, até porque fui procurando distanciar-me das “praxes “ que me pareciam atentatórias das pessoas e manifestação de conservadorismo e arrogância corporativa. De 1950 a 1955: O Juvenil e o movimento associativo Nessa altura, a nossa vida social fazia-se sobretudo no Piolho. Para nós, os que passáramos pelo Alexandre Herculano, mantinha-se o hábito de frequentar o café Palladium, e sobretudo o seu salão de bilhar. Foi aí que nos começamos a relacionar com gente das Belas Artes que paravam por lá como pelo vizinho Majestic. O António Emílio T. Lopes era um dos que facilitava a ligação, pois estava em Arquitectura e vinha do Alexandre onde continuou o irmão Álvaro, que nesse ano de 51 completou o 7º ano e entrou para medicina e também retomou o contacto com o juvenil. No Palladium, que nós frequentávamos cada vez mais por o acharmos mais progressista que o Piolho, foram aparecendo outros, estudantes e não estudantes, como o poeta Eduardo Valente da Fonseca, o “Poeta, actor, declamador e locutor” Amadeu Meireles, e outros. Em 1951, morreu o Presidente Carmona, o regime organizou funerais nacionais e distribuiu bilhetes gratuitos para comboios especiais para Lisboa. Embora não tivéssemos nada a ver com o tal enterro, alguns de nós preparavamo-nos para usar os bilhetes para ir a Lisboa passear por conta do regime! É claro que a ideia não vingou e não fomos. 36 Em 1951, passei para o 2º ano, chegou o Álvaro para o 1º, cimentou-se a minha amizade com o Hermínio e o Mendo, mas sobretudo estava submerso pelo peso da Anatomia, cadeira pesada e das mais temidas do curso, que obrigava a estudar e empinar os vários volumes do Testut. Lembro-me que, no início da frequência, todos devíamos comprar “o esqueleto”, pois a anatomia óssea era o centro da aprendizagem da cadeira. Só que os esqueletos, na época, não eram de plástico, mas reais e não se compravam nas lojas, passando antes de estudante para estudante. No meu caso, foi o meu vizinho de Campanhã, Vitor Cardoso, que fizera a cadeira no ano anterior, que me propôs a compra de um esqueleto ao seu colega António Castro Ribeiro. E foi assim que uma relação “comercial” me permitiu conhecer um colega que, mais tarde, já médicos, veio a ser um dos meus amigos. Em Julho fiz exame de Anatomia Descritiva com o Prof. Melo Adrião e tive 12, se não erro. Os assistentes eram o Dr. Carlos Araújo Jorge e aquele que, anos mais tarde, seria um colega de quem fui muito amigo e sobretudo era para mim um modelo de honestidade e competência, o ortopedista António Pacheco Viana, falecido nos anos 90. A Bacteriologia era outra cadeira do 2º ano que obrigava a aulas no H. Joaquim Urbano, com o Prof. Carlos Ramalhão e os seus assistentes Prof. Júlio Vaz e Drs. Aloísio Coelho e Mário Nunes da Costa, que haveria de, mais tarde, no HGSA, ser um dos meus mais fieis amigos e colaboradores no meu trabalho de muitos anos de direcção e colaboração na gestão do Hospital. Tirei 15 a Bactérias, em Julho, e deixei Fisiologia (Prof. Afonso Guimarâes e Doutor Bragança Tender) para Outubro, mas acabei por não a fazer e matriculei-me no 3º ano com Fisiologia atrasada. Os meus companheiros de estudo no café eram, na época, o Martins Ferreira, o J. Vitorino Pinto Santana, orfeonista ferrenho, o Esteves Marcos, futuro ORL, que veio a morrer ao volante de um Jaguar, nas curvas do Marão, o Vitor Blanc, já citado, e outros que já não recordo. No 3º ano, as disciplinas eram Anatomia Topográfica (Prof. Abel Tavares, supervisão de Hernani Monteiro), Farmacologia (Prof. Malafaia Batista, Doutores Garrett - carbono assimétrico, por alcunha, em alusão a uma tumefacção (congénita?) na face, e Walter Osswald). Em Química Fisiológica, os docentes eram o Prof. Elísio Milheiro, o Doutor Sobrinho Simões, sempre jovial na sua elevada estatura, e o Dr. Pinto de Barros, o Cenoura (em alusão aos cabelos ruivos) e em Patologia Geral tinha o Prof. Ernesto de Morais. Naquele ano de 1953, fiz tudo menos estudar, e o resultado foi o chumbo em Fisiologia, único no meu curriculum académico. 37 Eu frequentava o 3º ano, o Álvaro no 2º, às voltas com a Anatomia, e o Mendo, durante o 2º ano, decide mudar para Arquitectura nas Belas Artes e passa o resto do ano a fazer as cadeiras do 7º ano que lhe faltavam para poder entrar, tendo, a História, tirado 20 no exame. Assim, quando eu frequentava o 3º ano, estudava ele em Belas Artes. No Palladium juntavam-se aos de medicina (eu, Álvaro, Hermínio, Vitor) os de arquitectura, além do A. Emílio, o Mário Teixeira, o Julião Azevedo, o Joaquim Brito, o José Emílio Moreira (também ex-tuberculoso!), que veio pouco mais tarde a desempenhar um papel pouco edificante, na altura, do nosso julgamento. Grandes discussões sobre tudo, o estalinismo florescia, o neorealismo era a moda, tudo o resto era reaccionário, todos éramos sócios do cine-clube, e frequentadores sem falha das sessões do Domingo de manhã no Batalha e Águia Douro. Nesse ano ou no seguinte (1954) apareceu a SEN, cooperativa – fachada de actividades do Juvenil e do Partido Comunista (PC), depois o TEP, todos, mais ou menos, íamos participando nas manifestações e comícios, do 5 de Outubro, 31 de Janeiro e outros pretextos. Nesse ano de 1952, recomeça o esforço do movimento associativo nas escolas. Falhada a tentativa do Congresso Nacional de Estudantes, em 1950, resolveu-se criar estruturas mais próximas dos estudantes, com comissões por faculdade, e a coordenação da CAPP, sigla de Comissão Académica Provisória do Porto, cujo objectivo central era a criação de Associações Académicas no Porto. Em coordenação com as academias de Lisboa e Coimbra, tinham sido feitas diligências para audição com o Ministro, mas a abertura era naturalmente nula. Nós, arraia-miúda de base, íamos distribuindo comunicados, convencendo os colegas mais próximos a apoiar as iniciativas, etc. Ainda em 1953, participámos, sem dúvida como telecomandados pelo PC nas “eleições legislativas” organizadas pelo regime, às quais concorreram listas das duas grandes facções da oposição: os comunistas e “compagnons de route” do Juvenil e MND, nos quais nós nos integrávamos, e os democratas tradicionais, capitaneados no Porto pelos advogados do reviralho, irmãos Cal Brandão, António Macedo, Olívio França, Eduardo Ralha, irmãos Santos Silva, médicos como Eduardo Santos Silva, Henrique de Almeida, Azeredo Antas, Arq. Artur Andrade, etc. A nossa triste função era essencialmente boicotar os comícios dos democratas, sofrendo a ira de antifascistas dignos como Artur Santos Silva, e outros que nos respondiam à letra. 38 Também nos cruzávamos muito com outra área de movimentação do PC, que era o Movimento da Paz, que se comprazia em recolher assinaturas a favor do apelo de Estocolmo, e outras cujo objectivo real era a luta contra o chamado Imperialismo, grande fantasma da Guerra Fria, que obviamente era o americano e nunca o soviético. Admitir tal coisa seria fazer o jogo do fascismo (o “anticomunismo primário” ainda não estava na moda) coisa que seria a mais baixa das vilanias. E nós lá embarcávamos alegremente! Durante esse período, 1951-1953, realizaram-se duas “Reuniões das 3 Academias” numa das quais foi proposto, por delegados do Porto, a criação de um “Dia do Estudante”, sendo aventada a data de 25 de Novembro. Fui ganhando treino no movimento em curso e, na 3ª Reunião, realizada em Lisboa, já integrei os representantes do Porto. Entretanto, no fim do 1º ano, em 1953, o Mendo arrepende-se da Arquitectura e regressa a Medicina, ao 2º ano, onde encontra o Álvaro, dado que eu já estava no 3º. Daí o facto de nunca termos sido colegas de ano: quando eu andava no 1º ano, estava ele no 2º; quando eu estava no 2º foi ele para Belas Artes; no ano seguinte passei para o 3º e ele regressou ao 2º; depois eu estacionei no 4º e 5º (cadeia, etc) e ele passou por mim; de modo que quando ele completou o 6º, acabei eu o 5º. Mas voltemos a 1953-1954. O Mendo regressa de Belas Artes mas não vem só: conheceu a Verónica, estudante de Pintura, que foi a mulher da sua vida. Valeu a pena a derivação! Por essa altura entre as prisões habituais pela Pide, destacou-se a de um casal muito conhecido na época palas suas actividades políticas e culturais, com um tom meio clandestino, pelo menos para os frequentadores do Palladium. Tratava-se da Manuela Delgado, estudante de Letras em Coimbra e do seu companheiro Mário Leão Ramos, que tinha sido meu colega no 1º ano, embora o nosso contacto tivesse sido superficial e que não era do Juvenil, pelo menos que eu soubesse. Por mim, jovem e ingénuo militante de base, pensava que se tratava de gente importante de mais na política para dar confiança a putos como nós. Outro acontecimento dessa época, foi a deserção da Medicina do Hermínio, que já todos considerávamos o nosso mentor ideológico e fazia a ligação da gente da Universidade com os outros sectores. Depois da experiência da Anatomia, achou que não tinha vocação para médico e que lhe interessavam muito mais as matérias da História, da Sociologia, da Economia, da Política, 39 o que era verdade. Era ele que nos introduzia nos textos marxistas ou marxizantes, quando a maioria de nós preferia os contistas ou romancistas, os poetas. Era a época do entusiasmo com os heterónimos de Pessoa, da Ode Marítima declamada em sessões de café, do cinema italiano do pós-guerra, tudo coisas que sentíamos não serem muito apreciadas nos documentos do Juvenil. Foi o Hermínio que me convenceu a ler, com o cuidado que não dediquei à Fisiologia, um nabo filosófico intragável, “Materialismo e Empiriocriticismo”, no qual Lenine desancava Plekanov, em nome do proletariado, não sabendo nós, na altura, que o mesmo Lenine ia despachando os seus proletários para o Goulag. Mas voltemos ao Hermínio, que resolveu frequentar como voluntário o Curso de Ciências Pedagógicas da Universidade de Coimbra (que durava um ano) e que lhe daria acesso à Faculdade de Economia, que era o curso que pretendia. Como voluntário, só ia a Coimbra fazer exames, continuando nas tertúlias do Palladium e Piolho, ao mesmo tempo que continuava tratamentos para consolidação da cura da sua tuberculose que o fizera passar mais de um ano no Sanatório das Penhas da Saúde. A 5 de Março de 1953, sucede um acontecimento de importância mundial, que iria provocar uma reviravolta nas nossas vidas futuras. Refiro-me à morte de Estaline, apresentada nos meios em que nos movíamos, fortemente influenciados pelo PC, como uma tragédia para a humanidade, a quem faltaria a partir de então a sombra “Benfazeja” do “Pai dos Povos”. Por mim, na época, sabia pouco mais que nada sobre a doutrina e nada sobre a prática do sistema soviético. Todavia, aos 20 anos, naquela época, imbuídos de preocupações sociais, alimentados pelos mitos saídos da Guerra Mundial, como sobretudo pelos factos que a partir de 1945 iam sendo conhecidos, como o holocausto e os massacres dos povos de leste, estávamos disponíveis para embarcar no dogma de cariz religioso, que era o mito do Estado Proletário. Os vinte ou trinta milhões de mortos soviéticos, as epopeias de Estalinegrado e da tomada de Berlim, a aura de perseguidos e quase santos com que nos eram descritos os militantes clandestinos, Cunhal sobretudo, faziam com que muitos de nós engolíssemos alegremente os Lyssenko, mas já não o realismo socialista, pelo menos nas artes plásticas. Já nessa altura um, de nós, o Mendo, começava a ser mais crítico. Também eu recordo as dúvidas com que fiquei ao ler as notícias sobre o “Complot das blusas brancas”, cujos membros condenados à morte, foram rapidamente ilibados logo que morreu o chefe, ao mesmo tempo que o Béria foi executado em dois tempos pelos seus ex-companheiros Malenkov e Molotov. 40 Mas mais do que essas dúvidas, surgidas após a morte de Estaline, a grande machadada no mito foi dada por Krutschev, no XX Congresso. A partir daí, da publicação do memorável Um dia na vida da vida de Ivan Denisovitch4 e sobretudo da Revolução húngara de 1956, as ilusões acabaram para a maior parte de todos nós, Recordo o choque que me provocaram as imagens publicadas no Paris Match, em que se viam grupos de funcionários e polícias comunistas a serem fuzilados por pelotões de operários de fato-macaco, traduzindo uma explosão de ódio, que só podia resultar de descompressão de uma opressão intolerável. Então de que lado estavam os operários? Mais clara foi a situação verificada em 1968, em Praga, nas revoltas da Polónia e da Alemanha, pois já então não havia dúvidas. No que me diz respeito, já há tempos que vinha a reunir literatura que, hoje, constitui a minha biblioteca de sobre o Comunismo (Sovietologia). Por essa altura, recordei também o affair Vitor Kravchenko e o processo que Aragon e as Lettres Françaises lhe levantaram, acusando-o de aldrabão, mas que ele ganhou em toda a linha. Afinal, pensava eu na altura, será que Kravechenko tinha mesmo razão? É de referir que, nessa época, hoje tão distante, éramos “educados” a ler os críticos autorizados mas a não cometer a inutilidade de pretender ler o original das aleivosias escritas por “agentes do imperialismo”. Por essas e por outras é que só muitos anos depois, já definitivamente divorciado da doutrina que informou anos da minha juventude, é que vim a ler o Je Choisi la Liberté5 e sobretudo o admirável livro de Koestler, “O Zero e o infinito”, que foi tão vilipendiado pelos agentes da Mafia comunista, e na minha opinião é um dos mais belos e comoventes livros escritos em nome dos valores da solidariedade e da humanidade. Durante o ano lectivo de 1952/1953, eu tinha como principal obrigação escolar prepararme para o exame de Fisiologia, cadeira atrasada do 2º ano, mas sem a qual não poderia fazer as do 4º. Como já disse atrás, preocupei-me mais com o Palladium e a política e isso resultou no chumbo. Mas lá iremos. Durante esse ano, o juvenil não parou. Foi em 1953 que o Hermínio nos falou noutra gente, jovens como nós, que procurava o associativismo, tendo organizado um grupo, designado por ABC Clube, que se preocupava com cultura e teatro, estando a preparar os ensaios de uma peça. O clube tinha alugado uma sala para sede, na rua do Bonfim, um rés-do-chão, onde fui encontrar uma jovem particularmente bonita, que era irmã do Hermínio e Presidente da Direcção. Lá conheci o Humberto Lima, agente técnico de engenharia (nome de então), que trabalhava na Efa-Acec, um colega 4 5 Novela de A. Soljynetsin, publicada em folhetins, na revista contestatária Novymir. Comprado por mim, nos anos sessenta, num alfarrabista das margens do Sena, em Paris. 41 dele, o Henrique Martins, a irmã deste, Judith, e o namorado, Gonçalves, que viriam a ser os meus grandes amigos para o resto da vida. Também lembro as irmãs Angelina e Conceição, grandes amigas da presidente Maria Luiza, o Adelino Ribeiro, baixinho e careca, estudante crónico do 1º ano de Arquitectura, filho do barbeiro com loja quase contígua ao clube. Na faculdade, iniciávamos os contactos com vista a criação de Associações de Estudantes, retomando o movimento do Congresso de 1950. Apareceram contactos com a Faculdade de Ciências, onde encontrei o meu colega de turma do Liceu, Fernando Melo, de Engenharia, com Octávio Lopes e a então namorada, depois esposa, Manuela Macário, ambos de Coimbra, mas estudando no Porto (ele, em Electrotecnia, ela, em Química). Na Medicina estavam o Manuel Canijo, o Pedro Pinho e Costa, o Henrique Ribeiro, o Abel Godinho, o Alfredo Calheiros, meu colega do liceu e entusiasta do teatro, e sobretudo, surgiu um grupo de alunos do Liceu D. Manuel II, que, associados ao professor Óscar Lopes, criaram um Jornal do Liceu chamado o Mensageiro. Eram o José Augusto Seabra, o Belmiro Guimarães e o Vitor Alegria. Com esta actividade toda não admira que no exame de Fisiologia, em Julho, eu e o Vitorino Santana, meu companheiro de estudo no Piolho, tivéssemos chumbado, enquanto o Martins Ferreira e o Vitor Blanc passaram, este mesmo com 17. Foi uma catástrofe, que me vi aflito para explicar aos meus pais em Barcelos. Agarrei-me às sebentas nas férias e em Outubro lá passei com 13 e fiz ainda Anatomia Topográfica com 11, a minha pior nota do curso. Em 1953-1954, fiquei com as restantes cadeiras do 3º ano, o que me deixou mais tempo para os bailes e passeios mais ou menos culturais do ABC, que entretanto preparava um espectáculo nos Fenianos com uma peça curta de Léon Chancerel, “Gota de Mel”, ensaiada por um comunista libertado da cadeia nesse ano de 1954, o Rolando Verdial. Dessas actividades resultou que fui reparando cada vez mais na bela presidente do ABC, sobretudo após um passeio de camioneta ao monte de La Salete, em Oliveira de Azemeis, em que descobri o amor, que acabou por ser o da minha vida, a Maria Luiza, irmã do Hermínio, e a quem vários arrastavam a asa, mas que se rendeu... aos meus encantos! Assim, já com namorada, acabei o 3º ano, em Julho de 1954, e entrei para o 4º em Outubro, início do ano chave do movimento associativo no Porto, que culminou em Fevereiro de 1955, com as nossas prisões em massa. 42 1954-1955: Anos de grandes acontecimentos Em Outubro de 1954, iniciei o 4º ano, sendo as duas disciplinas essenciais a Propedêutica Cirúrgica e a Propedêutica Médica. A primeira, de que era regente o grande Professor Joaquim Bastos, um dos terrores da escola, falando-se na famosa “Manobra de Murphy”, elemento importante da semiologia biliar, como causa de chumbos, em função dos humores do Mestre, no dia do exame. A segunda era ensinada pelo velho Professor Aureliano Pessegueiro, clínico da velha escola, com quem aprendíamos semiologia cardíaca, com tradução onomotopeica da auscultação cardíaca (ruf–tum-tá-tá era a estenose mitral, com rolamento presistólico e desdobramento do segundo ruído) e interpretação de ECG. As aulas eram todas no único e vetusto anfiteatro do HGSA, mas que tinha boa acústica, que permitia que, na última fila, se ouvisse bem a percussão com os dedos de lesão cavitária pulmonar em doente deitado junto à secretária do professor.Bons tempos de semiologia que o progresso tecnológico fez cair em desuso. Outras disciplinas eram a Anatomia Patológica (Prof. Amândio Tavares – o Reitor da Universidade – Doutor Daniel Serrão e o filho do mestre, Amândio Sampaio Tavares) e a Medicina Operatória (Prof. Sousa Pereira e os assistentes Aguiar e Lino Rodrigues). Entretanto, íamos fazendo proselitismo da pro-associação de estudantes, com reuniões de estudantes, dobradas por outras semiclandestinas dos militantes do Juvenil. Um dia, soubemos que o Centro Universitário da Mocidade Portuguesa (que as autoridades académicas pretendiam que era já associação de estudantes, pelo que não havia necessidade de outras associações6) iria proceder a eleições na sede, na Rua do Rosário ou Boa Nova. Resolvemos ir lá ver, eu, o Álvaro, o Canijo, e outros que não recordo. Fomos recebidos numa sala onde na mesa ao centro havia uma urna de votação, estando presentes os docentes que dirigiam o Centro (os dirigentes não eram estudantes, mas professores!), entrando atrás de nós o nosso colega de ano, Carlos Santos da Cunha, filho do presidente da Câmara de Braga e figura grada do regime, e ele próprio dirigente da MP. Os professores em causa eram Abel Tavares, de Anatomia, e o jovem Daniel Serrão, de Anatomia Patológica, tido como membro da Opus Dei, e ambos conhecidos como salazaristas radicais. Perguntaram ao que íamos. Íamos assistir à eleição “democrática” de representantes dos estudantes, conforme publicitado nas escolas e, como a eleição acabava às 5 horas, e já só faltavam poucos minutos, assistimos à entrada na urna do voto do Santos 6 Esta informação está num ópusculo editado pelo professor Daniel Serrão, em 1951, do Centro Universitário. 43 da Cunha e ficamos à espera da abertura da urna, dado que nos tinha sido dito que tinham aparecido poucos eleitores (talvez 12 ou 20, ou parecido). Foi difícil convencê-los a deixarnos assistir, mas não tiveram outro remédio e abriram a urna onde estavam aparentemente algumas dezenas de votos! Consideramo-nos elucidados e saímos. Mais tarde, no julgamento, encontramos depoimento no Processo, do Doutor Serrão, que relata esse episódio como prova do nosso espírito subversivo, citando os nossos nomes como presentes e até o do Hermínio, que já não era estudante no Porto, mas em Pedagógicas em Coimbra. Em 1953, houve grandes manifestações em Lisboa, em particular em Belas Artes, em resultado das quais o governo decretou algumas expulsões da Escola ou mesmo de todas as Escolas. Foi assim que, em 1954, aterram no Porto dois expulsos de Lisboa, o estudante de arquitectura Raul Hestnes Ferreira, filho do poeta José Gomes Ferreira e, actualmente, prestigiado arquitecto em Lisboa, e o estudante de Pintura Tomás de Figueiredo (Tomás Xavier Pereira de Castro de Azevedo Cardoso de Figueiredo, de seu nome completo) filho do escritor Tomás de Figueiredo. Foram reforços de qualidade: o Raul esteve preso connosco e entrou no processo, o Tomás, mais radical e extremista, aderiu ao PC, passou à clandestinidade, foi preso e cumpriu mais de dez anos de prisão, Morreu há uns anos, tendo casado com a Maria Cecília Alves, ex-mulher do Pedro Ramos de Almeida. Nesse inverno de 1954, em que já dispunhamos de alguma penetração em várias escolas, as Associações de Estudantes de Lisboa pretenderam comemorar o Dia do Estudante, ideia que tinha sido lançada em 1950 aquando do tal Congresso (Júlio Neto), numa reunião das três academias, pelo Hermínio, em nome do Porto, para a data de 25 de Novembro. Neste ano de 1954 (Outubro?), foi assim organizada a terceira reunião das 3 Academias, em Lisboa, com vários dias de reuniões formais nas Faculdades, tendo os organizadores convidado um representante do Ministro como observador. Do Porto, os delegados foram: eu, pela Comissão Provisória (CAP) de Medicina, a Maria do Sameiro Souto, estudante de Pintura, pela pró-associação de Belas Artes, e dois representantes da única associação legal do Porto, a de Farmácia, ambos de capa e batina, cujos nomes não recordo. Fomos de comboio, sendo recebidos no Rossio por um delegado da Associação de Direito, o Vasco Vieira de Almeida, que nos alojou numa pensão S. Mamede, próxima da Faculdade de Ciências, onde seria a sessão de abertura. 44 Na dita sessão, aparece o delegado do Ministro, que era um estudante, dirigente da MP, que se sentava num lugar à parte e que começou logo a interferir, impedindo o presidente da Associação de Medicina, Rui de Carvalho, de participar, pois a associação estava suspensa por um problema político que já não recordo. Houve burburinho, o Rui convocou uma reunião dos presidentes e, perante a cedência que fizeram para tentar prosseguir, acabou a vomitar, de raiva e foi embora. Entre os dirigentes presentes, recordo Lopes Cardoso (António Poppe) de Agronomia, Nuno Portas, de Belas-Artes, Myre Dores, Rui Oliveira e Marques da Silva, do Técnico, Carlos Veiga Pereira, de Ciências, etc. É claro que, nos dias seguintes, o delegado do Ministro, sentindo o terreno mais seguro, foi proibindo mais coisas até que não sobrou nada. Lembro-me de ter regressado ao Porto sem saber explicar o que resultara da reunião! Logo após esta reunião, o MUD Juvenil programou una reunião clandestina de representantes das três Direcções universitárias com um elemento da Comissão Central para análise da situação. A reunião realizou-se em casa dos pais do Pedro Pinho e Costa, abastados industriais de S. João da Madeira, vivenda luxuosa no meio de um jardim, ao abrigo de olhares indiscretos. O membro da Comissão Central era o Hermínio e os delegados do Porto, eu e o José Moreira. Fomos conduzidos à reunião, no Austin A40, novo, do meu futuro sogro, conduzido pela Maria Luiza, então minha namorada e irmã do Hermínio. Por outra via, chegaram os dois de Coimbra, ambos estudantes de Medicina, o Abel Estêvão Saraiva Caldeira, que viria a exercer na Régua e o Carlos Leça da Veiga, que foi terminar o curso em Lisboa, tendo papel importante no PREC do H. Sta Maria, nas hostes da UDP ou do PRPBR, não sei bem, que vim a encontrar nessa época no Movimento do Secretariado Nacional dos Hospitais, animado pelo saudoso Rui Araújo, administrador do H. de Aveiro, e de que eu, delegado do HGSA, fui um dos dinamizadores. De Lisboa, estava só o Rui de Oliveira, que eu conhecia como delegado do Técnico. Já não sei o que se resolveu, mas o facto é que meses depois a Pide, durante a nossa prisão, tendo arrancado ao Moreira a informação, me moeu para que eu assinasse um auto preparado com a descrição exacta da reunião, ao que felizmente resisti e não assinei. Ainda hoje não entendo qual a preocupação da polícia em me arrancar confirmação do que conhecia em pormenor. O facto é que o Pedro nunca foi preso; seria por isso? 45 Nesse Inverno, o alargamento da organização no Porto, fez com que fosse destacado um controlador profissional para o norte, vivendo em semi-clandestinidade, provavelmente tirocinando para funcionário do PC e que vivia numa casa alugada num local discreto da Maia. Nessa casa da Maia conheci, numa reunião com os responsáveis do sector estudantil, o novo permanente local da Comissão Central (assim era apresentado, pelo menos), Pedro Ramos de Almeida, estudante da Faculdade de Direito de Lisboa e sua mulher, Maria Cecília Ferreira Alves, estudante de Belas Artes (Pintura) e também membro da Comissão Central do Juvenil. Nesse Inverno, 1954-1955, lembro agora uma reunião em Gaia, em Valadares ou Lavadores, muito conspirativa, só recordando que o principal elemento era o Ângelo Veloso, que, presumo, estava na clandestinidade, que me pediu para trocar a camisa que tinha vestida pela minha, pois não tinha outra nem possibilidade de lavar a que usava. Lá troquei a camisa e vime enrascado para explicar, na casa onde vivia, como é que durante o dia apareci com uma camisa sebenta! Já não recordo o motivo da reunião mas presumo que nessa época de repressão endurecida já deveria haver confusões entre PC e MUD juvenil, em vias de clandestinização. No Verão de 1954, e mesmo já no Outono, o ABC organizou várias confraternizações e passeios mais ou menos culturais, de que recordo um ao parque de La Salette, em que reparei na Maria Luiza e surgiu o clique que nos fez trocar olhares que resultaram no namoro, como era convencionado mesmo entre estudantes progressistas. Outro foi ao Monte de S. Caetano, em Gondomar, outro a Santa Rita nos Carvalhos, etc. Participaram nesses passeios, de que há documentos fotográficos, ou seguintes estudantes ou equiparados: Seabra, Alegria, Belmiro Guimarães, Luiz Fidalgo, da Escola Raul Dória, Hélder Veiga Pires, estudante de Economia em simultâneo com serviço militar, Engenheiros técnicos Humberto Lima, Henrique Martins, Fernando Ferreira Pereira, o Abílio, estudante crónico do 1º ano de Economia, e um colega que se formou mesmo e acabou por ser preso e entrar num processo dois ou três anos depois do nosso (Abel Ferreira da Costa), o Adelino de Belas Artes, onde estudavam também o Teixeira Lopes, o Joaquim Brito, o Julião, o Mário Teixeira, o Heitor Bessa, já arquitecto, o Jorge Baptista, o Moreira. De Medicina, recordo o Serafim Aguiar, um dos reús do futuro julgamento, que viria a ser médico dermatologista, etc. Havia também empregados ou operários, entre os quais o Artur Oliveira, cuja prisão desencadeou todo o processo, o Fernando Fernandes, empregado na Livraria Aviz, o Graciano, que viria a casar com a Maria, a irmã mais velha 46 do futuro grande pintor de Paris Eduardo Luís. Entre as raparigas, além da Maria Luiza e, por vezes, da prima alentejana Besica, havia a Júlia Capitão, namorada do Fernando Pereira, as irmâs Angelina e Conceição, a Judith, namorada do Gonçalves e irmã do Henrique Martins e do Adriano e vários outros. Entretanto, na Faculdade, íamos conseguindo difíceis autorizações do Director Garrett, também destacado partidário do regime. A mesa da Assembleia era presidida pelo meu colega de curso, Óscar Candeias, sendo o Canijo o vice-presidente. Eu e o Álvaro éramos os oradores mais destacados, assim como o Vitor Blanc e, por vezes, o Mendo. Os nossos opositores mais destacados eram filiados na Mocidade Portuguesa. De entre eles, recordo um filho de um refugiado italiano, Ítalo Rivera, o futuro professor de Cirurgia Vascular, António Braga, um futuro estomatologista, Campos Neves, e outros. Já próximo do Natal, houve uma concorrida e tempestuosa Assembleia, no Anfiteatro de Fisiologia no R/C da Faculdade, presidida pelo Candeias, que em certa altura encerrou intempestivamente a Assembleia, perante o pasmo do Vice Canijo, e saiu a correr da Faculdade no meio duma vaia geral. Não sei qual a razão, mas a verdade é que o Candeias se transferiu para Lisboa onde acabou o curso. Nos dias seguintes surgem as férias do Natal, em Janeiro preparávamos a retoma, mas logo no princípio de Fevereiro, começa a vaga de prisões. A prisão Tudo começou nos últimos dias de Janeiro (24), com a prisão, em Gaia, de um membro do Juvenil que pintava inscrições nas paredes a favor da paz, creio. Tratava-se do Artur Oliveira, ajudante de motorista, já com 30 anos, mas pertencendo ao sector operário do Juvenil. Na época, havia relativa estancicidade dos sectores estudantil e operário, pelo menos a nível das bases, de modo que nós, estudantes, não conhecíamos a gente do sector operário, a não ser um ou outro, que entrasse nas actividades comuns. Tal sucedia ao nível do ABC Clube, cujos sócios eram na maioria estudantes ou equiparados mas também havia de outras origens, em particular nas festas ou passeios. Já atrás foi dito que este Artur Oliveira participou em passeios, pelo menos. Parecia um pobre rapaz, muito tímido e sem instrução suficiente para se sentir à vontade entre estudantes universitários. A demagogia, actualmente ainda notada em muitas organizações políticas, fazia com que consignas da Comissão Central fizessem cooptar mulheres ou operários para organismos 47 dirigentes. Foi por isso que eu próprio, como membro da Direcção Universitária, pretendi impor, à Comissão de escola de engenharia, a Manuela Macário como responsável da mesma, quando ela própria e o Octávio, colega e namorado, entendiam que deveria ser ele, com o que estavam de acordo os outros membros. Em Janeiro, tinha havido, em Lisboa, uma reunião alargada da Comissão Central e para representar o Porto na parte “alargada” foram cooptados pela direcção nacional uma operária têxtil de 18 anos, Cândida de seu nome, e um operário, Artur Oliveira. Passados dias, por evidente falha política, um participante numa reunião nacional de alto nível, é destacado para pintar paredes, actividade sempre exposta e sujeita a repressão fácil. O Artur foi preso a 24 de Janeiro e após alguns dias de tortura (que deveria ter sido dura, habitual nos operários) denunciou os membros que conheceu da Comissão Central, na reunião de Lisboa, os companheiros do Juvenil, com quem tinha contactos há anos no Porto e em Gaia, nomeadamente Humberto Lima, Pedro Ramos de Almeida, a quem fez uma mudança de residência na Maia e, em especial, o seu provável contacto directo, em vários encontros que mantinha no Porto e em Gaia, José Moreira, e de passagem, os amigos que conheceu no ABC clube, alguns elementos de ambos os sexos, que militavam no sector operário do Juvenil como ele e, por arrasto, outros que eram activistas do Movimento da Paz, que era apenas uma extensão das actividades do Juvenil e do MND. Calculo que das declarações do Artur resultaram a maioria dos nomes dos futuros réus do julgamento, pois foi o primeiro a ser preso e conhecia muita gente de sectores diferentes, o que, na gíria dos movimentos, era uma falha conspirativa de todo o tamanho. Depois, o segundo preso de que tivemos conhecimento no próprio dia da prisão (3 ou 4 de Fevereiro) foi o Moreira, que conhecia toda a organização estudantil e também muita gente de sectores de trabalhadores, no Porto e mesmo nas outras cidades, como sucedia com o José Augusto Seabra, activo militante do Liceu, que foi estudar Direito para Coimbra, onde frequentava o 1º ano quando foi preso, ou com os representantes que tinham participado na reunião nacional em casa do Pinho e Costa. Ficámos todos apreensivos mas confiávamos que o Moreira se aguentasse, caso contrário não escapava ninguém, pelo menos nas Escolas do Porto. Em 6 de Fevereiro, à noite, passeando na Alameda de Massarelos com o Hermínio, que morava no início da Restauração, enquanto esperava o eléctrico 1, que na Praça me daria a correspondência com o 12 para Campanhã, concluimos que, se nos dias seguintes, algum 48 de nós fosse preso, tal deveria implicar que o Moreira estava a falar, pois o Artur conhecianos de vista, mas não sabia que éramos dos mais responsáveis no sector. No dia seguinte, 7 de Fevereiro, soubemos, eu e o Álvaro pelo menos, que tinham sido presos em casa, cerca do meio-dia, o Hermínio e a irmã, Maria Luiza, minha namorada. Entretanto, tomei a precaução elementar de limpar o meu quarto de documentos que não deveriam cair nas mãos da Pide. Ajudou-me nisso o meu amigo Martins Ferreira, que me escondeu os materiais que lhe passei. Foi evidentemente um choque, não só afectivo (em especial para mim) como por ter o significado iniludível de que os próximos seríamos, provavelmente, nós. Passamos pela Faculdade às vozes, não soubemos nada e tratamos de nos raspar pois seria provável que a Pide nos quisesse apanhar lá. Andámos todo o dia, o Álvaro e eu, a deambular pela cidade, procurando informações que não obtinhamos, e acabámos abancados num tasco manhoso da Rua do Campo Lindo, às 10 da noite. Resolvemos ir a casa estudar o meio, mudar de roupa e... depois? Lá nos despedimos, cheguei a casa dos meus primos, em Campanhã, por sinal a menos de 1000 metros da sede da Pide, tentei inventar uma desculpa esfarrapada para ir de madrugada participar numa excursão (Fevereiro, frio, talvez chuva!), mudei de roupa e decidi ir dormir 2 ou 3 horas, pois estava esgotado. A verdade é que acordei bruscamente, cerca das 7 da manhã de 9 de Fevereiro de 1955, com o Chefe de Brigada Pinto Soares e o agente Trindade Roque, um de cada lado da cama, e percebi que lá chegara o momento que há muito admitíamos como possível, mas ao qual, de facto, talvez esperássemos escapar. Vesti- me em dois tempos, não me deixaram sequer lavar a cara, pois não deviam querer arriscar a ida ao fundo do corredor, tudo enquanto eles e mais um agente que já não recordo, passavam busca aos meus parcos haveres; é claro que documentos comprometedores já há dias haviam sido postos a recato. Despedi-me das minhas primas chorosas, pedi para avisarem os meus pais e descemos as escadas. À porta da drogaria, ainda fechada (ainda não eram 8 horas) tive a honra de ter à minha espera uma lustrosa limousine com motorista da Pide. Sentaram-me no banco de trás ladeado pelo Pinto Soares e pelo Roque, com o outro sentado ao lado do condutor. E foi assim, como personagem importante, que entrei no portão da Pide, do lado da Rua do Heroísmo, junto às oficinas de automóveis J. J. Gonçalves (Austin, na época), estacionando no pátio interior, donde fui levado à “Recepção”. 49 Na altura, não me impressionei com o tipo de transporte (carro e brigada de 4 agentes), pois pensava que era assim para todos, Só quando, muito mais tarde, já em liberdade, soube que o Hermínio e a Maria Luiza foram presos ao meio-dia, numa rua de movimento, por 2 agentes apenas e foram transportados de eléctrico (?!) até à sede da Pide, o que implicava transbordo, no centro da cidade, é que fiquei perplexo com a importância que me queriam (?) dar! Até hoje não sei porque seria eu considerado tão perigoso que justificasse os meios empregados e a hora matutina (logo ao nascer do sol). A “recepção” era num piso acima, o mesmo da entrada principal, do lado do cemitério. Identificação, impressões digitais, tirar a gravata, cinto e atacadores (o mais desagradável era a falta de cinto que fazia as calças cairem). Muito mais tarde, ao assistir ao admirável filme de Costa Gavras, baseado na obra de Artur London, L’Aveu, recordei esses momentos, ao ver a situação vivida pelo personagem, membro do grupo de condenados à morte, que ria às gargalhadas, quando os camaradas o viam a segurar nas calças, a caminho da execução. Apesar de tudo, situação muito mais trágica, como de resto o fascismo soviético o era em relação ao paroquiano fascismo salazarista. Passado esse episódio burocrático, a primeira pergunta à qual se seguia a resposta aprendida, “sou aderente do MUD juvenil e não presto mais declarações”. Nessa altura era fácil, o pior viria depois! Fui logo para os calabouços subterrâneos, calhando-me a cela da esquina da rua do Heroismo com o Largo do cemitério, que tinha duas gateiras junto ao tecto, que abriam para o passeio, de modo que lá de baixo se viam as pernas dos transeuntes e também as do polícia quando fora da guarita. Meses antes, o Hernani Silva, preso crónico, do costume, chamou por mim quando lá passava a caminho de Campanhâ. Decidi estar atento pois o Martins Ferreira, meu colega daquele percurso, poderia lá passar. E, de facto, assim sucedeu e ele deveria ter apanhado um susto, quando das entranhas da terra, ouviu o meu “Então Quim, tudo bem?”. Só ao fim de 3 ou 4 dias, senti presença de alguém na cela contígua. As pancadas na parede, primeiro, e depois recados verbais ou mesmo bilhetes, que conseguimos transmitir, com dificuldade embora, permitiram-me saber que o meu vizinho era o Raul Ferreira, de Belas Artes; por ele soube que tinha havido uma vaga de prisões, que os irmãos Teixeira Lopes, o Lima, e outros, assim como vários do sector operário, estavam já a gancho. Era já indiscutível que o Artur e o Moreira tinham falado. Durante cerca de três semanas, não me ligaram, nunca tendo sido chamado para interrogatório. 50 Continuava no calabouço, que tinha como mobiliário um catre de madeira encostado à parede (todas as paredes eram de cimento), com uma manta castanha grossa como da tropa, imunda, uma mesa de madeira com cerca de 70x40 cm, um banco e o balde de zinco para as necessidades. A gateira/janela tinha cerca de 80x20 cm, grades e vidro só em parte. É claro que, no frio de Fevereiro, não era agradável. Como os meus primos, onde eu estava hospedado, moravam ao fundo da Rua do Heroismo, no início do Freixo, os meus pais, que me vinham visitar uma vez por semana, pediram autorização para me ser enviada comida por eles, o que foi concedido, pelo que só nos dois ou três primeiros dias comi o menu da prisão. O Raul esteve na cela vizinha durante quase três semanas. Foi chamado para interrogatório duas ou três vezes, durante pouco tempo, e não sucedeu nada de sério, só ficando a saber que estavam dentro vários colegas da Escola. Mas, ao fim desse período, foi de novo levado e chega algumas horas depois a fazer uma gritaria seguramente para que todas as celas ouvissem, a dizer “estes filhos da puta estão a dar-me porrada”, e coisas do género. No meio do restolho, em que reconheci vozes de guardas e agentes da Pide, foi levado à força e eu fiquei de novo só e a pensar que as coisas estavam a aquecer. Mas voltemos à prisão, em 1955, nas celas da Rua do Heroismo, onde o Raul experimentara um dos tratamentos especiais prodigalizados pela Pide. No mesmo dia, ou no seguinte, senti novo hóspede na cela vazia. Era o Jorge Baptista, estudante de arquitectura na ESBA, mas de Leiria, a quem todos chamavam o “Baptistinha”, apesar do tamanho e compleição, que era tido como adepto do espiritismo, que arranjou maneira de me passar um bilhete, já não sei como, mas de que recordo os dizeres que decorei para sempre: “Não sei se crês em Deus ou não; eu creio, e quem crê em Deus não tem medo; só não quero que me arreiem!” Poucos dias depois (um ou dois), os meus pais, na visita, disseram que iriam estar duas semanas sem vir, por impedimentos da sua vida, e logo nesse dia vieram-me finalmente buscar para interrogatório. É óbvio que a Pide aproveitou a ingenuidade para me tratarem da saúde sem testemunhas nem desculpas. O interrogatório era nos gabinetes do último andar do edifício, dispostos em volta do saguão central e com a clarabóia no centro. Logo de início, percebi que estava tramado e os colegas também. Descrevem-me em pormenor, o essencial da organização na universidade, com os nomes de quase todos a sairem às prestações e a história, de que não valia a pena negar nem recusar falar, pois só 51 se tratava de confirmar o que outros já tinham dito. É claro que eu já conhecia a música, ou pensava que conhecia! Perante a situação, com o chefe Pinto Soares a arengar e dois pides ao lado, reparei que estava de pé e que não havia cadeira. Pensei logo que estava a começar a famosa “Estátua”. Depois da resposta sacramental “ sou aderente do Mud juvenil e não presto mais declarações”, pedi uma cadeira. Os tipos riram-se e disseram: fica a olhar para as perguntas afixadas na parede até responder. Nessa altura respondi: se não me dão cadeira, sento-me no chão. Um deles disse: Pois seja, fique aí que se há-de cansar. Era ao fim da tarde e vi os tipos a combinarem a escala da estátua, que só mais tarde vim a aprender que era a depois generalizada tortura do sono. O chefe de brigada, Pinto Soares, era uma figura repelente, baixo, gordo, ensebado, com a barba por fazer, com sapatos cambados, usando de insultos e ameaças permanentes, que aparecia uma ou duas vezes por dia, a saber como me estava a aguentar. Os pides da escala encarregada de mim eram quatro, que faziam turnos de quatro ou seis horas, dos quais dois desempenhavam a rábula do polícia bom (um deles era o agente Sabino e o outro não recordo), dois o polícia mau e sádico (o Trindade Roque, que me fora prender e outro que também já não recordo). Fiquei na tortura do sono cinco dias e cinco noites. Lembro bastante bem os três primeiros dias, enrolado no chão de madeira, com luzes de focos a incidir na face, ou próximo, com piadas e insultos (os “maus”), conselhos e promessas (os “bons”) e depois os requintes, todos no sentido de desfazer o equilíbrio nervoso. Alguns exemplos: para impedir o sono, barulho de rádio que por vezes encostavam ao ouvido, passeios na sala com tacões de sola a baterem nas imediações da cabeça quando a pousava no chão, quando cansado de estar no chão (ele há-de cansar-se de estar no chão e vai encostar-se à parede, dizia o Pinto Soares e tinha razão). Nessas alturas, o truque era deixar o preso cair no sono e atirar um objecto à cabeça (o mais comum era o tanque mata-borrão) ou bater bruscamente com uma régua de madeira no tampo da mesa. Ambos os ruídos provocavam uma terrível sensação de explosão dentro da cabeça. Outro requinte era, na noite fria de Março, ligar o aquecimento (convector) no máximo, enquanto o agente em mangas de camisa bebia cerveja e saía de vez em quando para refrescar. Quando eu ficava a transpirar (tinha vestida uma camisola de lã de gola alta e o casaco normal por cima), desligavam o convector, abriam a porta e a janela ao frio da madrugada, vestiam o sobretudo e cachecol e tomavam café fumegante. É claro que eu tiritava, secando a roupa suada no corpo, cheio de sono e frio; durante o período do aquecimento não me atrevia a tirar o casaco, pois sabia que se o fizesse ficaria sem ele e de manhã o frio era pior. É claro que nunca me deixaram mudar de 52 roupa, fazer a barba, lavar os dentes. Podia ir à sanita, ali ao lado, sempre sob vigilância directa do agente e nos turnos dos “bons” deixavam-me, por vezes, lavar as mãos ou enxaguar a cara. Tenho consciência que nos primeiros três dias e noites pensei que aguentaria, mas depois fiquei num estado meio onírico, não sabendo bem onde estava, nem as horas ou se era dia ou noite e sentia, nos períodos bem despertos que tinha, que nos outros tentavam sentar-me à mesa, com lápis na mão e papel na frente. Quando recuperava da sensação alucinatórioonírica afastava o papel e a mesa, voltava para o chão enquanto os tipos iam desfiando confissões ou pseudo-confissões de outros e, de facto, a sucessão de coisas reais com outras que eram de certeza ratoeiras, provocava desmoralização. Sem querer desculpar-me, a verdade é que não me lembro de como começou a minha cedência, ao fim de cinco noites, só me recordo que as declarações que assinei me foram ditadas, sugeridas, ou atribuidas a outros que eu sabia que tinham conhecimento dos factos, mas admito que me tenham apanhado em ratoeiras e tenha dito mais do que no essencial tinha sido já dito, em regra prelo Moreira. Creio que a minha quebra foi obra do agente ”bom” Sabino, que me lembro estar presente e solícito a recolher as minhas (ou não) declarações. Também nessa altura é que soube a extensão da razia, quando me eram lidas ou ditas “confissões” de pessoas que estavam presas. De resto, tinha a noção de que naqueles dias, no 3º piso, os outros gabinetes estavam todos com clientes. Só quando recuperei outra vez a lucidez, saindo do tal estado quase crepuscular, tive noção do que fora levado a fazer e recusei continuar a dizer ou assinar o que quer que fosse. Pedi para fazer queixa ao director, os tipos riram-se e o amável Sabino conduziu-me à enfermaria dos calabouços, tendo eu hoje a noção de que estava arrasado, mal me segurando nas pernas e ainda com o peso de ter claudicado, após cinco dias de tortura do sono. No caminho para a enfermaria, que era uma cela como as outras, só com paredes caiadas, recordo-me de ver o Pedro Ramos de Almeida, a falar com um guarda à porta da cela mais escura e interior, insolitamente vestido com um elegante roupão verde7. Na enfermaria, caí na cama e dormi não sei quantas horas. Mas não deviam ter sido muitas, pois vieram-me buscar de novo (pensei que a festa iria recomeçar), para me levar ao médico, o famoso Dr. Ulisses. Quando entrei, com o guarda, o tipo pergunta-me: “então há 7 Por documentos extraidos do processo soube, mais tarde, que o período de “estátua”, a que venho a referir-me, se iniciou na tarde de 26/2 (fui preso a 9/2) e terminou na manhã de 3/3, quando me levaram para a enfermaria. 53 quanto tempo trabalha para o Partido?” - Desculpe, eu pensava que vinha ao médico e afinal é outro interrogatório? Resposta: não se ofenda, eu só perguntei porque afinal tratase de um quase colega. Está enganado, eu não serei nunca seu colega. E quero voltar à enfermaria. É claro que não me deixaram escrever, mas no dia seguinte transferiram-me para um “quarto” no rés-chão com janela com vidro totalmente fosco, que dava para um pátio interior de recreio, Continuei isolado, mas ouvia as vozes dos passeantes, que muitas vezes eram o Prof. Ruy Luis Gomes e o Arq. Lobão Vital. Passados dois dias, transferiram-me de novo para um “quarto” do 1º andar, que tinha janela gradeada que dava para o átrio de entrada, por onde eu próprio entrara de carro, mais de um mês antes. Nesses dias, a minha principal preocupação era localizar a Maria Luiza, conseguir saber dela e pedir ajuda exterior, para procurar limitar os estragos que já tinha provocado, e impedir outros. No passeio, no pátio, isolado, mas com ouvidos com a acuidade que só a prisão e o isolamento dão, percebi que no “quarto” onde eu tinha estado, passaram, depois, o Seabra e o Rui Oliveira. Entretanto, descobri que a Maria Luiza estava isolada num quarto no andar de cima do meu, reconhecendo eu os seus passos, sobretudo quando descia a escada para o WC, no piso do meu quarto. Foi uma felicidade, pois descobrimos, quase simultaneamente, o paradeiro um do outro. Correndo alguns riscos, e com muita sorte, consegui passar-lhe, por baixo da porta, um papel em letra minúscula com a descrição em pormenor das declarações que me fizeram assinar, tanto quanto me recordava. Lembrava-me que me fizeram confessar, que era verdade que eu, o Moreira e creio que o Álvaro, éramos filiados no PC, o que além de falso era absurdo, mas o que pretendiam era chegar ao Hermínio, que consideravam o nosso “controleiro”. A Maria Luiza, apesar do desgosto de saber da minha fraqueza, tanto mais que ela própria resistira, ajudou-me muito, através de um sistema de correspondência que inventamos e mantivemos, enquanto foi possível. Por outro lado, conseguiu contactar os vizinhos de cela Ruy Luis Gomes e Lobão Vital, que estavam a ser julgados no Plenário (o célebre Processo do MND) e que me arranjaram um advogado, o Dr. Eduardo Ralha. Fortalecido com estes apoios, parti para nova série de interrogatórios. Desde o fim da estátua, oito ou dez dias antes, que me recusara a prestar mais qualquer declaração ou a assinar qualquer auto. Insisti sempre em escrever e depois falar pessoalmente com o Director para negar as declarações que me atribuiam e denunciar os métodos usados para 54 as extorquir. Nos novos interrogatórios, sempre de dia, e usando os polícias “bons” sobretudo o Sabino, para acolitar o Pinto Soares, nunca mais disse nada, recordando-me que insistiam muito na tal reunião em casa do Pinho e Costa, de que, como disse antes, sabiam tudo pelo Moreira. Mesmo assim não assinei nada e tanto protestei e ameacei com o advogado, que me levaram ao gabinete do Inspector Diogo Alves que suponho, na época, era o sub-director. O gabinete era enorme e parecia-me luxuoso, como imaginava o de um ministro. Atrás da secretária, um personagem sinistro com ar patibular, muito moreno, com olhar exoftálmico, o famoso Diogo Alves. É claro que me chamou mentiroso, que na Pide nunca se torturou ninguém, que essas eram patranhas comunistas e que eu pretendia responsabilizar a polícia pelas declarações que fizera “de livre e espontânea vontade” (nunca mais esqueci a frase); de resto, que testemunhas apresentava eu? Os agentes que me interrogaram teriam todos sido chamados e disseram-lhe que eu fora sempre tratado com respeito e deferência e só assinei o que quis. De resto, eu próprio, há vários dias, que me recusava a assinar autos e não me queixava de que por isso fosse maltratado. Ele achava que eu estava apenas a cumprir ordens do partido, o que era pena, pois a policia até estava a pensar em libertar-me e assim seria mais difícil! Revoltado com o cinismo e totalmente incapaz de responder naquele terreno, só disse, tanto quanto recordo, que só sairia quando todos os meus colegas e amigos saíssem também. Lá recolhi à cela, onde fiquei sempre em isolamento, até ao fim de Julho, quando fomos pronunciados e libertados, os que o foram, no mesmo dia. Na altura destes acontecimentos, corria, se não erro, o mês de Março ou Abril de 1955. Entretanto, com a ajuda da Maria Luiza e indirecta dos dois companheiros do MND, fui recuperando ânimo e confiança. Queria anular o que tinha feito, mas os acontecimentos que descrevi deixavam-me impotente. Ia dando conta à Maria Luiza da minha vontade de me redimir, até que ela me transmite o conselho dos vizinhos sábios e que consistia em escrever uma carta ao Director queixando-me do que me tinha sido feito e negando as declarações assinadas. Assim fiz e, em 15/6/1955, escrevi uma carta ao Director (ou sub-director, já não recordo), explicando, desta vez por escrito, o que se passara e pedindo para anular as declarações que me atribuiam. É claro que, nem o Director, nem o Diogo Alves me receberam, mas valeu a pena, porque a carta foi junta ao processo. Fui de novo chamado para interrogatório e como exigi que as minhas queixas ficassem escritas no auto, o agente recusou e eu recusei- 55 me a assinar o dito auto. Nunca mais, que me recorde, fui chamado até ser libertado em fim de Julho, quase seis meses depois de ter sido preso. A saída da prisão e a organização da defesa Lamentavelmente, esqueci a data precisa da libertação, mas foi num fim de manhã quente de Verão (Julho-Agosto). A primeira coisa que fiz, quando saí do portão da rua do Heroismo, mas agora a pé, com a trouxa na mão, foi correr para Campanhã, para a casa onde morava, telefonar para Barcelos, aos meus pais, e, sobretudo, telefonar para casa da Maria Luiza. Combinámos encontrar-nos, logo que possível, na Rua da Restauração, que ela subiria e eu desceria, a partir do Largo do Viriato. Assim foi, tomei o 12 e, na praça, um dos do Carmo ou Foz (5, 18 ou 2?), desci no Viriato e fui encontrar a Maria Luiza, com a amiga São, no muro da rua, à direita de quem sobe, por cima do Bairro Inês, donde se disfruta uma vista única do Douro. Eram 3 ou 4h da tarde, se bem me lembro, e caímos nos braços um do outro. Só nessa altura soube que o Hermínio estava internado no Sanatório de Gaia e não tinha sido libertado sob fiança, como nós. Também só então soube da extensão total do desastre: sete membros da Comissão Central, presos sem caução a aguardar julgamento e depois dezenas de jovens, de muitos dos quais ouvi, nessa altura, falar pela primeira vez. Outra constatação é que muitos de nós tínham claudicado perante a tortura, o que não me desculpava, por não ter sido o único, tanto mais que soube que alguns, como o Hermínio, por exemplo, tinham sofrido mais do que eu (o Hermínio tinha sido sujeito a sete dias de estátua) e não cederam. Também me fui apercebendo da extensão do descalabro provocado pelas declarações do Artur e do Moreira, sobretudo deste último, que pelo que se sabia deu os nomes de todos ou quase todos os que conhecia, logo nos primeiros dias, o que teria feito com que tivesse sido libertado ao fim de poucas semanas. Alguns, com muito menos responsabilidades, não falaram, embora os processos usados com os mais comprometidos tivessem sido muito mais violentos. Foram detidos dezenas de jovens e adultos, pois a reboque do Juvenil, foram apanhados nas redes militantes do “Movimento da Paz”, de resto só teoricamente independente do Juvenil, do MND ou mesmo do PC. Muitos, sobretudo os primeiros a serem apanhados, cumpriram quase na totalidade os seis meses de prisão preventiva, como eu e a Maria Luiza, mas alguns dos menos responsáveis, 56 como os aderentes recentes das Escolas, foram sendo presos ao longo dos meses, entre Fevereiro e Agosto, passando alguns, poucos dias ou semanas na cadeia. Entre estes, estava o Mendo, cuja visão crítica em relação ao juvenil e sobretudo às suas referências ideológicas (já atrás disse que foi talvez ele o primeiro a contestar as conotações marxisantes) o tinha vindo a afastar, de modo que, na época das prisões, já estava auto-afastado. Isso não impediu que, uma vez preso, se assumisse como aderente do Juvenil e, como tal, se recusasse a prestar declarações. A Pide não entendia a sua posição, pois muitos dos outros deram conta do seu afastamento, enquanto ele não só não negava pertencer ao Juvenil (o que era bem próximo da verdade) como se afirmava aderente. Ao fim de umas semanas, tiveram mesmo que o libertar, mas ficou para muitos de nós o exemplo de honestidade, coragem e solidariedade, que aliás marcou muito da sua vida futura, tanto no plano pessoal como cívico. Entre os não jovens, soubemos que estavam o Óscar Lopes e o Orlando Juncal e dos responsáveis do Juvenil, tinham ficado na prisão sete, sem admissão de caução, todos acusados de pertencer à Comissão Central. Eram estes sete, o casal Pedro Ramos de Almeida – Maria Cecília (estudantes de Direito e Belas Artes- pintura, em Lisboa), o Hermínio Marvão, meu futuro cunhado (que depois das pedagógicas entrara para o 1º ano da Faculdade de Economia do Porto), o Hernâni Silva (empregado de escritório no Porto), o Ângelo Veloso, ex-estudante de Economia em Lisboa (na altura com profissão declarada de delegado de propaganda médica), o António Agostinho Neto, estudante de Medicina em Lisboa, angolano, futuro dirigente do MPLA e presidente da República de Angola. Por último, o António Borges Coelho, apanhado na clandestinidade, pouco antes de Julho e acrescentado ao processo por ter sido denunciado como membro da Comissão Central (na altura era empregado de escritório, depois de 7 ou 8 anos de prisão formou-se em Letras, foi professor da Faculdade de Letras de Lisboa, depois do 25 de Abril, e é um historiador eminente). A Pide organizou um processo no qual incluiu 51 arguidos, os 7 dirigentes foram mantidos presos sem caução e os restantes 44 ficavam em liberdade todos caucionados, suponho com 1000 contos cada. Alguns foram despronunciados, como o Belmiro Guimarães, colega do Seabra e do Alegria, no jornal “O Mensageiro” e o terceiro dos irmãos Teixeira Lopes, João, estudante liceal, suponho que menor de 18 anos. 57 Entre toda esta gente, tinha havido comportamentos diversos perante a polícia, embora a maioria dos 44 tivesse cedido em prestar ou aceitar como boas, declarações, após graus diversos de resistência. No entanto, houve dois réus cujo comportamento foi lamentável, pois além de não terem resistido à pressão, disseram tudo quanto sabiam e nem no julgamento se retrataram. Foram eles o já citado Moreira, de Belas Artes e um estudante de Medicina, aderente de última hora, que parecia fazer gala de denunciar os colegas, passando poucos dias na prisão. Felizmente, não causou prejuizos como o Moreira, pois este dissera antes quase tudo que havia para dizer e este pouco mais fez do que confirmar o que a polícia já sabia. Importa dizer que os sete dirigentes se assumiram todos como tal e nenhum prestou quaisquer declarações à polícia. Entretanto, o grande problema surgido naqueles meses e de que eu só tive conhecimento depois de libertado, foi o grande movimento nacional e internacional em nosso favor e sobretudo do Hermínio, cuja saúde (tuberculose em tratamento, antes da prisão) levantou protestos tais que a Pide foi “obrigada” a mantê-lo internado sob prisão no Sanatório D. Manuel II, em Gaia, até ao julgamento, o que sem dúvida foi importante para a sua saúde ameaçada e tornou mais suportável a prisão. O retomar da vida escolar Saído da cadeia no início do verão, aproveitei para retomar a relação com a Maria Luiza sendo de afirmar agora, passados todos estes anos, como foi importante o nosso amor para a minha reintegração humana e psicológica. Depois do falhanço no meu comportamento na polícia, perdi muito da autoconfiança que antes tinha e de que tanto necessitava naquela fase da vida. A Maria Luiza entendeu e ajudou-me muito a superar a situação. Sem ela não sei se teria sido capaz de lutar e de manter o combate que eu sabia que marcaria o resto da minha vida, como cidadão e como profissional. Sobretudo precisava de demonstrar que um falhanço como o que tinha sofrido, não significava incapacidade de proceder melhor, e que não seria legítimo ficar marcado por uma fraqueza aos 21 anos, que eu queria reparar. Felizmente, os meus amigos, incluindo o próprio Hermínio, compreenderam o meu estado de espírito e ajudaram-me, com a colaboração preciosa da Maria Luísa, a recuperar a autoestima. Entre os meus amigos, quero sublinhar a importância da ajuda do Mendo e da Verónica (com quem casara logo após a saída da prisão). 58 Também foi vital a ajuda dos meus amigos para além do Juvenil, a Judith e o António Joaquim, o Henrique Martins, o Manuel Mendes e a Graciette, depois a Virgínia Moura e o Lobão Vital, que tantas vezes nos convidaram para casa (residiam nessa altura na Rua Almirante Leote do Rego, à Constituição), o meu advogado, convidado pelo Prof. Rui Gomes no julgamento do MND, Dr. Eduardo Ralha, pai da que viria a ser, mais de 40 anos depois, uma das minhas melhores amigas, a Elisa Ralha. Nesse Verão, íamos para a praia da Boa Nova, de eléctrico, em regra com outro casal de namorados, o Manuel Mendes, meu colega da Faculdade, mais velho e personalidade muito complicada, mas generoso e amigo dos seus amigos, que veio a ser psiquiatra em Braga, e a namorada, Graciette, engenheira química, colega na faculdade da Manuela Macário. Entretanto, tratei de me reinscrever no 4º ano da Faculdade de Medicina, pois perdera o ano por faltas durante quase seis meses de prisão. Reencontrei novos colegas que não conhecia, pois os meus amigos do curso de 1950 iriam iniciar, em Outubro de 1955, o 6º ano e eu o 4º. Nesse curso de 1955, encontrei um colega de turma, o Luís Guilherme Guimarães de Sousa Fernandes, o “cenoura”, pois era ruivo, filho de um médico de Famalicão, que foi o meu fiel companheiro de estudo no Piolho, juntamente com o “Castrinho”, o José de Castro Pereira, um tanto boémio e irregular nas sessões de estudo. O Luís, que não tinha nada a ver com ideologias, de esquerda ou direita, nunca se preocupou com o meu cadastro e foi um leal e fiel companheiro. Eu estava interessado em retomar o curso o mais rapidamente possível, pois esperava julgamento e o meu futuro era uma incógnita. O Luís era um aluno médio, mas aplicado e trabalhador, pelo que foi fácil mantermos um ritmo que o Castrinho nem sempre acompanhava, de modo a fazermos as cadeiras todas em Julho, com notas à volta dos 14 ou 15. Lembro-me do terror do exame de Propedêutica Cirúrgica, já referido atrás, e da qualidade das aulas do Prof. Bastos. Apesar do terror, correu-nos bem o exame e eu tirei 14 e a mesma nota a Ortopedia, O Ferraz Júnior pegou no curso de Propedêutica Médica, a meio do ano, por morte súbita do Prof. Aureliano Pessegueiro. Das outras cadeiras, lembro-me pouco. O importante é que cheguei a Julho de 1956 e passei para o 5º ano. No intervalo entre Agosto de 1955 e Julho de 1956, tive sempre uma actividade paralela às duas “principais”, estudar e namorar, que era a preparação do julgamento. Deduzida a acusação pela polícia, a fase seguinte era a de “Instrução contraditória”. Era necessário 59 reunir com os nossos advogados, em conjunto ou individualmente, fazer frequentes reuniões de réus para acertar estratégias, preparar a contestação a escrever pelo advogado, arranjar testemunhas, ir falar com elas e convencê-las a aceitar, o que ocupava muito tempo, sobretudo as noites. De dia, era preciso ir às aulas, estudar no Piolho ou outros cafés, proceder a diligências processuais, ir à secretaria do Tribunal, aos escritórios de advogados, etc. O que valia é que eu e a Maria Luiza fazíamos juntos todas essas diligências do processo, o que juntava duas das actividades: tribunal e namorar! Nunca deixámos de ir ao cinema ou ao teatro, a concertos e exposições, e sempre mantivemos as tertúlias de café, agora, já não no Palladium, mas sobretudo no Ceuta, na Primus e no Flórida. Enquanto nós nos desdobrávamos, no Porto, para dar conta de todas aquelas actividades, continuavam a chegar ecos de acções além-fronteiras, a nosso favor, sobretudo em França, com discursos, abaixo-assinados, protestos de intelectuais, etc. Para além da acção das organizações da oposição e, em especial, do PC, houve uma acção militante fantástica duma mulher, conhecida nos meios da oposição emigrada como Maria de Portugal, que mobilizou intelectuais, juristas, jornalistas, em França e noutros países, de tal modo que no dia 1/10/1955 foi fotografada na Praça de Tien En Men, em Pequim, na tribuna onde Mao presidia às comemorações dos seis anos da tomada de poder. Tratava-se da namorada do Hermínio, Maria Amélia Alçada Padez, que residia em Lisboa, e moveu céu e terra para forçar o governo português a retirá-lo da prisão e interná-lo no sanatório. O processo Devo agora registar algumas recordações, avivadas pelos documentos de que disponho, sobre os 52 réus, intérpretes do Julgamento – escândalo que marcou uma época da contestação ao regime. Já falei nos sete membros da Comissão Central (réus presos a aguardar julgamento) e que se vieram a destacar, mais tarde, em diversas áreas. De facto, já disse que António Borges Coelho, militante comunista, que cumpriu cerca de dez anos de prisão, veio a ser um eminente historiador e professor, especialista em História da Inquisição. Agostinho Neto, licenciou-se em Medicina em Lisboa, regressou a Angola, para vir a ser dirigente do MPLA, sofreu exílios e deportações durante a Guerra colonial e foi o primeiro Presidente da República de Angola, cargo que desempenhava à data da morte, no fim da 60 década de 1970. Hermínio Marvão licenciou-se em Economia em Lisboa (ISCEF), foi alto funcionário da Shell e, após o 25 de Abril, foi Presidente da Soponata, Companhia de navios-tanques, actualmente reformado, há vários anos. Ângelo Veloso foi sempre militante e dirigente do PC, passou muitos anos na prisão (libertado no 25 de Abril), foi um dos dirigentes de topo do Comité Central e candidato à presidência da República. Pedro Ramos de Almeida licenciou-se em Direito, foi dirigente do PC na emigração, em França e na Argélia, nos anos 60 e 70, separou-se da Maria Cecília, pouco depois de terem cumprido quase quatro anos de prisão. Maria Cecília frequentou pintura na ESBAL e casou, anos depois, como já referi atrás, com um militante, também pintor, e preso pela Pide, durante dez anos, Tomás de Figueiredo. Finalmente, Hernani Silva continuou empregado de escritório e abnegado militante comunista até morrer, já no fim do século XX, E agora os outros: Como já foi dito, houve dois réus que, com a sua colaboração fácil e total (não digo voluntária) com a Pide, permitiram um golpe mortal no MUD Juvenil e na acção oposicionista, para não falar no movimento associativo estudantil: Artur Oliveira e José Moreira. O 1º, ajudante de motorista; o 2º, estudante de arquitectura. Referi mais um estudante de Medicina, com comportamento lamentável mas que, pela sua pequena responsabilidade, poucos estragos provocou. Dos restantes 42, não recordo um bom número, que nunca mais encontrei depois do julgamento. Felizmente, eu próprio e o meu co-réu, hoje arquitecto Joaquim Brito, tivemos, na época, a ideia de editar uma “plaquete” desdobrável com as fotos, idades e profissões na altura da prisão, assim como os nomes dos advogados intervenientes. Foi assim possível reconstituir o banco dos acusados, na véspera da abertura da Instrução contraditória, que foi publicado no meu livro, editado em 2011, Fragmentos de uma Biografia Cívica. Dos 52, o maior grupo era o dos estudantes de Medicina do Porto, que eram dez. Destes já faleceram quatro: Álvaro Teixeira Lopes, cardiologista, que já várias vezes descrevi como um dos meus mais antigos amigos, profissional da medicina até ao fim da vida, sofreu segundo enfarte que o vitimou. Outro que nos deixou foi António Falcão de Freitas, brilhante Professor da FMP, reformou-se perto dos 70 anos, já muito doente, e faleceu no início deste século, deixando viúva a Gabriela. Esta, nossa colega do curso 61 de 1950, obstetra no HGSA até à reforma, frequentava o Liceu Rainha Santa, no mesmo ano que eu, entrando ambos e o futuro marido para a Faculdade em 1950. Quando os rapazes do Alexandre Herculano se vinham postar no passeio em frente ao Rainha Santa, na rua Barros Lima, a Gabriela era por nós conhecida como “a simpática” e era objecto de paixão platónica por parte do meu colega, já citado, Rui Monteiro (Rui Carolina). Outras colegas desse ano eram a Verónica, hoje Mendo, reformada do ensino, mas pintora de formação, é actualmente uma especialista em jóias e outras artes do metal e das pedras semipreciosas, com sucessivas exposições de sucesso. Também recordo as minhas colegas de Medicina, Beatriz Malafaia e Assunção, que era minha vizinha em Campanhã e nunca mais vi desde que terminou o curso. Mas deixemos esta incursão em flashback, e voltemos aos réus. Outro que nos deixou, mais cedo, aos 60 anos, em 1989, foi o Manuel Canijo. Alentejano, filho de médico, o Dr. Ulisses Canijo que sendo de Armamar, se fixou em Aljustrel, quando casou com uma sobrinha de Brito Camacho. O filho mais velho, Manuel, foi afilhado de um dos mais ilustres naturais de Beja, o Dr. Corino de Andrade. Foi pela sua mão que, chegada a altura de frequentar medicina, veio formar-se no Porto. Foi ele o grande responsável por atrair ao Serviço de Neurologia, alguns dos melhores da sua geração e que com ele já se tinham distinguido na política, na procura de cultura e no combate à mediocridade. O Manuel Canijo foi o fundador do Serviço e da especialidade de Neurofisiologia, no HGSA e no País, tendo o serviço de que foi o primeiro Director, sido o primeiro em Portugal. Homem de grande cultura, superiormente inteligente, interessava-se pela poesia e pela filosofia, disciplinas em que publicou livros ou ensaios, foi deputado à Assembleia Constituinte em 1975, mas, infelizmente, morreu novo, com apenas 60 anos. A sua influência foi marcante na entrada para o serviço do patrão Corino, de muitos de nós, como eu, o Mendo, o Leão Ramos, o Pedro Pinho e Costa, mesmo o Calheiros. Indirectamente, também Serafim Paranhos, Martins da Silva, António Guimarães, todos trazidos para o serviço por Pinho e Costa, sofreram atracção pelo prestígio do mestre Corino. O seu filho mais velho, João Canijo, tem vindo a afirmar-se como um dos melhores valores da nova geração de cineastas portugueses. O mais recente falecido foi o Alfredo Calheiros, também neurocirurgião no meu serviço do HGSA, que nos deixou em finais de 2011. 62 Restam seis. Abel Godinho, que veio a ser cardiologista, em Ovar, e Leopoldo Morais, psiquiatra, em Lisboa. O Vitor Faria Blanc, que foi um dos mais brilhantes anestesistas da sua geração e que se exilou em Marrocos, em 1962, quando estava a começar a guerra colonial, onde fundou o serviço de Neurocirurgia de Rabat, com Leão Ramos e Paulo Mendo, e nunca mais regressou a Portugal, tendo-se fixado há mais de trinta anos, em Montreal, no Canadá, estando actualmente reformado. Visitou Portugal e o HGSA duas ou três vezes após o 25 de Abril. Os dois restantes eram Serafim Aguiar, dermatologista, actualmente reformado e Paulo Mendo, fundador da Neuroradiologia em Portugal, que foi Director do HGSA, do ICBAS, Secretário de estado da saúde, por duas vezes, Ministro da Saúde, deputado, conferencista e publicista. O último, sou eu próprio. Da Escola de Belas Artes (ESBAP), então dirigida por um grande Mestre, Arq. Carlos Ramos, que não tinha nada a ver com a prisão pela PIDE dos seus alunos, contra o que aliás protestou, havia seis réus, todos alunos de arquitectura. Para além do citado José Moreira, que acabou por morrer cedo, parece que depois de acabar o curso, os restantes fizeram carreira como profissionais, mas dois destacaram-se como dos melhores arquitectos portugueses contemporâneos, o Raul Hestnes Ferreira, que vive em Lisboa e nunca mais encontrei, desde o julgamento, e o Alcino Soutinho, no Porto. Do Porto havia mais cinco estudantes: Hermínio Marvão, de Economia, Manuela Macário, de Engenharia, Fernando Melo, que tinha sido meu colega no liceu e de que nunca mais soube nada. A Manuela viveu sempre em Coimbra. Engenheira e professora, casou e 20 anos depois divorciou-se do Octávio Lopes, colega do Juvenil que não foi preso, que foi engenheiro chefe dos HUC. Devo deixar aqui dois pequenos registos da minha memória: o primeiro é o que identifica a Manuela como companheira de cela da Maria Luiza, durante dois meses na Pide do Porto, o segundo foi a amizade profunda que havia entre nós, namorados sem dinheiro e aquele casal amigo que havia juntado os trapos e vivia na Rua do Paraíso, enquanto acabavam o curso. Muitas vezes, eu e a Maria Luiza nos aboletávamos lá em casa, onde a mãe dela, uma boa e pachorrenta senhora, nos tratava como se também fóssemos filhos. Dos liceus, vinham o Luis Fidalgo e o Helder Veiga Pires, ambos já falecidos, ambos precocemente. De Coimbra (1º ano de Direito) vinha o José Augusto Seabra, que veio a ser o meu mais próximo companheiro de prisão, que se distinguiu como poeta, crítico e linguista, exilado em Paris, Argel e Moscovo durante muitos anos. Seabra, que na altura da sua prisão, em 63 Coimbra, havia sido barbaramente chicoteado pelo Inspector Sachetti, foi um dos três condenados (eu e o Álvaro T. Lopes éramos os restantes) a cumprir pena após o julgamento. Depois do 25 de Abril, para além de actividade como Professor de Literatura nas Universidades do Porto e Nanterre, foi Ministro da Educação e diplomata, tendo sido Embaixador na Unesco, Nova Deli, Bucareste e Buenos Aires. Faleceu em Paris, onde residia habitualmente, em 2004. Os outros dois eram Silas Cerqueira, militante “pacifista” profissional, e Fernando Bernardes, que passou a militante comunista clandestino e que, após o julgamento, foi novamente preso e condenado a vários anos de prisão, tendo publicado vários livros de poemas, desde então. Da Universidade de Lisboa, havia o Pedro Ramos de Almeida (Direito) já falado, a Maria Cecília da ESBAL, a Clara Gonçalves, também aluna de Pintura da ESBAL, mulher do Rui de Oliveira, estudante do Técnico. Na Faculdade de Medicina de Lisboa, estudavam Agostinho Neto e Antónia Lapa, mulher de Silas Cerqueira. Destes todos, e tendo já dito algo sobre o Pedro, Neto, Maria Cecília, só me resta deixar registado que Rui Oliveira se fixou no Porto onde completou o curso de Engenharia Civil, divorciou-se da Clara e fez carreira profissional no prestigiado gabinete de engenharia de Jorge Delgado e Santos Soares. Quatro dos cinco operários eram do Porto, sendo o quinto Diniz Miranda, operário agrícola do Alentejo (Montoito), que foi espancado e torturado, durante a prisão. Enquanto aguardava julgamento em liberdade, mandou vir a mulher e duas filhas, pois teria que viver no Porto, pelo menos até ao fim do julgamento. Eram muito pobres e todos tivemos de ajudar. A maior ajuda veio de um operário pobre como ele, o Proença, alfaiate na rua de S. Vitor, militante comunista “legal” e um dos presos “do costume”, como Hernani Silva. O Diniz foi morar para casa alugada em S. Vitor, perto do amigo Proença, a mulher, Ilídia, fazia trabalhos domésticos (em casa de meus sogros, além de outros) e lá se aguentaram até regressarem à terra, em 1957/1958. O livro que publiquei em 2011, Fragmentos de uma Biografia Cívica, inclui um capítulo dedicado à caracetrização social dos reús do processo. O Comércio da Póvoa, teve importância para nós, do Juvenil, pois conseguimos dirigir uma página literária, para o que nos reuníamos, durante o verão de 1954, no café dos baixos do Palácio Hotel, a programar a página. Eu estava em casa da minha avó e dava uns 64 saltos ao Porto, de combóio, para ver a Maria Luiza. No café, a tertúlia era composta pelo Eugénio Lapa Carneiro, director da página, que estudava Biologia na Faculdade de Ciências e no ano seguinte, após terminar o curso, foi ensinar nos liceus das redondezas, por exemplo, em Barcelos. Era também um dos activistas da SEN, no Porto e do TEP, na altura a acabar de encenar, no Sá da Bandeira, sob a batuta de António Pedro, o espectáculo memorável de A Morte do Caixeiro-Viajante de A. Miller, que lançou como actores, João Guedes e Dalila Rocha. A SEN acabava também de editar o segundo romance de Soeiro Pereira Gomes (Engrenagem), e ainda editou mais uns textos, até que mais tarde, talvez ainda nos anos 50, acabou fechada pela Pide. Voltando ao jornal, os colaboradores que se juntavam na Póvoa eram o Alfredo Calheiros, que aspirava a ser poeta surrealista (?), por sua vez assíduo frequentador de outras tertúlias do Porto, como a Primus, Rialto, o TEP onde desempenhou pequenos papéis, sendo um dos grandes amigos do João Maia e da sua mulher Orquídea. João Maia era jornalista do Comércio do Porto e homem forte do TEP. O Zé Maria Couto e um irmão, de que não recordo o nome, vinham de Vila do Conde. Também lá aparecia o Alberto Lindolfo, outro dos réus do julgamento, afirmando-se piloto de avião em inactividade. No Jornal, para “despistar” a censura, usávamos pseudóminos, como José Dias de Oliveira, com o qual eu assinei um artigo sobre um livro de Fernando Luso Soares, ou Vilhena de Sottomayor que o Hermínio usou para um texto de divulgação marxizante, em que “Carlos Marques” (Marx) e “Frederico dos Anjos” (Engels) eram abundantemente citados. Os espaços vazios, por falta de material ou corte da censura, eram preenchidos com poemas de Pessoa, em regra Álvaro de Campos. O Lindolfo passou apagado no processo, mas veio mais tarde a ser funcionário clandestino do PC, foi preso, denunciou toda a organização e acabou vítima de tentativa de assassinato a tiro. Nunca mais depois se ouviu falar dele. Também nunca mais soube do Júlio Rebelo, que só conheci no processo. Residente em Leiria havia outro empregado de escritório, o Joaquim Bandeira, que eu não conhecia antes mas que veio a deixar fama em Penamacor, por onde passou um ano antes de mim. Finalmente, o Alcino Soutinho, que de estudante ascendera a arquitecto, e que veio a ser um dos mais brilhantes profissionais no Porto e no país nas últimas décadas do século XX; o Humberto Lima, toda a vida um grande amigo, licenciou-se depois em Engenharia, na Faculdade, reformou-se da Efa-Acec, exerceu profissão liberal e é meu compadre, pois sou padrinho de seu filho Rui. 65 Entre os mais velhos, havia Óscar Lopes, do movimento da Paz, que na velhice acabou membro do Comité Central do PC. Óscar Lopes, que se afirmou como ensaista e historiador da literatura, foi depois do 25 de Abril nomeado Professor da Faculdade de Letras do Porto e Presidente do seu Conselho Directivo. Nos anos 60, teve uma polémica no Diário de Lisboa, com o exilado e seu antigo aluno no Liceu D. Manuel II, José Augusto Seabra. Este, que passara mais de um ano na União Soviética, de cujo regime policial teve que fugir em condições dramáticas, rebatia os elogios ao sistema soviético feitos por Óscar Lopes que regressava de uma visita de duas semanas organizada por organizações paracomunistas europeias ou francesas. É claro que Seabra tinha razão, como Gorbatchev e a Queda do Muro demonstraram em 1989. Apesar de tudo, não foi suficiente para convencer Óscar Lopes da falência do mito. Além de Óscar Lopes, fazia parte do grupo de réus menos jovens, Orlando Juncal, advogado, homem do TEP e da Primus, ex-militante comunista, antigo preso da PIDE, que militava no sucedâneo Movimento da Paz. Era um homem inteligente, senhor de um sentido de ironia especial, sempre céptico, e que, na minha opinião, fingia acreditar nos mitos da esquerda comunizante, para não ter que ficar isolado. Recordo o seu humor, no 28 de Setembro de 1974, dia da intentona (ou inventona) spinolista, quando à entrada do assesso à Ponte da Arrábida, do lado do Porto, o encontrámos, de pé, armado com uma enorme tranca de madeira: “Estou aqui a combater a reacção”, que de certeza se assustaria com aquele barrote! E ria e gozava os activistas que revistavam as malas dos carros, enquanto ele contava piadas aos amigos. Mas voltemos ao Processo, agora em fase de Instrução Contraditória. Os advogados prepararam as contestações, arranjámos testemunhas, muitas das quais iriam depor sobre as questões políticas e não sobre os acusados. Nós, os acusados, fomos todos ouvidos pelo Juiz, no gabinete, e expusemos toda a gama de torturas e arbitrariedades sofridas. Também as testemunhas residentes no Porto foram ouvidas pelo Juiz enquanto as de fora foram ouvidas por carta precatória. A minha lista de testemunhas incluia os meus amigos Paulo Mendo, aliás também réu, Alexandre Miranda, da Faculdade, o Julião Azevedo, estudante de arquitectura e companheiro do Palladium e Majestic, João Carlos Teixeira Lopes, irmão mais novo do Álvaro, o arquitecto Lobão Vital, que se tornara nosso amigo, um advogado oposicionista de Barcelos e meu amigo, Dr. Martinho de Faria, o Dr. Vitor de Sá, de 66 Braga, que também ficou nosso amigo, o Dr. José Morgado, dirigente do MND, e os desconhecidos para mim, Dr. Lopes de Oliveira, de Oliveira de Azeméis, um advogado de Coimbra, Dr. Albano Cunha e um Dr. Conceição e Silva, de Beja. A instrução contraditória durou todo o resto do ano 1955 e também os primeiros meses de 1956. O casamento Entretanto, eu e a Maria Luiza concluímos que, para garantirmos assistência no caso de eu ser condenado, necessitávamos de estar casados. Como também queríamos viver juntos, convencemos a família a apoiar a nossa vontade e a ajudar a resolver o problema da nossa insolvência financeira. Os meus pais continuavam a mandar-me a mesada de 800$00 e o meu sogro que, sendo responsável técnico da Fábrica de Moagem da Restauração, residia em habitação anexa, cedeu-nos uma área no sotão, onde instalámos um quarto de dormir, pequena sala de estar e minisanitário. As duas famílias financiaram a parca mobília e, em 30 de Setembro de 1956, casámos. O casamento teve que ser na Igreja de Cedofeita, embora nós não tivéssemos religião. A minha sogra, católica, teria profundo desgosto se assim não fosse e como estaríamos viver em casa dela, não pareceu justo afrontá-la e, assim, aceitámos o casamento religioso. Depois de um almoço num restaurante da Rua de Santo Ildefonso, com a família e alguns amigos (Henrique Martins, Lima, Gonçalves e Judith, etc) fomos ver o Hermínio ao Sanatório D. Manuel II, onde permanecia sob prisão, e partimos de comboio para uma curta e modesta lua-de-mel de três dias em Braga, no Bom Jesus, seguidos de mais dois dias em Barcelos, em casa de meus pais. Estávamos assim preparados para vivermos em total comunhão com o que estivesse para vir, pois o julgamento iria começar em Novembro. Em Outubro, iniciei o 5º ano do curso, estudando em casa e também no café com o Sousa Fernandes. 67 FOTOS – CAPÍTULO II 1956. Praia da Boa Nova. Maria Luiza e Graciete. Confraternização dos alunos da turma da 4ª classe, da Escola Gonçalo Pereira. Com o colega Machado, motorista de camião TIR e organizador da reunião. Anos sessenta. Confraternização dos alunos da turma da 4ª classe, da Escola Gonçalo Pereira. Anos sessenta. 68 1954 ou 1955. Virgínia Moura e Lobão Vital, 1956. Graciete e Maria Luiza. 1955. Maria Luiza, pinhal da Boa Nova, 1955. 69 Casamento, em 30 de Setembro de 1956. Lua-de-mel em Barcelos. Luís e Luiza. Anos cinquenta. 70 CAPÍTULO III – O JULGAMENTO E CONSEQUÊNCIAS O Julgamento Em 15 de Novembro de 1956 começou o julgamento. Foi um acontecimento, com grande movimento na Rua Formosa, onde se situava o Tribunal Plenário, com réus, familiares, amigos, curiosos e a polícia atrapalhada para controlar a situação.8 A sala ficava quase cheia com os 52 réus, em bancos ou cadeiras como plateia de cinema, sobrando pouco mais de vinte lugares, a maioria ocupados por agentes da Pide, de modo que quase não havia público ou familiares a assistir. Os três Juizes e o Procurador ocupavam os lugares e, na teia, em frente dos acusados, acotovelavam-se os mais de vinte advogados de toga. Fomos ouvidos todos os acusados, repetindo as acusações de maus tratos já denunciados na Instrução Contraditótia. As testemunhas de defesa desfilavam às dezenas, políticos da oposição, como Mário Soares, escritores como Ferreira de Castro, personalidades de todos os quadrantes ideológicos ou sociais. Um dos casos mais impressionantes foi o do Dr. Francisco Sousa Tavares, que com o seu vozeirão escandalizou o Juiz presidente Vieira de Castro, ao afirmar que era monárquico. Outro foi o desfile de estudantes negros, testemunhas de Agostinho Neto. Um deles, chamado Espírito Santo, afirmou que regressara há pouco dum Festival na comunista Varsóvia e não tinha sido acusado de ilegalidade. O presidente insistia que não era possível, o que se tornou mais que ridículo. O julgamento prosseguiu durante meses e só uma vez se realizou uma sessão nocturna, mas o aparato foi tanto, com uma unidade da GNR na rua e multidões a quererem assistir, que nunca mais repetiram a experiência. A meio do julgamento chegou a notícia de que dois presos na Pide se teriam suicidado na prisão, com uma semana de intervalo. Foi uma bronca, fizemos todos, réus e advogados, de pé, um minuto de silêncio, em pleno Tribunal, com o Juiz a gritar e a ameaçar mandar todos para a cadeia. Um dos mortos era de Fafe e muitos de nós fomos ao funeral, com a vila pejada de Pides, que não evitaram uma grande manifestação de protesto. 8 Esta situação foi desenvolvida no meu livro anterior, permitindo ter ideia do escândalo contínuo provocado na cidade, sobretudo na área circundante do Tribunal. 71 Também, por várias vezes, vieram ao Porto advogados ou representante de organizações internacionais para pressionar o Tribunal e alertar a opinião pública, apesar da censura cortar toda a notícia na imprensa.9 O julgamento prosseguiu até à sentença, em Julho, que transitou em julgado já no fim do mês, de modo a que o início do cumprimento das penas se processasse em Agosto. Foram condenados a dois anos de prisão maior e medidas de segurança os cinco membros da Comissâo Central (Pedro, Cecília, Hermínio, Ângelo Veloso, Hernâni), o Borges Coelho a sete anos e medidas de segurança, o Agostinho Neto a 18 meses, pelo que saiu em liberdade, tendo já cumprido mais tempo em prisão preventiva, enquanto os outros continuavam presos, pois na prisão maior só descontava metade da prisão cumprida, e ainda havia as medidas de segurança, que a Pide geria arbitrariamente. De todos os restantes, só foram condenados, eu e o Álvaro Teixeira Lopes com doze meses e o José Augusto Seabra com dez meses de prisão correccional, sendo descontados os quase seis meses de prisão preventiva sofridos. Em 31 de Julho, eu e o Seabra apresentamo-nos no Tribunal para cumprir os meses restantes (seis para mim e quatro para o Seabra), pois o Álvaro, que já estava na tropa em Penamacor, desde Abril, foi cumprir os seus seis meses na cadeia civil de Penamacor! A Maria Luiza, grávida de quase oito meses, levou-nos à cadeia, no DKW do pai! Devo agora referir que, durante o período em que se desenrolou o julgamento, frequentei o 5º ano de Medicina, assistindo a todas as aulas, excepto quando havia sessões do Tribunal, fiz todos os exames, com 16 valores em quase todas as cadeiras. O meu colega Nuno Portela, referindo-se a mim e ao meu companheiro de estudo no Piolho, Luís Sousa Fernandes, dizia que eu era o Luís XVI e ele o Luís XV, de acordo com a nota habitual nos exames do 5º ano. Devo referir, nesta altura, um facto que traduzia o carácter dum Professor, o Prof. Fernando Magano, que regia Patologia Cirúrgica. No fim de Julho, tendo já sido condenado, esperava ir para a prisão no dia 31, data em que a sentença transitava em julgado. Entretanto, faltava-me o último exame para completar o 5º ano, o de Patologia Cirúrgica, que só chegaria a mim nos primeiros dias de Agosto. Fui assim solicitar ao Prof. Magano que me deixasse antecipar o exame para 30 de Julho, pois no dia seguinte iria para a prisão. Não só autorizou logo, como no dia do exame oral me fez 9 Acontecimentos já referidos e desenvolvidos no meu livro anterior, “Fragmentos de uma Biografia Cívica”. 72 um elogio público, dando-me o habitual 16, permitindo-me assim completar o ano escolar. Um tempo em que todos tinham medo da Pide, é de registar a coragem de um mestre, que contrasta com a que tomou, um ano depois outro professor, como veremos. O cumprimento da pena - Penciche No dia 31 de Agosto, a Maria Luiza, conduziu-nos, no DCW do pai, a mim, ao Seabra e a um oficial de diligências do Tribunal Plenário, à Cadeia Civil do Porto, na Cordoaria, onde nos despedimos, sentindo eu o coração apertado por deixar a minha mulher e um filho por nascer, indo pagar na cadeia o ter desejado ser cidadão, num país inapropriado para tal. O oficial entregou-nos a um funcionário atarantado, pois nunca tinha sucedido serem enviados presos políticos para aquela prisão. Assistimos a correrias, telefonemas, confusão, sentados e gozando o espectáculo, numa pequena sala de espera à entrada da secretaria, até que, após cerca de duas horas de diligências, resolvem mandar-nos de carro celular para a Cadeia de Santa Cruz do Bispo. Sabíamos que nessa prisão estavam os membros do MND (cujo julgamento se iniciaria em Outubro), Prof. Rui Luís Gomes, arquitecto Lobão Vital e o Dr. José Morgado. Lá chegámos, ao fim da tarde, onde nos atribuíram celas individuais relativamente confortáveis. Era uma prisão recentemente construída, portanto moderna e ainda impecável, destinada a presos comuns) e cujas portas só se fechavam à noite, pelo que podíamos conviver durante todo o dia, com espaço ao ar livre e com sol. Pensavamos que se ali ficássemos, o tempo passaria depressa e sem chatices. A verdade é que a PIDE não era para tais benemerências e, cerca de três ou quatro dias depois, fomos metidos num carro celular conduzido pelo Chefe dos Guardas, que aproveitou o meio de transporte do Estado, para levar a família (mulher e dois filhos pequenos), assim como a tralha de colchões e panelas, para férias na praia de S. Pedro de Muel. Os quatro seguiam no banco da frente, enquanto no de trás seguia eu, o Seabra e um agente da Pide, armado com um pistolão, encarregado de nos guardar (!). A viagem decorreu sem incidentes, mas próximo de Leiria, parámos numa bomba da Shell, situada na Estrada Nacional 1 que atravessava o Pinhal. Autorizaram-nos a ir urinar contra os pinheiros, embora sob a vigilância apertada do agente, que mantinha a pistola na mão, com medo que fôssemos fugir! Nós bem dizíamos que nos tínhamos ido apresentar voluntariamente à prisão, pelo que não tinha sentido ir agora fugir, mas o homem é que não ia nessa! 73 Cerca do meio-dia, abriu-se o portão do Forte de Peniche, situado no extremo da ponte que cobria o fosso circundante da muralha, e eis-nos no interior da Fortaleza-Prisão, a mítica Peniche, por onde gerações de presos políticos tinham passado. Ao cruzar o pátio interior vimos, pelas grades do carro celular, um grupo de presos entre ao quais o Seabra pensou reconhecer o também mítico Álvaro Cunhal. Fomos entregues ao chefe dos guardas, que, após nos ler os regulamentos, nos mandou conduzir à sala prisão. Ao abrir a porta gradeada, vimos o nosso companheiro de sala, um senhor idoso, aparentando uns 60 ou 70 anos, que se apresentou como David de Carvalho, jornalista, a cumprir pena de dois anos aplicada pelo Plenário de Lisboa. O amigo David, assim lhe ficámos a chamar, uma vez que o respeito devido à sua idade não nos autorizava a tratá-lo por tu, nem por David. Foi ideia do Seabra usar aquele tipo de tratamento, que mantivemos sempre. O amigo David era um antigo jornalista do jornal anarquista “A Batalha”, convertido ao comunismo, de que era pelo menos “compagnon de route”. Era um bom homem e contava longas e interessantes histórias sobre as revoluções e conspirações anarco-sindicalistas, sobre as lutas no tempo da Primeira República, as confusões e batalhas ideológicas, enfim, as lutas das oposições na República e sobretudo, depois do advento do Estado Novo. Por ele soubemos que estava a cumprir, lá em Peniche, pena de 23 anos, um velho anarquista chamado Valentim Adolfo João, acusado de ter participado no atentado a Salazar. Este vivia com dois ou três presos comuns, noutra zona da prisão e não queria contactos com os presos políticos, todos comunistas ou aparentados, com quem um anarquista coerente nunca admitiria sequer contactos. No piso da nossa sala, havia mais duas salas de seis presos, no mesmo corredor da nossa, ficando as três contíguas e, como a porta era gradeada em toda a extensão, abria para o corredor, pelo que podíamos falar de umas para as outras, embora sem nos vermos. Na sala seguinte à nossa, estavam cinco presos, um dos quais, era Manuel Rodrigues da Silva (velho e muito doente, passava grande parte do tempo na cama) que mais tarde foi libertado, após muitos anos de prisão, tendo ido para a Checoslováquia, onde acabou por morrer. Outro era Manuel Guedes, antigo marinheiro, implicado na revolta do contratorpedeiro Dão e, depois, membro do Secretariado do Comité Central do PC, sempre de socas e com o andar gingão de marinheiro. Havia ainda o Joaquim António Campino, do Comité Central do Partido Comunista. O outro era Gabriel dos Santos Gomes, antigo militar da Força Aérea, que cumpria doze anos de prisão por ter 74 sabotado, com Palma Inácio, que não fora apanhado, todos os aviões da Base Aérea de Sintra. Essa sabotagem, que se incluía no âmbito dum complô contra o regime salazarista, falhou por todos os generais terem faltado aos compromissos. Os dois únicos que cumpriram a sua parte (Gabriel e Palma Inácio) é que tiveram a PIDE à perna. O Gabriel era um bom homem, nessa altura com 40 ou 45 anos, ingénuo e idealista, que, aparentemente, teria aderido ao Partido Comunista já na cadeia. O último preso dessa sala era o Vasco Cabral, estudante de Economia em Lisboa, natural da Guiné, a cumprir pena de três ou quatro anos, que, após ser libertado, concluiu o curso no então Instituto Superior de Economia de Lisboa, e, pouco depois, fugiu para Marrocos, numa aventurosa viagem de traineira a partir do Algarve, juntamente com o Agostinho Neto, mulher e filhos. Integrado na guerrilha chefiada por Amilcar Cabral, foi um dos combatentes da independência, tendo desempenhado, depois, cargos de Ministro da Economia, de outros ministérios e foi Vice-Presidente com Nino Vieira, presidente da União dos Escritores Guineenses e dos Escritores Africanos. Eu próprio fui encontrá-lo, em Bissau, já reformado da política, quando, como Director do HGSA, participei num programa de cooperação que, em 1997, me levou à capital da GuinéBissau. Depois desse encontro, voltámos a ver-nos em Portugal, quando, exilado após a revolução de 1998, residia em Lisboa e veio ao Porto, onde esteve uns dias em minha casa. Algum tempo depois, passou uma semana connosco, em Moledo, onde festejámos o seu 73º aniversário.10 A última sala alojava outros cinco presos, o mais famoso dos quais era José Rodrigues Vitoriano, dirigente comunista que se tornara célebre como presidente do Sindicato dos corticeiros do Algarve, em Silves, onde dirigiu greves famosas. Os seus companheiros de sala eram Salvador Amália, um funcionário do PC, Nuno José Potes Duarte, um jovem de Lisboa, de idade semelhante à nossa, empregado comercial, que era um modelo de alegria e juventude e, finalmente, dois pobres operários (quase analfabetos), que foram condenados por terem entrado numa greve muito dura dos operários da Fábrica dos Ingleses, no Porto.Tomávamos as refeições todos juntos, no refeitório 10 Coincidência interessante foi a que se verificou no dia do seu aniversário, quando estava hospedado na minha casa de Moledo. De manhã, cerca das 9h, fui a Caminha procurar um presente de aniversário para o meu amigo. Ao entrar na tabacaria, que também funcionava como livraria, na praça principal, verifiquei que acabava de chegar um livro editado pela Afrontamento e ilustrado pelo Armando Alves, com poemas sobre o rio Minho, cujo autor era um poeta galega Xosé Luís Garcia. A coincidência resultava do facto de Vasco Cabral ter estado hospadado em Barcelona, em casa deste mesmo Xosé Luís Garcia, donde, depois, partira para Moledo. É claro que estava encontrado o presente ideal para a situação. 75 comum, fazíamos a faxina na copa ou nas limpezas com equipas, por vezes, de salas diferentes, descacávamos batatas em conjunto, etc. Em Setembro ou Outubro, por transferência do 3º piso, onde estavam os presos mais importantes, entre eles o Cunhal, vieram para a nossa sala dois nossos colegas do Juvenil, o Ângelo Veloso e o Hernâni Silva. O nascimento da Olga Maria e a liberdade O episódio mais marcante, para mim, foi o nascimento da minha filha Olga Maria, a 22 de Setembro desse ano. Nesse dia, estava eu a passar a ferro com outro camarada de fachina, quando um guarda me veio entregar um telegrama. Naquele tempo, os telegramas eram manuscritos pela empregada dos CTT e no que recebera, enviado pela minha irmã Nela, estava escrito: “Nasceu menina(o), mãe e filha(o) bem. Nela”. Acontece que a funcionária dos CTT escreveu de modo apressado, fazendo com que não se percebesse se a última vogal de “menina” ou “filha” era “a” ou “o” e, assim, eu fiquei sem saber se tinha nascido um rapaz ou uma menina! Só dois dias depois, pela carta da Maria Luiza, soube que tinha uma filha. Entretanto, na noite de 22, o colectivo dos presos das três salas ofereceu-me uma festinha, à noite, no refeitório, em que tomámos café com leite e pão com manteiga (um luxo) e o Campino me ofereceu um desenho alusivo, em que um pai babado empurrava um carrinho de bebé. Na primeira visita que tive na prisão, já em meados de Outubro, conheci a minha filha, que passou uns dias com a mãe e a tia Nela numa pensão da vila, para me poderem ver todos os dias durante esse período. Em fins de Novembro, foi libertado o Seabra. Eu ainda passei o Natal e o Ano Novo na prisão, mas, nos primeiros dias de Fevereiro, terminei a pena. Fui posto em liberdade às 6h da manhã, abriram o portão da entrada e dei comigo com uma mala na mão numa Peniche vazia, a amanhecer com frio e névoa. Fui à paragem da camioneta das Caldas, entrei e paguei o bilhete, ainda inebriado com a liberdade, e cerca das 9h chegava às Caldas da Rainha, já com gente nas ruas e um sol de Inverno a começar a abrir. Fui direito à Estação tomar o comboio para Alfarelos, onde era feita a ligação com o comboio que ia para o Porto. Saí nas Devesas, onde me esperavam a Maria Luiza e os meus pais. A alegria do reencontro e a liberdade fresca encheram o primeiro dia do 76 regresso a casa. Uma nova fase da vida iria começar, com o objectivo principal de terminar o curso e ganhar a vida. Entretanto, ainda faltava o serviço militar, em Penamacor, para o qual estava convocado em Abril. Penamacor e a conclusão do curso Apesar de preso, tinha-me inscrito no 6º ano. Saindo em Fevereiro de 1958 e esperando ser chamado para Penamacor em Abril, dispunha de escassos três meses para a frequência do mesmo. Com a ajuda do meu grande amigo Henrique Lecour, Assistente de Clínica Médica, fui a aulas suplementares de várias disciplinas para tirar faltas dos meses até Fevereiro, permitindo-me obter a frequência necessária para fazer exames. Consegui em todas as disciplinas, excepto Pneumologia, cadeira semestral, que terminara em Fevereiro, antes do meu regresso. Fui pedir ao Prof. Esteves Pinto, regente da cadeira, que me autorizasse a frequentar o Sanatório D. Manuel II, onde eram ministradas as aulas, para substituir aquelas a que não comparecera, permitindo-me assim fazer exame da última disciplina que me faltava. Não autorizou, pois a Pide poderia vir a levantar problemas! Nessa altura senti bem a diferença com a atitude do Prof. Magano no ano anterior. Tempos depois, recebi uma comunicação do Exército que informava que havia sido expulso do Curso de Oficiais Milicianos (onde nunca entrei...) e seria oportunamente chamado para fazer a recruta na Companhia Disciplinar de Penamacor. Mais tarde, recebi Guia de Marcha para me apresentar no Quartel, em dia de Abril de 1958 que não fixei. Informei-me junto dos colegas que já lá estavam desde 1957 (Álvaro Teixeira Lopes, que saíra da cadeia civil de Penamacor ao mesmo tempo que eu de Peniche, e o Alfredo Calheiros, meu colega de Medicina e do julgamento. Na data em questão, lá experimentei a longa viagem de combóio até ao quartel. A partida do Porto era às 23 horas, saía na Pampilhosa, onde aguardava pelo combóio da linha da Beira-Alta, até à Guarda, que partia às 2h da manhã e chegava às 9h (no Inverno, o frio intenso obrigava a fazer esse troço em 1ª classe que tinha aquecimento). Na Guarda, tomava por volta das 11 o comboio da Beira Baixa, próximo das 4 horas da tarde saía no apeadeiro de FatelaPenamaco. Aí tomava a camionete, que já se encontrava à espera na estação e, meia hora depois, pelas 4h30, desembarcava no centro da vila serrana de Penamacor. Esta 77 longa viagem repetiu-se sempre que vim a casa. Nesse verão, por duas ou três vezes, vim ao Porto para fazer exames, e para uma ou duas semanas de férias e, já próximo do fim da recruta, para passar o Natal. A viagem de regresso ao Porto começava cerca das 15h com camioneta para Castelo Branco, onde tomava o comboio da linha da Beira Baixa, que fazia um belíssimo percurso, ao longo do Tejo, de Ródão até Abrantes e me deixava no Entroncamento, onde apanhava o rápido para o Porto, chegando perto das 23 horas. Mas o melhor da viagem era, de facto, o percurso do Tejo, ao entardecer, com uma uma luz no Verão cheia de cambiantes que me fazia ir à janela da carruagem com máquina a vapor, largando fumo e faulhas para os olhos, passando por Constância, Vila Nova da Barquinha, Almourol, uma maravilha! Mas voltemos à chegada a Penamacor, às 4 e meia de um dia de Abril de 1958. À saída da camioneta, esperavam-me o Álvaro e o Calheiros que me levaram ao quartel logo ali ao lado. Apresentei-me ao sargento de dia, foi-me atribuido o nº 58/58, fui buscar o fardamento e logo a seguir rapar o cabelo, entrando na fila dos recrutas que chegavam como eu. Logo me apareceu um jovem de dezanove anos, que se identificou como político, que também ia iniciar a recruta, 56/58, chamado Amilcar Neto Contente, residente nas Caldas da Rainha, que estudara no liceu e estava empregado num escritório, quando foi chamado para Penamacor; não tinha estado preso nem tinha actividade política relevante, não percebendo por que estava ali. Adoptei-o logo e convidei-o a associar-se a nós na utilização de uma casa que tinha sido alugada num bairro camarário pelos nossos antecessores políticos e onde moravam o Álvaro e o Calheiros, que eram já soldados “prontos”, com a recruta feita. Ele aceitou, mas entretanto ficamos a dormir na caserna, apenas tendo sido autorizados a ir jantar com os colegas na Pensão Seguro, que aliás era contígua ao quartel. Entretanto, fomos fardar-nos, gozamos com a rapação e, após a formatura do recolher, fomos dormir. Depois, foi o toque de alvorada, café e, com o bivaque atamancado, iniciou-se a recruta. Alguns dias depois, fomos autorizados a dormir fora e passámos a ser inquilinos da casa do bairro, para onde íamos após a formatura do recolher, voltando ao quartel de madrugada, para a formatura da alvorada. Todo o dia era passado na instrução, saindo para almoçar, na pensão. Nos intervalos em que se saía do quartel, entre o fim da instrução, às 16h e a chamada para o rancho, às seis e meia, os soldados podiam passear e nós, os políticos frequentávamos um dos dois cafés da terra, uma vez que o outro nos estava vedado, pois era onde paravam o comandante e os oficiais. Estávamos já 78 instalados na rotina, eu e o Contente, na instrução de recruta, os outros numa desocupação disfarçada pelas aulas de alfabetização de soldados, quando chega o Canijo, transferido de Caçadores 5, em Lisboa, onde fora colocado como soldado raso. Mais uma originalidade da descricionária Pide! O Canijo chegou fardado mas com umas botas diferentes, as “botas da Rainha” que foram utilizadas no Batalhão de Caçadores 5, que havia sido encarregado da guarda de honra na visita que a Rainha de Inglaterra fizera a Portugal, no Outono de 1957. Foi uma festa e passámos a ser cinco os residentes na casa. Nos meses seguintes, surgiram alguns problemas que fizeram com que nos fossem retiradas concessões, tendo que dormir na caserna, comer o rancho do quartel, sendo retirada a autorização para as refeições na Pensão, e outras bizarrias ou birras do Comandante, que, em regra, eram ultrapassadas, voltando tudo à mesma. Em Agosto, terminamos a recruta com os exercícios finais, de que recordo as provas de tiro, em que fiz o brilharete de acertar no 10, com espingarda Mauser a 300 metros, mas falhando com metralhadora Steier a 25 metros. Também foi falada a marcha de 30 Km, com ida e volta à Aldeia do Bispo. No calor do fim de Julho, com 15 a 20 kg de equipamente, incluindo capacete, carabina, mochila, cantil, carregadores, etc. era bem violento o percurso de ida e, sobretudo, de volta. Muitos dos soldados desistiam no meio da marcha e iam apanhar castanhas com o capacete, sendo recolhidos com uma espécie de jipe vassoura, que os conduzia para o quartel. A vida no quartel permitiu-me conhecer algumas figuras humanas que me marcaram. Recordo o Barroso, o 40/58, de quase 40 anos de idade, que viera fazer a recruta depois de cumprir pena de muitos anos de prisão por assaltos com quadrilha, sendo refractário. O 40 foi meu aluno das aulas que dávamos no quartel, onde ele aprendeu a ler e acabou por fazer a 3ª classe. Mal aprendeu a ler, pediu-me emprestado os três volumes da História Universal de H.G. Wells, que leu até ao fim o que lhe permitiu concluir, como me disse, que afinal a história estava cheia de grandes figurões que mandaram em povos inteiros e tinham cometido crimes muito piores do que aqueles pelos quais ele tinha passado anos de prisão. Na Companhia, havia gente de muitas origens. O grupo maior era o da malta “da Mata”, os rufias de Lisboa, que foram lá parar por condenações por furto, vigarices, desordem ou outras malfeitorias, mas também por deserção ou falta (refractários) ao serviço militar e, algumas vezes, por insubordinação. Este era o mais grave crime para a instituição militar e, em regra, os que eram disso acusados cumpriam longas penas no 79 Forte de Elvas ou no Presídio de Santarém. A categoria mais comum, a seguir aos lisboetas, era a dos desertores, quase sempre soldados de origem camponesa, que não suportavam a disciplina militar e desertavam, sendo inevitavelmente apanhados, cumprindo a pena e sendo depois mandados para Penamacor fazer a recruta. A seguir vinham os condenados por insubordinação, os mais perseguidos pelos graduados, sargentos ou oficiais. Assisti a alguns casos dramáticos, como o de um soldado que “enlouqueceu” no quartel, e cujo delírio registei num relatório que incluí no meu livro anterior. No mesmo, estão incluídos pareceres de dois psiquiatras qualificados. Também recolhi o testemunho de um soldado, ex-presidiário, do Presídio Militar de Santarém, publicado no mesmo livro, no qual se descreviam, pormenorizadamente, as terríveis condições do Presidio de Santarém, considerado, na época, uma das piores prisões da Europa.11 Uma das situações mais anedóticas que vivemos foi no Verão de 1958, nas eleições a que concorreu Humberto Delgado. No dia das eleições, as unidades militares ficaram de prevenção em todo o País. Em Penamacor, ficou todo o pessoal fechado no quartel, incluindo soldados da Companhia, soldados adidos (assim chamados os destacados de outras unidades para servirem de guardas dos “correcios” que éramos todos nós), sargentos e oficiais. A nós, os políticos, como éramos um problema para o comando, decidiram por-nos cá fora, pelo que durante três dias permaneceram fechados todos os militares com excepção dos “perigosos” políticos, que gozavam as férias assim surgidas, circulando pela vila, flanando nos cafés, passeando provocatoriamente em frente ao gradeamento fechado do quartel, etc. Toda esta situação é descrita mais em pormenor no meu livro anterior. Pela minha parte, fiz exames de todas as cadeiras do 6º ano, em Julho de 1958, com excepção da referida Pneumologia e da Psiquiatria, que já não adiantava fazer. Em Julho de 1959, antes de ser desmobilizado, fiz as duas cadeiras, tendo tido oportunidade de dizer ao Prof. Esteves Pinto que me fez exame, que afinal acabei por fazê-lo sem frequentar nenhuma aula, por estar no serviço militar. 11 Este tema foi desenvolvido no meu livro anterior. 80 FOTOS – CAPÍTULO III Dr. Corino de Andrade, mestre em neurociências de várias gerações, nos anos sessenta. Dr. Rocha Melo, primeiro neurocirurgião no Porto, inícios do século XXI. Dr. João Resende, braço direito do Dr. Corino, nos anos setenta. Recém-formado, em 1960, no café Piolho. 81 Olga Maria, com cerca de três meses de idade, com os pais. Penamacor, anos cinquenta. Eu, Contente, Bicho e Teixeira Lopes. ABC clube. 1954. Eu, na primeira fila, o primeiro à esquerda. Penamacor. Anos cinquenta. Calheiros, eu, Álvaro e, em cima, Canijo. Penamacor. Anos cinquenta. Grupo de soldados. Terceiro a contar da esquerda – eu. 82 CAPÍTULO IV – O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO O fim do curso, o estágio e a licenciatura Assim, cheguei finalmente ao fim do curso. Tinha 25 anos e perdera três anos escolares. Os colegas que haviam entrado comigo para a Faculdade, em 1950, já tinham feito estágio, em 1957, ano em que a maioria completou a licenciatura, pelo que sentia a responsabilidade de ter de queimar etapas. Em Outubro, iniciei o estágio pela Medicina Interna, na enfermaria do meu amigo Henrique Lecour, ainda no HGSA. Em Novembro, foi inaugurado o novo Hospital de S. João e eu ajudei o Lecour a fazer a muda, no seu velho DKW, dos livros e outros materiais de equipamento privativos do Serviço. Fiz depois os restantes estágios, sendo o principal o de Cirurgia, no Serviço do Prof. Joaquim Bastos. Aqui aprendi muito com o Prof. Bastos, o Prof. Casimiro e também com a enfermeira Maria Vaz, que me ensinou a técnica de fazer pensos cirúrgicos e outros truques de enfermagem. Mais tarde, voltei a encontrá-la quando, já enfermeira do HGSA, foi colocada na Unidade de TCE, onde eu exercia funções não formais, mas reais, de direcção, e onde ela era uma das mais qualificadas enfermeiras. Reformamonos em datas muito próximas, no fim do século. Enquanto praticava no estágio, ia escrevendo a minha tese de licenciatura. No início do ano escolar, procurei um professor que aceitasse o patrocínio da tese. Sendo eu marcado pela Pide, tal poderia assustar outros como o Prof. Esteves Pinto. Assim, procurei o Prof. Julio Machado Vaz, que era conhecido como da oposição, a quem fui pedir, com o apoio do Henrique Lecour, para me orientar na tese. Aceitou e propôs-me o tema de Hepatites por Virus, na altura assunto de novidade e área de interesse especial do Lecour. Agarrei-me ao trabalho, estudei, li tudo quanto encontrei, comprei o livro da Sheila Sherlock, pedi conselhos e dados epidemiológicos ao Dr. Gonçalves Ferreira, então Director do Instituto Ricardo Jorge. Escrevi, então, uma monografia, que o meu amigo António Joaquim Gonçalves dactilografou, aturando com paciência as minhas constantes emendas e correcções, assim como a pressa, pois queria apresentar a tese o mais cedo possível. O António Joaquim também se encarregou de fazer cópias em copiógrafo e, em 31 de Julho de 1960, dias depois de terminar o estágio, defendi tese, perante um Júri presidido pelo Prof. Manuel Cerqueira Gomes e que incluia o Prof. Machado Vaz e o Regente de Higiene e Epidemiologia Joaquim Maia. A presidência do júri pelo professor Cerqueira Gomes resultou do convite que lhe fiz, por sugestão do 83 professor Vaz, alegando que era o único professor catedrático em exercício que não me tinha tido como aluno, um vez que exerceu, durante anos, funções políticas extrauniversitárias. Na defesa da tese, que eu assumi como capacidade de escrever uma monografia12, fui classificado com 18 valores. Uma vez que a média da primeira metade do curso foi de treze e da segunda dezasseis, a média final da licenciatura ficou em quinze valores. E pronto, fiquei finalmente habilitado a trabalhar como Médico. O futuro ia começar agora. A formação profissional – a escolha da especialidade Numa época de Hospitalocentrismo desenfreado, havia que decidir seguir uma especialidade hospitalar, para poder aspirar a ser alguém. A princípio, o meu trabalho na Clínica Médica, com o Lecour, a Manuela Frada, o Leopoldo Carvalhais e, depois, o Sousa Fernandes, contribuiu para me interessar pelo carácter integrador e o raciocínio de rigor que me parecia caracterizar a Medicina Interna, pelo que pensava poder vir a ser internista. Fui-me, assim, mantendo como estagiário na Clínica Médica, após a defesa de tese. Por essa altura, o meu amigo Paulo Mendo, que se licenciara em 1959, andava a gastar as “cadeiras do Piolho”, sem emprego, e propus-lhe falar ao Lecour para o aceitar na enfermaria onde eu ficara. Assim sucedeu e, no fim do verão de 1960, já estávamos ambos no Serviço, como estagiários e iniciámos as tardes de estudo na Cervejaria CUF, na Rua Júlio Dinis, que se prolongaram ao longo de mais de um ano. No fim do ano, a Faculdade e o H. S. João decidiram abrir um Serviço de Neurologia, com internamento no Piso 4, logo por baixo da Clínica Médica. Foi atribuida a Direcção do Serviço ao Prof. Emídio Ribeiro, o mais jovem professor. Extraordinário do Grupo da Clínica Médica. O Prof. Emídio nunca fora neurologista pelo que, ao ser nomeado responsável da especialidade, foi ao seu serviço de origem (Clínica Médica) procurar colaboradores. Escolheu para responsáveis da enfermaria de homens e mulheres, respectivamente, o Paulo Mendo que, não pensando ser neurologista, aceitou o desafio e a Luiza Guimarães, que, sendo internista com alguns anos de treino, era prima do Dr. João Resende, que acompanhara num estágio de EEG, em Paris e Marselha. Ficou também prometido que, logo que fosse possível alargar o quadro, seria eu convidado. Decidi logo que iria ser Neurologista, pois o emprego prometido era tentador e a 12 Episódio já descrito no livro anterior. 84 possibilidade de estudar em conjunto com o Paulo era estimulante. Começámos logo a fazer a agulha das tardes de estudo na Cuf para a Neurologia, pois teríamos forçosamente que ser autodidatas. Tive sorte, pois, logo no início de 1961, o Director conseguiu contratar mais dois médicos, sendo escolhidos para a enfermaria de Homens, eu póprio, apoiando o Mendo, e a minha colega de curso Olga Viseu, para emparceirar com a Luiza Guimarães. Fomos nós os quatro, com o Rocha Melo que, assistente da cadeira de Medicina Operatória do Prof. Sousa Pereira, assegurava a Neuocirurgia, que fizemos funcionar o Serviço de Neurologia. No fim de 1960, teve lugar o processo eleitoral para o Conselho Regional da Ordem dos Médicos, em que se debatiam duas linhas de orientação, uma das quais representava a corrente conotada com o relatório das carreiras médicas, publicado nesse ano. Os representantes do Norte, na Comissão Nacional de redacção do Relatório das Carreiras Médicas eram o Dr. Albino Aroso e o Prof. Doutor Fernandes da Fonseca. Quase todos nós integrávamos a linha política protagonizada pelos autores do Relatório. Na campanha eleitoral, muitos de nós percorreram o Norte, procurando sensibilizar os colegas para a eleição. Nessa campanha, uma equipa constituída pelo Henrique Lecour e por mim, usando como meio de transporte o meu velho Fiat 600, percorremos os concelhos de Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira. Apesar dos esforços dos apoiantes, que pensámos serem maioritários na região, a lista conotada com o Relatório perdeu as eleições. A escolha da Neurologia para mim foi magnífica, pois além de ter adoptado uma especialidade fascinante fiquei a ganhar três contos por mês, o que era um dos melhores ordenados da época. Para mim, que tinha mulher e filha e pagava de renda de casa 1000$, era uma fartura, pois só dispunha, até então, do magro rendimento do pobre consultório de bairro que abri em Massarelos, junto da fábrica em que vivíamos com os meus sogros. No consultório onde atendia pessoas muito pobres auferia menos de 1000$ por mês. Entretanto, em 1961, comprámos o nosso primeiro carro, com o dinheiro ganho pela Maria Luiza a trabalhar no laboratório da fábrica. Era um Fiat 600, verde, em segunda mão, que nos custou 28 contos e que foi pago com os vencimentos que a Maria Luiza recebeu por 1 ano de trabalho no laboratório da fábrica. No fim de 1961, o Paulo foi convidado a transferir-se para o HGSA, para o serviço do Dr. Corino, sendo substituido pelo Celso Cruz, que entretanto se formara e fora ocupar a 85 vaga, enquanto esperava oportunidade de ser convidado para a Faculdade, que era o seu objectivo, depois de ter sido classificado copm vinte valores no exame final de Neurologia. Em 1962, o Rocha Melo, que também fazia a Neurocirurgia do HGSA, foi para Edimburgo preparar o doutoramento. No H. S. João, ficou encarregado da Neurocirurgia o Nestor Rodrigues. Este, que vinha a ajudar o Rocha Melo, assim como o Celso (ainda aluno), era assistente da Faculdade em Medicina Operatória, cujo regente, professor Sousa Pereira, estava encarregado de supervisionar a neurocirurgia. O Nestor, que não tinha formação neurológica e fazia Cirurgia Geral no seu serviço, precisava de equipa. Herdou do Rocha Melo o Celso, mas faltava-lhe outro, pelo que me veio convidar. Mais uma vez o destino me dava a volta e eu decidi passar para a Neurocirurgia. As vocações fazem-se muitas vezes assim. Eu, que sempre pensara que seria médico e não cirurgião, acabei por me entusiasmar e segui a carreira que o meu amigo Mendo abraçara meses antes, ao passar para a equipa neurocirúrgica do HGSA, onde eu sonhava poder entrar um dia. Para manter contacto com quem sabia mais do que eu, continuei a estudar com o Paulo Mendo, agora menos disponível, mas sobretudo habituei-me a ir, às tardes, durante o ano de 1962, para o HGSA, assistir às sessões de neuroradiologia que se realizavam no Serviço de Radiologia pelos médicos do serviço, Mendo, Leão Ramos, Canijo sobretudo, com a colaboração interessada do velho Dr. Júlio Vasconcelos. O HGSA e a procura de uma formação Em 1961, começa, em Angola, a Guerra Colonial. Na mobilização de tropas que então se inicia, incluiam-se os médicos. Muitos dos meus colegas são reinspecionados, chamados às fileiras e despachados para as três frentes de batalha. Ironicamente, o regime com a sanha persecutória de nos mandar para Penamacor, como soldados rasos, livrou-nos da Guerra. De facto, nós, os que haviam feito o serviço militar em Penamacor, não éramos mobilizáveis, por não sermos oficiais médicos e, não tendo ficado isentos, não poderíamos ser reinspeccionados. A mobilização de soldados não atingia as classes antigas de 1957 e 1958, pelo que não éramos apanhados por essa via. E assim, eu e os meus companheiros de Penamacor nos livramos da guerra. O mesmo não sucedia com aqueles que, mesmo sem terem sido milicianos, ficaram livres por junta médica ou semelhante. Estava nessa situação o Mendo, que tendo ficado isento, foi reinspeccionado e reintegrado como oficial médico. 86 No verão de 1962, com os casais Gonçalves e Mendo fizemos umas magníficas férias campistas no Algarve, que depois haveríamos de repetir em anos mais tardios. Quando regressamos de férias, fomos confrontados com o início do processo de reinspecções e mobilização de médicos. Alguns como o Zulmiro Almeida, psiquiatra, decidiram logo fugir para Paris. No fim do ano, saíram, entre outros, para França o Vitor Blanc, o Leão Ramos, e, depois do Natal, o Paulo Mendo. Este, com a mulher, o filho de sete anos e as malas, atravancados no “2 cavalos” emigra para Marselha, em trânsito para Rabat onde, juntamente com o Leão e o Vitor, tinha conseguido um contrato no recém construido Hospital Avicenne. No início de 1963, o Serviço de Neurologia do HGSA, ficava assim desfalcado de dois neurocirurgiões e um neuroanestessista. Na mesma época, o Rocha Melo opta pelo HGSA, deixando o H.S. João e, como tinham emigrado os dois ajudantes, convence-me a vir ocupar uma das duas vagas existentes. Aproveitei a oportunidade, e demiti-me do H. S. João, com desgosto do Prof. Emídio que ficou a ter como colaborador principal o Celso, que também ficara com a carreira académica aberta. Perdi um ordenado de três contos, ia passar dificuldades económicas, vivendo de ajudas na cirurgia privada do Rocha Melo, mas entrava numa Escola onde poderia aprender e adquirir a melhor formação disponível em Portugal. O futuro começava naquele dia 1 de Fevereiro de 1963, em que comecei a trabalhar como estagiário no Serviço do Dr. Corino Andrade. Este, após entrevista, em que me pôs à prova quanto ao que já sabia, colocou-me como responsável da enfermaria de homens. Pouco depois, foi admitido como colaborador, na enfermaria de homens, um estudante do 6º ano de Medicina que pedira estágio de neurocirurgia. Era o Serafim Paranhos, meu companheiro desde então. O Dr. Corino sujeitou-nos a ambos a uma “prova de acesso” que consistia em estudar anatomia prática. Entregou-nos quatro cérebros inteiros, colhidos em autópsias e armazenados no Laboratório de Neuropatologia, uma faca de cortar cérebros e o tratado de Neuroanatomia do Dèjerine e incumbiu-nos de proceder a cortes em fatias de 5 mm, desenhando as superfícies de corte de acordo com as imagens correspondentes do livro e escrevendo as legendas de todas as estruturas anatómicas identificadas. Trabalhamos duramente, sobretudo à noite, usando a bancada da sala, designada de “pulmão de aço”, onde nascera a reanimação respiratória e mais tarde a neuroradiologia. Ao fim de um mês, apresentámos o trabalho ao patrão. Gostou e sentimos que havíamos adquirido os galões necessários para ficar no serviço. 87 No ano seguinte, o Serafim trabalhou na tese de licenciatura sobre Sindrome de Marfan, orientada pelo Falcão de Freitas, que eu acompanhei e ajudei na revisão. Em Novembro, o Dr. Corino conseguiu um contrato para mim e para o Calheiros, que fora colocado como estagiário na enfermaria de Mulheres, ao mesmo tempo que eu na de Homens, a que correspondia um vencimento de 1500$. Era metade do que um ano antes recebia no S.João, mas já era alguma coisa. Trabalhámos duramente, estudando os doentes, ajudando na cirurgia do Rocha Melo, e respondendo às chamadas do SU que só foram pagas (150$00 por dia de escala) a partir do fim de 1964! Até aí éramos chamados em regime de voluntariado gratuito, sendo só dois além do Rocha Melo, que quase sempre se fazia substituir por um de nós. Mas foi assim que aprendemos, tendo que nos desenvencilhar e resolver os problemas sem deixar ficar mal os nossos mestres, Dr. Corino, Rocha Melo e Dr. Resende. Sempre trabalhei em regime de tempo total, de manhã, de tarde e à noite, com a presença crítica constante do patrão, que da sua cadeira amarela da Biblioteca ia controlando tudo, sem o parecer. Foi uma escola de vida e de profissão, em que ingressaram outros, como o Castro Lopes, que foi o primeiro interno integrado na carreira nacional, uma vez que o HGSA tinha sido incluído na rede de hospitais centrais, em 1963. Pela mesma altura, frequentavam o serviço como voluntários o Pires dos Santos, a Manuela Viana e o Nuno Ribeiro. A partir de 1964, reingressaram os exilados Mendo e Leão (este já no princípio de 1965), vindo de Londres onde estagiara durante cerca de oito meses no Serviço de Falconer. O Mendo, após ser reinspeccionado, foi mobilizado para Angola, já como neurologista, em 1969-70. O serviço, para me recompensar do trabalho intenso dos dois anos anteriores, ofereceume uma viagem de duas semanas a Londres com a Maria Luiza (então grávida da Lena), em Outubro de 1964. Foi o nosso baptismo de avião (turbo-hélice Comet) e a revelação da grande metrópole londrina, que nos foi mostrada pelo casal Leão Ramos, que nos recebeu e nos alugou um apartamento. Foi um deslumbramento com as ruas, parques, museus, os grandes armazéns, o fast-food, tudo coisas desconhecidas no provinciano e atrasado Portugal daquela época. O Serafim Paranhos, mal defendeu a tese, foi contratado pelo HGSA e, pouco depois, enviado para Gotemburgo, na Suécia, com uma bolsa de um ano da SCMP, bolsa que estava retida pela mesa desde os anos quarenta, quando fora solicitada pelo Dr. Corino. 88 Em Gotemburgo, o Serafim residiu cinco anos, tendo feito toda a formação neurocirúrgica com Norlén. Casou e regressou a Portugal. Em 1968, foi integrado no quadro do HGSA, juntamente comigo, com o Leão Ramos e com o Calheiros. Em 1971, fiz o último concurso da carreira tendo obtido o título de assistente, juntamente com o Serafim Paranhos e o Leão Ramos. As provas desse concurso maratona terminaram em 1 de Fevereiro de 1971, tendo os admitidos sido empossados nos dias seguintes. O nascimento da Lena A partir de 1963, a nossa vida começou a melhorar, eu já ganhava dinheiro com as ajudas e colaborações na clínica privada do Rocha Melo, assim como nas chamadas que algumas Casas de Saúde me começavam a fazer para atender sinistrados. Dada a melhoria da minha situação económica, estava na altura de pensarmos em ter mais um filho. Entretanto, havíamos comprado, em 1960, o nosso primeiro carro, com a matrícula LC-30-10, que correspondia às minhas iniciais e à data do meu aniversário. Esta coincidência, rara, fez-nos pensar que augurava um futuro mais risonho. Com esse carro fizemos as primeiras férias no Algarve, em 1961, com os Gonçalves e o casal Pimentel (António Carlos e a malograda Fátima, falecida há anos). Foi uma aventura, pois o radiador fervia e era necessário parar quase de hora a hora, para repor água. As férias foram uma maravilha, na nossa estreia campista, com material muito rudimentar, mas que nos ficaram baratas e permitiram calcorrear as praias quase desertas e selvagens, antes do boom dos anos 70. Em 1963, a Maria Luiza engravida, mas após uma viagem a Viana, no Fiat 600, onde fui fazer uma consulta em substituição do Nestor Rodrigues (que estava em Edimburgo a fazer um estágio de um ano), sentiu-se mal e acabou por abortar. Foi um desgosto, mas passado menos de um ano volta a ficar grávida. Já com três meses, fizemos a viagem atrás referida, a Londres, em Outubro de 1964. Em Agosto, já tínhamos feito duas semanas de férias campistas na Torreira, em companhia dos Mendos, com a Olga Maria e o filho deles, Pedro. Fomos para perto para poupar a Maria Luiza, com a gravidez em início, ao risco de novo aborto. Como tudo correu bem, atrevemo-nos a ir a Londres, em Outubro, onde pelo menos não andaríamos de carro, em longas distâncias. Nessa altura, não havia ecografia, de modo que não se sabia, antes do nascimento, o 89 sexo do bebé. Nós sempre pensámos que viria um rapaz, depois de, sete anos antes, nos ter nascido uma menina. A gravidez foi acompanhada pelo distinto obstetra Dr. Eduardo Vaz Osório, que veio poucos anos depois a ser mesário da Misericórdia, com funções na Direcção Administrativa do HGSA. Numa 4ª feira, cerca das 10 horas da manhã, estava eu a fazer consulta externa ao mesmo tempo que o Dr. João Resende (havia só dois gabinetes, na época), quando recebo um telefonema da Maria Luiza, em que me dizia que se estava a sentir mal e chamara a parteira D. Luiza. Esta acabara de a observar, entendendo que o feto estava a entrar em sofrimento e que era preciso encarar provável cesariana urgente. Telefonei para o Dr. Vaz Osório e para o Manuel Silva Araújo (o meu velho amigo e anestesista, que veio a ser Director do Serviço, que foi a mais prestigiada escola de anestesistas do País, sob a sua direcção) e pedi-lhes que fossem logo que possível para o Hospital da Lapa, o Hospital privado onde eu tinha na época mais actividades, pois eu iria buscar a Maria Luiza a casa. Fomos no carro que tínhamos na altura, um Ford Ânglia Fascinante, amarelo, que utilizamos na viagem a Gibraltar, até ao hospital. Já lá estava a parteira e entretanto chegou a equipa, que incluia como ajudante outro obstetra que trabalhava no HGSA, o Dr. Alberto Agathão Lança. Tudo correu bem, eu assisti à cesariana e foi com enorme emoção que vi nascer pela primeira vez um filho (estava preso quando nasceu a Olga Maria) e não fiquei nada triste por o esperado rapaz ter sido outra menina, que ao ser retirada do útero pelo Dr. Vaz Osório fez, do alto, um “chichi” dentro da barriga da mãe! Era meio-dia de 31 de Março de 1965. Quando, uma ou duas horas depois, a Maria Luiza acordou da anestesia perguntou se era menina ou menino e quando eu lhe disse que era menina, só disse: “Que chatice!” e voltou a dormir. Só horas depois é que se apercebeu que tínhamos mais uma filha e como já tínhamos discutido o nome a dar-lhe, se fosse menina, começámos logo a chamar-lhe Leninha. Eu não tinha assistido ao parto, nem acompanhado os primeiros anos de vida da Olga Maria. De facto, quando ela nasceu, em Setembro de 1957, eu estava preso. Quando saí, estive três meses em casa e fui para Penamacor, só regressando em Agosto de 1959, isto é, pouco antes de ela fazer dois anos. Agora iria ser diferente e, de facto, já pude assistir ao crescimento da Lena, desde o nascimento. 90 A nossa vida mudou, já éramos uma família maior, eu já ia ganhando melhor e começamos a pensar numa casa nossa. Nos primeiros anos de casados, vivíamos na casa dos meus sogros, integrada no complexo da Fábrica de Moagem da Restauração, que nos tinham cedido um sótão, onde montamos a nossa primeira casa, embora utilizando a restante habitação para o que fosse necessário. O nosso “território” era porém aquele espaço, cujo mobiliário foi desenhado e fabricado pelo nosso amigo e companheiro de julgamento, arquitecto Joaquim Brito, que tinha uma fábrica de móveis em Gondomar. Em 1961, o meu sogro reformou-se e foi para o Alentejo, enquanto o Hermínio, que saíra da cadeia (sanatório), acabou por casar com a Margarida, em Lisboa, vindo residir no Porto durante um ano, após o que se instalaram definitivamente em Lisboa. Nós alugamos um apartamento de dois quartos no Largo do Cruzinho, na zona do Bom Sucesso, onde pagávamos de renda mil escudos, quando eu ganhava só três mil no S. João. Viviamos com algum aperto, eu ia trabalhando no consultório de Massarelos, onde a pobreza do bairro não me permitia grande rendimento. No fim dos anos sessenta, sonhávamos com uma casa maior (já eram duas filhas e eu ganhava melhor), mas o dinheiro que ia economizando não chegava para me abalançar a comprar casa. Em 1966 (ou 1967), o meu colega e amigo Roseira convidou-nos a mim e ao Paulo Mendo, a associar-nos, como suplentes, a um grupo que se tinha constituído para comprar um terreno destinado à construção de um Bloco em propriedade horizontal, financiado pela Caixa de Previdência, no então novo bairro residencial da Pasteleira. O projecto era conduzido pelo Arquitecto Arménio Losa e sobretudo pelos seus jovens colaboradores Pedro Ramalho e Sérgio Fernandez. Fizeram-se várias reuniões no ateliê dos arquitectos, houve pessoas que entraram e que sairam, e nós que éramos suplentes, acabámos sendo dos primeiros efectivos. Comprou-se o terreno, elaborou-se o projecto com 18 apartamentos tipo T3+1, o financiamento foi assegurado por empréstimo da Caixa do Pessoal da Assistência (a maioria dos condóminos estava nela inscrita) no valor de 325 contos, amortizáveis em 25 anos, a juro fixo de 4%. Foi um grande negócio, que nos permitiu resolver os problemas todos. Assim, em 28 de Janeiro de 1973, mudámos para a casa em que vivemos actualmente. A Olga Maria veio cá fazer 18 anos, que comemorou com uma festa no salão da cave do prédio. O Paulo Mendo, um dos nossos mais chegados 91 amigos, desde sempre, ficou nosso vizinho, assim como o Luiz Roseira, que veio a morar no andar por cima do nosso, e também o Almeida Pinto, que comprou o andar do Carlos Alberto, cardiologista no H.S. João e o José Costa Martins, oftalmologista também no H. S. João. A decoração e mobiliário da nova casa muito deveram ao nosso amigo António Emílio Teixeira Lopes, arquitecto e decorador de nível, como a casa do Largo do Cruzinho já devia ao João Melo e Matos, também arquitecto e que foi um grande amigo, infelizmente falecido nos anos 90, num desastre de automóvel, depois de uma atribulada vida de boémio. Nesses tempos, frequentavam muito a nossa casa, além dos amigos antigos, Mendos e Gonçalves, o Pimentel e a Fátima, o Melo e Matos, o Sérgio Babo e a Mizé, o Paulo Monteiro e a Isabel, a Olga e o João Júlio (que chegaram a ser nossos vizinhos de patamar), o Henrique Martins, o Humberto Lima, o Eduardo Marta e a mulher Fernanda e outros. Na época, frequentávamos o café Ceuta onde toda esta gente se juntava nas tardes de Sábado, pelo menos. Fazíamos fins-de-semana no Gerês, na Casa Abrigo do Académico, próxima da Portela do Homem, férias de Verão no Algarve, em regra em Lagos, de início em campismo com atrelado e depois em apartamentos (Aquazul e outros). O estágio em Londres Entre Novembro de 1967 e Março de 1968, estagiei, com bolsa do British Council, em Londres, com o Prof. Valentine Logue, nos Hospitais Maidavale e Queen Square. Foi um avanço notável, assisti à rotina de serviços muito qualificados, apesar de escassos meios, pois se não faltava nada de equipamentos, as instalações eram modestas, mais próximas das nossas, que das que víamos em imagens da América. O pessoal era composto, para os dois Hospitais, dum quadro comum de dois Consultants: Logue e Lindsay Symon (mais jovem e regressado dos USA, onde trabalhara em cirurgia pediátrica), dois Senior Register, John Russel no Maidavale, Robin Illingworth no Queen Square, um register brasileiro, Telmo Reis de Porto Alegre, no Maidavale, 2 house-officers, em cada um dos hospitais. Quanto a enfermeiras, havia uma sister no internamento e outra no Bloco (Sister Hogan, no Maidavale), em cada hospital. A 92 Neuroradiologia era comum, com John Bull, Kendall, Du Boulay. Uma Biblioteca com tudo quanto se publicava, no Queen Square, reuniões de Ward Round, Jornal Club, etc, completavam as condições para uma aprendizagem rápida e eficaz. Vivia num quarto recomendado pelo B.C. em West Hampstead (Chomley Gardens), cujos senhorios eram o italiano Mr. Giulio Finzi e a sua esposa finlandesa, sempre muito simpáticos e procurando agradar. Todas as manhãs, tomava o breakfast com Mr. Finzi em roupão. O pequeno-almoço designado por continental consistia em metade de uma toranja para cada um, corn-flakes, café e torradas. Aos Domingos, a ementa era diferente: sumo de tomate e “porrage” aquecida na hora por Mrs. Finzi. Embora abominasse tal menu, nunca me queixei para não desiludir a minha land lady, Mrs. Finzi, que se levantava mais cedo de propósito por minha causa. Como era mais agradável o menu da semana! Como conhecimento em Londres, tinha o Luís Garcia e Silva, dermatologista no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, há anos em Inglaterra. O Garcia já passara por Glasgow e Newcastle, e estagiava agora em Leicester Square (Hospital for Skin Diseases). Em alguns domingos, fui convidado pelo Luis a almoçar com ele no quarto que tinha em Earl’s Court, alugado à Stella Gross, que me fazia comer Christmas Pudding, que eu não suportava. No entanto, pelas mesmas razões citadas a propósito de Mr. Finzi, nunca tive coragem de recusar. A Stella Gross tinha outro hóspede, também conviva nos almoços, um malaio de nome Stanley. Cozinhávamos pratos mais ou menos próprios de cada um dos paises e, no Natal, a Elisa, mulher do Luís, chegou de Lisboa com bacalhau e anexos para almoço natalício. Também conheci um amigo do Rocha Melo, Pedro Martins, professor de Física Teórica no University College, muito alto e míope, que me levou a jantar em restaurantes gregos, kebabb com cidra, ou em chineses de nove pratinhos em menu individual. Aos domingos dava grandes passeios a pé pela cidade e, um dia, fui a Benson, pequena aldeia perto de Oxford, de camioneta, almoçar, com o meu amigo do Porto, Júlio Neto13. Este trabalhava na BMC (carros Austin, etc) e morava em Benson com um amigo chamado Nick, que tinha uma namorada neo-zelandesa, que o foi visitar nesse Domingo. Almoçámos os quatro, refeição cozinhada por todos em conjunto, após o que demos um belo passeio pelos campos nevados. 13 Já referido em capítulo anterior. 93 Depois desta aventura de três meses em Londres, retomei as actividades no Serviço, fiz os exames dos concursos da carreira e desenvolvi as actividades de que dá conta o meu currículo profissional. A escola formativa do Dr. Corino Voltemos atrás, ao início dos anos sessenta, em que me transferi para o HGSA. Na altura, não tinha a noção que hoje tenho da enorme importância do Dr Corino de Andrade, não só no Hospital, como no mundo científico e nas neurociências, em particular. Sabia que era um prestigiado Director de Serviço e que, no Porto, só com ele e o seu serviço, poderia conseguir aprender, o que ia percebendo nas visitas que quase todas as tardes, no ano de 1961, fazia ao serviço de Radiologia, onde o meu amigo Mendo, fazia arteriografias cerebrais, assim como os meus colegas e amigos desde estudante, Canijo e Leão. Eram umas belas tertúlias à volta do craneógrafo e do escamoteador, com o bom Dr. Júlio Vasconcelos, a disparar na mesa de comando ao grito “vá” do executante da arteriografia. Por lá, passavam o Silva Araújo, o Vitor Blanc e a Maria Laura Corujeira, todos anestesistas, o Calheiros, que estagiava lá com objectivo de vir a fazer psiquiatria, segundo suponho (a irmã Maria Amélia e o cunhado Figueiredo Dias eram psiquiatras). Além da convivência, ia aprendendo com eles, o que não era possível no S. João, onde ninguém sabia Neurologia, excepto o Rocha Melo, que passava por lá de fugida para operar e pouco mais. Durante esse ano não vi o Dr. Corino, cuja fama me intimidava. Quando, em Fevereiro de 1963, lhe fui apresentado pelo Rocha Melo, estava já desempregado e a ter que vencer aquela aposta. Nervoso e apreensivo, lá fui à entrevista, numa tarde soalheira de Inverno, onde fui recebido como num exame por “um Júri”, que se sentava do outro lado da mesa, constituido pelo Dr. Corino e Dr. Resende, que eu via também pela primeira vez. Prevenido das exigências do Patrão, estudei bem o que iria dizer e preparei-me com uns desenhos em papel vegetal decalcados sobre arteriografias que tinha feito no H. S. João, que legendara minuciosamemte e que constituiam o meu material de estudo de anatomia vascular. Quando me perguntou o que sabia fazer, lá expliquei que era autodidata, que fazia sozinho na enfermaria de homens do H.S. João as histórias e exames clínicos de vinte doentes. Além disso, desde o fim de 1962, vinha a ajudar o Nestor Rodrigues que 94 fazia substituição do Rocha Melo, então em Edimburgo a preparar um trabalho sobre cirurgia estereotáxica. O Nestor sabia pouco de Neurologia (era cirurgião geral e assistente de Medicina Operatória, sendo ajudante do Rocha Melo, que era assistente de Neurologia). Na entrevista com o Dr. Corino disse também que estava interessado em fazer Neurocirurgia e pensava que seria capaz de substituir o Mendo e o Leão, que tinham saído do país, embora com menos capacidade que eles, mas que esperava contudo melhorar. Pareceu-me que o Patrão comentou para o Dr. Resende que “ o rapaz não parece mau!”, mas entretanto foi-me perguntando de que vivia, pois ali o trabalho era de manhã e de tarde e tinha que ser feito. Disse que tinha um consultório de bairro em Massarelos, que manteria mas sem qualquer prejuizo para o Serviço, que teria sempre prioridade. Além disso, o Rocha Melo convidara-me para algumas ajudas na sua cirurgia privada, com o que esperava poder sobreviver Hoje, estou convicto de que fui aprovado. De facto, foi-me distribuída a enfermaria de Homens, tendo como colaboradores o Castro Lopes, que acabara de entrar como interno de Neurologia e o Serafim Paranhos, finalista de Medicina, que estava a preparar uma tese de licenciatura sobre o Sindrome de Marfan, no H.S.João, orientada pelo Falcão de Freitas. O Serafim havia sido trazido pelo Pinho e Costa como voluntário. O Pedro Pinho Costa era um “finalista crónico” de Medicina que não terminava a última cadeira do curso para não ser mobilizado para a guerra do Ultramar. Entretanto, trabalhava no laboratório do serviço como neuroquímico e investigador da PAF, sendo também uma espécie de angariador de finalistas de medicina, interessados e com qualidade, capazes de integrarem o Serviço. Foi por seu intermédio que chegaram o Serafim, a Paula Coutinho, o Martins da Silva e o António Guimarães, entre outros. O Serafim ficou logo o meu mais próximo amigo, colaborador indefectível na enfermaria, enquanto eu o ajudava como conselheiro e revisor de texto na sua tese sobre aquilo que eu chamava o Sindrome de Marfan-Paranhos, tal o interesse que ambos dedicavamos ao tema. Trabalhei muito, estudei, fiz urgências por chamada com apoio irregular do Rocha Melo e creio que conquistei o meu lugar nos projectos do patrão. Começava a perceber a categoria científica e intelectual do Dr. Corino e creio que ele me ia tendo mais em conta, à medida que os anos iam decorrendo. Em Novembro, o patrão conseguiu contrato com 1.500$ por mês, para mim e para o Calheiros, a quem tinha sido atribuida a enfermaria de mulheres, nessa altura situada na ala norte, dado que o HGSA mantinha 95 a medieval separação por sexos, com homens na ala sul e mulheres na norte. A minha convicção de que beneficiava de estima pessoal do Dr. Corino, vem da atribuição de um “Prémio”, que me foi dado em reconhecimento do trabalho insano que produzi durante os dois anos em que trabalhava no serviço, e que consistiu na viagem a Londres em Outubro de 1964, a que me refiro noutros pontos deste relato. A coisa passou-se assim: em certo dia de Setembro de 1964, fui chamado à Biblioteca, e sou recebido pelo Dr. Corino, de pé, ladeado pelo Dr. Resende e Dr. Rocha Melo. Pergunta o Dr. Corino: Você já foi a Londres? Não, senhor Doutor. Já andou de avião? Também não. Então tem aqui dois bilhetes de avião para Londres, ida e volta, e vinte contos. Pegue na sua mulher e vá passar quinze dias a Londres que bem merece! Também recordo outro momento de manifestação de estima pessoal, que consistiu num convite para ir à Ópera, no Rivoli. Fui convidado para levar a Maria Luiza e, na companhia dele, da esposa e da filha, então uma adolescente de 14 anos, a Mali, e ainda do Dr. Ferreira Alves e esposa, assistimos, na plateia do Teatro, a um espectáculo raro na cidade da época. Tive mais tarde, já em fases muito mais adiantadas da carreira, variadas formas de manifestação da estima e consideração em que me tinha. Devo-lhe muito, como aliás todos os outros. Foi ele que se bateu polo quadro médico e pelos concursos, através dos quais fomos integrados na carreira hospitalar em 1971. 2Um episódio marca a conta em que ele me tinha como elemento fundamental no Serviço. Em 1971, quando completei o concurso maratona para assistente, o Director Clínico Pereira Guedes convidou-me para o cargo de adjunto do Director do Serviço de Urgência, Dr. Azevedo de Oliveira. Aceitei e creio ter feito um bom lugar, além de ter conseguido um amigo para a vida, que foi o Dr. Azevedo. Talvez, por isso, o novo Director Clínico, Ignácio de Salcedo, em 1973, convidou-me para ser seu adjunto, cargo repartido com um respeitado Director de Serviço, bem mais velho do que eu, na altura com 39 anos. Tratava-se do Doutor Eugénio Corte Real, que havia sido meu professor de Histologia, no distante 1950, em que frequentei o 1º ano da FMP. Surpreendido, disse-lhe que não me considerava capaz. Ele insistiu e disse: vá, pense bem e amanhã dá-me a resposta. Saí e encontro o Patrão na galeria junto do Bloco, no Torreão Sul. Contei-lhe o que se havia passado e ele explodiu: então você recusa uma oportunidade dessas? Você é perfeitamente capaz e para o serviço é uma posição chave nos Centros de Decisão. Vá já lá dizer que aceita! E eu lá fui. Começou assim a saga nas actividades gestionárias que 96 desenvolvi sempre ao longo de toda a carreira e, depois dela, e que descrevo noutro capítulo deste relato. À medida que os meus horizontes se alargavam, eu ia compreendendo melhor o peso da influência do Dr. Corino na minha formação e bem assim na dos outros. Mesmo depois da sua jubilição, visitava-o com frequência no gabinete que ocupava no ICBAS. Nessas visitas, dava-lhe conta das minhas actividades e preocupações ouvindo as suas reflexões e tentando responder aos seus constantes e estimulantes porquês. A independência profissional Completado o concurso da carreira hospitalar, tendo sido sempre ajudante do Dr. Rocha Melo na actividade privada, exercendo actividade tutelada no Serviço, era necessário assumir a responsabilidade pelos meus doentes no Hospital e procurar um espaço próprio na clínica privada ou autónoma. Comecei por criar consultas em hospitais periféricos onde procurava casuística a internar no HGSA para operar. Assim sucedeu com as consultas no hospital de Matosinhos, que herdei do Rocha Melo, e ampliei, chegando a operar doentes de patologia do raquis, com a colaboração do anestesista Adelino Lobão e da minha enfermeira instrumentista do HGSA, Mª Emília, que nos primeiros tempos se prestava a vir ajudar-me, enquanto não treinei enfermeira local. Também lá se faziam mielografias, tendo tido colaboração, durante alguns anos, na consulta e nas mielografias do meu colega e amigo do HGSA, Almeida Pinto. Outras consultas que mantive, durante anos, foram as dos Hospitais de Barcelos e Espinho, que fazia às Quartas-Feiras, em semanas alternadas. Entretanto, tinha conseguido tempos num consultório na Rua Sá da Bandeira, associado de início ao meu colega do último curso Louis Krug e, depois, ao meu interno Ernesto de Carvalho e ao nefrologista José Fernandes. Aí, durante cerca de vinte anos, tratei doentes privados, quase sempre segurados. Com os anos, especializei-me nos sinistrados, fazendo a clínica neurológia ou neurocirúrgica da maioria das companhias seguradoras, tendo como base hospitalar o Hospital de Santa Maria. Nos anos 70 e 80, também tratei doentes privados ou sinistrados no Hospital da Lapa e na Casa de Saúde da Boavista, onde fiz escalas no serviço de urgência como neurocirurgião de chamada, durante alguns anos. Adquiri assim uma independência, técnica e económica, suficiente, embora nunca tivesse desejado alargar muito a actividade, pois dedicava o essencial da minha atenção 97 ao HGSA, desprezando a clínica privada estrita, mantendo quase só o trabalho com sinistrados, com poucas horas por semana, as suficientes para me completar o rendimento indispensável a uma vida desafogada. Exerci esta actividade, no consultório, até 1988, data em que passei a dedicação exclusiva, abandonando também a actividade como neurocirurgião. As consultas nos hospitais periféricos já tinham terminado, no fim dos anos 70, quando o HGSA e o consultório se haviam tornado muito absorventes. Foi com pena que deixei a prática clínica, depois de 30 anos de exercício, mas as funções gestionárias, que vim a exercer desde 1971 e, sobretudo, desde 1988, eram incompatíveis com ela. Durante estes 40 anos, a vida criou-me novas relações e os amigos da juventude foram seguindo caminhos diversos, surgindo outros com quem convivemos em fases variadas. Nos anos sessenta, nos tempos do café Ceuta e das férias campistas no Algarve, os amigos eram os constantes Paulo Mendo e Verónica, António Joaquim e Judith, mas também o Pimentel e a Fátima, que já nos deixou, vítima de grave doença, o Sérgio Babo e a Mizé, o António Lima e a Adelaide. Nos anos oitenta e noventa, mantendo-se os Mendos e Gonçalves, surgem o Abílio e a Maria Luiza e, mais tarde, a Elisa Ralha e o André, companheiros das viagens intercontinentais dos anos 90, amigos de todos os dias, nestes anos em que todos vivemos as grandes mudanças e esperanças que a revolução de 25 de Abril, permitiu. 98 FOTOS – CAPÍTULO IV Reunião da SLEN, Porto, 1962. Os discípulos de Corino. Reunião da SLEN, com o Manaças e o Lucas, em 1962. Reunião da SLEN, Porto, 1962: Lucas, Luís de Carvalho, Silva Santos, Freitas Ribeiro e Leão Ramos. Jardim do HGSA, à entrada do serviço. Eu, Rosa Pinto e Canijo. O autor, nos anos sessenta. 99 Gilbralar – Dezembro de 1963. Eu com o Vítor Blanc e a filha. Encontro em Gibraltar – Dezembro de 1963. Paulo Mendo, Verónica, Zita e filha, Maria Luiza e eu. Eu e a Maria Luiza, no Hyde Park com o Leão Ramos – 1964. Londres, White Hall – 1964. Luís de Carvalho e Serafim Paranhos, anos sessenta. A minha filha Lena, com poucos meses de idade. 100 Estrasburgo – 1965. Maria Luiza, eu, Franco (italiano), Verónica, Rizard Shranovski (polaco). Estrasburgo – 1965. Os serviços de neurologia e de reanimação em 1967. Primeira fila, da esquerda para a direita: Pinho Costa, Resende, Corino, Paula, Rocha Melo. Segunda fila, da esquerda para a direita: Carlos Sousa, Pereira Guedes, Neves Santos, eu, Canijo, Leão Ramos. Terceira fila, da esquerda para a direita: Roseira, Pinheiro, Alberto, Serafim, Castro Lopes, Paulo Mendo, Abel Gomes, Nuno Ribeiro, Almeida Pinto. Quarta fila, da esquerda para a direita: Sérgio Alexandrino, Calheiros, Berrance, Alberto. 101 No gabinete do Paulo Mendo – anos setenta. Minho, finais dos anos sessenta. Ínicio dos anos setenta. Na biblioteca do serviço. Ínicio dos anos setenta. Manuela Viana, eu e Maria José Rodrigues (anestesista angolana). Gabinete do director da neurorradiologia. Inícios de setenta. Paula, Almeida Pinto, Fernando Mendo e eu. Serviço de neuroradiologia. Um neurocirurgião no craniógrafo. 102 CAPÍTULO V – O PÓS 25 DE ABRIL O 25 de Abril Em 24 de Abril de 1974, era eu Adjunto do Director Clínico do HGSA, Doutor Ignácio de Salcedo. Nessa qualidade, fui encarregado de frequentar um curso de Informática que iria realizar-se em Sesimbra, no Hotel do Mar, a partir do dia seguinte. Cheguei a Lisboa à noite, no comboio e fui dormir a casa do Hermínio, para, no dia seguinte, tomar a camioneta para Sesimbra. Cerca das sete da manhã, a Margarida, quando eu estava debaixo do duche, bate à porta da casa de banho e faz-me a ouvir um comunicado do “Movimento das Forças Armadas”. O inacreditável acontecera, a revolução estava na rua feita pelos militares, a primavera surgira com cravos e alegria e as portas da liberdade e das utopias estavam abertas. Os meus sogros estavam também em Lisboa nessa altura, vesti-me a correr e saímos para a rua de carro (Toyota amarelo do Hermínio). Eu, o Hermínio, a Margarida e o meu sogro fomos “ver a revolução”. No Cais de Sodré, havia dezenas de guardasrepublicanos (de que lado estariam?). Passámos pelo Rossio, descemos a rua do Ouro, passavam camiões com soldados e começavam a surgir populares aos vivas, e os primeiros cravos. As notícias permanentes no rádio do carro iam, progressivamente, tornando mais claros os objectivos do movimento. Ainda passámos pelo Rádio Clube, na Sampaio e Pina, metemos conversa com um tenente que nos informou que quem estava por detrás do movimento não era o Spínola mas o Costa Gomes! Decidimos ir para casa ver os acontecimentos na televisão. Nunca mais pensei em Sesimbra, já tinha telefonado para o Porto, onde a Maria Luiza seguia com o mesmo entusiasmo a situação, a dizer que ficaria em Lisboa até ser restabelecida a circulação de comboios. Ficamos todo o dia agarrados à TV, na companhia dos vizinhos de andar do Hermínio, o Dr. Francisco Medeiros, InspectorGeral da Saúde e esposa. O pobre do meu sobrinho Pedro, que fazia oito anos nesse dia, não percebia porque razão ninguém lhe ligava. No dia seguinte, de manhã, (26) fui ao S. José ver os meus amigos da Neurocirurgia, Fernando e Lucas, que trabalhavam na mesma, assim como o António Galhordas, com 103 quem fui almoçar bacalhau à Brás, para combinar uma Mesa Redonda, que eu pretendia realizar no Porto, mas acabámos a discutir o espanto da revolução em curso. O Galhordas, duas ou três semanas depois, era Secretário de Estado da Saúde do 1º Governo Provisório, sendo Ministro dos Assuntos Sociais o Dr. Mário Murteira, economista e também vizinho do andar de baixo do Hermínio. Poucas semanas depois, voltei a encontrá-lo, quando nos convidou a mim e ao Mendo para almoçar com ele no Ministério, então situado nos últimos andares do edifício da Praça de Londres. No dia 26, à tarde, ainda levei os meus sobrinhos, João e Pedro, a “ver a revolução” no Chiado e a multidão em frente à Pide, na Rua António Maria Cardoso, onde horas mais tarde iria haver o tiroteio que causou os únicos mortos da revolução. Recordo as fotos que fiz aos miudos com marinheiros armados a fazerem pensar na revolução de Outubro ou em Cronstadt! Em 28 ou 29, regressei no primeiro comboio ao Porto. Nesse comboio, encontrei o meu amigo de Barcelos, Ni Araújo e o advogado Macedo Varela, que viria a ser deputado na constituinte pelo PC ou MDP. No Porto, ainda assisti ao 1º de Maio, a mais incrível e comovente manifestação de alegria e liberdade que jamais sonharia ver. Tinha a certeza de que nunca mais haveria nada de semelhante e o meu receio era, já nessa altura, que a situação derrapasse. De facto, no 1º de Maio de 1975, foi com grande apreensão que vi descer a Avenida dos Aliados um Chaimite, no qual seguiam empoleirados o Ângelo Veloso, do PC e o Carlos Lage do PS. A partir daí, foi a revolução no Hospital, onde eu desempenhei papel nuclear como Secretário da Direcção Médica, equivalente a Director Clínico, onde me mantive até fim de 1975, preparando a sucessão pelo Dr. Albino Aroso, que tomou conta do lugar em Janeiro de 1976. Tenho muito orgulho em ter contribuído para que o HGSA não sofresse perda de rendimento e actividade, sem que ninguém tenha sido saneado, como era costume na sequência da revolução. A actividade desde 1975 até à reforma, em 1999 104 Como profissional, estive sempre ligado ao HGSA, excepto nos dois anos imediatos à licenciatura, em que trabalhei no H.S. João. Marcado, como todos nós, que com ele trabalhámos, pela forte personalidade do Dr. Corino, procurei exercer a profissão o melhor que pude. O HGSA foi a minha vida. Como neurocirurgião, tratei centenas ou milhares de doentes, tive sucessos e insucessos, fiz muitos bons amigos entre colegas, mas também entre doentes, enfermeiros, empregados, administrativos, e profissionais de todos os tipos, o que me conforta e deixa saudade dos tempos de trabalho em equipa. Recordo a contribuição que dei para a organização do Serviço de Neurologia, a estruturação do Arquivo Clínico do serviço, que me fazia passar manhãs de Sábado nas instalações de arquivo, a catalogar processos e elaborar fichas para banco de dados, com os meus internos Melo Pires, Artur Vaz, Bastos Lima, com os administrativos Salgado, Sousa, e outros. Recordo a colaboração da secretária Teresa Vasconcelos, a Noémia, a Rosa Pinto e a Orquídea do EEG, a Marfisa da neuroradiologia, a Emilia Pinto Braga, o Manuel Pinto e tantos outros. Entre os enfermeiros, lembro a Maria Vaz, de TCE, que conhecera no meu estágio, em 1960 no Serviço do Prof. Bastos, no H. S. João, a que já me referi mais atrás. Outras enfermeiras importantes foram a Alzira, minha ajudante crónica nas traqueotomias, a Luz Silva, que viria a ser minha enfermeira Directora quando era Director do HGSA, assim como a sua antecessora Emília Alice, que acabou por casar com o Dr. Albino Aroso, a Maria Barbosa, a Travessa, a Graça e a Bertelina, a Maria Emilia, o Teixeira, mais de 30 anos no serviço, o Mesquita, etc. Entre os doentes, avulta a pobre Ana Paula, a Paulinha, que operei 17 vezes, a partir dos nove anos, com problemas de obstrução sistemática de shunt, que 30 anos depois, sofrendo de insuficiência renal e em hemodiálise, nunca deixou de me visitar (acompanhada da mãe D.Augusta e o pai Sr. Ribeiro,) oferecendo-me ingénuos presentes todos os Natais. A mãe viveu um calvário com a doença crónica da filha única e, nos últimos anos, também com a demência (Alzeimer?) do pai Ribeiro. A Maria Emília, que tratei nos anos sessenta, de complexa patologia do raquis, ficou minha amiga para a vida e desde a alta ficou sempre a trabalhar como voluntária da Liga dos Amigos, sendo actualmente a voluntária mais antiga, tendo sido, durante anos, chefe do voluntariado. E tantos outros! 105 Mas a minha mais prolongada participação na vida do HGSA, foi na área do Planeamento de Saúde, em que fui um dos peritos mais conhecidos no País. Os pontos mais marcantes da actividade desse tipo foram a criação e manutenção durante quase vinte anos do GTPP (Grupo de Planeamento do HGSA) e o trabalho na CCRN (NPRS), onde tive o privilégio de colaborar com técnicos da elevada craveira da Dr.ª Isabel Escudeiro e com os consultores suecos, em especial o Sture Sjolund, mestre de muitos de nós, no Porto e em Lisboa. Foi o meu grande amigo Baptista Pereira, juntamente com o Luís Magão, que me convenceu a integrar o Grupo de Planeamento da Federação Internacional dos Hospitais, como representante de Porto e Lisboa. Este grupo destinava-se ao estudo do planeamento de saúde, em áreas urbanas de média dimensão e que integrava representantes de várias cidades europeias. Entre 1981 e 1986, participei nas reuniões que se realizaram em Notingham, Dublin, Barcelona, Lyon, Lisboa, Bordéus e aindaas de uma subcomissão desinada por GLU (Grup Latin dês Urgence). Este grupo integrava representantes de Porto, Lisboa, Barcelona, Lyon, Milão, Udine. Em 1988, fui nomeado director clínico, no novo conselho de administração, presidido pelo Dr. Paulo Mendo. Em 1993, com a nomeação do Dr. Paulo Mendo para Ministro da Saúde, acumulei, interinamente, o lugar de presidente. Em 1996, passei à efectividade de funções de director e deixei as de director clínico. Entre 1982 e 1988, exerci funções docentes, como professor auxiliar convidado de neurocirurgia, na licenciatura em Medicina do ICBAS, funções que ababdonei a meu pedido, quando fui nomeado director clínico. Entre 1993 e 1999, durante os seis anos que exerci a função de director do HGSA, desempenhei, por inerência, função de membro da Comissão Directiva da licenciatura em medicina, sendo responsável, juntamente com o director de departamento, pelo ciclo clínico da mesma. A Comissão Directiva, incluía, para além dos dois responsáveis do HGSA, os presidentes dos conselhos directivo e científico do ICBAS, que eram responsáveis pelo ensino pré-clínico. Esta foi uma experiência extremamente gratificante, pois além de ter tido o privilégio de ter trabalhado com personalidades de alto nível científico, como os professores Alexandre Quintanilha e Corália Vicente, tive oportunidade de presidir à Comissão Científico do ciclo clínico, tendo contribuído para as reformas praticadas na altura, de 106 que a principal foi a criação do ensino profissionalizante, lançado no último ano de curso. Para além disso, gostaria de destacar a importância de que se revestiu o esforço da organização e formação necessários ao lançamento e manutenção de programas tecnicamente tão evoluídos como os da transplantação de órgãos. De facto, o HGSA já vinha desempenhando funções destacadas a nível nacional e internacional, no capítulo da transplantação de córneas, de que foi sempre o mais importante do país, e de rim. Em 1995, após um período de formação e organização de dois anos, iniciou-se o transplante hepático, que se desenvolveu de forma imparável, prolongando-se, nos últimos anos, pela transplantação reno-pancreátia, em que foi sempre o único hospital a praticar, em Portugal. Em 1999, tive oportunidade de apoiar a proposta do serviço da neurocirurgia para a introdução da técnica da cirurgia precoce dos aneurismas. Este ambicioso programa, único no país e pouco frequente noutros, tem-se desenvolvido, atingindo, em finais de 2011, o número de 900 operados, com resultados extremamente favoráveis. A colaboração com o ICBAS criou condições para uma política de qualificação universitária dos médicos do HGSA, através da realização de doutoramentos que desde o início apoiei e incentivei com todas as minhas forças. Em 2011, tinham sido realizados algumas dezenas de doutoramentos de médicos do HGSA, sendo de referir que só no departamento de doenças neurológicas haviam sido realizados quase metade do total de doutoramentos dos médicos do HGSA. Para além do planeamento, ocupei lugares de direcção, durante muitos anos, tendo como obra mais significativa, em que fui participante, a ampliação e remodelação do Hospital, velha aspiração de dezenas de anos e a que ficou ligado o meu nome, por decisão que muito me honrou do Conselho de Administração que me sucedeu. Trabalhei nos gabinetes ministeriais de Leonor Beleza, como assessor do Secretário de Estado Baptista Pereira, no de Paulo Mendo e no de Maria de Belém. Também colaborei com as Direcções Gerais dos Hospitais, DGIES, DEPS, DRH, e com os seus responsáveis Jacinto de Magalhães, Luís Magão, Mariana Diniz de Sousa. Em todos estes casos, sempre defendi os interesses do meu Hospital e da região, fiz muitos amigos na profissão dos Administradores hospitalares de carreira, que sempre me honraram com estima e consideração e com quem muito aprendi. 107 As grandes referências que me ficaram foram o Dr. Raul Moreno, com quem trabalhei trinta anos, o Baptista Pereira, a Isabel Escudeiro e o Sture Sjolund, o Paulo Mendo, a Drª Maria de Belém, o Dr. Albino Aroso. Nas homenagens que no fim da carreira me prestaram e que incluiram jantares, sessões no Salão Nobre e a condecoração pela Ministra Maria de Belém, fui muito tocado pelas profundas manifestações de amizade com que os meus colegas me distinguiram e que me fazem sentir que valeu a pena o trabalho e as dificuldades que experimentei ao longo da vida que aqui deixo descrita.14 Em 1973, estabilizado na vida e na profissão, tendo casa, carro, ganhando o suficiente, casado e com duas filhas de 18 e 10 anos, considerava-me realizado. No entanto, o 25 de Abril abria novas perspectivas de Liberdade, o futuro era risonho. Faltava assegurar a continuidade da estirpe. Tal foi conseguido primeiro com o casamento da Olga Maria em fim de 1979 e o nascimento do primeiro neto, João Luís, às nove da manhã de uma Segunda-Feira, no Hospital de Santa Maria, com a ajuda da minha querida e saudosa amiga Teresa Nunes. Foi uma alegria imensa ver o meu neto nascer, já que não vira a mãe. Um ano e meio depois nasce um irmão, o Nuno Miguel. Na era das tecnologias, até a gravidez e o parto sofreram profundas mudanças. Assim, a generalização da ecografia acabou com o mistério do sexo do recém-nascido, não havendo a dificuldade que eu experimentei quando do nascimento da mãe dos dois rapazes, em que estive mais de 24 horas depois do parto sem saber se era pai de filho ou filha. Também foi possível passar a programar o parto e, assim, o Nuno nasceu num feriado, a Sexta-Feira de Páscoa. Em 1989, outro neto veio alegrar os avós, o Luís, e, em 1995, nasceu a Sofia, a princesa da família, objecto de todas as atenções da mãe, do irmão e dos avós, tios e primos. A actividade após a reforma No HGSA Em Novembro de 1999, foi-me concedida a reforma como chefe de serviço de neurocirurgia. No entanto, mantive-me no HGSA, contratado como assessor do presidente do Conselho de Administração que me sucedeu, Dr. Vítor Ribeiro. Nessas 14 Estas manifestações foram descritas de forma desenvolvida, no capítulo 5 do livro anterior. 108 funções, coordenei o grupo de trabalho que programou e acompanhou o projecto e a sua realização, do edifício satélite que completou o quadrilátero imaginado por John Carr. O edifício satélite incluía (e inclui) o serviço de Nefrologia com unidade de Hemodiálise e de Transplantação Renal, unidade de Medicina Nuclear, o Centro de Formação Profissional e refeitório pessoal. No termo do meu contrato de assessor de três anos, o edifício estava a funcionar. Entretanto, nas mesmas funções, elaborei um estudo sobre o internato de especialidades, em colaboração com o Dr. Serafim Rocha Guimarães, director do internato do HGSA e, durante mais de vinte anos, sucessivamente, eleito presidente da Comissão Nacional do Internato Médico (CNIM). Também colaborou nesse estudo o Dr. José Milheiro, economista, contratado também como assessor do Dr. Vítor Ribeiro. Esse estudo, que só teve publicação interna, demonstrou a qualidade superior dos internos formados no HGSA e ICBAS, em relação aos do resto do país. Também como assessor do director, mantive os programas há mais de vinte anos por mim criados, de ponderação dos actos cirúrgicos e radiológicos, o que melhorou muito significativamente o apuramento de custos em sede de contabilidade analítica. Este programa foi acompanhado pela publicação regular de um boletim informativo, que publicava os resultados de todo este trabalho. Nos últimos anos, mantive o controlo pessoal das listas de espera para cirurgia, tendo criado interlocutores específicos nos serviços, o que contribuiu para a racionalização e validação dessas mesmas listas. Outras actividades pós-reforma Desde há anos, que me vinha a interessar pela pesquisa história, por entender que dessa forma se poderia recuperar a memória das realizações dos homens ou mulheres que integraram as gerações passadas. Assim, comecei por procurar conhecer melhor a história da instituição HGSA. Consultei arquivos e bibliotecas no HGSA, na SCMP, BPMP, Casa do Infante, etc. e desse labor resultou a publicação de vários trabalhos, a maioria dos quais na revista Arquivos do HGSA, e o livro intitulado Contributos para a História do Hospital Geral de Santo António. Esta preocupação de conhecer melhor a história dos Homens e das instituições também me fez desenvolver estudos sobre a história da neurocirurgia, em Portugal e no mundo. As pesquisas sobre este assunto e os seus resultados forneceram dados que utilizei, 109 quando o director de serviço de neurocirurgia do HGSA, Dr. Ernesto Carvalho, me pediu, para realizar no serviço palestras para internos, médicos seniores ou outros profissionais. De todo este trabalho, que ainda continua, resultou a criação de um arquivo pessoal, já muito extenso, que está aberto à consulta por todos aqueles que o desejarem. A memória colectiva que procurei na história, fez-me admitir que a minha memória pessoal, de uma vida cheia como cidadão e profissional, pudesse constituir um testemunho de uma época e de uma geração. Assim, pensei que teria utilidade um registo autobiográfico que concretizei com a publicação do livro Fragmentos de uma Biografia Cívica. Para além do carácter cívico das memórias registadas neste livro, entendi também que uma vertente mais pessoal e afectiva da minha vida seria igualmente importante. Ao longo dos anos, fui registando memórias que agora decidi tornar públicas com este novo livro. As habitações Do nascimento ao casamento Da casa de Milhazes, onde nasci, passei para a casa que meus pais alugaram em Barcelos, em 1942, a que já me referi, e que ficava no Campo 5 de Outubro, tinha eu nove anos. Daí, saí em 1948, para o Porto, onde ocupava um quarto alugado em casa de primos de meu pai. Já me referi longamente a essa casa e aos elementos humanos que lá viviam. Ficava na Rua do Freixo, em Campanhã, servida pelos eléctricos 11 e 12, próximo da Estação de comboio, onde tomava o transporte que me levava nas férias a Barcelos e me trazia de regresso ao Porto, próximo também do Liceu Alexandre Herculano. Aí vivi até 1956, quando casei. Lá estudei para fazer o 6º e o 7º ano do Liceu e parti diariamente para as aulas na Faculdade. Fui aí preso pela brigada da Pide, chefiada pelo Pinto Soares e só de lá saí em Agosto de 1956, oito anos depois de ter chegado, deslumbrado, àquela que passaria a considerar como a minha cidade. De facto, imediatamente após a minha chegada, fui completamente seduzido pelo ambiente da cidade. Foi como se de amor à primeira vista se tratasse e percebi que, daí em diante, a minha vida seria processada no Porto. Fiquei encantado com o cinzento da 110 cidade, o granito das construções e até a neblina e a chuva que experimente logo à chegada. Hoje, sinto como quase traição o abandono da terra onde nasci, para me fixar no Porto. Do casamento até ao Largo do Cruzinho Em 30 de Setembro de 1956, vim de táxi, desde Barcelos, para me casar na Igreja de Cedofeita. Recordo que era um Studebacker verde-escuro. Passámos (eu, meus pais e a Nela) pelo Hospital da Póvoa, onde a minha prima Maria Alberta dera, poucos dias antes, à luz o primeiro filho, o Zé Alberto. Chegámos ao Porto e à casa onde então morava o nosso grande amigo António Joaquim Gonçalves com a Judite, na Rua Visconde de Setúbal, ali perto do Marquês, onde me vesti e de onde parti para a cerimónia do casamento. Casámos e, após curta lua-de-mel de cinco dias em Braga (Bom Jesus) e Barcelos, em casa de meus pais, regressámos ao Porto e fomos inaugurar a nova “residência de noivos” no último andar da casa de meus sogros, junto da Fábrica de Moagem da Rua da Restauração, 40. Nos três dias de lua-de-mel no Bom Jesus, recordo, para além da novidade de nos sentirmos adultos, os passeios de barco no Lago do Bom Jesus, as passeatas em Braga, as conversas com o livreiro Vitor de Sá, que foi depois minha testemunha no julgamento e, sobretudo, uma ida ao cinema, no S. Geraldo, onde vimos o inesquecível filme de Fellini, “La Strada”, com interpretações fabulosas da Giulieta Massina e do Anthony Quinn. “É arrivato Zampanó” no falar da Massina, acompanhado de rufos de tambor, dava uma dimensão trágica ao filme que o contrastado “preto e branco” valorizava imenso. Esse filme ficou para sempre ligado a um dos mais felizes momentos da minha vida. De Outubro de 1956 até à saída dos meus sogros, regressados ao Alentejo, em 1962, exceptuando os dois anos que passei em Peniche e Penamacor, residimos na Restauração. Lá nasceu a minha filha Olga Maria (embora tecnicamente o parto fosse feito no Hospital do Terço). Desde que me formei, em Julho de 1960, abri um muito pobre consultório de bairro, logo abaixo da Fábrica, na esquina com o largo de Massarelos, onde três vezes por semana, depois das 5 da tarde, pratiquei uma não menos pobre clínica geral, com consultas a 20$00, que muitas vezes não recebia, pois os doentes eram em geral de muito baixo escalão económico. Fazia visitas domiciliárias, 111 quase sempre à noite, a 50$00, quando me pagavam. Recordo as chamadas para problemas cardíacos, tendo tido oportunidade de diagnosticar alguns casos de edema agudo do pulmão, que eu resolvia com “Cedilanide I.V.” que preparava, fervendo no local as seringas e agulhas na caixa que levava sempre na pasta. Uma febre tifóide tratada em casa com cloranfenicol e pneumonias que se resolviam rapidamente com penicilinas da primeira geração foram algumas das situações que recordo. Em Novembro/Dezembro de 1960 fui contratado como médico eventual do novo Hospital de S. João. A partir daí começamos a sonhar com uma casa só para nós. Durante o ano de 1961, fomos procurando casa para alugar, enquanto os meus sogros preparavam o regresso a Vila Viçosa, com obras de fundo na residência de que lá dispunham O Largo do Cruzinho Em 1962, no início do ano, já eu ganhava no H. S. João 3.000$00 por mês, conseguimos alugar um T2 no Largo do Cruzinho, próximo do início da Rua do Campo Alegre e do futuro Hotel Ipanema. Lá, vivemos até 1973, lá nasceu a Lena (tecnicamente foi na Lapa), de lá partimos para as nossas primeiras viagens campistas, em 1961 e anos seguintes, o consultório de Massarelos foi-se mantendo, enquanto os 500 a 1000 escudos que me rendia por mês eram indispensáveis para a nossa sobrevivência. A partir da minha transferência para o HGSA, a situação agravou-se nos primeiros tempos, pois não tinha salário, vivendo com dificuldade e tendo como únicos rendimentos os 800$00 que me chegavam de Barcelos e as ajudas ocasionais na cirurgia privada do Rocha Melo, além do magro rendimento do consultório. É de notar que durante os dois anos passados no HSJ, tinha como vencimento 3000$00, o que me permitia pagar os 1000$00 de renda e ainda sobrava. No fim de 1963, ou já em 1964, acabei por ter que fechar o consultório, mas ao mesmo tempo aceitei umas substituições ocasionais do Nestor no seu consultório de Sá da Bandeira. Entretanto, ia tendo chamadas para os Hospitais privados da Boavista, Santa Maria e Lapa, onde já era conhecido, em regra para substitur o Rocha Melo. Quando, em 1965, o meu colega Manso Preto, interno de Urologia no S. João, me convidou para ocupar três dias por semana no consultório que tinha alugado no 6º andar, do 756 de Sá da Bandeira, não tive dúvida em aceitar. Mantive-me naquele consultório até 1990, quando passei a dedicação exclusiva no HGSA. 112 Alguns anos depois, o Manso Preto passou a posição dele ao meu colega de curso, Louis Krug, cirurgião do H. S. João, que se manteve como meu colega de gabinete durante anos, dado que eu só utilizava a sala duas vezes por semana das 17 às 20 horas. As outras salas do andar eram ocupadas pelo Lopes Vaz, professor na FMP com grande clínica de reumatologia (mais tarde acabaria por comprar todos os restantes gabinetes), o Pediatra Baltazar Valente e o Dermatologista Felino de Almeida. Quando, já nos anos oitenta, o Krug saiu, passei dois dias da minha sala ao meu ex-interno, então já especialista, Ernesto de Carvalho e um dia ao nefrologista do H.S. João, José Fernandes. Durante anos, pensava em amealhar dinheiro para comprar casa própria mas constatava sempre que as poupanças, que após 1964 ia conseguindo, estavam sempre 200 contos aquém do necessário para a entrada da compra. Entretanto, o nosso amigo António Joaquim, no fim dos anos 60, aventurou-se a pedir um empréstimo à Caixa e começou a construir a sua casa no Monte dos Burgos, lado da Senhora da Hora. O Arquitecto era um Pereira da Costa, que possuia uma empresa de construção, “Construções Espaço” com a qual colaboravam os três irmãos, Narciso, Armindo e Leonel. Estes quatro irmãos eram naturais de Barcelos, onde o pai era patrão duma fábrica de madeiras (?), que vendeu antes de se mudar para o Porto. Os irmãos Armindo e Leonel frequentaram o colégio Alcaides de Faria, onde foram meus contemporâneos. O Armindo andava um ano à minha frente, onde era colega do Celestino Correia, futuro engenheiro, de que falei noutra parte deste relato. O Leonel, mais novo do que eu, foi colega de ano da minha irmã Nela. O mais velho, Narciso, fizera um curso (Engenharia?) na Suiça, que mais tarde também foi seguido pelo irmão Armindo, enquanto o Leonel se fez engenheiro (Agente Técnico) no Instituto Industrial do Porto (IIP), onde foi colega de ano do Adriano, irmão da Judite e do Henrique Martins, nosso grande amigo, falecido cedo, nos anos 80. O Henrique, irmão mais velho dos três, era também formado no IIP, no mesmo ano do Humberto Lima, nosso companheiro do Mud Juvenil e do Julgamento. Estimulado pela decisão do António Joaquim, fui imediatamente receptivo ao convite do meu colega e amigo Luís Roseira, para me associar como suplente a um grupo de pessoas que estava a estudar um projecto de construção de um prédio na zona da Pasteleira. Este projecto foi concretizado, conforme é referido, em capítulo anterior deste livro. 113 A lista definitiva agrupava 18 condóminos algum dos quais, como eu e o Paulo, passámos de suplentes ao núcleo duro dos efectivos. Nos que ficaram havia vários médicos (eu, Paulo Mendo, Roseira, Rocha Melo, Carlos Alberto Faria de Almeida, José Costa Martins) pelo que pedimos um empréstimo à Caixa dos Empregados da Assistência, que tinha o maior número de sócios entre os requerentes (6 em 18). Um deles, André Menezes Rosa, veio a casar com a Elisa Ralha, casal que, anos mais tarde, veio a integrar o restrito grupo dos nossos melhores amigos. É altura de lembrar que a Elisa tinha sido casada com um grande amigo dos anos 60 e 70, o João Melo e Matos, arquitecto excêntrico e um tanto louco, mas um generoso e fiel amigo, sobretudo meu e do Mendo. Era um maníaco por automóveis, tendo possuido um AlfaRomeu sport, um Jaguar E, que me convenceu a guiar, numa noite de verão dos meados de 60, a 200 Km à hora, na Auto-Estrada dos Carvalhos (hoje início da A1), com a Maria Luiza e ele, João, apertados no outro dos dois lugares que o carro possuía. Noutra altura, em que tinha recuperado um minúsculo Austin, descapotável, de dois lugares, de matrícula AC, dos anos 20/30, foi com ele, guiando toda a noite, do Porto a Lagos e, quando de manhã chegamos à Praia de D. Ana, estava ele acampado numa pequena tenda individual, ao cimo da escada de acesso, tendo ao lado o inesquecível AC! Na nossa casa do Largo do Cruzinho foi ele o decorador de interiores, desenhando os móveis e adereços, que o Paulo Monteiro, que possuia loja na rua Faria Guimarães, se encarregava de fornecer. Entretanto o João adoeceu com fortes lombalgias e consultou o Rocha Melo, que o operou a uma hérnia discal, sendo eu o ajudante, mas surgiu uma complicação rara, uma “discite”, com dores violentas e incapacitantes, que demorou meses a dominar, tendo-se recorrido ao saudoso Dr, Álvaro Ferreira Alves, conceituado ortopedista, amigo e colaborador do Dr. Corino, participando frequentemente nas tertúlias dos sábados no Serviço. Além do seu valor como profissional o Dr. Ferreira Alves era uma grande figura, que eu sempre entendi que merecia a designação de “príncipe”. O Dr. Ferreira Alves colocou um colete de gesso, para forçar a imobilização, o que em conjunto com antibioterapia acabou por dominar a doença. Nessa altura, estava o Melo e Matos casado com a Elisa e o tratamento foi feito na residência que ainda é a dela, na Rotunda da Boavista, residência em que ele construiu um veleiro no terraço das traseiras, que depois teve que ser removido por uma grua! 114 Mas voltemos ao Ateliê dos arquitectos. O outro engenheiro, Pena Monteiro, era irritantemente meticuloso e dizia sempre que era da capital do tijolo, Tomar, pelo que disso percebia ele! Outro engenheiro era o Patrício Soares da Silva, gestor que dirigiu várias empresas entre as quais a Oliva, que se mudou após uns anos, vendendo o andar ao Ivo Lemos e Toninha, nossos amigos, por via do meu amigo e colega dentista, Pimentel, que era cunhado da Toninha. O último dos engenheiros era o André de Lima, bom homem mais velho do que eu, e que comigo e o Patrício, integrou a primeira comissão administrativa do condomínio. O André de Lima, comunista militante, mas bom homem, acabou morando na Caparica, a acompanhar a filha única que lá arranjara trabalho. O meu colega Almeida Pinto, bom amigo, colega mais novo no Serviço, onde foi o 1º colaborador do Mendo na Neuroradiogia, comprou o andar do Carlos Alberto, que este de resto nunca utilizou e, após alguns anos, vendeu, por sua vez, o andar ao João Paulo Sottomayor, brilhante fotógrafo profissional no Porto moderno. A filha do Rocha Melo, Maria João, ocupou o andar do pai. A Maria João, era e é enfermeira na Neurocirurgia do HGSA e estava casada com o Manuel Seabra, anestesista em Matosinhos. Outros condóminos desde início foram o Arquitecto Rui Leal, a minha vizinha de piso, Branca Prata, esteticista, e o Sr. Álvaro Dória. O andar do Dr. Costa Martins foi habitado, de início, pela filha Beatriz, casada com o historiador César de Oliveira, que ficara conhecido na guerra colonial como “César terrorista” e foi estrela no pós-25 de Abril. Quando, anos depois, estes se mudaram para Lisboa, ficou lá a residir o meu amigo Zé Costa Martins, também oftalmologista, entretanto regressado dos EUA, onde passara anos em S. Lois Missouri, a estagiar. No Largo do Cruzinho, tivemos como vizinhos de andar, o meu colega desde o liceu, Carlos Krug de Noronha, que se especializou em Radiologia, a Maguita Sottomayor, que tinha sido amiga de infância da Nela, em Barcelos, a nossa amiga Olga Monteiro, casada com o João Júlio e irmã do Paulo Monteiro, cunhada do Poeta Luiz Veiga Leitão, mãe da Isa, colega de ano da Olga Maria, no secundário. A Isa tem uma filha, Nina, que se licenciou no ICBAS e que está actualmente a fazer internato de clínica geral. O último foi o Reinaldo Mesquita, ortopedista no H.S. João. A tertúlia dos anos 60 115 Nesses anos 60 (residimos no Largo do Cruzinho 10 anos, desde 1962 a Janeiro de 1973), ainda havia tertúlias de café. Os nossos amigos frequentavam o Ceuta, aberto nos anos 50, e que era vizinho da Livraria Divulgação, mais tarde Leitura. Em ambas pontificava o grande livreiro Fernando Fernandes, antes empregado da Livraria Aviz e nosso companheiro do Juvenil e do julgamento. De resto, a Divulgação havia sido fundada por um grupo em que entravam o José Augusto Seabra, o Vitor Alegria, o Fernando Fernandes, o Carlos Porto, magríssimo crítico de teatro, e outros que não recordo, excepto o meu cunhado Hermínio que entrou com uma cota de 20 contos, pouco depois de sair da prisão, e que lá trabalhou como empregado de escritório. A livraria afirmou-se no panorama cultural, organizando debates com escritores, sessões de autógrafos, exposições de pintura, etc, sempre com vigilância pouco discreta da Pide. No Ceuta, reuniam-se, sobretudo nas tardes de Sábado, muitos dos nossos amigos. Além de nós e dos Gonçalves, lá passavam o Humberto Lima, o Graciano, casado com a irmã do pintor Eduardo Luís, que por essa altura emigrou para Paris, o Henrique Martins, antes de se mudar para Lisboa, o Fernando Fernandes e o Carlos Porto, o Paulo Monteiro, a irmã Olga e o marido João Júlio, a Maria Sofia e o Luiz Veiga Leitão. O mais jovem de todos nós era o Sérgio Babo que, nos anos 60, concluiu engenharia química, e a namorada Mizé, com quem veio a casar. Por vezes o João Maia, jornalista do Comércio do Porto e dirigente crónico do TEP, o Alexandre Babo e a Júlia, com quem se casara por esses anos, o Paulo e a Verónica, também o irmão Sérgio Mendo e a Verena (estes chegaram a morar num apartamento por cima do café), o João Melo e Matos, etc. Nos últimos anos, também apareciam o Rosalvo Almeida, interno de Neurologia no Serviço, o Artur Pimenta Alves, engenheiro electrónico que viria a ser catedrático de computadores na Faculdade de Engenharia, o seu irmão mais novo Dílio Alves que foi, ainda estudante de Medicina, levado por nós para o Serviço, onde se fez o neurologista distinto que é. Esta tertúlia tinha prolongamentos na minha casa do Largo do Cruzinho, onde nos juntávamos para discutir política, medicina, arte e literatura, declamar poemas, etc. Lá assistimos, na TV, ao campeonato do Mundo de Futebol de 1966, vibrando com o feito dos vencedores da Coreia por 5-3, combinando fins-de-semana no Gerês, na casa-abrigo do Académico, férias no Algarve, etc. A Construção do Bloco e a residência definitiva 116 Na sequência das reuniões com os projectistas, foi elaborado um programa de 18 habitações tipo T 3+1, com garagem individual, comprou-se o terreno em hasta pública da CMP, pela licitação mínima, por mil contos E a construção acabou por ficar por 650 contos, dos quais 350 foram emprestados pela Caixa, a um juro fixo de 4% ao ano, durante 23 anos. Foi o melhor negócio da minha vida, pois com a inflacção, após 20 anos a prestação anual era ridiculamente baixa. O nosso arquitecto de interiores, que nos ajudou na montagem da casa, foi o António Emílio Teixeira Lopes, nosso velho companheiro do Liceu, do Palladium, e do Juvenil. A sua empresa “Escala” construiu os novos móveis e, no dia 28 de Fevereiro de 1973, mudámos para a casa que ocupámos até hoje. A Casa de Moledo A vida foi-nos correndo melhor, como noutros capítulos deste relato se descreve, mas entretanto surgiram os fins de vida dos nossos pais. Infelizmente, a vida acaba um dia e isso naturalmente não poupou os nossos pais. Os primeiros a partir foram a minha boa sogra Sofia, em 1978, e, logo em 1980, em minha casa, após longos meses de agonia com um cancro do pâncreas inoperável, faleceu o meu sogro João Marvão. Os meus sogros sempre me consideraram como filho, sendo até talvez mais próximos os gostos do meu sogro e meus, nomeadamente durante os longos passeios que demos por terras do interior do Alentejo, que com ele aprendi a amar. Em 1991 faleceu meu pai no HGSA (enf.ª 1, ala sul, director Carlos Soares de Sousa, também já falecido), depois de vários internamentos, com patologias várias, que iam da anemia aplástica, tratada durante anos, com transfusões periódicas de glóbulos, pelo meu amigo Justiça, no HGSA, à fractura do colo do fémur, que sofreu oito dias depois de lesão equivalente, sofrida por minha mãe que foi também operada, recuperando, todavia, numa semana. As complicações pos-operatórias que foi sofrendo, conduziram-no à morte, sempre lúcido até ao fim (faleceu no sono, pouco tempo de o deixar por curto período para almoçar). Minha mãe, que vinha a agravar uma demência senil, sofrendo ainda de extensa psoríase, que já nos obrigara a interná-los num lar, piorou muito a ponto de nunca se ter apercebido da morte do marido. A demência acentuou-se, deixou de nos conhecer, a psoríase agravou-se, atingindo o corpo todo, como se tratasse de queimadura de 90%, e 117 acabou por falecer em 1996, com 90 anos, na enf.ª 1 do HGSA, apesar dos esforços do Amaral Bernardo e do Massa. À morte de meu pai era eu Director Clínico e, na da minha mãe, era Director do Hospital. Nos anos passados (décadas de 80 e 90), vivi com desafogo mas sem os grandes rendimentos dos meus colegas da clínica privada, pelo que quando da morte de meus pais, a pequena herança que recebi, permitiu-nos realizar um sonho, que era ter uma casa na região do Alto Minho, entre Afife e Cerveira. Tínhamos mais de 60 anos, pelo que nos interessava um casa nova, pronta a habitar, com programa de mais de 4 quartos, para permitir alojar filhos e netos. Numa viagem de exploração na região, na companhia de meu neto Nuno, então com 12 anos e quando já desistíamos, após horas de pesquisas, o Nuno convenceu-nos a procurar a última referência que levávamos. Em boa hora o fizemos, pois acertámos com a casa de Moledo que hoje possuímos. 118 FOTOS – CAPÍTULO V 25 de Abril, em Lisboa (Chiado). Os meus sobrinhos, Pedro Miguel e João Alexandre, e a revolução. O serviço de neurologia na jubilação do Dr. Corino. 1976. 119 10 de Junho de 1976. A neurocirurgia no jubileu do Dr. Corino. Lisboa, Gulbeikan, 1983. Grupo de Planeamento da Federação Internacional dos Hospitais (FIH), para áreas urbanas de média dimensão. Eu, Isabel Escudeiro e Baptista Pereira (em frente) – os três representantes de Portugal. 120 1991 – Director Clínico. 1993 – Director do Hospital. Século XXI. Actividade pós-reforma. 1998 - Discurso na inauguração da exposição de pintura, na abertura do ambulatório do HGSA. No fim do meu mandato. 121 1998 – Moreno, eu e Graça Rocha. UCIP – Instalações prontas para receber o equipamento. Visitando as obras do HGSA. 1997. 122 Encerramento do velho serviço de urgência (SU), pelo chefe de equipa Amaral Bernardo, no dia de abertura do novo. 1999. O HGSA ampliado e reconstruído, pronto a funcionar. 123 1998. Nuno Grande, eu, dois alunos e Lina Antunes. Cooperação internacional: formação médica na Guiné-Bissau. Entrega de lembranças aos alunos do curso. 1998. À direita: Brandão Có, ministro da Saúde da Guiné-Bissau; Corália Vicente, presidente do Conselho Directivo do ICBAS. Discurso do Director do HGSA, na sessão da abertura oficial do curso. 1998. Visita do Director do Hospital de Bissau ao HGSA. Oferta de uma peça de arte africana. 124 1998. Bissau. Confraternização da lusofonia. Serafim Guimarães, Nuno Grande, Vasco Cabral, eu, Corália Vicente, Lina Antunes e Ana Maria Grande. 1998. Bissau, quarenta anos depois de Peniche, com Vasco Cabral. Vasco Cabral em visita aos amigos. Em Moledo, 2004. 125 1996. Comemoração do primeiro ano de transplantes hepáticos. Reunião conjunta com o Hospital Clínico de Barcelona. Eu com o Professor Visa, enfermeira Rosário, Dr. Vitor Ribeiro, Dr. Mário Pereira, Dr. Rui Almeida, outros membros da equipa do professor Visa. Com a ministra (na altura) Maria de Belém, durante o jantar de homenagem que me fizeram aquando da minha saída de director clínico, e onde recebi a medalha de mérito por serviços prestadas na saúde. 1997. 126 Homenagem ao neurocirurgião poeta Fernando Silva Santos. Lisboa, Teatro Taborda. 1999. Da esquerda para a direita: o Fernando Silva Santos e eu. Eu com o Dr. Baptista Pereira, na homenagem acima referida. 127 1999. Penafiel. Homenagem dos directores dos hospitais da zona Norte ao presidente da sua associação, que, na altura, era eu (encontro-me ao centro ao lado da ministra da Saúde da altura, Maria de Belém). Lápide afixada na galeria de ligação do hospital antigo com o novo edifício de ampliação. 128 Dr. Ernesto de Carvalho, director do serviço de neurocirurgia do HGSA, na apresentação pública do meu livro Contributos para a história do Hospital de Santo António. Verão de 2009. Ministra da Saúde Ana Jorge, conversando comigo, na apresentação do meu livro acima referido. 129 Apresentação do meu livro Fragmentos de uma Biografia Cívica, pelo amigo Mário Brochado Coelho. Ao lado, a Drª Margarida Lima. Novembro de 2011. Os sobreviventes do Mud Juvenil dos anos cinquenta do século XX, na apresentação do meu livro de 2011. Paulo Mendo, Rui Oliveira, Clara Gonçalves, Humberto Lima, Manuela Macário, António Emílio T. Lopes, eu, Fernando Fernandes, Joaquim Brito, Alcino Soutinho. 130 CAPÍTULO VI – AS VIAGENS No meu livro Fragmentos de uma Biografia Cívica, publiquei algumas impressões sobre uma das mais importantes fontes de enriquecimento cultural e de liberdade de pensamento que me entusiasmaram desde sempre. Nesse texto, descrevi em pinceladas rápidas e que pretendia expressivas, o que pude observar e sentir durante as viagens de trabalho, turismo, ou simplesmente cultura, que realizei. As viagens de trabalho levavam ao conhecimento, embora superficial, do tipo de vida e de organização de cidades importantes, sobretudo na Europa. Referi a esse respeito as viagens às cidades de Nottingham, Antuérpia, Paris, Toulouse, Santander, Granada, Barcelona, Dublin. Devo destacar um conjunto de viagens, cerca de dez, à grande cidade de Londres, entre 1964 e 1986, que incluíram uma estadia de três meses, dedicada a um estágio profissional, no instituto de Neurologia da Universidade de Londres (Hospitais de Maida Vale e Queen’s Square). Essas viagens a Londres, de trabalho e turismo, permitiram ficar a conhecer bastante bem uma das maiores metrópoles mundiais e referência da generalidade dos viajantes de qualquer país. O papel mais importante neste tema das viagens foi desempenhado pelas grandes viagens transcontinentais em que participei, que permitiram conhecer países, costumes e sistemas sociais extremamente diversos dos europeus. Destaco as grandes viagens à China (Pequim, Shangai, Xien, etc.), em que pudemos conhecer um país em grande transformação e que atualmente desempenha, no consenso mundial, o papel de uma das maiores potências de sempre. Nesta viagem, verificámos um grande contraste entre civilizações totalmente diversas como a israelo-árabe (que reconhecemos em Jerusalém, Telavive, deserto Negev, Mar Morto, etc.) e a chinesa, na qual devo destacar a grandiosidade da Grande Muralha e a riqueza arquitetónica e artística dos seus palácios e templos. Civilizações completamente diversas foram as que reconhecemos em países como Perú e Turquia. No Perú, gostaria de destacar a enorme presença da civilização Inca, ainda 131 muito evidente em cidades como Cuzco, nos vulcões dos Andes e no lado Titicaca, o mais elevado do mundo. Na Turquia, o fantástico fenómeno geológico que constituí a Capadócia, torna esta região uma das mais impressionantes do mundo que conhecemos. A visita a Nova Iorque, durante apenas duas semanas, mostrou-nos uma das mais fantásticas cidades do mundo, encruzilhada de civilizações, raças, nacionalidades, costumes, etc. Tivemos a felicidade de visitar Nova Iorque antes da criminosa destruição das “Twin Towers”. A “Big Apple”, símbolo de Nova Iorque, faz desta cidade a capital do mundo tecnológico que caracteriza a civilização Ocidental. Em 2001, fizemos uma longa viagem por uma região historicamente conotada com o centro de confronto de grandes civilizações que se digladiaram ao longo de séculos, o Médio Oriente, levando ao choque de grandes impérios como o Persa, o Otomano, o Faraónico, o Indiano, o Chinês, o Romano e Grego, etc. Visitámos, nessa viagem, o Egipto (Cairo), e depois Damasco (Síria), Aman (Jordânia), etc.. Países em que muito nos impressionaram grandes monumentos históricos, como as ruínas de Palmira, o Crac “Des Shevalier”, fantástica fortaleza militar construída ao longo de 400 anos pelos cruzados e que acabou utilizada pelos Turcos. Um inesquecível fenómeno natural foi o formidável desfiladeiro de Petra, na Jordânia. A memória histórica dos primórdios do cristianismo pode ainda ser observada na aldeia de Maakula, junto à fronteira Síria, na qual ainda se fala o aramaico, a língua de Cristo. Na parte final da viagem, atravessámos o mar vermelho e o deserto de Sinai até ao Cairo, onde iniciámos a belíssima viagem fluvial ao longo do Nilo até à Ssuao (que durou três dias), visitando no percurso as memórias da grande civilização faraónica como os templos de Luxor e Karnak. Outros países caracterizados pelo predomínio da civilização árabe, ou antes muçulmana, mas já mais próximas da civilização europeia, foram Marrocos e Tunísia. Do ponto de vista geográfico, o mais impressionante desses países foi a civilização do deserto do Sahara, em particular as modernas cidades de Ouarzazate e El-Rachidia, em Marrocos. Nesse país também pudemos conhecer a antiga capital do reino, Marrakesh, a antiga fortaleza de Mazagão (El-Jadida), além de, naturalmente, Rabat, Casablanca, Arzila, 132 Fez, Meknes, Tanger, etc.. A hospitalidade dos Idriss, Mamoun e Fatma, amigos do Paulo Mendo, contribuiu para tornar muito mais agradável a parte final da visita. Na Tunísia, a destacar sobretudo o deserto e o Lago Salgado, que constituem das mais importantes atrações turísticas do país. Finalmente, permiti-me incluir neste capítulo das grandes viagens, a visita que fizemos, em 1997, aos belos países da Europa Central, em especial às cidades de Viena de Áustria, Praga (República Checa), Budapeste (Hungria) e Bratislava (Eslováquia). Esta região constituiu um repositório cultural fantástico, herdeiro de duas grandes civilizações que se confrontaram nas margens do Danúbio, representadas pelos Impérios Austro-Húngaro e Turco-Otomano. Devo destacar a impressão causada pela belíssima arquitetura da cidade de Praga, na minha opinião umas das mais belas da Europa e do mundo. No meu livro Fragmentos de uma Biografia Cívica, trato com mais pormenor este assunto das minhas viagens. Espero, no futuro, ainda conseguir disponibilidade para escrever e reescrever as minhas notas e registos diários das mesmas, que fui acumulando ao longo dos anos e que poderão ter algum interesse histórico. Se tal suceder, e se os meus eventuais leitores manifestarem interesse, poderei pensar em escrever um texto que procure relatar a admiração pelo esforço dos homens em regiões do mundo que, num século XX marcado por guerras e catástrofes, conseguiram preservar as suas memórias colectivas e construir espaços de convivência e liberdade que espero venham a desenvolver-se no prsente e futuro. Oxalá eu consiga escrever esse “Livro das viagens” que será também da minha compaheira Maria Luiza que as viveu comigo e com os nossos amigos, negando o esquecimento que resultaria da sua prematura morte. 133 FOTOS – CAPÍTULO VI Eu e o meu amigo Fiel, no Cabo Finisterra. 2004 ou 2005. Saqsaywaman. Peru. 2000. 134 Guerreiros de Terracota. Xien. China.1995. Hungzhou, China. 1995. 135 PALAVRAS FINAIS Agora, aos 79 anos, confrontado com a idade e as suas limitações, assistindo ao crescimento dos meus netos, fazendo o balanço das memórias da minha vida que redigi a pensar neles, e que lhes deixo, penso que alguma coisa fiz que possa por eles ser recordado como algo que os não envergonhe. É pensando na minha mulher, companheira de toda a vida, nas minhas filhas e nos meus netos, mas também nos meus pais, na minha irmã e no meu avô Luís, nos meus sogros e nos meus amigos mais antigos e mais recentes, nos meus doentes que tratei e ajudei como nos que não fui capaz de salvar, que encerro estas notas. Agosto 2010, Moledo. Os meus quatro netos, Nuno, Sofia, Luís e João. Porto, Novembro de 2012 Revisão em Julho de 2006 Revisão e Edição de um só exemplar em Dezembro de 2009 Revisão e Edição online em Novembro de 2012 136 SIGLAS B.C. – British Council BPMP – Biblioteca Pública Municipal do Porto CGD – Caixa Geral de Depósitos CMP – Câmara Municipal do Porto CNIM – Comissão Nacional do Internato Médico ECG – Electriocardiograma EEG – Electroencefalograma ESBAL – Escola superior de Belas Artes de Lisboa ESBAP – Escola Superior de Belas Artes do Porto FQM – Físico-química Naturais GALP – Gabinete de Arquitectura Loureiro e Padua GTPP – Grupo de Trabalho de Planeamento e Programação HSJ – Hospital São João HUC – Hospitais da Universidade de Coimbra MND – Movimento Nacional Democrático SCMP – Santa Casa Misericórdia do Porto SEM – Sociedade Editoria Norte TEP – Teatro experimental do Porto TCE – Traumatismos Crânio-encefálicos PAF – Polineuropatia Amiloidótica Familiar PIDE – Polícia Internacional de Defesa do Estado ( polícia política ) PC – Partido Comunista PS – Partido Socialista SU – Serviço de Urgência 137 ÍNDICE Dedicatória ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 Agradecimentos ----------------------------------------------------------------------------------- 3 Prefácio --------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Capítulo I – Infância e adolescência ----------------------------------------------------------- 6 Os Primeiros Anos ----------------------------------------------------------------------- 6 A Escola ----------------------------------------------------------------------------------- 8 A Cidade – Barcelos -------------------------------------------------------------------- 11 As Férias de Verão --------------------------------------------------------------------- 18 O Liceu Alexandre Herculano -------------------------------------------------------- 22 O Contacto com o MUD Juvenil ----------------------------------------------------- 26 Fotos - Capítulo I ----------------------------------------------------------------------- 28 Capítulo II – A universidade e o MUD Juvenil -------------------------------------------- 31 A Faculdade de Medicina ------------------------------------------------------------- 31 O Primeiro Ano na Faculdade -------------------------------------------------------- 32 De 1950 a 1955: O Juvenil e o Movimento Associativo ------------------------- 36 1954-1955: Anos de Grandes Acontecimentos ------------------------------------- 43 A Prisão ---------------------------------------------------------------------------------- 47 A Saída da Prisão e a Organização da Defesa ------------------------------------- 56 O Retomar da Vida Escolar ----------------------------------------------------------- 58 O Processo ------------------------------------------------------------------------------- 60 O Casamento ---------------------------------------------------------------------------- 67 Fotos - Capítulo II ---------------------------------------------------------------------- 68 Capítulo III – O julgamento e consequências ----------------------------------------------- 71 O julgamento ---------------------------------------------------------------------------- 71 O Cumprimento da Pena – Peniche -------------------------------------------------- 73 138 O Nascimento da Olga e a Liberdade ------------------------------------------------ 76 Penamacor e a Conclusão do Curso ------------------------------------------------- 77 Fotos - Capítulo III --------------------------------------------------------------------- 81 Capítulo IV – O exercício da profissão ------------------------------------------------------ 83 O Fim do Curso, o Estágio e a Licenciatura ---------------------------------------- 83 A Formação Profissional - A escolha de Especialidade --------------------------- 84 O HGSA e a Procura de uma Formação -------------------------------------------- 86 O Nascimento da Lena ----------------------------------------------------------------- 89 O Estágio em Londres ------------------------------------------------------------------ 92 A Escola Formativa do Dr. Corino -------------------------------------------------- 94 A Independência Profissional -------------------------------------------------------- 97 Fotos - Capítulo IV --------------------------------------------------------------------- 99 Capítulo V – O pós 25 de Abril -------------------------------------------------------------- 103 O 25 de Abril -------------------------------------------------------------------------- 103 A Actividade desde 1975 até à Reforma, em 1999 ------------------------------- 104 A actividade após a reforma --------------------------------------------------------- 108 No HGSA ---------------------------------------------------------------------- 108 Outras actividades pós-reforma ------------------------------------------- 109 As habitações -------------------------------------------------------------------------- 110 Do nascimento ao casamento ---------------------------------------------- 110 Do casamento ao Largo do Cruzinho ------------------------------------- 111 O Largo do Cruzinho -------------------------------------------------------- 112 A tertúlia dos anos 60 ------------------------------------------------------- 115 A construção do Bloco e a residência definitiva ------------------------ 116 A casa de Moledo ------------------------------------------------------------ 117 Fotos - Capítulo V -------------------------------------------------------------------- 119 139 Capítulo VI – As viagens --------------------------------------------------------------------- 131 Fotos - Capítulo VI ---------------------------------------------------------------------------- 134 Palavras Finais ---------------------------------------------------------------------------------- 136 Siglas --------------------------------------------------------------------------------------------- 137 Índice -------------------------------------------------------------------------------------------- 138 140
Baixar