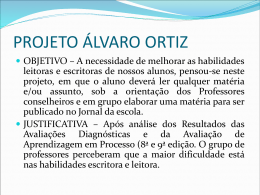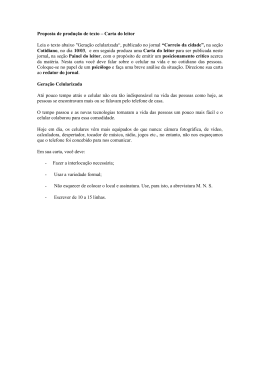48a64:48a64.qxd 26-01-2009 15:06 Page 48 MEMÓRIA Acácio Barradas Uma perda irreparável Com a morte de Acácio Barradas, em Outubro último, o jornalismo português perdeu um dos seus mais dignos e respeitados profissionais das últimas décadas e o associativismo jornalístico – o Sindicato, a Casa da Imprensa, o Clube dos Jornalistas – viu desaparecer um dirigente empenhado, activo e dinâmico como poucos. No que ao Clube particularmente diz respeito, o Acácio, convém sublinhá-lo, foi presidente do Conselho Fiscal desde o primeiro até ao mandato actual, quando a doença que o atormentava já não lhe permitiu aceitar o encargo; e foi um permanente e interessado apoiante desta revista, a cujo Conselho Editorial sempre pertenceu. Tínhamos previsto para o presente número, dedicado ao 25º aniversário do Clube, uma curta entrevista com ele. Tal já não foi possível. Em jeito de homenagem, publicamos uma outra, inédita, realizada no quadro da preparação de um livro entretanto já editado1, e que tem a particularidade de nos evocar o que foram os pouco conhecidos primeiros anos da vida profissional do Acácio, em Angola. 48 |Out/Dez 2008|JJ 48a64:48a64.qxd 26-01-2009 15:06 Page 49 JJ|Out/Dez 2008|49 48a64:48a64.qxd 26-01-2009 15:06 Page 50 MEMÓRIA Em 1967, ainda em Angola, pouco tempo antes de vir para Lisboa Entrevista com Acácio Barradas Iniciou a profissão em Angola, depois veio para Lisboa, mas tudo começou no Porto… Comecei como jornalista profissional em Luanda. O projecto familiar era fazer-me advogado, mas de repente tudo se alterou devido a um acidente de percurso. Fui pai solteiro em plena adolescência, o que representou um escândalo na família, até porque a mãe era mais velha do que eu e de baixa condição social. Enfim, uma história digna de romance neo-realista. Acabei por não continuar os estudos. Estava no quinto ano do liceu mas já não fui a exame, pelo que oficialmente fiquei com habilitações académicas ainda menores do que as que realmente tenho. Considero-me, portanto, um autodidacta. O que na minha geração constitui regra dominante. As habilitações académicas eram normalmente baixas e raros jornalistas tinham formação superior. Em que ano começou como jornalista? Como amador, no início dos anos 50, no Jornal de Lousada. Profissionalmente, por volta de 1955, em Luanda. Fui para Angola dois anos antes, pois a família achou que era preciso meter-me na ordem com a dureza do trabalho assalariado. Segui para Luanda na terceira classe suplementar (ou seja, o porão transformado em camarata) de um navio de passageiros. Mas como tinha a aparência de um pequeno lorde (de acordo com a descrição de um livro então em voga da Condessa de Ségur) andava livremente por todo o navio, incluindo as zonas reservadas da 1.ª classe. Na 50 |Out/Dez 2008|JJ altura, ir para as colónias (que o Salazar crismou de províncias ultramarinas) requeria uma carta de chamada que garantisse colocação, a fim de impedir o desprestígio da raça branca pela degradação do desemprego. Mas a verdade é que se faziam muitas cartas de chamada por favor, que davam a garantia de um emprego fictício. E só no destino as pessoas se desenrascavam conforme podiam. Quando cheguei, havia a possibilidade de entrar no Banco de Angola, o que me assustava um bocado porque, ao contrário das letras, lidei sempre mal com números. Depois zanguei-me com a pessoa que me tinha mandado a carta de chamada e fiquei um pouco ao Deus dará. Eu tinha, realmente, uma certa vocação inata para o jornalismo, primeiro porque o meu pai, que era um homem dos sete ofícios, tinha fundado (com o meu avô Acácio e o meu tio Romeu) um jornal chamado Última Hora, no Porto, ainda no tempo da primeira República. Já fui consultar esse periódico à Biblioteca Nacional e, por aquilo que vi, não o achei nada revolucionário, antes pelo contrário. Mas encontrei um antigo tipógrafo que me disse ter sido o jornal estraçalhado, como muitos nessa época. Invadiram a sede, rebentaram com as máquinas, etc. Houve muita confusão deste género durante a Primeira República e o jornal foi vítima disso. Vem de uma família de republicanos? Se o meu pai era republicano, não o posso afirmar. Aliás, morreu muito novo e a minha cons- 48a64:48a64.qxd 26-01-2009 15:06 Page 51 ciência dele foi mitificada na infância. Mas o meu avô paterno, de quem aliás herdei o nome, era-o sem dúvida. Até tinha o cartão do Partido Republicano, que conservava como relíquia e um dia me mostrou em segredo. Em pleno fascismo, tal passado não abonava a obediência ao regime salazarista, o que era perigoso para um funcionário público, condição em que esse meu avô terminou os seus dias, depois de ter sido industrial e proprietário, em Vila Nova de Gaia, de uma fábrica que acabou destruída pelo fogo. Mas voltando ao meu pai, que como disse era homem dos sete ofícios, a sua profissão dominante era a de fotógrafo, com estabelecimento próprio na Rua Formosa da Baixa portuense. E colaborava com a Imprensa no registo dos grandes acontecimentos. Note-se que um fotógrafo nessa época era pessoa importante. Tal como hoje se fica à espera que chegue a televisão, antigamente aguardava-se o fotógrafo. Era ele que conferia dimensão histórica aos grandes acontecimentos. lá, embora continuasse a ir ao Porto com frequência. Fazia o meu próprio jornal, à mão, vendia à família, contava histórias, escrevia peças de teatro, tudo com base na realidade do dia-a-dia. Logo, tinha a vocação de jornalista bastante acentuada. Quando fui para Luanda e resolvi ser jornalista profissional, soube que havia uma vaga no matutino O Comércio de Angola e fui lá oferecer-me para a preencher. Mas só lá estive uma semana. Tinha um feitio levado dos diabos e era muito independente. No sétimo dia entrei no jornal com o chapéu na cabeça e fui admoestado pelo chefe de redacção. Não gostei da forma como se me dirigiu e virei-me a ele de tal maneira que o encostei à parede e acabei por sair. É preciso ver que estávamos em Luanda, um sítio de sol intenso, eu ainda não estava habituado e trazia o chapéu de palhinha para me proteger. E como era muito leve, chegava a esquecer-me que o trazia na cabeça. Entrar com o chapéu era sinal de má educação? Como se chamava o seu pai? Álvaro Barradas, cuja memória pretendi homenagear ao dar o seu nome a um dos meus filhos, que por sinal também é um excelente fotógrafo, embora faça disso um hobby. Entre outras, uma das aventuras do meu pai foi trabalhar com Reinaldo Ferreira, o célebre Repórter X. Tenho em meu poder o cartão que testemunha esse facto e que já prometi ao Museu da Imprensa, pois é uma verdadeira relíquia. Mas isto era apenas uma das actividades dele, que tinha uma casa de fotografia, tinha o já referido jornal Última Hora dirigido pelo irmão, enquanto ele próprio orientava a publicação de uma revista especializada com o título A Indústria Portuense, entre outras actividades. Infelizmente morreu novo, vítima de cancro, pelo que fiquei órfão com menos de dois anos. Cresci com uma imagem extraordinária do meu pai e comecei desde muito novo a interessar-me pelo jornalismo. Tinha gosto pela escrita, lia muito, lia até desalmadamente, comprava imensos jornais e revistas. A minha mãe dava-me uma semanada generosa e eu gastava quase tudo em livros, jornais, cinema, teatro, concertos. O único dinheiro mal gasto era com a porcaria do tabaco. Tudo isso se passa no Porto? Sim. No Porto e em Paredes, pois a minha mãe casou-se em segundas núpcias com um comerciante daquela vila (hoje cidade) e fui viver para Para ele, era. Devia tirar o chapéu para o cumprimentar. Aquilo era uma personagem toda imbuída de respeitinho serôdio. Na altura, a gente via que até nas grandes redacções dos filmes americanos os jornalistas entravam de “Fazia o meu próprio chapéu na cabeça, alguns nunca jornal, à mão, vendia à o tiravam, pareciam cowboys. Foi família, contava chato porque nesse jornal só histórias, escrevia peças fazia reportagem, todos os dias de teatro, tudo com ia trabalhar para a rua e gostava base na realidade do muito. Enfim, dessa vez voltei para a rua, mas definitivamen- dia-a-dia” te, enfrentando uma situação de desemprego algo dramática. Nessa situação, li no jornal a província de Angola, que era o principal diário da manhã, certa crónica de um senhor chamado José Manuel da Costa, sobre os «vadios que andavam por ali a coçar-se pelas esquinas sem fazer nada» e careciam de ser forçados ao trabalho. Achei que aquilo tinha a ver comigo e bati-lhe à porta do gabinete: «Olhe, eu sou um desses vadios que anda por aí a coçar-se pelas esquinas, de maneira que eu agradecia que me desse emprego aqui no jornal». Ele era o subdirector e ficou um bocado aflito: «Compreenda, isto não era consigo, era para uns energúmenos». E acompanhou-me à porta com ar assustado, porque lhe devo ter feito cara de poucos amigos. O certo é que, passado algum tempo, acabei JJ|Out/Dez 2008|51 48a64:48a64.qxd 26-01-2009 MEMÓRIA 15:06 Page 52 Acácio Barradas por entrar nesse jornal, a fim de ocupar uma vaga deixada pelo Luís Fontoura, forçado a demitir-se por causa de um título em que ridicularizava um importante colaborador desse mesmo jornal. Foi o próprio Luís Fontoura (que se tornou um dos históricos do PSD e foi secretário de Estado) que me alertou para o facto: «Agora há uma vaga e eles precisam de gente». Fui lá, ofereci-me e fiquei. Entrei à experiência como repórter. Nessa qualidade, fiz uma reportagem no Norte de Angola, ou seja no Uíge, que me deixou uma forte e desagradável impressão dos colonos novos-ricos pela alta do café. Vi-os comportarem-se como labregos que a febre do dinheiro tornara arrogantes. Esta experiência servir-me-ia mais tarde para os enfrentar no seu próprio reduto. Mas antes de entrar n’ a província de Angola tive ali um período de transição em que fui correspondente em Luanda do Diário Popular. Foi o meu emprego precário, em que fazia tudo: era jornalista, cobrador e ainda angariava publicidade para um letreiro luminoso que havia por cima da Livraria Lello. Uma promiscuidade abominável, mas de que só tive consciência mais tarde. O Diário Popular, nessa altura, tinha uma edição especial para o Ultramar, em papel bíblia. Autoproclamava-se «o jornal de maior expansão no mundo português» e até era verdade. Tinha essa edição em papel bíblia três vezes por semana, porque só havia três carreiras aéreas semanais entre Lisboa e Luanda. Faziam-se em aviões Dakotas, que voavam aos pulinhos para chegar ao destino. Quando entrei no jornal a província de Angola, deixei esse cargo. Como é que mandava os textos para Lisboa, por dade para ser apenas jornalista, deixei tudo o resto e dediquei-me exclusivamente à profissão. Mas o clique que operou em mim essa transformação radical só se verificou de facto em Maio de 68, quando em Lisboa deparei com esta frase na porta de um casal de jornalistas meus amigos: «Nunca escrevas nada que não possas assinar». Esta frase fez mais por mim do que mil sermões. Mas se é certo que, nesse tempo, havia muita ignorância sobre questões de ética e deontologia, que podem tornar desculpáveis certos comportamentos, que dizer do que se passa hoje e me parece bastante pior? Ainda recentemente, a badalada Teresa Guilherme proclamou aos quatro ventos que «quem tem ética passa fome». Nem sequer lhe ocorreu acrescentar: «mas tem dignidade e merece respeito». Bem sei que a Teresa Guilherme não é jornalista, não passa de uma atrevida. Pior fez a Maria João Avillez, que mal se viu com a carteira profissional de jornalista violou as incompatibilidades profissionais ao fazer publicidade redigida para um banco. Fui eu que denunciei a situação e ela, muito elegante, entregou o assunto ao seu advogado, o não menos elegante José Miguel Júdice, que teve o descaramento de a justificar, como se o texto em questão fosse anódino e não principescamente remunerado como publicidade redigida. Hoje, quando se erra, teima-se no erro e não se pede desculpa. Só o Eduardo Cintra Torres veio a público dar-me razão. Uma sujeira. Que tipo de jornal era a província de Angola? Era um matutino generalista, o principal órgão de informação de Angola, que aliás deu origem ao actual Jornal de Angola, órgão oficioso do MPLA. telex? Não, pelo correio aéreo. Isto dá uma ideia de como eram as coisas nesse tempo. Por exemplo, n’ a província de Angola, o jornalista do Desporto (e que mais tarde viria a ser o chefe de redacção) era o mesmo homem que angariava publicidade para o jornal. Não havia regra. Era tudo um pouco sem ética e o pior é que nem sequer se tinha noção disso. Os termos ética e deontologia não se usavam? Não, só ouvi falar disso mais tarde. Mas que ser jornalista não era cobrar assinaturas, isso sabia eu perfeitamente, mas não tinha outros recursos e precisava de sobreviver. Logo que me instalei com uma secretária minha e com capaci- 52 |Out/Dez 2008|JJ Em termos tecnológicos, estava bem apetrechado? Era a tipografia clássica. Mas conhecendo como funcionavam os jornais aqui em Lisboa, na mesma época, era parecido? Só posso responder por avaliação posterior. A única base de comparação que então eu tinha era com o jornal onde comecei de facto, mas isso foi uma actividade amadorística, nas férias, quando ia para Lousada, onde o meu avô era guarda-livros (hoje diz-se contabilista) no Grémio da Lavoura. Havia lá o Jornal de Lousada, onde publiquei os primeiros textos, inclusivamente artigos de fundo. Fiz uma página cultural chamada Mensagem, de que alguns colaborado- 48a64:48a64.qxd 26-01-2009 15:06 Page 53 res se tornaram conhecidos: um deles é o Carlos Porto, crítico de teatro, começou lá. Correspondia a um movimento cultural de cinco jovens de Paredes, chamado Clarão. Começámos a fazer a página no Jornal de Lousada, porque não nos deixaram fazê-la n’ O Progresso de Paredes. Achavam que nós éramos uns fedelhos com a mania de intelectuais e não nos deram espaço no jornal da terra. Acabei por encontrar esse acolhimento no Jornal de Lousada, talvez porque o meu avô paterno era influente na terra. Comecei a escrever para lá umas coisas e como adoeceu o homem que fazia os artigos de fundo, disse ao administrador: «Se quiser, eu faço». Ele aceitou e durante um tempo os artigos de fundo do jornal foram escritos por mim, já com notória propensão polemista. Esse jornal ainda era muito parecido com os do tempo do Gutenberg. Era tudo manual, ia-se compondo letra a letra, linha por linha. Esse meu primeiro contacto com os jornais fez-me impressão porque o sistema de composição era muito rudimentar. Estou a falar do final dos anos 40, princípio dos anos 50. Era muito vulgar, na época, os jornais de província serem compostos manualmente, só os grandes jornais tinham linotypes e intertypes. Em comparação com o Jornal de Lousada, é evidente que a província de Angola era um periódico altamente evoluído porque tinha máquinas já de grande envergadura, embora ainda não dispusesse de rotativa para a impressão. A tiragem ainda não o justificava. Mas era um jornal de grande circulação, que saía em Luanda e era distribuído de manhã por todas as capitais de distrito com ligações aéreas. Estive lá uns tempos. Depois saí, ou melhor, fui posto na rua porque houve um amigo, o escritor Alfredo Margarido, que publicou no Diário Popular, primeiro por meu intermédio e depois noutros jornais, uma série de artigos sobre o racismo na África portuguesa, sobretudo em Angola. Esses artigos suscitaram uma reacção intempestiva entre os colonos brancos. Sentiram que estavam a ser postos em cheque. O Comércio de Angola e a província de Angola insurgiram-se e arremeteram contra o Margarido como se fosse o demónio, num clamor emocional totalmente desprovido de sentido crítico. Pretendiam pura e simplesmente… Achincalhar? Exactamente. Achincalhar, chamar a atenção da PIDE e pressionar as autoridades. De tal modo que o governador-geral Sá Viana Rebelo fez um despacho proibindo a residência do Alfredo Margarido em Angola. O Margarido estava em Lisboa, onde viera de férias, e já não pôde regressar. Eu escrevi-lhe, achava que ele devia levar o assunto avante, ou seja: replicar aos ataques de que fora alvo ao abrigo da Lei de Imprensa. Ele assim fez, mandou-me as cartas, eu entreguei-as com todas as formalidades legais, mas os jornais não as publicaram. Um deles, alegando que a Censura tinha cortado, o que até era provável; o outro nem sequer perdeu tempo a dar-me uma justificação. Achei que aquilo ultrapassava as marcas e escrevi ao Margarido: «Manda-me uma procuração», porque o processo só podia ser accionado em Luanda, não podia ser ele aqui em Lisboa a fazê-lo. Ele mandou-me uma procuração, eu fui ter com um advogado, que também fez aquilo por militância e comentou: «Eh pá, “Era difícil isto é indecente. Este gajo está a encontrar negros ser encurralado». que tivessem as O advogado era o Eugénio habilitações Ferreira, líder da Oposição, e necessárias, pelo como eu era um pelintra não se menos que escrevessem fez pagar pelo trabalho. Então meti O Comércio de Angola e a em bom português” província de Angola, que era o meu jornal, no tribunal. Veio a sentença, que aplicava multas e impunha aos jornais a publicação das cartas de resposta. Devo dizer que as cartas de resposta nunca foram publicadas porque a Censura não autorizou. O poder executivo sobrepôs-se ao poder judicial e impediu a publicação das cartas, embora as multas tivessem sido aplicadas. Em resultado deste procedimento fui, mais uma vez, despedido. Fiquei sem emprego e com dificuldades enormes, até porque tinha uns vales à caixa, e quando fui posto na rua estava completamente liso. Nem sequer podia pagar a pensão onde residia. Fiquei, de facto, muito aflito. Aconteceu em que ano? Deve ter sido por volta de 1957. Nessa altura, em Luanda, havia três jornais diários. N’ O Comércio de Angola e n’ a província de Angola tinha sido despedido. O terceiro era o Diário de Luanda, órgão da União Nacional, onde eu não era bem visto, quer dizer, até era bem visto por alguns dos seus jornalistas menos sectários. Mas era da Oposição e como tal tinha a entrada cortada. Portanto, fiquei sem possibilidade de arranjar JJ|Out/Dez 2008|53 48a64:48a64.qxd 26-01-2009 MEMÓRIA 15:06 Page 54 Acácio Barradas Acácio Barradas em reportagem no Uíge trabalho nos jornais. Na emergência, um amigo ofereceu-me emprego na Divisão de Transportes Aéreos, (DTA, génese da actual TAAG), que tinha vagas de tarefeiros para vários aeroportos. Escolhi o mais distante de Luanda como se fosse para o exílio. Foi assim que fugi (o termo não é inocente) para Sá da Bandeira. Estive cerca de um ano na DTA. Quando houve a campanha eleitoral para a Presidência da República, em que concorreu o general Humberto Delgado, surgiu em Luanda um outro jornal chamado ABC – Diário de Angola. Esse jornal surgiu um pouco à boleia das eleições. A tipografia que depois veio a imprimir o ABC foi a mesma que fez os cartazes da propaganda do Humberto Delgado em Angola. O ABC ficou logo muito ligado à oposição. Eu estava em Sá da Bandeira e comecei a escrever para lá umas Crónicas da Huila. Era uma coisa vagamente literária, com notória influência das crónicas que o poeta Daniel Filipe então escrevia do Porto para o Diário Ilustrado. Tal colaboração parece ter agradado e foi o meu passaporte de entrada para o jornal. A certa altura, o Machado Saldanha, que era director executivo do ABC, convidou-me para redactor e agarrei imediatamente essa possibilidade, regressando a Luanda. O chefe de redacção era o José Mensurado, que mais tarde teve em Lisboa funções idênticas n’ O Século e adquiriu grande projecção na RTP, porque fez as reportagens dos foguetões da 54 |Out/Dez 2008|JJ NASA e foi pivot na transmissão da chegada do Homem à Lua. O José Mensurado entrou em litígio com o Machado Saldanha, o tal director executivo, e quis fazer uma greve no jornal. Eu não tinha nada a ver com a guerra dele e disse ao Mensurado: «Acabo de chegar, depois de ter tido uma vida infernal para arranjar este emprego, agora arranjo este emprego e já me estão a meter num sarilho enorme, ainda por cima nem sei se estás do lado da razão. Ele começou a explicar-se e eu via que as razões dele não justificavam tal atitude. O ABC era um jornal diário, que devia ser feito em máxima força de manhã e pelas três da tarde entrava na máquina para sair à rua por volta das cinco, hora a que os funcionários públicos saíam das repartições. Mas o José Mensurado era pouco madrugador e nunca conseguia estar no jornal antes das onze, onze e meia, meio-dia. Isto não podia ser, pelo que eu era muito crítico em relação à maneira como ele anarquizava a redacção. Disse-lhe: «Tens uma maneira incorrecta de lidar com o jornal, porque eu quando aqui chego sei o que tenho para fazer, mas há pessoas que ficam paradas à espera de saber o que o que vais determinar, porque nem uma agenda fazes». Ele ficou muito chateado e eu resolvi ouvir também as razões do Machado Saldanha. Acabei por não me solidarizar com o Mensurado. Gerou-se uma ruptura e houve uma reunião plenária na redacção, em que todos falámos, dissemos o que tínhamos a dizer e no dia 48a64:48a64.qxd 26-01-2009 15:06 Page 55 D, que o Mensurado tinha dado ao Machado Saldanha para satisfazer as suas reivindicações, como não tivesse recebido resposta, declarou: «Então eu vou-me embora». Em boa verdade só um jornalista se manteve solidário com ele, embora fosse sem dúvida o melhor. Era o Aníbal Melo, que mais tarde se tornou combatente do MPLA e é hoje uma das suas gloriosas referências. No dia seguinte, encontro uma ordem de serviço a nomear-me chefe de redacção interino. Fiquei em sobressalto e fui ter com o Machado Saldanha: «Não posso aceitar por uma razão muito simples: vão dizer que eu arranjei isto tudo para ficar com o lugar do Mensurado». Diz-me o Saldanha: «Ai sim? Então olhe para a redacção e encontre-me alternativa». Verifiquei que não havia solução, porque nenhum daqueles tipos que lá estavam podia ser meu chefe. Nenhum deles revelara ter qualidades para isso. A alternativa era contratar alguém de fora, mas levaria tempo, pelo que não tive outro remédio senão aceitar. Que tipo de pessoas eram esses jornalistas? O José Mensurado era um jornalista de grande gabarito. De todos nós, era o mais apetrechado tecnicamente. Falava e escrevia inglês na perfeição, lia a Time com desenvoltura. Portanto, era um homem dotadíssimo para chefiar a secção internacional de qualquer periódico. Tinha excepcionais qualidades, tinha cultura, mas era um indivíduo para quem não havia horas. Ora, um jornal faz-se com ritmos horários rigorosos e quem desempenha funções de responsabilidade não pode prevaricar. Tem de ser um exemplo de pontualidade e de regularidade. O Aníbal Melo, que resolveu sair com ele, mais tarde foi para a União dos Povos de Angola (UPA), que depois deu origem à FNLA. Quando viu o logro em que tinha caído, pois a FNLA era bastante racista e desprezava os mestiços, transitou para o MPLA, cujo sector informativo dirigiu durante muito tempo. O Aníbal Melo era uma pessoa com grandes problemas psicológicos (acabou por se suicidar já depois da independência pela qual tanto lutou) mas era um indivíduo extremamente habilitado. Os outros não. Mas foi com esses que fiquei a fazer o jornal, o que redobrou o meu esforço. Havia negros na redacção? O Aníbal Melo era o único mestiço. N’ a província de Angola existia um colaborador, o Luís Alberto Ferreira, que também era mestiço. É pre- ciso ver que o acesso dos naturais ao ensino era muito mais difícil. O liceu em Angola é uma coisa do princípio do século, mas realmente só ganhou força nos anos 20 ou 30. Universidade só houve nos anos 60, graças ao terrorismo, que neste caso e em muitos outros acabou por ter efeitos positi“Eu lia revistas e jornais vos. Antes do terrorismo, não se pensou sequer em abrir uma estrangeiros, procurava universidade em Angola por- estudar as paginações e que queriam que as pessoas acabei por me tornar um viessem estudar para a metró- especialista nessa pole. Isso dificultava o acesso matéria. Tinha um dos naturais às redacções. Era misto de jornalista e de difícil encontrar negros que tivessem as habilitações neces- tipógrafo” sárias, pelo menos que escrevessem em bom português. O Aníbal Melo é um caso excepcional. O Luís Alberto Ferreira é outro caso excepcional. Veio para Lisboa, foi redactor do Jornal de Notícias e na televisão fazia comentários de tauromaquia, de que se tornou especialista. O Luís Alberto Ferreira até ganhou uma alcunha: como escreve muitíssimo bem e é mestiço, houve quem o cognominasse de Camilo Castelo Preto. Outro caso singular foi o Bernardino Coelho, também mestiço, que em Portugal chefiou a secção Cidade do Diário Popular, mas que, enquanto em Angola, na redacção d’ O Comércio chefiada por Ferreira da Costa, raramente ia além do trabalho burocrático de passar à máquina os telegramas de agência, que então elidiam as palavras óbvias ou intuíveis. Fazer de um jornalista com as qualidades do Bernardino Coelho um dactilógrafo constituiu para mim uma inequívoca demonstração de racismo. Felizmente safou-se e veio para Lisboa, onde foi devidamente avaliado e considerado no Diário Popular. Voltando ao ABC, como correu a experiência de chefe interino? Com enormes dificuldades. Eu nunca tinha ido à tipografia para paginar o jornal e tive logo que o fazer no primeiro dia. Tinha ideias, mas ideias teóricas. Agora meter as mãos no chumbo… Tive uma aprendizagem complicada e acelerada. Uma das pessoas a quem eu mais devo no jornalismo é a um tipógrafo mestiço chamado Luciano. Cheguei ao pé dele sem saber mexer no chumbo e ajudou-me imenso. Meio ano depois eu já sabia mais do que ele, porque a sua aprendizagem tivera um fim, enquanto eu lia revistas e JJ|Out/Dez 2008|55 48a64:48a64.qxd 26-01-2009 MEMÓRIA 15:06 Page 56 Acácio Barradas jornais estrangeiros, procurava estudar as paginações e acabei por me tornar um especialista nessa matéria. Tinha um misto de jornalista e de tipógrafo. Gostei muito da parte da tipografia e comecei a mexer no chumbo, a sujar as mãos. Tornei-me um mestre nessa matéria. Eu próprio paginava já directamente nas ramas. A única coisa que os tipógrafos tinham de fazer era o acabamento, fechar as ramas da página, porque quanto ao recheio estava todo lá. Isto foi uma coisa que em Lisboa surpreendeu muita gente, em especial os tipógrafos do Diário Popular, pouco habituados a ver jornalistas fazerem o seu trabalho com tanta desenvoltura. O ABC aguentou-se depois da campanha eleitoral ca. Essa era uma das coisas que mais chateava a Censura, a PIDE e as autoridades administrativas. Cortavam muita coisa? Sim, muito. Com algumas particularidades. A Censura em Angola funcionava de uma maneira que dava alguma latitude a certas coisas que aqui não se podiam dizer, e lá podiam. Havia outras que aqui se podiam dizer e lá não. Aqueles artigos do Margarido, por exemplo, a denunciar situações de racismo em Angola, isso lá era praticamente impossível, mas aqui passou tudo, mesmo num grande jornal fiel ao regime fascista como o Diário de Notícias, ao tempo dirigido pelo escritor Augusto de Castro. de 1958? O ABC não existia durante a campanha. Passou a sair após as eleições. Até aí a tipografia do ABC só imprimiu os cartazes eleitorais do general Humberto Delgado. Mas o simples facto de ter feito os cartazes criou uma expectativa em relação ao jornal que não foi defraudada. Não sendo verdadeiramente da oposição, era um jornal independente, tanto quanto possível. E em Luanda era o único que não alinhava nas hossanas ao regime. Como é que funcionava a Censura lá? Era como cá, os censores viam as provas… Funcionava no Palácio do Governo. O modelo era exactamente o mesmo, embora os critérios fossem por vezes dissemelhantes. Em certos casos, a censura em Angola e também em Moçambique era mais liberal. Noutros, era mais dura, em especial se punha em causa o portuguesismo do Ultramar. Enquanto jornalista em Angola, costumava ir a outros países africanos em reportagem? Viajar era quase proibitivo para os recursos da época, a não ser quando se acompanhavam entidades oficiais, com tudo pago. Mas o ABC era o único jornal que tinha uma secção diária exclusivamente consagrada a notícias de África. Os outros jornais não, porque nos anos 50 e 60 as independências foram sucessivas e eles procuravam sempre denegrir esses países que conquistavam a independência. O ABC era o único que tinha uma visão positiva desse problema: considerávamos que Angola se situava no continente africano, não podíamos ignorar a geopolítica e devíamos dar relevo aos acontecimentos de Áfri- 56 |Out/Dez 2008|JJ E o inverso, lembra-se de alguma situação? Em 1967, houve na região de Lisboa enxurradas terríveis em que morreram mais de 500 pessoas. As fotografias de toda aquela miséria foram cortadas nos jornais de cá, que não publicaram quase nada. Era uma árvore aqui, uma coisa desgarrada ali, nada que tivesse a real dimensão dramática, as vidas humanas perdidas, o gado morto, os haveres perdidos. Todas essas fotografias não puderam ser publicadas cá, mas lá foram. Eu na altura chefiava em Luanda a redacção da revista Notícia e fiz um suplemento especial repleto com as imagens aqui proibidas pela censura. Só se vendia em Luanda? Não, vendia-se cá também. Tinha uma edição dupla. E a edição metropolitana incluía o slogan «Notícia – uma lança de África na Europa». Era uma revista semanal, saía aos sábados e, na altura, foi um órgão de informação influente. Quando foi publicado esse suplemento, em 1967, esgotou-se rapidamente. As pessoas viam finalmente as imagens da grande tragédia obtidas por muitos dos melhores fotógrafos da Imprensa metropolitana, e que só assim puderam chegar ao grande público. Foi o que se chama um grande «furo» jornalístico. A Edite Soeiro, que era chefe da redacção da delegação de Lisboa, comprou essas fotografias, mandou-mas e eu fiz lá o suplemento sem que a Censura o impedisse. Por que haveria essa diferença? A minha interpretação é que, lá, aquilo serviu para mostrar aos indígenas que os brancos também tinham miséria e sofrimento, não acontecia só nas sanzalas. Portanto, os critérios que regiam a Censura muda- 48a64:48a64.qxd 26-01-2009 15:06 Page 57 vam em função da latitude? E da percepção das pessoas, penso eu. No ABC, a certa altura, tive um colaborador precioso que fazia um jornalismo sensacionalista, de inspiração brasileira, embora com uma linguagem tipicamente angolana. Ele gostava imenso e eu explorava isso, fazia grandes manchetes com as coisas dele e até mandava anunciá-las por uma carrinha sonora. Era um grande repórter angolano chamado Ernesto Lara Filho. Por vezes fazia coisas um bocado demagógicas mas eu alinhava naquilo porque ele sabia seduzir com as palavras. Por exemplo, passavam em Lisboa altas personalidades que em Angola eram mitificadas, sobretudo personalidades brasileiras porque nós em Angola acompanhávamos muito as actualidades do Brasil. Fascinavam-nos as revistas brasileiras, o Cruzeiro, a Manchete. Um dia, o Ernesto entrevistou aqui o Jânio Quadros… Esse repórter trabalhava em Lisboa? Ele era de lá, nasceu em Benguela, mas estava cá a estudar e depois acabou os estudos e ficou por aqui uns tempos, já não me lembro em que situação. Sei que estava em Lisboa e mandavanos artigos e entrevistas com frequência. O Jânio Quadros foi Presidente do Brasil, subiu ao poder na altura em que o capitão Henrique Galvão andou às voltinhas com o paquete Santa Maria no meio do Atlântico. Foi quem lhe concedeu o estatuto de exilado políti- politicamente delicadas quando se referia especificamente a Angola e não a Portugal. Resolvi arriscar: escolhi umas letras garrafais de madeira próprias para cartaz e paginei em duas linhas fortes a frase do Jânio, que se via a cem metros, por cima da sua fotografia. Uma paginação à Diário Popular ? Uma paginação mais à brasileira. O título berrava como um cartaz. Aquilo vai à Censura, que por distracção não entendeu o sentido político da frase. Mas logo que o jornal saiu para a rua, as reacções não tardaram, sobretudo por parte dos meios oficiais lisboetas. Fui chamado ao Palácio, fui chamado à PIDE, mas fiz-me de parvo. Depois aquilo acabou por não dar em nada, a menos que quisessem arranjar mais um sarilho diplomático com o Brasil. E quem foi corrido foi o censor. Após este episódio, durante uns tempos a Censura via tudo à lupa e cortava mais do que devia, numa “Em certos casos, a autêntica retaliação. O pior é censura em Angola e que passei a ter que mandar o em Moçambique era jornal à Censura já paginado, mais liberal. Noutros, para eles verem o próprio estréera mais dura, em pito do título e respectiva localização. Nunca fiquei preso mas especial se punha em fui numerosíssimas vezes inte- causa o portuguesismo rrogado pela PIDE por causa de do Ultramar” matéria publicada no ABC que tinha passado o crivo da Censura. co quando o barco aportou no Recife. Exactamente. O Henrique Galvão esteve dois dias à espera de entrar com o barco, à espera que o Jânio Quadros tomasse posse. O Jânio era um indivíduo de direita. Simplesmente, em relação ao regime ditatorial português, funcionava como um democrata. O símbolo político do Jânio Quadros era algo que nesta altura volta a fazer falta no Brasil (e em Portugal idem aspas): uma vassoura. Significava a pretensão de correr com todos os corruptos da administração pública. O Jânio Quadros passou por Lisboa e o Ernesto teve artes de o conseguir entrevistar. No meio da entrevista, uma frase do Jânio ressoou como um tiro na minha cabeça: «Se for eleito visitarei Angola». Resolvi fazer com ela uma manchete especial, embora temeroso de um corte da censura. Repare-se no melindre: Angola não era um país independente, era oficialmente uma província do Ultramar português. Logo, o Jânio Quadros exorbitava e interferia com situações O trabalho no ABC foi a sua experiência jornalística em Angola mais relevante? Estive no ABC em quatro períodos distintos, sempre como chefe de redacção. Mas em 1962 resolvi aceitar uma operação de risco e fui para o Jornal do Congo, que se publicava no Uíge, ou seja no coração do terrorismo da UPA. O terrorismo começou em Angola em Março de 1961. O chefe de redacção do Jornal do Congo foi baleado, não se sabe bem como. Se foi uma bala desgarrada, nunca se percebeu bem de onde é que proveio. Ele não morreu, mas ficou deficiente e na emergência foi preciso contratar novo chefe de redacção. Como o linotipista do jornal me conhecia do ABC, fez-me tais referências que lhe pediram para me sondar. E convidaram-me por engano, pois não sabiam que eu detestava o jornal e a sua demagogia e que estava decidido a combatê-la por dentro, utilizando a táctica trotskista do entrismo. JJ|Out/Dez 2008|57 48a64:48a64.qxd 26-01-2009 MEMÓRIA 15:06 Page 58 Acácio Barradas me assenhorear do jornal e de lhe conferir alguma dignidade. Quis sobretudo acentuar, numa região onde imperavam os ódios raciais, que os negros não eram apenas terroristas, tinham uma cultura e uma identidade dignas de respeito. Enfim, fiz tudo o que quis e me apeteceu sem dar satisfações a ninguém. Álvaro Barradas, pai do Acácio, trabalhou com Reinaldo Ferreira como fotógrafo Em situação de guerra, como foi possível essa liberdade? Verifiquei que o director do jornal era um panhonhas, estava ali só para dar o nome. O que aliás era típico nos directores dessa época, não é? Os donos do Jornal do Congo eram os homens do café, quinze proprietários que fizeram uma sociedade, cada um tinha a sua quota, não me conheciam, precisavam de um jornalista que fosse do contra, um indivíduo enérgico, decidido e que não alinhasse facilmente com o poder, porque eles, na altura, estavam envinagrados com o poder por terem os seus interesses ali postos em causa. A tropa nunca mais vinha e mesmo quando chegou não dava a protecção que eles reclamavam para as suas propriedades. A tropa considerava que defender os interesses de Portugal não era a defesa dos interesses dos cafezeiros. E foi assim que, para exclusiva protecção das propriedades, foi criado um corpo de voluntários. Como era o Jornal do Congo antes da sua entrada? Era um jornal sem critério, mas que vendia muito pela demagogia que o caracterizava. Dizia uma coisa na primeira página, na última dizia o contrário, chegava inclusivamente a defender posições racistas em determinados artigos. Lembro-me de ler lá um artigo em que se proclamava: «Precisamos de fazer aquilo que a África do Sul fez». No fundo, era o apartheid. Isto ao lado de outros artigos que defendiam a «nação multirracial e pluricontinental». Era uma coisa sem rei nem roque, uma desordem, correspondia um pouco à maneira de ser do tal chefe de redacção anterior, Sousa Costa. Pensei um bocadinho e resolvi aceitar. Fui para lá e tive uma estratégia de 58 |Out/Dez 2008|JJ Era típico, porque em Angola havia uma lei que impunha que os directores fossem licenciados. Alguns proprietários de jornais, não tendo licenciatura e precisando de um director, iam pedir a um amigo licenciado que desse o nome para o cabeçalho. Alguns ganhavam por isso, outros aceitavam por mera vaidade. Mas havia casos escandalosos. Por exemplo, o ABC teve como director um engenheiro que vivia em Lisboa e que nunca conheci. Eram pessoas que davam o nome só para figurar no cabeçalho e mais nada. No caso do Jornal do Congo, o director era deste género mas também era vaidoso e a minha estratégia com ele foi dizer-lhe: «Gostava de receber instruções suas». Ao que ele respondeu: «O senhor é que sabe, é que é jornalista». Então continuei: «Pois fique sabendo que não recebo instruções de mais ninguém. Os homens do café têm o dinheiro, mas não dispõem de autoridade editorial. Para mim, o director é o director». Ele sentiu-se todo inchado e quando eu tinha lá os homens do café a chatear-me por causa das coisas que eu punha no jornal, desculpava-me com ele: «Os senhores escusam de me pressionar, quem manda aqui é o director». Saíam dali furiosos comigo, mas não podiam fazer nada porque, do ponto de vista formal, a minha atitude era legítima. Mal eles saíam, eu pelo telefone avisava o director para ele não ser comido pelos outros e a partir daí estava tudo OK. Aquele director era o ideal para mim. O jornal fez-se como eu quis. Um jornal bastante independente, devo dizer, numa zona extremamente difícil que estava em guerra. O mais curioso é que a própria PIDE reconheceu o meu papel no Jornal do Congo e, mesmo a contragosto, prestou-me justiça, como mais tarde 48a64:48a64.qxd 26-01-2009 15:06 Page 59 verifiquei ao consultar os seus arquivos na Torre do Tombo. Dizia, cito de memória, mais ou menos isto: antes da entrada do Barradas, o Jornal do Congo era escarnecido na Associação dos Naturais de Angola. Mas depois passou a ser lido ali com o maior interesse. Senti-me recompensado com esta medalha do inimigo. O certo é que no Uíge não fiz só o jornal, animei aquilo, criei um Cine-Clube e levei lá a Amália Rodrigues a cantar para a tropa. O jornal também patrocinava espectáculos? Só dessa vez, devido à minha maneira de ser. Foi uma cena engraçada, porque a Amália teve que cantar de dia, no único recinto onde era possível fazer o espectáculo sem o risco de sermos atacados pela UPA: numa grande piscina e ao ar livre. Era perigoso ser à noite, porque a segurança seria reduzida e não queríamos arranjar problemas com a Amália. Levei algum tempo a convencê-la a cantar de dia, pois detestava fazê-lo e acabou por cantar de óculos escuros, como faz hoje o Pedro Abrunhosa. Na altura, disse-me: «É a primeira vez que faço isto na minha vida, porque eu só canto à hora das bruxas». A Amália foi a Angola em digressão e ofereceu alguns espectáculos para as Forças Armadas. E para ela não correr riscos, programaram os espectáculos para Nova Lisboa e Benguela. Como achei isto indecente, fui a Luanda esperá-la e disse-lhe: «Então a senhora vai cantar para tropa nos sítios onde não há guerra?». Ela era muito viva e de compreensão rápida. «Quem é você?», começou por indagar. Expliquei que era jornalista e estava no Uíge. Ela nem pestanejou: «Tenho dois dias livres na minha visita a Angola. Se quiser, arranje o espectáculo para um destes dias que eu vou lá». Eu assim fizi, tive que tratar de tudo, avião, alojamento e ela foi lá cantar nessas condições. Note-se que nessa altura a Amália estava no auge, tendo acabado de editar o que, para muitos, é o seu disco emblemático: Com Que Voz. A sua actuação no Uíge foi verdadeiramente inesquecível, pois a vibração do acolhimento despertou nela uma fortíssima emoção que se exprimiu de maneira sublime. Obrigou-me a apresentá-la antes de entrar em cena, o que me levou a receber a maior ovação da minha vida. Quando saiu do Jornal do Congo? Acabei por sair do Jornal do Congo apenas nove meses depois de nele ter ingressado, devido a um problema de carácter familiar, relacionado com aquela minha primeira filha «acidental». Tive de vir com urgência ao Puto, que era a nossa designação mais carinhosa para Portugal Continental. E para vir cá, tinha que ser substituído, porque eu no jornal era tudo. Não havia outras pessoas na redacção? Eu era chefe de uma redacção que não existia, só tinha colaboradores. Não havia possibilidade nenhuma de eu deixar o jornal durante um mês ou mais. Então, fiz-me substituir por um excelente jornalista, o Emílio Filipe (já falecido), que ficou lá uns tempos. Mas quando ele saiu, fê-lo sem as minhas preocupações de deixar o posto bem entregue e o jornal caiu nas mãos da extrema-direita. Isto mostra como é que aquele jornal flutuava conforme o chefe de redacção e sem a menor interferência do director. Devo dizer que tive um bom interlocutor na pessoa do major Rebocho Vaz. Na altura era governador do Uíge e até intervinha muitas vezes para levantar cortes de censura. Era um militar esclarecido e dialogante. A qualquer hora eu chegava ao palácio para pôr um problema, ele mandava esperar e logo que tivesse oportunidade recebia- Chamei os fotógrafos me. Eu expunha-lhe o proble- da publicação e ma, ele dizia sim ou não, mas desafiei-os: «Pàzinhos, sempre sem peias, sem probletemos aqui a mas burocráticos, nem salamaleques. Foi sempre uma pessoa possibilidade de fazer extraordinária, nesse aspecto. brilhar o vosso Mais tarde, veio a ser governa- trabalho. Vamos deixar dor-geral de Angola. as fotos miniatura e E depois da vinda a Portugal, trabalhar em grande» onde retomou a profissão? Regressei ao ABC, para o cargo de chefe de redacção, porque as pessoas que ficavam no lugar tinham sempre dificuldades de trato com o Machado Saldanha, e eu conseguia superar isso tudo. A única coisa que não consegui superar foi o vil metal, pois ele era um forreta e nunca me pagou (a mim e a ninguém) de forma justa e compensadora. Os jornalistas ganhavam mal? Em relação ao comum dos mortais, o jornalista tinha um vencimento que lhe dava um estatuto social relativamente elevado. Era uma profissão com um nível de rendimento acima da média. Por exemplo, no ABC, onde eu me queixava de ganhar mal, auferia seis mil escudos. Não JJ|Out/Dez 2008|59 48a64:48a64.qxd 26-01-2009 MEMÓRIA 15:06 Page 60 Acácio Barradas era muito, não era pouco. Eu é que tinha responsabilidades familiares e diziam que vivia acima das minhas posses. Quando vim embora para Portugal Continental, em 1968, já ganhava dez mil escudos, o que poderia ser considerado bastante bom se tal rendimento não fosse afectado por subtracções como a pensão determinada pelo tribunal para os meus filhos menores e outros encargos familiares de carácter fixo. Depois do ABC, transitou directamente para o Diário Popular? Depois do ABC ainda trabalhei em Luanda nas revistas Noite & Dia e Notícia, de que o jornalista Charulla de Azevedo entretanto se tornara proprietário, graças ao apoio dos empresários Manoel Vinhas e Caetano Beirão da Veiga. O Charulla ficou dono de um pequeno império que incluía uma gráfica, uma agência de publicidade e as Listas Telefónicas Classificadas. Tinha 33 anos e um promissor futuro, mas não resistiu ao peso das responsabilidades e teve um enfarte fulminante. Depois disso, os chacais entraram na liça para disputarem o poder com intrigalhadas e eu abomino esses joguinhos de salão, pelo que pensei livrar-me daquilo na primeira oportunidade. Foi nessa altura que a Edite Soeiro se deslocou a Luanda para uma visita de trabalho… A Edite Soeiro foi sua mulher... Foi o que hoje se chama uma «união de facto». Temos um filho, o Luís Barradas, que utilizou os genes dos pais para outra forma de comunicação: a publicidade. Foi por causa da Edite que eu voltei ao Puto, porque ela foi a Angola numa visita de trabalho e ficamos enamorados. A solução era ela voltar para Angola ou eu vir para Portugal. Acabei por ser eu a dar o salto, até porque se tornava mais fácil e já se adivinhava que os brancos tinham os dias contados em Angola, mesmo os que haviam resistido ao fascismo e se haviam solidarizado com os nacionalistas que lutavam pela independência, como era o meu caso. Na revista Notícia, teve alguma acção determinante? Entre outras acções determinantes, fui eu que transformei esse semanário em revista. O que se verificou mal entrei, por circunstâncias fortuitas. O Charulla de Azevedo, que era redactor do semanário, ia estar ausente para uma reportagem de três semanas na República Federal Alemã e 60 |Out/Dez 2008|JJ pediu-me para eu o substituir. Na altura, o administrador da publicação, António Alves Simões, deu uma volta comigo pelas instalações da empresa e, na tipografia, disse-me: «Sabe, eu tenho estas máquinas de offset que comprei para imprimir os boletins do Totobola. Mas para o efeito só as utilizo dois dias e ficam paradas o resto da semana. Se você quiser, pode experimentar imprimir aqui alguns cadernos da revista, tirando maior partido das imagens». Perguntei ao Charulla se via algum inconveniente em que eu tentasse a experiência durante a sua ausência e ele deu-me carta branca. Na altura, havia uma revista francesa de que eu gostava muito, a Paris Match, quando havia um acontecimento importante punha grandes fotografias a morder a página, sem margem. Era aquilo que eu tinha imaginado sempre, que via também n’ O Cruzeiro e na Manchete do Brasil. Chamei os fotógrafos da publicação e desafieios: «Pàzinhos, temos aqui a possibilidade de fazer brilhar o vosso trabalho. Vamos deixar as fotos miniatura e trabalhar em grande». Enfim, entusiasmei-os. E o resultado foi imediato. Comecei por alterar o caderno que incluía a capa e as páginas centrais. Deu logo nas vistas e toda a gente gostou. Tanto que quando o Charulla regressou da Alemanha, disse-me: «Isto é bestial. Já não sais de cá». Progressivamente, a revista foi mudando até ficar completamente feita em offset. Eu comecei a trabalhar em offset muito cedo, em meados dos anos 60, em Angola. Então isso foi antes de existir offset nos jornais de Lisboa? Muitos anos antes. Só voltei a trabalhar com o offset já nos anos 70, no Diário Popular. Nessa altura, já lá não estava o Francisco Pinto Balsemão? Não. O Balsemão saiu da empresa antes dessa renovação gráfica, que ficou a dever-se ao seu inimigo figadal Braz Medeiros. Mas foi o Balsemão que, em 1968, me admitiu no jornal, depois de uma recomendação do Luís Fontoura. Quando fui falar com o Balsemão vi que, a par das informações positivas do Fontoura, também recolhera a meu respeito informações negativas, pois a dada altura atirou-me com esta: «Ouvi dizer que você é muito makeiro», o que em linguagem luandense significava agitador. Fixei-o nos olhos e respondi ao comentário com um desafio: «Sabe, Dr. Balsemão, não gosto que me pisem o 48a64:48a64.qxd 26-01-2009 15:06 Page 61 rabo e se o fazem reajo à bruta. Mas se o tranquiliza admitir-me experimentalmente, digo-lhe já que não me oponho, pois considero a experiência recíproca. Julgo que bastam três meses». Ele anuiu e perguntou-me o que é que eu sabia fazer. «Olhe – disse eu – prefiro dizer-lhe aquilo que não sei. Não sou excepcional em nada, sou razoável em muitas coisas e tenho um handicap: não falo inglês, que é uma coisa que cada vez vai sendo mais necessária, e falo mal francês. Em matéria de línguas, não sou nenhum barra. Mas domino as técnicas da profissão, quer como redactor quer como paginador». «E politicamente, como é?» – interrompeu-me de chofre. «Sou democrata», respondi. Ao que ele replicou: «É disso que a gente precisa». Dessa é que eu gostei, porque na altura isto era tudo muito complicado sob o ponto de vista político e eu tinha cadastro na PIDE. Chegou a Lisboa em plena Primavera marcelista? Entrei no Diário Popular em 1968, para aí em Março, Abril. O Salazar caiu da cadeira uns meses depois. A minha entrada no Popular verificou-se antes, ainda não havia a ala liberal da Assembleia. Francisco Balsemão trabalhava num gabinete ao fundo da redacção e tinha, de facto, um certo poder lá dentro, que era contrariado por uma corrente forte da redacção, a dos veteranos, que se sentiam mais ligados ao administrador Braz Medeiros, que era legionário e presidente do Sporting. O Balsemão estava a entrar num terreno que tinha sido dominado (e até minado) pelo Braz Medeiros. Estava a querer renovar os quadros, com pessoas mais arejadas. Eu entrei nessa leva de pessoas contratadas por ele e que tinham uma nova visão do mundo. Que tipos de serviços é que fez no Popular? Fiz tudo. E com grande prazer. Como tinha sido chefe de redacção em vários periódicos, raramente podia sair para a rua em reportagem, estava muito agarrado à secretária, a rever os textos dos outros, a organizar, a paginar. De repente, ali comecei outra vez a ir para a rua, a ir em busca das notícias, a escrever reportagens e eu adorava isso. Quando descobriram que eu tinha jeito para a paginação, resolveram explorar essa faceta e lixaram-me com funções de chefia. Comecei outra vez a rever o trabalho dos outros, mas eu próprio a ter uma criatividade menor, a não ser a criatividade que se traduz em títulos e em descobrir temas para investigar. Muitas vezes me arrependi de ter demonstrado o meu jeito para a paginação, pois quando viram que era capaz de associar o jornalismo à tipografia e fazer coisas na tipografia que os próprios tipógrafos ficavam espantados, deixei de fazer reportagem. A verdade é que eu estava mais avançado do que eles, porque já trabalhava em offset. Basicamente, saía uma impressão mais limpa e permitia tirar muito mais cópias... Tinha todas as vantagens. Era um trabalho limpo, tecnicamente mais avançado, simplesmente havia a “O Balsemão estava a oposição dos tipógrafos e querer renovar os mesmo de muitos jornalistas. O quadros, com pessoas offset praticamente acabou com mais arejadas. Eu os tipógrafos. Passaram a ser técnicos de bata branca, a tra- entrei nessa leva de balhar com pinças, os mais tos- pessoas contratadas por cos não conseguiram transitar ele e que tinham uma de uma tecnologia para outra. nova visão do mundo” Houve uma oposição forte, mesmo de muitos jornalistas que sentiam que já não sabiam mexer naquilo. Quando o Diário Popular comprou a primeira máquina rotativa em offset, a Goss, eu fui a França com uma equipa de operários, de tipógrafos, o homem da gravura, dois chefes de tipografia, os dois impressores, um grafista. Era um grupo de uma dezena de trabalhadores especializados. Fui com eles a França ver trabalhar a Goss, para se fazer a compra e para eles terem lá uma primeira formação com os técnicos franceses. Ficámos lá quinze dias para ver funcionar a máquina, ver as aptidões que ela tinha, para poder ensinar depois as outras pessoas. Eu fui escolhido para chefiar o grupo porque era o único no Diário Popular que sabia daquilo. O problema maior foi convencer os meus chefes que eles não iam ser postos de lado. As pessoas tinham um medo terrível do offset, circunstância agravada pelo facto de no Diário de Lisboa, primeiro jornal português a adoptar o sistema, o administrador Lopes do Souto ter feito daquilo um mistério só acessível a raros. Quando criou o Expresso, o Balsemão levou alguém com ele do Popular? Vou-lhe contar uma coisa que ainda hoje me causa engulhos. O Balsemão viu-se forçado a sair do Diário Popular, porque o Braz Medeiros soube aguardar a oportunidade de o incompatibilizar JJ|Out/Dez 2008|61 48a64:48a64.qxd 26-01-2009 MEMÓRIA 15:06 Page 62 Acácio Barradas Angola, anos 60: o repouso do jornalista com o tio, que também se chamava Francisco Balsemão, e que era detentor da quota principal. Havia um acordo entre o Braz Medeiros e o Balsemão tio, de acordo com o qual se um deles saísse, o outro também sairia. Quando o Balsemão sobrinho foi eleito para a ala liberal da Assembleia Nacional e patrocinou a defesa de uma Lei de Imprensa, o Braz Medeiros influenciou o tio de forma tão negativa que ambos decidiram vender o jornal ao banco Borges & Irmão, onde o Dr. Miguel Quina era figura de proa. O Francisco Pinto Balsemão não teve outro remédio se não bazar, porque ficava em minoria. Em contrapartida, o Braz Medeiros regressou em força ao jornal, nomeado pelo Miguel Quina como presidente do Conselho de Administração. Um golpe de mestre. Naquelas circunstâncias, tomei a iniciativa de assinalar a saída do Francisco Pinto Balsemão com um jantar de homenagem, pondo em relevo o seu desempenho na defesa de uma Lei de Imprensa que pretendia pôr termo à Censura. Fiz um abaixo-assinado que percorreu não só a redacção mas todas as secções da empresa em busca de inscrições. E o resultado foi curioso. 62 |Out/Dez 2008|JJ Numa casa com algumas centenas de empregados e em que muitos, sobretudo jornalistas, deviam favores pessoais ao Balsemão, só houve umas trinta inscrições para o jantar. Tudo por medo do Braz Medeiros, que diziam vingativo. E como eu era o autor da iniciativa, ninguém dava nada pela minha pele, coisa para que eu aliás me estava borrifando, pois nesse tempo não me faltavam convites para outros jornais. Mas a verdade é que o clima que gerei era de cortar à faca e o próprio redactor principal, José de Freitas, que se blasonava da oposição e até aí fora obsequioso comigo, pura e simplesmente deixou de me falar, mesmo para corresponder a uma simples saudação. O certo é que não fui vítima de nenhuma retaliação por parte do Braz Medeiros e, pelo contrário, muitos daqueles poltrões que deveriam ter ido ao jantar até porque lhe deviam o emprego, a protecção e outros favores, vi-os depois serem desprezados pelo Braz Medeiros, ao qual pretendiam bajular. Uma saborosa ironia, assente na psicologia muito própria do Braz Medeiros, para o qual os homens ou têm ou não têm tomates. E como eu mostrara que tinha tomates, ele achou 48a64:48a64.qxd 26-01-2009 15:06 Page 63 por bem respeitar-me, até porque as informações dos veteranos sobre as minhas qualidades profissionais eram muito positivas. Daí que me tenha pago com mais generosidade do que o Balsemão, que sob este aspecto sempre foi «unhas de fome». Depois de tudo isso, o Balsemão não o convidou para o Expresso? Ora aí está uma pergunta que abre caminho para a tal situação que ainda hoje me causa engulhos. Um dia o Balsemão convidou-me a visitá-lo na Braamcamp, onde o Expresso se instalou até se mudar para Paço de Arcos. Mostrou-me o projecto gráfico do jornal, pediu-me opinião sobre vários assuntos, inclusivamente sobre o melhor dia para a publicação, referiu o nome de alguns colaboradores e disse que iria em seguida criar o quadro redactorial, perguntando-me se eu estava interessado na aventura. Respondi-lhe sem pestanejar que podia contar comigo se e quando quisesse, pois o projecto jornalístico dele era cativante. Não se falou de cargos a desempenhar, nem de remunerações a pagar. E saí dali com a garantia de que ele me iria contactar em breve. Até hoje. Quando recebi convite para o lançamento do Expresso, não fui. Achei que o comportamento dele fora, no mínimo, descortês. E pelo que sei das suas idiossincrasias, não tenho dúvidas que algum dos meus «amigos da onça» lhe tenha feito chegar aos ouvidos uma intrigazinha a meu respeito, que o dissuadiu de me convidar. Este lado fraco do Balsemão, tão permeável à intriga, é uma das suas facetas mais negativas, que o José António Saraiva documenta de forma expressiva nos livros autobiográficos que escreveu sobre o Expresso, de que foi director ao longo de 22 anos. Voltando ao Diário Popular, como definiria o posicionamento político do jornal? Curiosamente, era um jornal que, estando ligado ao regime, tinha lá dentro muita gente que não era e fora admitida pelo Francisco Pinto Balsemão. Portanto, no 25 de Abril foi fácil a adaptação, excepto nalguns quadros superiores. Mais de metade da redacção estava mortinha por que aquilo acontecesse para poder ter outro comportamento. Aqueles que não acompanharam, ficaram a marcar passo. Mas não fizemos saneamentos abaixo da administração, cumprindo escrupulosamente a máxima de que «trabalhadores não saneiam trabalhadores». Sob tal aspecto, fomos exemplares. O próprio chefe de redacção, coitado, no dia 25 de Abril, foi completamente ultrapassado pelos acontecimentos. Nunca deixou de enviar os textos à Censura, até que o estafeta lhe disse: «Ó sr. Dr., já não está lá ninguém». Ele mandava aquilo tudo e ainda dizia para o homem da agenda: «Não te esqueças que amanhã o Chefe de Estado vai não sei onde!». A malta ria-se com aquilo tudo. O país a cair por todos os lados e ele ainda estava naquela onda do antigamente. Refere-se ao Fernando Teixeira? Sim, ele não estava preparado para os novos tempos. Acabou por ser promovido a director do Jornal do Comércio durante uns tempos. Foi a maneira que o Miguel Quina arranjou de ele ficar com um lugar qualquer. O Diário Popular, nos anos 60, era o jornal português mais dinâmico? Era um jornal com uma grande influência, vendia cento e tal mil exemplares por dia, era mesmo popular. É difícil hoje nós encontrarmos uma redacção com as características que tinha o Popular desse tempo! Havia uma mesa de telefones e todos “Quando o Joaquim os dias era marcado o serviço de Agostinho estava a correr telefones a três ou quatro jornana Volta à França e todos os listas. Os telefones estavam sempre a tocar e eram os leito- dias acabava a etapa, os res que nos davam notícias, leitores pretendiam saber informações ou a fazer pergun- em que lugar chegara e para tas que nos davam pistas para onde é que telefonavam? informação. Por outro lado, serPara o Diário Popular” via para o repórter que ia a um lado qualquer passar as informações pelo telefone, muitas vezes em cima da hora de fecho e tínhamos de redigir ali as notícias muito rapidamente. As fontes permanentes eram os hospitais, a polícia, os bombeiros e depois íamos aos sítios saber mais detalhes quando havia alguma coisa que justificasse. Havia serviços de rotina. Por exemplo: se uma pessoa importante estava doente, seguíamos dia-a-dia a sua evolução. Houve uma ocasião uma senhora que me encontrou na rua e me disse: «Ai, eu quero agradecer-lhe imenso porque sei que o senhor mandava todos os dias telefonar para saber da saúde do meu marido, foi uma atenção que a gente não pode esquecer». Uma atenção! Nós estávamos a fazer de vampiros, queríamos era dar a notícia logo que essa pessoa morresse! Quando o Joaquim Agostinho estava a correr JJ|Out/Dez 2008|63 48a64:48a64.qxd 26-01-2009 MEMÓRIA 15:06 Page 64 Acácio Barradas na Volta à França e todos os dias acabava a etapa, os leitores pretendiam saber em que lugar chegara e para onde é que telefonavam? Para o Diário Popular. O jornal tinha uma ligação profunda ao leitor, nunca vi uma coisa assim. Cultivava-se esse espírito. Os jornalistas que iam para os telefones atendiam os leitores com simpatia e delicadeza. Muitas vezes os leitores ligavam a dizer: «Olhe, passaram aqui na rua três ambulâncias, sabem o que aconteceu?». O jornalista respondia: «Não sabemos, mas telefone daqui a dez minutos e a gente já lhe diz». Averiguávamos a informação e se, por vezes, era uma coisa sem importância, outras vezes tinha. Mas éramos constantemente alertados pelos leitores para tudo e mais alguma coisa. O jornal pagava aos informadores que tinha nesses locais estratégicos? Alguns eram pagos. Outros tinham a chamada «benesse». O jornal tratava bem as pessoas que lhe davam informação ou facilidades. Vou-lhe dar o exemplo dos polícias sinaleiros. Quando o Diário Popular saía da oficina, tinha que se levar os jornais a Santa Apolónia para apanhar o comboio para o Norte. E no trânsito para Santa Apolónia havia três polícias sinaleiros que eram fundamentais para não haver atrasos. O trânsito parava para deixar passar o carro do Popular. Esses polícias sinaleiros recebiam todos o jornal do dia. O jornal era uma coisa a que todos os nossos informadores tinham direito e alguns também recebiam uma avença. Quem não tinha avença, por alturas do Natal recebia uma prenda. Havia sempre pessoas a quem o jornal obsequiava com prendas de maior ou menor valor, consoante a importância do seu contributo para a nossa missão informativa. mas. Entre os jornalistas, nessa época, houve uma renovação. A Universidade, ainda que na altura não houvesse cursos de jornalismo, começou a criar novos quadros e novos valores. Eu sou um autodidacta, mas não defendo os autodidactas. Prefiro os que se qualificam pela formação académica, embora não tenha ilusões sobre a qualidade do nosso ensino superior, que tantas vezes é de pacotilha. Em termos políticos, com a subida do Marcelo Caetano ao poder, sentiu alguma mudança com reflexos no trabalho dos jornalistas? Não sei se directamente por causa do Marcelo. Acho que já havia antecedentes. Para além dos acontecimentos no resto do mundo, a nível interno, para mim, houve duas coisas fundamentais: uma foi o facto de os estudantes, até por egoísmo, não quererem ir lutar para o Ultramar. Achavam que a Guerra Colonial não tinha nada a ver com eles e a perspectiva de terem que pôr uma farda e irem para a guerra gerou uma crise estudantil que atravessou todos os anos 60. O facto de haver uma ditadura punha a juventude contra o poder instituído, sobretudo depois da grande sacudidela das eleições do Humberto Delgado, cujos resultados foram fraudulentos. Essa atmosfera de contestação abalou todos os anos 60 com múltiplos sismos cujas ondas se foram propagando. A ditadura, a Guerra Colonial e a repressão contribuíram para que a revolta fosse cada vez mais latente. A repressão da PIDE e da Censura foi particularmente intensa nesse período. JJ Concorda que os anos 60 foram anos de viragem... E de crise! Por exemplo, a questão do offset foi uma revolução que, do meu ponto de vista, criou mais vítimas do que a informática. O ambiente do computador, passada a primeira barreira, é amigável. Agora, a transição do chumbo para offset foi grave porque deu cabo da classe dos tipógrafos. Em Inglaterra provocou greves com destruição de material. Eles lá são mais brutos do que nós e houve coisas terríveis. Nós aqui conseguimos passar sem as guerras que houve lá fora, foi uma coisa relativamente pacífica, talvez porque os portugueses são mais resignados, mas fez víti- 64 |Out/Dez 2008|JJ 1 Fernando Correia e Carla Baptista, Jornalistas. Do Ofício à Profissão. Mudanças no Jornalismo Português (1956-1968), Caminho, 2007.
Download