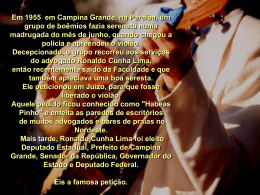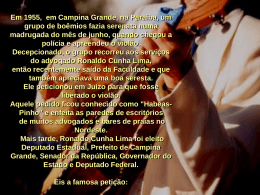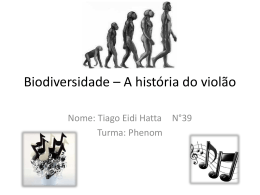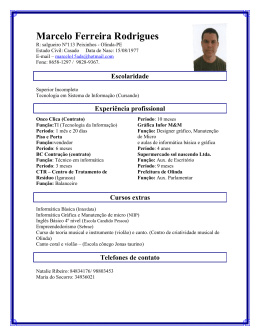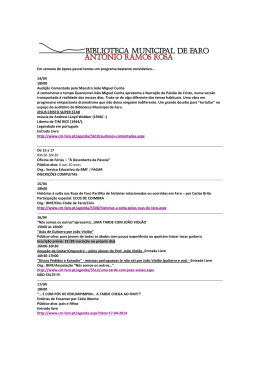MEU VIOLÃO, MEU AMIGO Paulo Roberto Pinheiro Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref.) Todas as pessoas precisam de algum tipo de “hobby”, para preencher os vazios da existência nos momentos em que não estão trabalhando ou resolvendo problemas. Mas o “hobby” não deve ser nada que obrigue a grandes esforços, como acordar cedo, sair de casa em dias de chuva ou enfrentar, fora de casa, pessoas antipáticas, difíceis de aturar. Um autêntico “hobby” deve proporcionar satisfação, sem nenhum ou muito pouco sofrimento, esforço físico ou desgaste mental. Sentimos falta do “hobby” principalmente quando chega a aposentadoria, a época ansiosamente esperada enquanto ainda estamos na ativa e que se transforma em um insuportável marasmo depois de alguns meses de inatividade. Mas a escolha do “hobby” não é tarefa fácil e é preciso entender que ele não deve ser confundido com outras atividades de lazer ou prazerosas, como, por exemplo, ir à praia, beber chope com amigos ou, simplesmente, sentar em um banco de um bem cuidado Shopping Center e ficar olhando as garotas que desfilam nesses lugares, cada qual mais apetitosa e bem fornida. Não deve ser considerado “hobby” a ida a estádios de futebol e lá ficar dando gritinhos e pulinhos histéricos, entusiasmado pelo desempenho de marmanjos no gramado. Pertencer a alguma torcida organizada, nem pensar. De modo semelhante, não é “hobby” o hábito de assistir a corridas de automóveis, acompanhando as cacetíssimas observações do locutor e prestando atenção a número de voltas, tempos, paradas para reabastecimento e outras inutilidades. Ver televisão não é “hobby”. Eu diria que ficar sentado em frente a um aparelho de TV mais tempo do que o necessário para assistir, por dia, um noticiário e um filme selecionado de, no máximo, noventa minutos, pode ser considerado tortura, principalmente pelos enervantes intervalos comerciais. Além do mais, cansa a vista e causa problemas de coluna. Cuidar de netos, Deus me livre! Adultos devem ficar longe de crianças, admitindo-se um período máximo de quinze minutos por dia para fazer alguns agradinhos e evitar que as crianças, no futuro, reclamem de traumas de infância, alegando não terem sido paparicadas por avós. Culinária seria um “hobby” interessante, mas é preciso evitar exageros, como, por exemplo, ficar de avental de cozinha o dia todo, tratando de refogados, molhos, massas, caldas, doces, cremes e outras maquinações que, a longo prazo, acabam levando o indivíduo a uma obesidade mórbida. O pior é a verdadeira paranóia por receitas que esse “hobby” provoca. Conheço pessoas que possuem em casa milhares de receitas e não resistem a pegar lápis e papel para, prontamente, anotar a última receita que algum apresentador de programa culinário na TV esteja exibindo no momento. Colecionar coisas é um “hobby” bem antigo e difundido. Mas, cá entre nós, esse “hobby” é característico de pessoas nada interessantes, de temperamento “picuinha”, chatos para conversar e difíceis de agüentar. Suas coleções, quase sempre, não servem para nada, a não ser para entulhar armários, gavetas e prateleiras. É claro que não estou me referindo aos colecionadores de arte, de peças arqueológicas ou históricas, a quem até reverencio. Refiro-me aos colecionadores de bugigangas inúteis, como relógios, máquinas fotográficas e outros aparelhos antigos que não funcionam. Há, também, os antipáticos colecionadores de selos, moedas, recortes de jornais, revistas e cartões postais antigos. Por incrível que pareça, há até colecionadores de óculos e de cachimbos. Praticar esporte não é “hobby”, portanto não adianta a pessoa sair por aí dizendo que tem uma bicicleta moderna, de não sei quantas marchas, e que pedala tantos quilômetros aos sábados. Caminhar é ótimo para a saúde, principalmente dos mais idosos, mas, convenhamos, também não pode ser chamado de “hobby”. O mesmo se pode dizer de freqüentar academias, a menos que se enquadre como “hobby” o hábito de ficar paquerando as mulheres dos outros, que lá vão para aprimorar a silhueta e, se tiverem sorte, para arranjar parceiros mais interessantes do que seus maridos ou namorados. Mas é preciso cuidado com esse “hobby”, pelas conseqüências óbvias de uma paquera indecente, mal dirigida, à pessoa errada. O “hobby” da fotografia é muito comum e podemos considerá-lo até um tipo de arte. Fotógrafos amadores são dedicados, têm sempre à mão suas máquinas prontas para fotografar tudo à sua volta e que lhes pareça interessante e digno de ser registrado para o futuro. Mas, pensando bem, esses fotógrafos cometem muitos excessos e produzem caixas e mais caixas de fotos que não poderão nunca ser digeridas em sua plenitude. Nos tempos modernos, das máquinas digitais, tão comuns e popularizadas como foram os gravadores de fita e os radinhos de pilha no início dos anos 60, não precisamos guardar caixas de álbuns de fotos, bastando colecionar “pen drivers” ou CDs com centenas ou mesmo milhares de fotos e vê-las mais tarde no computador. Mas o problema persiste, pois a maioria não tem tempo nem paciência para sentar em frente ao monitor do computador e percorrer as intermináveis galerias de fotos. Assim, o “hobby” da fotografia acaba criando uma “mão de obra” adicional, contrariando um dos requisitos básicos dos “hobbies”, que é o de não darem trabalho. Além do mais, fotografias quase sempre só interessam mesmo às pessoas que nelas aparecem e desde que tenham sido tiradas em acontecimentos muito importantes e memoráveis. Tenho amigos que gostam de fotografar e de fotografias em geral e ficam enviando, pela Internet, fotos de coisas que a eles parecem dignas de serem apreciadas. A maioria pode ser encontrada ao vivo, na natureza, bastando visitar um bem cuidado jardim ou parque público, apreciar o mar, ir ao Corcovado ou mesmo andar pelo centro da cidade e ir observando a vida e as pessoas. Restaurar coisas antigas quebradas ou desgastadas pelo tempo é um “hobby” respeitável, desde que essas coisas tenham valor material ou sentimental. Há pessoas que gostam de consertar tudo, mas não o fazem por “hobby” e sim para evitar gastar dinheiro. Há quem se dedique a consertar panelas velhas, sofás desgastados, cadeiras cambetas e até latas de lixo com aquele estressante defeito de não abrirem corretamente quando acionamos o pedal que nelas existe exatamente para isso. Há os que gostam da leitura. Muito bem, é um “hobby” intelectual, desde que as leituras não sejam desses livros baratos de auto-ajuda ou de ficção científica. O hábito de ler é valorizado, mas é preciso que o indivíduo não fique mergulhado nas leituras a tal ponto de só enxergar o mundo através de páginas de papel. O advento dos computadores pessoais, os “micros”, criou mais do que um “hobby”, pois já ficou provado que causam dependência psicológica nos mais aficionados. Acho bom nem considerar “hobby”, para não incentivar os ociosos, principalmente os mais idosos, a enveredar por mais esse vício, aumentando o estoque de manias comuns na terceira idade. É, portanto, difícil escolher um “hobby”, mas é preciso fazê-lo, porque a realidade do ócio prolongado da aposentadoria é estressante. Eu também passei por alguns dilemas, de como me ocupar quando veio minha dispensa do serviço ativo da Marinha, onde servi dos 15 aos 50 anos. Depois de algum tempo, resolvi me dedicar a fazer pequenos trabalhos em madeira, de nenhuma importância e, para ser honesto, muito mal feitos, acabando no lixo. Mas o que eu queria era ocupar meu tempo e levei nisso mais de um ano, até perceber que aquele “hobby” não era apropriado à minha personalidade. Como resultado, fiquei com um razoável estoque de materiais e ferramentas adquiridos com entusiasmo quase juvenil e que perderam quase toda a utilidade, servindo para entupir gavetas e prateleiras em meu apartamento e para alimentar as reclamações de minha mulher, que insistia para que eu deles me desfizesse. Decepcionado com o “hobby” de marceneiro chinfrim de terceira classe, resolvi abandonar o ofício. Novamente perdido na escuridão do ócio, lembrei-me de meu violão, amigo e companheiro desde a puberdade, solidário nos momentos de solidão que, em minha vida, não foram poucos. Sim, meu violão poderia ser o meu “hobby”, já que, aposentado, eu teria, finalmente, tempo para a ele me dedicar com mais atenção, como sempre desejei. Minha aproximação ao violão começou muito cedo, de modo acidental, lá pelos idos de 1952, quando eu era ainda um garoto, despreocupado com as seriedades da vida. Tinha apenas 13 anos de idade e nunca passara pela minha cabeça empenhar-me para aprender a tocar algum instrumento musical, embora a música estivesse presente em minha família, ao tempo de meu avô paterno, falecido em 1937, antes de eu ter nascido. Segundo contavam meu pai e meus tios, seus irmãos, meu avô tocava piano e, praticamente, todos os instrumentos de sopro. Trabalhava na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, onde exercia uma função técnica, como desenhista e projetista de máquinas e mecanismos, além de dominar as artes da gravura e da escultura. Acrescentava a seus vencimentos de funcionário público alguns ganhos com o pistão, seu instrumento musical de uso profissional, tocando em retretas e outras ocasiões, onde se fazia necessária a presença daquelas bandas de música de subúrbio. Além disso, meu avô tocava piano em salas de cinema, fazendo o fundo musical de filmes mudos, o que era muito comum antes do advento do cinema falado. Diziam alguns de meus tios que meu avô tinha composições musicais escritas que acabaram perdidas ou esquecidas não se sabe onde. A única prova que ficou registrada das qualidades musicais de meu avô foram as citações a ele feitas pelo Professor Barbosa de Moraes, no livro que escreveu contando a história do Colégio Arte e Instrução, localizado no subúrbio de Cascadura e fundado no início do século XX pelo ilustre Professor Ernani Cardoso, hoje nome de importante avenida naquela localidade. Segundo Barbosa de Moraes, meu avô era conhecido de Ernani Cardoso e, a seu pedido, musicou algumas peças de teatro amador, conduzidas no palco do auditório do Colégio. Em seu livro, Barbosa de Moraes dizia que “Roque Pinheiro (meu avô) era um músico e compositor modesto, mas de alta inspiração”. O curioso é que meu pai e meus tios, seus irmãos, não tocavam nenhum instrumento, embora meu avô tivesse tentado ensinar o clarinete a meu tio mais velho e um pouco de piano a minha tia, desistindo, depois de algum tempo, segundo eles mesmos me contaram. Pode ser que eu tenha recebido de meu avô alguma herança genética no campo musical, embora eu mesmo nunca tivesse me considerado com muito talento. Talvez fosse a falta de talento de meus tios o motivador da desistência de meu avô com eles. Mas, voltando à minha iniciação no violão, a história começa em 1952, quando meu tio Luiz, irmão de minha mãe, resolveu rifar um modesto violão, a pedido de um vizinho, para ajudá-lo em suas dificuldades financeiras. Apesar de professor, esse vizinho acabou desempregado porque, às vezes, exagerava na bebida e ficava em condições precárias, inaceitáveis para se apresentar diante de seus alunos no colégio em que trabalhava. Meu tio trabalhava em casa, era pespontador de calçados, um tipo mais valorizado de sapateiro que fazia as costuras e demais acabamentos na parte em couro dos sapatos. Não trabalhava com as solas nem fazia consertos, trabalho típico dos sapateiros “remendões”. A casa em que morava, de aluguel, é claro, era uma “meiaágua” localizada em uma pequena vila de casas simples, na parte elevada de uma rua pobre do subúrbio da Piedade, nesta cidade do Rio de Janeiro. Chamava-se Rua da Capela, porque, em seu topo, local relativamente elevado, existia uma modesta igreja. Nessa casinha, que tenho na memória nos seus mínimos detalhes, morou minha avó, italiana, viúva, mãe de minha mãe, e de lá saiu seu enterro, em 1947. Após sua morte, ficaram morando na casa meus tios Luiz, viúvo sem filhos, e Carlos, solteiro. O tio Luiz trabalhava com sua máquina de costura de calçados em um dos quartos e mantinha sempre aberta a janela que dava para a vila, onde se encontravam as demais casas, creio que em número de quatro. Depois de almoçar, meu tio, ocasionalmente, pegava seu bandolim e tocava algumas músicas para ele mesmo, em geral choros e valsas, apenas para se distrair, antes de reiniciar a labuta da parte da tarde. O professor, seu vizinho, já desempregado, ao ouvir pela primeira vez meu tio tocando, aproximou-se de sua janela, e ficou ouvindo, fazendo, vez ou outra, um comentário. Depois, começou a chegar à janela munido de um violão que comprara para aprender a tocar. Ao que parece, não tinha talento, pois aprendeu muito pouco e o pouco que aprendeu tocava mal. Entusiasmado, segundo me contou o tio Luiz, ele dizia, pelo lado de fora da janela, já que meu tio nunca o convidava a entrar: — Seu Luiz, vamos tocar aquela valsa do Augusto Calheiros, a Ave Maria? Meu tio concordava e, enquanto solava ao bandolim com alguns tropeços, pois era um simples amador, o professor entrava com o acompanhamento em seu violão, quase sempre “assassinando” a música. Depois tentavam outras peças, até que meu tio despachava o professor de volta para sua casa, pois ele tinha que dar adiante em seu trabalho com os sapatos. Em dias subsequentes, enquanto meu tio descansava após o almoço, surgia o professor com seu modesto violão e o convidava a pegar o bandolim e fazer mais um “dueto” junto à janela. Essa rotina começou a se repetir e meu tio, que sabia ser cordial em alguns momentos, mas sabia, também, falar o que fosse necessário em outros, acabou dizendo ao professor que ele não podia viver de serenatas e precisava trabalhar nos sapatos para se sustentar. O “dueto” deixou de existir e o professor, depois de algum tempo, pediu a meu tio que fizesse uma rifa de seu violão, a cinco mil reis cada número, pois precisava, urgentemente, de algum dinheiro. Meu tio concordou e organizou a rifa, que foi passada entre conhecidos e familiares e seria sorteada pelo “jogo do bicho”. Eram, portanto, vinte e cinco números, correspondentes aos “bichos” do jogo e minha mãe, para ajudar, comprou um número. Estávamos em 1952 e “cinco mil reis” eram o mesmo que cinco cruzeiros, na nova moeda criada por Getúlio Vargas no início dos anos 40. Naquela época, quase todo mundo ainda usava a linguagem do “mil reis” e era, inclusive, considerado pedante, entre as pessoas mais simples, falar em “cruzeiros”. Depois da rifa, o tempo passou e não se falou mais no assunto, até que minha mãe soube que ela tinha sido a sorteada e que o violão se encontrava na casa de um familiar nosso que ficara com a incumbência de entregar o instrumento ao ganhador da rifa, mas, por alguma razão que eu jamais descobri, não o fez. Minha mãe ficou contrariada com aquele esquecimento, que considerou um desaforo, e tomou posse do violão, que vinha acompanhado de um método rudimentar, do violonista Paraguassu. Levou o instrumento para nossa casa e me deu de presente, embora eu nunca tivesse mostrado nenhum interesse em aprender a tocá-lo. O resultado foi que o violão ficou guardado em cima de um armário e por ele ninguém se interessou durante meses. Esse violão era um modelo “Gianinni”, nome de conhecido fabricante de instrumentos musicais no Brasil desde as primeiras décadas do século XX. Era um instrumento barato, do tipo que usava “cravelhas” de madeira para sustentar as cordas e acho que era feito de um pinho de segunda classe. Era, portanto, compatível com o talento do professor que o adquirira para aprender. Como eu não entendia nada de violão, para mim não fazia diferença se era de qualidade ou não e o fato de ser de “cravelhas” só foi percebido por mim depois que eu constatei que todos os violões das pessoas que sabiam tocar possuíam “tarraxas” em vez de “cravelhas”. Um dia, meu tio Luiz estava em nossa casa e lembrou-se do violão. Como tocava o bandolim, tinha alguma familiaridade com o violão, mas não sabia tocar. Então, pegou o método do Paraguassu e, diante de nós, afinou o instrumento e começou a exercitar algumas posições mais simples, nos tons de Dó Maior e Lá Menor. O método apresentava as figuras das posições e de como fazê-las no braço do violão, o que, para meu tio, parecia muito simples, pelo menos nas lições iniciais. Foi quando, pela primeira vez, senti de perto a beleza da sonoridade daquele instrumento tão querido dos brasileiros. Nos dias que se seguiram, tentei fazer sozinho as posições no braço do violão, mas percebi que ainda faltava muito para conseguir soar o instrumento com nitidez, principalmente porque antes eu teria que criar os calos nas pontas dos dedos da mão esquerda. Para qualquer aprendiz, essa fase de criar os calos leva a muitas desistências, mas eu insisti. O ano de 1952 terminou e não me lembro se consegui progresso significativo. Creio que fiquei no Dó Maior e no Lá Menor que, com suas posições devidamente combinadas, serviam para acompanhar meia dúzia de músicas simples. Na verdade, meu interesse pelo violão estava no plano da curiosidade, era algo novo que eu acreditava que acabaria sendo deixado de lado. Apesar de meu tio, vez ou outra, aparecer em nossa casa e, juntos, tentarmos alguma evolução, eu não me esforçava para levar aquilo com mais seriedade e não recebia de meus familiares nenhum incentivo nessa direção. Em 1953, as seriedades começaram a se delinear para mim, mas não no violão, que passou a ser assunto de terceira ordem. Um dia, no início daquele ano e estando eu em férias escolares, meu pai chegou do trabalho com um folheto da Marinha, contendo instruções para o ingresso no Colégio Naval. E, com aquele seu jeito “macio” de tratar as coisas, me disse: — Olha, você vai cursar neste ano o quarto ano ginasial no Colégio Piedade e precisa saber o que você vai fazer quando terminar o ano. E nós precisamos ir pensando nisso desde já, porque o tempo voa. Eu trouxe aqui este programa da Marinha e você poderia tentar o concurso para ingressar em 1954. A Marinha é uma carreira bonita e de prestígio e, como Oficial, você vai ter muitas oportunidades. Garanto que sua avó vai gostar. O que você acha? Eu não sabia o que dizer a meu pai. Já pensara, algumas vezes, naquela questão angustiante de todo menino, do tipo “o que eu vou ser quando crescer”, mas nunca havia cogitado de ser militar e Oficial de Marinha. Aquilo era, para mim, uma incógnita. Peguei o programa, com as instruções e os assuntos exigidos para as provas de Português e Matemática do concurso, li rapidamente alguns trechos e fiquei atônito. Eu, simplesmente, concluí que não sabia nada dos assuntos exigidos e, em alguns casos, não sabia nem mesmo do que se tratava. Então, quase querendo me esquivar daquela idéia, mas pensando, também, na decepção de minha avó, falei a meu pai: — Eu não tenho base e, com certeza, não vou passar no concurso. Meu pai então alegou que poderia me matricular em um curso preparatório, dirigido por um colega de infância que já tinha preparado vários rapazes com sucesso, inclusive o filho de outro colega seu de trabalho que passara no concurso daquele ano e já estava no Colégio Naval. Aproveitou para contar algumas particularidades do Colégio, que foram transmitidas por aquele colega, sempre procurando me incentivar e, sem imposições, esperou minha resposta para alguns dias depois. Confesso que fiquei na esperança de meu pai esquecer aquele assunto, mas, cerca de uma semana depois, ele cobrou minha resposta. Então eu disse que aceitaria o desafio e, a partir de março daquele ano de 1953, comecei a fazer o quarto ano ginasial no Colégio Piedade, na parte da manhã, e a frequentar o curso preparatório para o Colégio Naval, no período da tarde. Logo se vê que o espaço para o violão ficou apenas marginal e quase não tive progresso, mas continuava apreciando, cada vez mais, o instrumento. Às vezes escutava, pelo rádio, os grandes solistas brasileiros da época, como Dilermando Reis, e ficava maravilhado com o que se podia fazer no violão. A preparação para o concurso exigiu um grande esforço, mas fui recompensado com a aprovação, começando minha vida na Marinha em março de 1954, com 15 anos de idade. Não pretendo me estender em detalhes da formação militar-naval, pois a intenção, neste texto, é abordar minha iniciação ao violão. Entretanto, é importante conhecer o ambiente onde essa iniciação tomou corpo, daí a necessidade de falar no período em que estive no Colégio Naval e na Escola Naval. Fui para o Colégio Naval, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, para fazer seu curso de dois anos, ao fim do qual eu estaria habilitado a ingressar automaticamente na Escola Naval. O regime do Colégio era o de internato, sem direito a sair dos limites de sua área nos dias úteis, havendo licença para ir à cidade de Angra dos Reis aos sábados e domingos, sempre regressando antes das dez horas da noite para dormir no Colégio. As licenças para ir ao Rio de Janeiro, onde residia a maioria dos alunos, eram limitadas. Durante meu primeiro ano, essas licenças duravam apenas alguns dias e eram concedidas a cada três meses, aproximadamente. No segundo ano, os intervalos foram menores, mais ou menos entre quarenta e cinco e sessenta dias e também eram licenças de curta duração. Entretanto, havia sempre um período de férias no meio do ano, que permitia um tempo mais prolongado com os familiares. Com a ida para o Colégio, meu modesto violão de cravelhas de madeira ficou em casa e não me passou pela cabeça levá-lo comigo, já que as incógnitas de minha vida futura me impossibilitavam de pensar em derivativos. Eu deveria, prioritariamente, me concentrar nos estudos, na disciplina militar, no desenvolvimento físico, na formação militar-naval e na preservação da saúde. Em 1954, minha habilidade com o violão era ainda muito restrita, não permitindo que eu tocasse satisfatoriamente, mas, como havia outros colegas também iniciados, eu pude trocar experiências. Com essa convivência, eu, cada vez mais, me fascinava com o violão, a ponto de negligenciar os estudos. Sempre que eu ouvia o som de cordas de violão, lá ia eu em sua direção, me juntar a quem estivesse tocando. Como eu não tinha violão no Colégio, eu usava os de meus colegas, dois ou três que decidiram levá-los. Nessa fase, a do Colégio Naval, as “rodas de violão” se limitavam a alguém cantando, um acompanhando ao violão e o resto ouvindo. Lembro-me que havia um colega que aprendera os primeiros acordes do violão acerca de um ano antes, mas tinha talento e bom ouvido, fazendo excelentes acompanhamentos de sambas, choros e valsas. Eu, particularmente, prestava muita atenção à sua técnica, procurando captar sua maneira de fazer os floreios nos baixos, muito comuns nos acompanhamentos da música popular brasileira daquela época. Ele até já se arriscava a fazer solos de violão, com razoável sucesso, o que todos apreciávamos. Pois esse colega passou a ser meu “guru” em assuntos de violão, embora ele nunca tivesse percebido isso. Somente há alguns anos, nós todos já bem idosos, eu o encontrei e lhe disse isso, o que o surpreendeu, imaginem. Aprendi bastante naquelas “rodas de violão” do Colégio Naval, tudo de ouvido e de maneira empírica, pois ninguém sabia nada de teoria musical ou de leitura de partituras. Éramos, apenas, jovens curiosos e amantes do fantástico instrumento. Essa minha fixação ao violão me fez passar por alguns contratempos. Lembro que em 1955, estando eu já com 16 anos de idade e cursando o segundo ano do Colégio Naval, recebi uma punição por falta disciplinar cometida. Na audiência com o Diretor, sua mão pesada fez cair sobre mim a punição de cinco dias de prisão rigorosa, tipo de prisão que era cumprida em recinto fechado, chamado, na Marinha, de “bailéu”. O “bailéu” do Colégio Naval era um espaço retangular de cerca de vinte metros quadrados, comprido, possuindo duas celas com grades e, no fundo, um único banheiro, sem azulejos, com um chuveiro de água fria, uma pia e um vaso sanitário. A porta de entrada desse compartimento era trancada a chave, mas possuía um gradil que permitia aos presos ver o que se passava fora do espaço e se comunicar com quem estivesse passando. No meu tempo, as celas eram mantidas com as grades abertas e em cada uma delas havia, apenas, um beliche duplo ou cama simples, não me lembro mais. Fui recolhido ao “bailéu” e lá passei os cinco dias de prisão. A prisão rigorosa impedia que o aluno assistisse às aulas e participasse de todas as demais atividades. As refeições eram levadas por algum integrante do grupo de serviço e o preso comia dentro do “bailéu”. Para piorar as coisas, durante minha prisão o único preso era eu, o que tornava o “bailéu” uma espécie de “solitária”, não havendo com quem falar, a não ser quando alguém do grupo de serviço ia levar as refeições ou quando algum colega passava junto ao gradil da porta de entrada e decidia parar para conversar com o preso, o que, aliás, não era permitido. No primeiro dia foi tudo bem, era mais uma experiência que a Marinha estava me proporcionando, mas, do segundo dia em diante, aquele isolamento começou a me incomodar. Então, um colega meu, penalizado com a minha situação, pegou emprestado um violão com outro colega e me entregou no terceiro dia, aproveitando o horário do almoço, em que o “bailéu” era aberto para a entrega da comida do preso. A solidão diminuiu e a maior parte do tempo, estando acordado, eu passava dedilhando o violão. No quinto dia, quando eu seria libertado, o Oficial de Serviço resolveu inspecionar o “bailéu” e lá encontrou o violão, o que considerou não apenas uma falta grave, mas, também, um deboche do preso, pois a prisão tinha finalidade “educativa” e não deveria se prestar ao lazer de presos vagabundos, que poderiam muito bem aproveitar o período encarcerado para colocar em dia os estudos. Fui libertado, mas, dois ou três dias depois, por causa do violão, voltei à audiência daquele Diretor de mão pesada, que me puniu com mais cinco dias de prisão rigorosa. Voltei ao “bailéu” e lá fiquei de novo sozinho e sem violão. Durante as licenças para ir ao Rio de Janeiro, eu chegava à minha casa, abraçava meus pais e irmãos, contava algumas novidades, desfazia a mala, comia um excelente bife preparado por minha mãe, e, logo em seguida, procurava meu pobre violão de cravelhas de madeira. Retocava a afinação e colocava seu som no ambiente, surpreendendo meus familiares com os pequenos progressos feitos. Durante toda a estadia de licença em minha casa, eu passava boa parte de meu tempo abraçado ao velho “pinho”, treinando coisas novas através do método do Paraguassu. Terminados os dois anos de Colégio Naval, fui para a Escola Naval, no Rio de Janeiro, para fazer seu curso de três anos. Embora fosse um aprendiz de violão ainda muito limitado, era estimulado por meus colegas, que enxergavam em mim um talento que, na verdade, eu não tinha ou, pelo menos, não no nível em que eles supunham. Também fiz progressos na Escola Naval, sempre em contato com outros colegas que “arranhavam” o violão. Aprendi a solar, de ouvido e aos trancos, algumas peças de pequena complexidade e, por isso, era até aplaudido pelos colegas. O regime na Escola Naval era, também, o de internato, mas, como ela ficava situada em plena cidade do Rio de Janeiro, tínhamos licença para ir para casa aos sábados, depois do meio dia, devendo regressar no fim da noite de domingo. Na Escola, eu também não resistia a uma “roda de violão” e, muitas vezes, me prejudiquei nos estudos, gastando tempo em “serestas” clandestinas nas dependências daquele estabelecimento, o que não era permitido, a não ser nos pequenos períodos de lazer, chamados de “recreação”. O principal entrave que me impedia de mostrar a outras pessoas, com naturalidade, meus progressos, era a timidez, o que fazia com que eu fosse um músico quase solitário, preferindo tocar para mim mesmo ou apenas na presença de meus familiares e colegas com quem eu tivesse convivência mais próxima. Apesar de gostar de me relacionar com quem tocasse o violão, procurando aprender mais, eu sentia triplicado o peso da responsabilidade quando era eu o que tinha que tocar. Hoje eu compreendo que isso era a inibição natural de quem não dominava o instrumento. Era o medo de errar na execução e ser ridicularizado pelo público, inibição a que todos estão sujeitos, mesmo os artistas profissionais. Para falar a verdade, eu nunca me libertei, totalmente, dessa inibição, mesmo depois de muitos anos e de já dominar a execução de várias peças. Terminei o curso da Escola Naval no final de 1958. Viajei, em 1959, pelo Brasil e pelo mundo, como Guarda-Marinha, no Navio-Escola e, a partir de 1960, comecei minha longa jornada como Oficial de Marinha, ficando no serviço ativo até 1989, quando fui transferido para a Reserva Remunerada, com pouco mais de 50 anos de idade. Durante o serviço ativo da Marinha, como Oficial, as múltiplas obrigações profissionais estiveram sempre em primeiro lugar. O que eu sabia de violão era muito pouco, aprendido em um esforço autodidata intervalado, sem a necessária persistência e sem a base da teoria musical, indispensável para incorporar progressos significativos. Durante os muitos anos como Oficial, minha maneira de tocar ficou quase estagnada, com muitos vícios, defeitos e um repertório restrito, em número e em qualidade. Apesar de reconhecer minhas limitações, eu, frequentemente, recebia elogios de colegas que, de violão, nada entendiam, mas diziam que eu era “um exímio violonista”. Algumas senhoras que me ouviram tocar chegaram a dizer que eu “tocava divinamente” e uma delas perguntou-me, certa vez, em que conservatório eu havia estudado. Nunca me empolguei com elogios porque tinha consciência da enorme distância que me separava dos verdadeiros violonistas. Mas, me contentava com o pouco que aprendera, recorrendo ao meu violão sempre que precisava espairecer de alguma pressão emocional. Nessas ocasiões, o “pinho” respondia com carinho, através de seus acordes plangentes, como uma voz amiga, suavizando as angústias. Depois que deixei o serviço ativo da Marinha, resolvi não mais trabalhar, embora eu ainda tivesse energia para isso e bastante conhecimento, adquirido em cursos profissionais e no hábito de estudar permanentemente. Havia, também, uma enorme experiência, desenvolvida nas diversas funções exercidas. Mas a vida de Marinha era uma coisa e a convivência profissional no meio civil seria outra, totalmente diferente, o que me desmotivou na busca de empregos e de patrões. Desempregado por opção, tentei um “hobby” despretensioso para ocupar meu tempo, atividade que já abordei no início deste texto e que abandonei por me convencer de sua inutilidade. Então decidi que meu violão seria minha ocupação principal, não propriamente um “hobby”, mas uma atividade artística muito mais valiosa para mim do que outras ocupações dispensáveis. Revendo minha iniciação no violão e todos os anos em que fui, apenas, um primitivo, concluí que eu nunca pude progredir porque não sabia coisas elementares da teoria musical e era absolutamente incapaz de ler e escrever partituras. Com tal limitação, eu só poderia ter sido o que fui, um amador curioso, sem possibilidade de melhorar a técnica instrumental e o repertório musical. E nessa condição fiquei por trinta e cinco anos, dos 15 aos 50 anos de idade. A decisão foi ousada. Aos 50 anos de idade, resolvi aprender a ler e a escrever música para violão, de modo autodidata. Comprei livros e métodos de violão por música e dediquei-me, durante alguns anos, a exercitar a técnica do instrumento, algo que, no passado, eu fazia de maneira empírica e sem muita paciência, não conseguindo, portanto, passar da condição de executante medíocre. Precisei estudar e exercitar muitas horas por dia, até romper as barreiras dos vícios e defeitos acumulados durante tantos anos. Nos primeiros tempos cheguei a pensar que não avançaria muito, apenas melhoraria meu repertório e minha técnica, mas, com perseverança, comecei a perceber que fazia progressos interessantes. Em nenhum momento pensei em recorrer a professores, fazendo tudo de modo autodidata, inclusive aprendendo a ler e a escrever música pela simples observação de partituras e aplicando os conhecimentos elementares dos livros e métodos que adquirira. É claro que meu processo não era o mais indicado. O correto teria sido procurar um professor para abreviar o tempo de aprendizado, como acontece com todo jovem que decide estudar música. Mas, além de não ser jovem, eu sempre gostei de fazer coisas de modo autodidata, que permite “descobrir” os ensinamentos, embora isso leve o triplo do tempo de aprendizagem. Mas, tendo tempo de sobra, por que correr? Assim, ao longo dos últimos vinte anos, consegui fazer o que gostaria de ter feito dos 15 aos 35 anos de idade. Meu esforço foi recompensado pela imensa satisfação que hoje sinto ao tocar meu violão, sabendo que as peças estão sendo corretamente executadas. Embora idoso e sem tempo pela frente para aprender muito mais, como gostaria, acho que dei ao meu violão a atenção que ele sempre mereceu. Meu violão, meu amigo dos momentos de solidão e de algumas tristezas e decepções desta vida. E pensar que tudo começou naquele instrumento pobre, de cravelhas de madeira, que pertencera a um professor infeliz, a quem o álcool atingira, prejudicando seu caminho. Um violão que chegou às minhas mãos no longínquo 1952, através da sorte de minha mãe, ao acertar no “bicho” da rifa de “cinco mil reis”, organizada pelo meu tio Luiz para ajudar o professor. Lamento que, durante os trinta anos de efetivo serviço como Oficial, minha execução tivesse progredido pouco e meu violão ficado, muitas vezes, esquecido, por longos períodos, em algum canto de minha casa. Mas era preciso ganhar a vida e, afinal, o que tenho hoje, na velhice, foi fruto do trabalho como Oficial de Marinha, permitindo a tranquilidade para me dedicar à minha atividade preferida, enquanto o bom Deus permitir.
Download