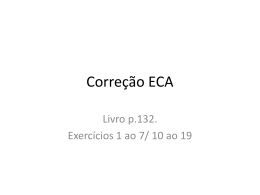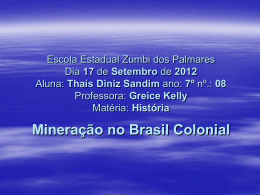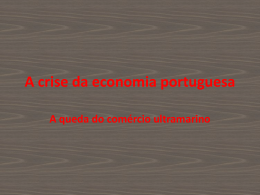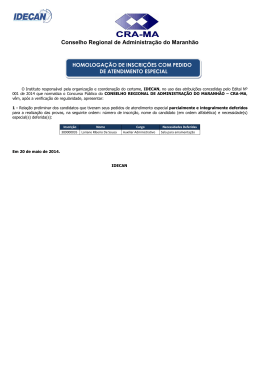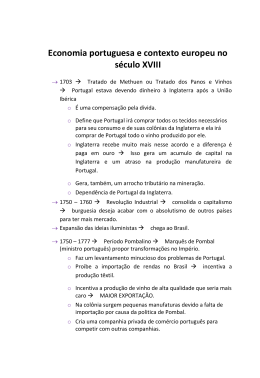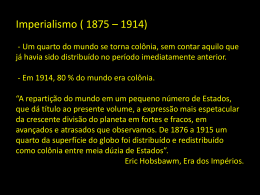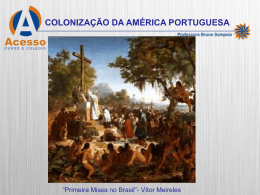A Amazônia brasileira no contexto da formação territorial brasileira Helio de Araujo Evangelista ([email protected]) Resumo O presente texto dá continuidade ao anterior já publicado na revista (on line) da Sociedade Brasileira de Geografia versando sobre formação sócio-espacial do Brasil. Na oportunidade abordamos o cerrado brasileiro, no momento tratamos da Amazônia Palavras-chave : amazônia, formação territorial, Brasil Abstract This article aims to continue what we had written in Brazilian Geography Society Review (on line) about Brazilian cerrado. Now we show how Amazon Region developed. Key- words : amazon, territorial development, Brazil Apresentação Este trabalho visa delinear os principais episódios e respectivos desdobramentos históricos que nos ajudam a compreender o território amazônico que o Brasil tem. Partimos da concepção que a organização espacial é permeada por diversas relações de poder. A distribuição das atividades, a localização das pessoas, as vias de circulação, etc. estão calcadas por relações não só econômicas, ou culturais, mas políticas, e a sua expressão mais nítida é a delimitação do território. A Amazônia ao tempo da União Ibérica - A Fase de expansão ( 1580 – 1640 ) 1 Em 1580, com a União entre os países Portugal e Espanha, a conhecida União Ibérica (1580-1640), foi desencadeado uma nova fase na formação territorial brasileira. Segundo Schwartz ( 1979, p. 175 – 176 ) Na geopolítica imperial espanhola, o Brasil se tornara a pedra fundamental do império, não em virtude de qualquer valor intrínseco mas por causa da sua localização estratégica. Planejadores militares em Lisboa, Madri e Amsterdã reconheciam que o controle holandês da costa brasileira proporcionaria uma base de operações contra os tendões do império ibérico. Uma força hostil entrincheirada em Recife ou Salvador poderia atacar os portos das costas do Atlântico e do Pacífico, interceptar as frotas espanholas carregadas de prata no mar das Caraíbas e os navios portugueses com escravos índios no oceano Atlântico, interceptar o tráfico de escravos de escravos do Atlântico e, em geral, desencadear o massacre do império Atlântico dos Habsburgo. Acima de tudo, os forjadores da política espanhola viam a costa brasileira como a primeira barreira de defesa do Peru. O Peru e sua prata, e não o Brasil e seu açúcar, eram a coroação do Império e ninguém tinha certeza de quão distante estavam as minas de Potosi do litoral brasileiro. ...Novos impostos foram estabelecidos tanto no Brasil quanto em Portugal para pagar as despesas feitas com fortificações, tropas e artilharia. Menos inclinados a pensar em termos políticos, os portugueses resistiram aos novos impostos e começaram a questionar a teoria política subjacente ...depois de 1630, as levas contínuas de homens e dinheiro para sustentar na política não popular contribuíram para a última revolta de Portugal em 1640 e para sua separação da Espanha. Se antes deste ano, 1580, já eram implementadas as entradas, expedições exploratórias de caráter governamental; após este período, tomou corpo um movimento, dos bandeirantes, caracterizado por iniciativas particulares que estendeu a fronteira da colônia brasileira para além da linha firmada pelo Tratado de Tordesilhas assinado em 1494. Tal movimento foi facilitado, de um lado, pela concentração dos interesses espanhóis sobre a área mineradora da Cordilheira dos Andes; logo, eles não procuravam expandir seus 2 domínios para outras áreas ( p. ex: planícies da Amazônia e do Pantanal 1 ); de outro lado, os portugueses, através da União Ibérica, dispunham de uma certa legitimidade para invadir áreas que a princípio pertenceriam a uma única Coroa . Esse movimento para oeste atingiu não só áreas mais “próximas” 2 a São Paulo, como Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, e da atual região sul brasileira , mas também a própria Amazônia que tinha nos espanhóis, junto aos portugueses, uma resistência contra os invasores destacadamente ingleses, holandeses e franceses - que partiam das Guianas e atacavam as missões religiosas lá existentes 3 ( sobre este último aspecto, temos a decisiva influência das missões religiosas no domínio do território brasileiro na região da Bacia da Prata ). Peregalli (1986, p. 37 ) assinala que o Amapá veio a ser conquistado depois de um paciente trabalho missionário4; há, inclusive, sucessivas cartas-régias que fixavam o campo de atuação de cada ordem religiosa ... “franciscanos de Santo Antônio nas missões de Cabo Norte, Marajós e norte do rio Amazonas; Companhia de Jesus nas dos rios Tocantins, Xingu, Tapajós e Madeira. Os carmelitas nas dos rios Negro, Branco e Solimões; franciscanos da Piedade nas do baixo Amazonas, tendo como centro Gurupá ... ( Ibidem, pp. 37-38 ) e Holanda ( 1989, p. 265 ) . Cabe frisar que estas expansões interioranas foram facilitadas pela própria disposição das redes hidrográficas existentes, sendo que a principal base de apoio das bandeiras São Paulo, tinha a faculdade de se ligar, através do rio Tietê, a um acesso que os levava até a região da Bacia da Prata, assim como, através da bacia do Paraíba do Sul, à cidade do Rio de Janeiro ( Abreu, 1998, pp. 235-236; 261 1 Cabe ainda assinalar que estas duas planícies geraram repercussões distintas, pois enquanto a bacia amazônica propiciava uma capilarização da ocupação pelas vias fluviais; o pantanal, enquanto um pantanal, em parte dificultava a ocupação de parte da área ao centro do continente sul-americano; assim, se o Brasil apresenta um aspecto triangular, largo ao norte, e estreito ao sul, tal forma tem uma contribuição do próprio aspecto físico do seu território que foi pautado por circunstâncias históricas mais favoráveis à expansão ao norte, e restritivas ao sul. A rigor, a Amazônia já era objeto de ocupação por parte dos espanhóis quando lá chegaram anglo-holandeses, porém, estas investidas pioneiras, como a de Gonzalo Pizarro em 1539-1542, não configuraram uma ocupação efetiva ( Holanda, 1989, p. 257 ) . A ocupação da Amazônia pelos portugueses só veio a ser efetivada quando estes conquistaram a cidade de São Luís ( Maranhão ) em 1615 que, até então, estava sob domínio dos franceses ( ibidem, pp. 257-258 ) 2 3 4 Cabe frisar que este sentido de proximidade há de ser relativizado em função da capacidade de transporte da época; por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, em sua obra Monções ( 1976, pp. 52-53 ) observa que a viagem entre São Paulo e Cuiabá demandava mais tempo que o exigido entre Rio de Janeiro e Portugal. Mais informações sobre as Guianas, e particularmente aquela ocupada pelos franceses que veio a ser objeto de diversas disputas com os portugueses, cabe conferir Carvalho ( 1998, pp. 197-208 ); uma pendência que só veio a ser totalmente dirimida com os franceses em 1955 ( sic. ). Nesta mesma obra de Carvalho, temos uma caracterização da região das Guianas também dividida por holandeses e ingleses ( ibidem, pp. 209-215 ). Outro recurso bibliográfico para dirimir dúvidas sobre esta área é Soares ( 1972, pp. 60-63; 75-77 ). Em que pese as duras investidas francesas na área ( Soares, 1972, pp. 62-63 ) 3 ). Peregalli ( 1986, p. 26 ) apresenta um mapa com a rota destas monções; para se ter uma idéia da importância destas monções, em 1726, o próprio governador de São Paulo, Rodrigo César, acompanhado por três mil pessoas distribuídas em trezentas coroas, erigiu a vila de Cuiabá, em 1 de janeiro de 1727, após arriscada viagem e lá ficou, mesmo após ter perdido o posto de governador, até 1728 ( sua administração à frente de São Paulo foi de 1721 a 1726 ) ( Holanda, 1985, pp. 35-36 ). De fato, é inviável compreendermos a história da expansão das fronteiras da colônia brasileira sem ter em conta as características dos grandes rios ( São Francisco, Tocantins, o Araguaia, Paraná, Paraguai e Uruguai, todos de fácil navegação e descobertos pelos bandeirantes, como destaca Bandeira ( 1998, p. 13 )). Holanda ( 1994, pp. 19 ) destaca, também, o papel dos índios ao revelarem os segredos da mata, e respectivas formas de sobrevivência ( o necessário conhecimento da flora e fauna, por exemplo, para fins medicinais e alimentícios ( ibidem, pp. 36-38; 50; 67-68 etc. )); vindo inclusive a utilizarem os antigos caminhos dos índios que percorriam o território da colônia, chegando até a servir, como observa Holanda ( ibidem, p. 26 ), como traçado para as futuras estradas de ferro. Um aspecto a ser considerado nesta relação de simbiose que paulatinamente se delineava entre os primeiros portugueses e os índios é a de sua realização por portugueses desacompanhados de mulheres, este aspecto, combinado ao fato deles desconhecerem as características da terra, promoveu uma circunstância favorável à miscigenação desde o início da colonização brasileira. Séculos mais tarde, no século XIX, quando aqui chegaram com mais intensidade outros europeus ( italianos, alemães, etc. ) estes vieram acompanhados por famílias, o que proporcionou outras condições de vida a ponto destes passarem a formar núcleos muito homogêneos, o que retardou o processo de miscigenação. Sobre a Amazônia, em 1622, a Espanha, que reinava então sobre a colônia brasileira, criou dois Estados, o do Brasil e o de Maranhão5 com o fito de melhor defender e explorar a 5 Na obra de Guilhaume Raynal ( 1998, p. 105 ) consta que a ocupação do Maranhão só foi efetivada a partir de 1599. No caso da Amazônia, segundo Bandeira ( 1998, pp. 33-34 ) a área veio a ser invadida pelos portugueses no século XVII e em 1616 foi construído o Forte do Presépio ( atual estado do Pará ). Segundo Furtado ( 1992, p. 67, nota 66 ) foi ainda neste período que foi decidida a criação do Estado do Maranhão ( que ia do Ceará ao Amazonas ) em 1621. Para Furtado ( 1992, p. 66 ) ... “ Os solos do Maranhão não apresentavam a mesma fecundidade que os massapés nordestinos para a produção do açúcar. Mas não foi esta a maior dificuldade, e sim a desorganização ao mercado de açúcar, fumo e outros produtos tropicais, na segunda metade do século XVII, o que impediu aos colonos do Maranhão dedicarem-se a uma atividade que lhes permitissem iniciar um processo de capitalização e desenvolvimento. As suas dificuldades eram as mesmas que enfrentavam o conjunto das colônias portuguesas na América, apenas agravadas pelo fato de que eles tentaram começar numa etapa em que outros consumiam parte do que haviam acumulado anteriormente. Piratininga contara, em sua primeira etapa, com a forte expansão 4 Região Norte. Tal iniciativa deu ensejo, por exemplo, para a pioneira expedição ( 1637-39 ) de Pedro Teixeira que percorreu o vale amazônico até chegar aos contra-fortes da Cordilheira dos Andes no Equador .6 Cabe destacar, como o faz Peregalli ( 1986, p. 34 ), que esta defesa da expansão ao norte, assim como maior incremento do nordeste brasileiro visava melhor proteger o acesso ao Peru por tropas hostis à Espanha via delta amazônico; pois data desta época, o da União Ibérica, que os holandeses, ingleses e franceses iriam demarcar e defender suas feitorias próximas ao delta amazônica ( o que originaria, anos mais tardes, as Guianas holandesa, francesa e inglesa ). É desta época, inclusive, após a expulsão dos franceses do litoral, que os ibéricos fundaram Presépio, futura cidade de Belém ( do Pará ). Cabe frisar que estas expansões para além do limite do Tratado de Tordesilhas eram marcadas por fortes conflitos com os índios, que, não raro, levavam a melhor nos combates ( Abreu, 1998, pp. 249-252 ). Cabe aqui destacar uma frase de Peregalli ( 1986, p. 36 ), a saber: “...enquanto os castelhanos esperavam os lusitanos fortificados nos rochedos andinos, estes ocupavam as margens dos rios”, isto está a indicar as diferenças de estratégias entre as duas partes, sendo que a primeira, a espanhola, já dispunham de áreas de interesses cristalizadas representadas pelas minas, enquanto a lusitana estava à procura de; esta diferença tem sérias repercussões na configuração territorial das duas Américas, as forças espanholas deixaram, como legado, o acesso as duas grandes bacias hidrográficas da América do Sul em favor dos portugueses. 7 Logo, não causaria espécie se reconhecermos que a integração da Amazônia no Brasil se deu sob os auspícios da Espanha!8 Embora não tivesse sido uma integração sem contemporânea da economia açucareira, havendo-se dedicado à venda de escravos indígenas numa época em que a importação de africanos apenas se iniciava. Foi essa atividade que permitiu à colônia do sul sobreviver. Os maranhenses tentaram o mesmo caminho, mas logo tiveram de enfrentar o isolamento provocado pela ocupação de Pernambuco pelos holandeses e, mais adiante, a própria decadência da economia açucareira.” 6 Esta expedição partiu do Rio de Janeiro em outubro de 1637 com dezenas de embarcações e com duas mil pessoas, um ano depois chegou a Quito, meses depois, em fevereiro de 1639, retornou ao Brasil ( Holanda, 1989, pp. 263-264) 7 “Tarde demais, os espanhóis perceberam seu erro logístico: entre 1709-1710 reagiram enfrentando os lusitanos no Solimões. Uma série de fortes cobriram as entradas e saídas dos rios: São Gabriel da Cachoeira fechou o Negro em 1762; Tabatinga, o Napo em 1766; São Joaquim, o Branco em 1778 e assim sucessivamente ...” ( ibidem, pp. 36-37 ). 8 Para se obter um quadro sintético do processo de ocupação da área, veja Wehling ( 1994, pp. 135-142 ). A atividade econômica propriamente dita na área, até meados do século XIX, era muito restrita, calcada em coletas de especiarias ( tais como cravo, canela, pimenta, gengibre, etc. ) . Para informações mais detalhadas sobre a integração da Amazônia cabe a consulta da obra Mitos e realidade da Amazônia brasileira no contexto geopolítico internacional ( 1540-1912 ) , tese de doutorado de Lia Osório MACHADO, professora de geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, defendida em 1989, na Espanha ( Barcelona ). 5 contratempos, advindos da Espanha e de não menos de três outros países da Europa, a saber: França, Inglaterra e Holanda. Estes, como indica Peregalli ( 1986, p. 34 ) procuraram construir pontos de apoio que pudessem permitir melhor acesso à bacia amazônica, o que engendrou difíceis situações que obrigaram a negociações que tanto Carvalho ( 1998 ) e Soares ( 1972 ) relatam copiosamente. A possessão da região amazônica como partícipe do território brasileiro decorreu de uma trama complexa de fatores para a qual colaboraram tanto a falta de interesse dos espanhóis em ocuparem uma área que pelo Tratado de Tordesilhas lhes era de direito, quanto o empenho de Portugal em tomar posse da região. Em parte, podemos compreender esta expansão para o oeste devido a falta de um encontro imediato de metais, tal como ocorreu com os espanhóis na Cordilheira dos Andes, o que fez com que os portugueses se vissem constantemente estimulados a transgredirem os limites do Tratado de Tordesilhas em busca de metais preciosos. Expansão esta que adquiriu maior intensidade à medida que a própria economia de Portugal mostrava claros sinais de decadência. 9Outro aspecto a assinalar vem a ser a ação das ordens franciscanas e dominicanas, assim como o papel dos fortes militares no desenho das fronteiras ocidentais do país ( Sobre este último ponto veja Meira MATTOS, 1990, pp. 71-73 ). A partir de 1640, Portugal desligou-se da União Ibérica, não sem antes lutar pela independência até 1648. É nesta época, durante o domínio holandês, que as bandeiras de aprisionamento de índios tornaram-se um grande negócio pois o comércio negreiro foi prejudicado. Estas bandeiras destruíram várias missões jesuíticas dedicadas à catequização indígena. Segundo Furtado ( 1991, p. 32 ) “A evolução da colônia portuguesa na América, a partir da segunda metade do século XVII, será profundamente marcada pelo novo rumo que toma Portugal como potência colonial. Na época em que esteve ligado à Espanha, perdeu esse país o melhor de seus entrepostos orientais ao mesmo tempo em que a melhor parte da colônia americana era ocupada pelos holandeses. Ao recuperar a independência, Portugal encontrou-se em posição extremamente débil, pois a ameaça da Espanha – que por mais de um quarto de Na obra de Guillaume Raynal ( 1998, pp. 101-104 ) consta que o governo do Pará chegou a compreender parte da Guiana e os missionários tiveram um papel decisivo na ocupação da área, a partir da implantação de 78 aldeias; nas florestas procurava-se cacau selvagem, baunilha, casca de tartaruga, caranguejo, salsaparilho, óleo de copaíba e lã vegetal levados à Belém, sede do governo. . 9 As sucessivas levas de portugueses em direção ao Brasil na tentativa de obter mais sorte forçaram as autoridades portuguesas a editarem sucessivas ordens régias para coibir o fluxo migratório. 6 século não reconheceu essa independência – pesava permanentemente sobre o território metropolitano. Por outro lado, o pequeno reino, perdido o comércio oriental e desorganizado o mercado de açúcar, não dispunha de meios para defender o que lhe sobrava das colônias numa época de crescente atividade imperialista. A neutralidade em face das grandes potências era impraticável. Portugal compreendeu, assim, que para sobreviver como metrópole colonial deveria ligar o seu destino a uma grande potência, o que significaria necessariamente alienar parte de sua soberania. Os acordos concluídos com a Inglaterra em 1642-54-61 estruturaram essa aliança que marcará profundamente a vida política e econômica de Portugal e do Brasil durante os dois séculos seguintes.” Conquistada a independência, Portugal encontrava-se com uma economia dilapidada. As suas colônias, as que restaram após sucessivas invasões, viriam, mais tarde, a ser objeto de troca para manter a sobrevivência do próprio Estado Português na Europa. Esta situação ficaria mais prejudicada com os conflitos decorrentes das incertezas da sucessão espanhola ao início do século XVIII. Sobre este aspecto Araújo ( 1992, p. 302 ) observa: “Na Guerra da Sucessão da Espanha, Portugal fora atravessado por muitos exércitos em quase todas as direções. Não há país que resista à passagem de um exército, ainda que aliado. Terminada a guerra o seu pequeno território estava devastado e a população empobrecida” . Nesta época, com apoio de ingleses e holandeses, Portugal retomou a Colônia do Sacramento e otimizou as relações comerciais ( contrabando ) com a região da Bacia da Prata ( Ibidem, p. 310 ). Na região amazônica, por sua vez, o processo de ocupação foi acentuado no século XVIII, segundo Carvalho ( 1998, p. 209 ): A ocupação deste território pelos portugueses havia sido conseqüência de sua posse dos rios Amazonas, Negro, Branco e dos tributários deste último. Receoso de incursões holandesas, o Governador do Rio Negro, em 1766, mandava embarcações até o Rio Mahu policiar a região. Em 1755 o General Pereira Caldas, capitão-geral do Pará, mandava edificar a Fortaleza do Tacutu. Completava assim a erde de observações e defesa que tinham iniciada em 1752 a fortificação do Rio 7 Branco ( Forte São Joaquim ) e em 1755 a própria localização da capital da Capitania de São José do Rio Negro, à margem do Negro ( Joaquim Nabuco – O direito do Brasil, S. Paulo, 1949, os. 65-67 ) Ao refletirmos mais detidamente sobre este período da história brasileira, tendo por referência a obra – O estabelecimento dos portugueses no Brasil de GuillaumeThomas François Abad Raynal ( 1998 ), é possível constatar que o Brasil teve na União Ibérica um favorável momento de expansão, porém, após o término da união ficou em aberto a ratificação, ou não, daquilo que foi ocupado. Neste sentido, o período posterior à união, e particularmente à aliança de Portugal com a Inglaterra pelo tratado de Utrecht ( justamente com o país que tinha uma notória rivalidade com os espanhóis naquele período ), tornou-se possível o reconhecimento da expansão territorial auferida ao longo da União Ibérica. 10 Enfim, o período da União Ibérica mostrou-se negativo para Portugal, pois se viu obrigado a participar das disputas que envolveram a Espanha e com isso Portugal veio a perder boa parte de sua Marinha, colônias e perda de sua posição privilegiada no comércio com a Ásia. É a partir desta época, que Portugal aproximaria da Inglaterra. Como observa Peregalli ( 1986, p. 13 ) no “ .. conflito singular anglo-francês, Portugal enfrentava um dilema: aderir à causa francesa implicava abandonar as colônias à ação das potências marítimas mais poderosas, como Inglaterra e Holanda. Dar cobertura à Inglaterra, garantido-lhe uma base territorial na Península Ibérica, significava enfrentar a sua vizinha Espanha – aliada da França – colocando em risco sua própria segurança.” 10 Segundo Carvalho ( 1998, p. 10 ), em virtude do ato de 11 de abril de 1713, os fortes portugueses demolidos em 1700 puderam ser reconstruídos, e Portugal teve reconhecido o seu direito às duas margens do Amazonas e à navegação privativa de sua marinha. Consagrava-se, assim, como enfatiza Carlos Delgado de Carvalho, o princípio de ocupação efetiva nas margens da Bacia da Prata e do Amazonas, o interesse nacional dos povos vinha se sobrepondo aos interesses dinásticos dos europeus. Ainda, segundo o mesmo tratado de Utrecht, em 9/12/1715, foi consagrado a devolução da Colônia do Sacramento para Portugal ( ibidem, pp. 26-27 ) . Segundo Araújo ( 1992, pp. 296-298 ), o tratado de Utrecht beneficiou a Inglaterra com a aquisição de colônias francesas da Terra Nova ( os territórios da Baía de Hudson e a nova Escócia ); obteve ainda o monopólio no fornecimento de escravos às colônias espanholas da América. Data desta época a sucessiva subordinação de Portugal em favor dos desígnios da Inglaterra ( a ponto de, no exército, os soldados serem portugueses mas os oficiais ingleses ! ) Assim, mais uma vez, os acontecimento na região da Bacia da Prata obedeciam ditames relacionados à acomodação de interesses em conflito na Europa. Os criollos conquistavam a Colônia do Sacramento pela guerra e os portugueses pelos tratados, mas que acabavam favorecendo os interesses dos que desejavam ter seus produtos comercializados através de contrabando pela Colônia de Sacramento. 8 Para Bandeira ( 1998, p. 37 ) “... A dilatação dos limites da América portuguesa, em outras palavras, consolidou-se à medida que, com a sujeição de Lisboa, conveio aos interesses comerciais e políticos da Inglaterra em luta contra a Espanha e França.” Bandeira ( 1998, p. 38 ) ainda assinala, tendo por apoio Teixeira Soares, “...os Estados Unidos só se expandiram, territorialmente, após a produção de sua Independência, o Brasil distendeu as fronteiras ainda quando colônia ... Mas foi a busca de riquezas materiais, sob os estímulos do mercado mundial, o fator decisivo da diástole, como nos Estados Unidos, e tanto isto é certo que, com o trabalho de extração de ouro, o processo de expansão territorial começou a declinar.” A guerra contra a Espanha, no entanto, teve como prejuízo para Portugal a perda do asiento negreiro, que era uma forma de Portugal, através do tráfico de negros para a América Espanhola, obter a prata e o ouro. Mas após a independência frente à Espanha, Portugal atravessou um sério risco de dissolução de sua soberania pois encontrava-se com sua economia por demais fragmentada. A segunda metade do século XVII, no que tange ao domínio europeu, não é espanhola, como a primeira metade, mas francesa ! Neste período, Portugal passou a promover em sua colônia-Brasil, a única de projeção que lhe restou ( junto com Angola ), várias iniciativas no intuito de melhor reconhecer as potencialidades do Brasil. Como corolário destas investidas tivemos a implantação da Colônia do Sacramento em 1680, a descoberta das minas, o aceleramento do comércio de escravos e a implantação de várias cidades no litoral brasileiro e algumas no interior. Em 1648, com o notório descenso da família Habsburgo no cenário europeu, no Congresso de Vestfália, foi assinada a paz com as Províncias Unidas e reconhecida a soberania destas sobre as suas possessões no nordeste brasileiro. Tal reconhecimento não deixou de ser desvantajoso a Portugal, pois, ao temer o apoio da Espanha às Províncias Unidas não chegou a interferir na chamada Insurreição Pernambucana contrária aos holandeses que se prolongou de 1645 até 1654. 9 O contexto do século XVIII Durante o século XVIII ocorreram a construção arsenal de Marinha instalado no Rio de Janeiro em 1763 ( ano de mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro ) e outro em 1790, na Bahia. Correlato a este período de expansão econômica em todo o território verificaram-se profundas alterações na malha político-administrativa da colônia em termos territoriais, ou seja, de pequenos povoados e núcleos gradativamente iriam sendo formadas novas capitanias para além do litoral. Foi desta época, por exemplo, a criação da capitania de São Paulo e Minas do Ouro ( 1709 ), capitania das Minas Gerais ( 1720 ), a criação da capitania do Pará ( 1737 ), em 1738 foi criada a capitania de Santa Catarina, dando assim configuração institucional à transgressão aos limites do Tratado de Tordesilhas; em 1742 foi fundada o Porto dos Casais ( Porto Alegre do Rio Grande do Sul ); em 1748 foram criadas as capitanias de Mato Grosso e de Goiás, e, em 1799, Pernambuco perdeu tanto a Paraíba que se viu emancipada, já que em 1753 tinha sido incorporada a Pernambuco, quanto o Ceará . Em 1772, Maranhão e Piauí se separaram do Pará. Sobre este capítulo da vida política-administrativa consulte Albuquerque ( 1980 )11 A separação do Maranhão tem uma imediata relação com o papel desempenhado pela restabelecida Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão que beneficiou, sobretudo, Maranhão com créditos, ferramentas e, principalmente, africanos. Tais iniciativas facilitariam o incremento do cultivo do algodão que em 1760 foi realizada a primeira remessa brasileira do produto para o exterior, um rápido crescimento para uma área que só em 1749 veio a adotar moeda provincial em substituição aos grãos de cacau como meio circulante ( Holanda, 1985, p. 42 ) . Cabe assinalar que esta proliferação de novas unidades territoriais correspondeu a expressão de uma lógica de controle da colônia, na qual a centralização administrativa 11 Neste período, meado do século XVIII, temos a constituição da Comissão de Limites chefiada por Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão de Marquês de Pombal e também comandante da Grão-Pará e Maranhão a partir de 5 de junho de 1751 ( Holanda, 1989, p. 267 ) 10 veio acompanhada por desmembramentos das unidades de controle do território ( exatamente uma forma para facilitar a centralização ) Portugal, por sua vez, passava por fortes crises sócio-econômicas ( agravadas pelo terremoto em Lisboa que chegou a matar 60.000 pessoas ), porém, chegou a crescer, por um breve período, durante a administração de Marquês de Pombal, caracterizado pelo afastamento da Inglaterra. Cabe considerar que esta época de Marquês de Pombal coincidiu com uma mudança no mercado mundial de produtos tropicais, segundo a qual a guerra pela independência nos Estados Unidos combinada pela revolução industrial inglesa geraram, simultaneamente, uma menor oferta de produtos tropicais com maior demanda por estes mesmos produtos; assim, ocorreu no Brasil, destacadamente no Maranhão e Pará, um acréscimo na busca por mão-de-obra escrava para melhor otimizar a produção; neste período, final da época colonial, Maranhão que recebia um a dois navios por ano passou a receber de 100 a 150 ! Um apogeu que contrastava com a situação do resto da colônia brasileira ( Furtado, 1991, p. 90-91 ). 12 Durante a administração de Marquês de Pombal a frente do governo português, importantes medidas foram tomadas em relação ao Brasil, das quais destacam-se a instalação da capitania de Mato Grosso, a criação das capitanias fronteiriças de São José do Rio Negro e Rio Grande de São Pedro, além da capitania de Piauí. A capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro ( Enciclopédia Larousse Cultural, vol. 19, pp. 4694-4695 ). 12 Neste época, a ação dos religiosos, particularmente dos jesuítas na luta contra o aprisionamento desta mão de obra despertava sérias divergências com os colonos locais. E os conflitos eram cada vez mais intensos porque os indígenas, segundo Holanda ( 1989, p. 269 ), representavam para a Amazônia “... a força material e a inteligência pragmática para a vida local.” Em 3 de julho de 1759 após complexas pendências, sob direto influxo de Marquês de Pombal, a Sociedade dos Jesuítas foi extinta nos reinos de Portugal, tendo sido expulso mais de 500 religiosos; mais tarde, em 1764 o mesmo ocorreu na França e, em 1767, na Espanha; poucos anos mais tarde, pela Bula de 21 de julho de 1773 a próprio Companhia viria a ser abolida em toda Cristandade, porém, restabelecida em 1814, no Brasil o restabelecimento ocorreu em 1841 ( Enciclopédia Larousse Cultural, vol. 7, pp. 1521-1522, 1972. 11 E como prova da importância do Brasil, o Marquês de Pombal elevou o Brasil à categoria de Vice-Reinado, em 1763, e passou a ser governado por vice-reis com amplos poderes. Ao término do século XVIII, nós temos a fermentação de um movimento político voltado para os interesses internos da colônia ( como que numa espécie de nativismo, como nos lembra Andrade ( 1997 ) ) a ponto de estar mais próxima, que no início do século, de uma ruptura com Portugal. De modo primoroso, Furtado ( 1992, p. 90 ) assim sumariza a economia espacial da época: Observando em conjunto, a economia brasileira se apresentava com uma constelação de sistemas em que alguns se articulavam entre si e outros permaneciam praticamente isolados. As articulações se operavam em torno de dois pólos principais: as economias do açúcar e do ouro. Articulado ao núcleo açucareiro, se bem que de forma cada vez mais frouxa, estava a pecuária nordestina. Articulado ao núcleo mineiro estava o hinterland pecuário sulino, que se estendia de São Paulo ao Rio Grande. Esses dois sistemas, por seu lado, ligavam-se frouxamente através do rio São Francisco, cuja pecuária se beneficiava da meiadistância a que se encontrava entre o Nordeste e o centro-sul para dirigir-se ao mercado que ocasionalmente apresentasse maiores vantagens. No norte estavam os dois centros autônomos do Maranhão e do Pará. Este último vivia exclusivamente da economia extrativa florestal organizada pelos jesuítas com base na exploração de mão-de-obra indígena. O sistema jesuítico, cuja produtividade aparentemente chegou a ser elevada mas sobre o qual não se dispõe de muitas informações - a Ordem não pagava impostos nem publicava estatísticas – entrou em decadência com a perseguição que sofreu na época de Pombal. O Maranhão, se bem constituísse um sistema autônomo, articulava-se com a região açucareira através da periferia pecuária. Desta forma, apenas o Pará existia como um núcleo totalmente isolado. Os três principais centros econômicos – a faixa açucareira, a região 12 mineira e o Maranhão – se interligavam, se bem que de maneira fluida e imprecisa, através do extenso hinterland pecuário. Dos três sistemas principais o único que conhecia uma efetiva prosperidade no último quartel do século foi o Maranhão ... Adentramos o séc. XIX de corpo territorial quase inteiro, com as fronteiras externas e internas bem próximas aos contornos que elas assumem nos dias atuais.13 Conclusão Pelo exposto, podemos inferir que o Brasil ao longo de sua história passou por momentos de estruturação e de desestruturação. O acréscimo de cerca de cinco milhões de quilômetros quadrados após o Tratado de Tordesilhas sinaliza a aquisição de um patrimônio que ainda causa espécie quando deparamo-nos com a situação de outros países que arduamente conquistaram o seu quinhão territorial. Porém, este processo de formação territorial foi desigual, marcado por fortes momentos de separatismo desde o século XVI, com a invasão dos franceses, século XVIII com os holandeses e no século XVIII e XIX com a série de conspirações e revoltas internas de núcleos que buscavam autonomia, para apenas nos restringirmos a episódios marcantes; assim, o Brasil tem a forma que tem desde o século XVIII com um processo construtor do território brasileiro que conta com uma certa continuidade que venceu o sentido contrário à unidade territorial brasileira. Porém, a conquista realizada não significa a sua perpetuação para o futuro. O futuro está em nossas mãos, assim como o legado deixado pelas gerações que nos precederam! Fonte de consulta 13 Em Abreu ( 1998, pp. 261-263; 267-276 ), temos uma aprofundada análise dos termos que regeram a questão dos limites em diferentes momentos históricos; na mesma obra, nas págs. 265-266, nós temos a expansão como um todo, e, por fim, nas págs. 267-268 o tratamento da delicada questão sobre a Colônia do Sacramento. 13 Bibliografia ABREU, João Capistrano de - Caminhos antigos e o povoamento do Brasil , recentemente reeditada pela editora Universidade de Brasília, junto com uma outra obra do mesmo autor - Capítulos da história colonial ( 2ª ed. Brasília : Ed. UNB, 1998 ). ABREU, Maurício de Almeida – “A apropriação do território no Brasil Colonial”. In Explorações geográficas , CASTRO, Iná et alli ( orgs. ) Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. ALBUQUERQUE , Maurício ( et alli ) Atlas Histórico Escolar. 4. edição 4. tiragem Rio de Janeiro: Ministério da Educação, 1968. ___________________Atlas Histórico Escolar. 8. edição 4. tiragem Rio de Janeiro: Ministério da Educação, 1991. ALBUQUERQUE, Maurício - Pequena história da formação social brasileira. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1980 ALMEIDA, Paulo Roberto – “ A formação da diplomacia econômica do Brasil “ In Revista Lua Nova, revista de cultura e política, Salvador, nº 46, 1999, pp. 169-195. ARAÚJO, Rubens Vidal - Os jesuítas dos 7 povos.2ª edição . Porto Alegre: Ed. Renascença, 1992. ARRUDA José Jobson e Nelson PILETTI - Toda história , 3ª edição, São Paulo: Ed. Ática, 1995 . AVELLAR, Hélio de Alcântara – História Administrativa do Brasil. 5.Administração pombalina. 2ª edição. Brasília: Fundação Centro de Formação do Servidor Público – FUNCEP/Ed. Universidade de Brasília, 1983. BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. O expansionismo brasileiro e a formação dos estados na Bacia da Prata. Rio de Janeiro/Brasília: Ed. Revan/Ed. Unb, 1998. BARREIROS, Eduardo Canabrava. Episódios da guerra dos emboabas e sua geografia . Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, São Paulo: Ed. da USP, 1981. BASTOS, Aureliano Cândido de Tavares – A província: estudo sobre a descentralização do Brasil. Ed. Fac. Sim. Brasília: Senado Federal, 1996. BUENO, Eduardo – Náufragos, traficantes e degredados. As primeiras expedições ao Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Objetiva, 1998. CALÓGERAS, João Pandiá. Formação histórica do Brasil, 8ª edição. São Paulo: Ed. Nacional, 1980. CARREIRA, António – A companhia geral do Grão-Pará e Maranhão ( o comércio monopolista PortugalÁfrica-Brasil na segunda metade do século XVIII ). Vol . 1 . São Paulo: Editora Nacional, 1988. 14 CARVALHO, Carlos Delgado – História diplomática do Brasil, edição fac-similar. Brasília: Senado Federal, 1998. CORRÊA Filho , Virgílio - Fazendas de gado no Pantanal Mato-Grossense. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura, Serviço de Informação Agrícola, 1955 CORTESÃO, Jaime. História do Brasil nos velhos mapas, tomo II. Rio de Janeiro: Ministério das Relações Exteriores, Instituto Rio Branco, 1971, pp. 387-411. CUNHA, Euclydes da – Peru versus Bolívia. 3ª edição. Rio de Janeiro: Distribuidora Record/Governo do Estado do Rio de Janeiro, s/d. EVANGELISTA, Helio de Araujo - Duarte da Ponte Ribeiro : o diplomata - geógrafo no tempo do Império Brasileiro . Um exemplo de como a Geografia também serve para fazer a paz ! Revista geopaisagem ( on line ) Ano 2, nº 4, Julho/Dezembro de 2003. www.feth.ggf.br/Socgeorio.htm FAORO, Raimundo Os donos do poder . Rio de Janeiro: Ed. Globo 1991 . FARIA, Miguel – Mato Grosso: estado fronteira. Rev . Oceanos, nº 40, outubro/dezembro de 1999, pp. 161-180. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. FLEMING, Thiers - Limites interestaduaes. Rio de Janeiro: Imprensa Naval, 1917. FURTADO, Celso Formação econômica do Brasil , 24ª edição. São Paulo: Ed. Nacional, 1991. GOES, S. S. Navegantes, bandeirantes, diplomatas. Brasília: IPRI, 1991. GOYCOCHÊA, Castilhos . Fronteiras e fronteiros . “O fronteiro-mor do Império”. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1943, pp. 138-179. GUEDES, João Alfredo Libânio – História Administrativa do Brasil. 4.Da Restauração a D. João V. 2ª edição. Brasília: Fundação Centro de Formação do Servidor Público – FUNCEP, 1984. GUIMARÃES, Argeu– Diccionario Bio-Bibliographico Brasileiro de Diplomacia, Política Externa e Direito Internacional, J a Z. Rio de Janeiro, 1938, pp. 394-395. ( Palácio do Itamaraty ( RJ ) ) HOLANDA , Sérgio Buarque de – Monções, 2ª edição. São Paulo: Ed. Alfa-Omega, 1976 . _________________________ – Caminhos e Fronteiras. São Paulo: Ed. Cia. das Letras, 1994. _________________________ ( dir. ) – História geral da civilização brasileira . Tomo 1 vol. 1. São Paulo: Ed. Bertrand Brasil, 1989. _________________________ ( dir. ) – História geral da civilização brasileira . Tomo 1 vol. 2. 8ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Difel, 1985. LAMBERT, Jacques. Os dois Brasis. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1967. MACHADO, Lia Osório - Mitos e realidade da Amazônia brasileira no contexto geopolítico internacional ( 1540-1912 ) , tese de doutorado de, professora de geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, defendida em 1989, na Espanha ( Barcelona ). 15 MACHADO, Alcântara – Vida e morte dos bandeirantes. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1980. MAGNOLI, Demétrio – O corpo da pátria: imaginação geográfica e política externa no Brasil ( 1808 – 1912 ). São Paulo : Editora da Universidade Estadual Paulista/Ed. Moderna, 1997. MATTOS, Gen. Meira - A geopolítica e as projeções do poder . Rio de Janeiro: Bibliex, 1977. ___________________ - Geopolítica e teoria das fronteiras , Rio de Janeiro: Bibliex, 1990. MATTOS, Ilmar Rohlof de – O tempo de saquarema e a formação do Estado imperial. Rio de Janeiro: Ed. Acess, 1994. MORAES, Antonio Carlos R. “ Geopolítica da instalação portuguesa no Brasil”. Revista História da Universidade de São Paulo, s/d. MOREL, Edmar – E Fawcett não voltou. Rio de Janeiro: Seção de livros da Empresa gráfica “O Cruzeiro” S. A . , 1944. NOVAIS, Fernando - Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial ( 1777 - 1808 ) . São Paulo: Ed. Hucitec, 1979. PEREGALLI, Enrique. Como o Brasil ficou assim ? 4ª edição. São Paulo: Global editoras, 1986. PEREIRA, José Veríssimo da Costa - “A geografia no Brasil” In AZEVEDO, Fernando ( org. ) - As ciências no Brasil, 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1994, capt. VII, pp. 349-461. PRADO JÚNIOR, Caio . Formação do Brasil contemporâneo, 22ª edição . São Paulo: Ed. Brasiliense, 1992. RAFFESTIN, Claude . Por uma geografia do poder. São Paulo: Ed. Ática, 1993. RAYNAL, Guillaume-Thomas François Abad – O estabelecimento dos portugueses no Brasil . Rio de Janeiro/Arquivo Nacional; Brasília/UNB, 1998. RIBEIRO, Duarte da Ponte . Parecer. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro ( RJ ) T. XVI, 1853. ______________________ As relações do Brasil com as repúblicas do Rio da Prata. Rio de Janeiro: s.n, 1936. ______________________ Exposição dos trabalhos históricos, geográficos e hidrográficos que serviram de base à Carta Geral do Império . Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1876. RICARDO, Cassiano. Marcha para o Oeste. 3ª ed. Rio de Janeiro: Ed. José Olympio, 2 vols., 1959. SAES, Décio - A formação do estado burguês no Brasil ( 1888 - 1891 ). 2ª edição ( 1ª edição em 1985). São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1990 . SALGADO, Graça - Fiscais e meirinhos Rio de Janeiro:Ed. Nova Fronteira, 1985 SCHILLING, Paulo R. - O expansionismo brasileiro. São Paulo: Global Ed., 1981. 16 SCHWARTZ, Stuart B. – Burocracia e sociedade no Brasil Colonial – a suprema Corte da Bahia e seus juízes: 1609 – 1751 . São Paulo: Ed. Perspectiva, 1979. SILVA, José Luiz Werneck da - “A cultura científica no contexto da proclamação da República no Brasil” In Rev. Perspicillum, Museu de Astronomia e Ciências afins, vol. 5, nº 1, nov. 1991, pp. 47-56. SOARES, Embaixador Teixeira – História da formação das fronteiras do Brasil. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1972. SOUZA, José Antonio Soares de– Um diplomata do Império ( Barão da Ponte Ribeiro ) – São Paulo: Cia. Editora Nacional. Biblioteca Pedagógica Brasileira, série V, vol. 273, 1952. TRAVASSOS, Mário – Projeção continental do Brasil. 3ª edição. Coleção brasileira, vol. 50. São Paulo: Cia . Editora Nacional, 1938. ________________ - Introdução à geografia da comunicação das comunicações brasileiras. Coleção Documentos Brasileiros nº 33. Rio de Janeiro: Ed. José Olympio, 1942. WAIBEL, Leo – “Princípios da colonização européia no sul do Brasil”. Revista Brasileira de Geografia, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ano 50, nº especial, tomo I, 1988, pp. 201-266. WEHLING, Arno - Formação do Brasil colonial . Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 1994. 17
Download