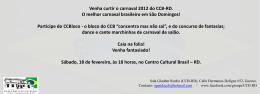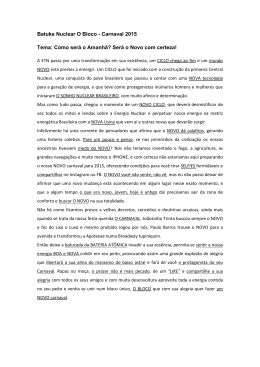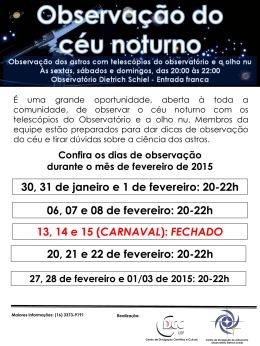REFLEXÕES INFINDÁVEIS E REPETITIVAS EM TORNO DE UM CARNAVAL SEMPRE MAL-ENTENDIDO E MAIS DO QUE ANUNCIADO Roberto da Matta Professor de Antropologia da Universidade de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos. Autor de Carnavais, Malandros e Heróis. 9 D evido à sua presença, o carnaval é evento intrigante e de difícil entendimento. Preparar-se, pois, para dele falar é ser obrigado a discorrer também sobre uma realidade ainda mais complicada: o nosso fugaz e indomesticável Brasil. O elo complexo entre o carnaval e o Brasil tem muitas máscaras. Tanto o carnaval pertence ao Brasil — não há como negar um “carnaval brasileiro” com história, gestos, espaços, objetos, música e outros tantos elementos particulares — quanto, o Brasil pertence ao carnaval. Esse carnaval que, com sua generosa mansidão, com o seu maravilhoso espírito antiburguês, com a sua atitude resolutamente contrária à razão utilitária (que junta meios e fins), com o seu pendor pelas ambigüidades, pelas transformações míticas e, sobretudo, pela possibilidade de trocar radicalmente de lugar, não tem rival como modelo de um “contrato social” brasileiro e como visão de mundo do Brasil. Seria possível caracterizar e interpretar o Brasil sem falar em carnaval? Embora o carnaval tenha estado sistematicamente ausente da nossa historiografia e sociologia oficiais, pois se não me falha a memória fui o primeiro a levá-lo a sério no plano acadêmico, estudando-o em seus múltiplos planos de uma perspectiva sociológica, simbólica e comparativa (Cf. DaMatta, 1973, 1979, 1981), sua presença em outros setores da vida social brasileira sempre foi flagrante. Tanto que ninguém exprimiu melhor esse laço íntimo entre Brasil e carnaval do que Lamartine Babo, numa marchinha composta em 1934 e significativamente intitulada, História do Brasil , quando pergunta: Quem foi que inventou o Brasil? — Foi Seu Cabral… Foi Seu Cabral? No dia 21 de abril… Dois meses, depois do carnaval! Seria Lamartine Babo uma milagrosa antecipação do pensamento pós-moderno? Claro que não! Sugerir isso, aliás, seria ofender o compositor que não tinha presunções filosóficas, mas apenas expressava uma daquelas trivialidades que, por estarem tão dentro de nós, precisam da visada não prevenida para vir à tona. A antropóloga inglesa Mary Douglas chama essas coisas de “idéias implícitas”. O grande Alexis de Tocqueville, fundador de uma sociologia política que comparava por contraste e não por semelhança, falava em “hábitos do coração”. E Nelson Rodrigues denominava 11 esse plano das coisas próximas, mas invisíveis, de “óbvio ululante”1. No caso do carnaval, o óbvio ululante não é o seu estudo como festa popular de feitio “alienado” e “pré-político”, prestes a ser tragado pela indústria de comunicação, mas como um dos fios com os quais tecemos um importante discurso coletivo. Cai a moeda, entram em crise o mercado e o governo, mudam-se as constituições, desenham-se novos pactos, transformam-se os regimes, ajustam-se os câmbios, constroem-se novas cidades, e o carnaval fica onde sempre esteve. Não contamos muito com a moeda que já mudou muitas vezes, mas contamos com a escola de samba e com as “loucuras” permanentes dos bailes de carnaval, nos quais um dado tipo de comportamento invertido, licencioso e grotesco — oposto — à conduta adequada ao “mundo real” é praticado. No entanto, seria absurdo dizer que o carnaval não mudou. Hoje ele não é mais aquele evento obrigatório obrigatório, que exigia certas roupas, gestos e atitudes, bem como a participação de todos2. E, não obstante, o carnaval continua um belo rito de inversão do mundo. Um momento espremido entre temporalidades que a tradição católica define como opostas: o Advento que comemora o nascimento de Cristo e a Quaresma, quando se marca a paixão e a morte de Jesus. Situado no meio, o carnaval aciona no plano simbólico a ética do “tudo é possível”. Por conta disso, mesmo neste mundo marcado pela didatura da racionalidade econômica e pela tirania da globalização e da burocracia, o carnaval continua honrando as 1 fantasias, as máscaras, a criatividade popular, o gesto livre, o concurso, o samba e, por meio disso, a liberdade e a igualdade. Em outras palavras, a festa de Momo tem resistido a todas as massificações e continua profanando profanando, como quer Bakhtin (Cf.1981:106; veja também 1987), o nosso estilo de vida burguês, fundado na sacralização do equilibrio, do decoro, do individualismo, do bomsenso, da linearidade histórica, da poupança e, last but not least, do dinheiro como símbolo de prestígio, racionalidade e de sucesso neste e no outro mundo, como querem os Calvinistas. É preciso acentuar, porém, que a liberdade carnavalesca não é a liberdade e a igualdade do código burguês catalizado e agendado pela revolução francesa — liberdade e igualdade definidas em termos de direitos e deveres perante a lei, o governo e o Estado. A liberdade e a igualdade do carnaval vão além (ou estão aquém…) da lei 3. No fundo, o que ali se veicula é a substituição desses “direitos” abstratos por uma liberdade substantiva, endereçada para o que, no mundo moderno, é considerado “natural”, “irracional”, “marginal” ou “incorreto”. Como a zona situada debaixo do Equador do nosso corpo: as pernas, as coxas, o umbigo, as nádegas, os órgãos genitais e tudo mais que está abaixo da cintura: quadris e pés (que remetem, respectivamente, a sexualidade e a vulgaridade das pessoas comuns que “têm os pés no chão” têm os “pés sujos”, de “barro” ou “pretos”). Esse pé e não a mão que representa o trabalho equacionado a “castigo” e que todo brasileiro salienta como fundamental na teoria O extraordinário dessas posições é o fato de elas trazerem à consciência um modo local de pensar o mundo e de responder a certos desafios e problemas. Modo local que, no caso das elites, é sempre sufocado pela vertente “moderna”, dominada por valores Iluministas que enxergam o mundo como sendo governado por leis e valores universais, ponto de chegada inevitável para todas as sociedades. No caso do Brasil, esse ponto de fuga já foi o “socialismo” hoje é a globalização. Quer dizer, as mesmas “leis históricas” que conduziam ao socialismo, dirigem-nos hoje para a globalização. 2 Marcel Mauss foi dos primeiros a mostrar as exigências sociais que vão da prescrição das vestimentas, comidas, palavras, gestos e até mesmo certos estados internos como os sentimentos, em ocasiões sociais como festas e solenidades. Usamos terno e gravata num infernal verão quando vamos atendemos a um convite formal, ouvimos com fingido interesse a arenga demagôgica dos “políticos” na posse de um ministro, mostramos uma cara compungida no funeral do nosso maior inimigo e rimos em casamentos, bailes e, claro, no carnaval. Aqui, transponho a idéia maussiana (publicada em 1921[Cf. Mauss, 1979]) de uma “expressão obrigatória dos sentimentos” para as festas, com a intenção de revelar que os grandes congraçamentos populares eram fenômenos abrangentes, englobadores de toda a sociedade e, por isso mesmo, obrigatórios obrigatórios. Nos feriados religiosos havia a obrigação de rezar; nas mascaradas, de rir. A idéia de escolha individual hoje associada ao conceito de “lazer”, uma idéia que supõe um momento (e um espaço social) vazios de trabalho, era pressentida, mas não estava ainda institucionalizada. Antigamente o carnaval nos achava onde quer que estivéssemos. Hoje, triste novidade, saimos de casa procurando o carnaval. 3 Em relação a esse tópico, diz Bakhtin: “Essas categorias todas categorias do carnaval, como a profanação] não são idéias abstratas acerca da igualdade e da liberdade, da interação de todas as coisas ou da unidade das contradições. São, isto sim, “idéias” concreto-sensoriais, espetacular-rituais vivenciáveis e representáveis na forma da própria vida, que se formaram e viveram ao longo de milênios entre as mais amplas massas populares da sociedade européia” (1981:106). 12 e na prática do samba 4. Pés que, embora comuns, são também símbolos de mobilidade e de leveza contidas no sambar e se transformam em poderosas armas no jogo da capoeira e no futebol. Os recônditos da carne são outra área tocada por essa igualdade carnavalesca. Daí a ênfase nos orifícios e entranhas que só se revelam no sexo franco ou libertino, nos atos fisiológicos mais íntimos ou no momento do parto. Essas aberturas que formam o “avesso” e o “direito” do corpo (e da sociedade). Aberturas banidas pela etiqueta e pela rotina burguesas que as abominam e delas têm pavor, mas que no carnaval são revividas por meio de um “realismo grotesco” que nos envergonham e fazem rir, ao mesmo tempo que recheiam nossas tevês, desfiles e salões 5. Essas são “liberdades” que escapam da legislação moderna e formam um conjunto relativo. A elas se junta a liberdade da tristeza, da dor, da finitude, da família, do pecado, da morte, da seriedade, da doença, do cargo e até mesmo de uma sexualidade oficial e obrigatória, chamada por Oswald de Andrade de “cadastrada”, publicamente correta e devidamente enjaulada por Freud. Conjunto de liberdades movediças porque são relativamente indepedentes da posição social, já que no Brasil a sabedoria popular (cujo paradigma ideológico e ritualístico ainda é o carnaval) entende que a “riqueza não traz felicidade” que o dinheiro — equacionando as teses — “não compra”, conforme diziam Noel Rosa e legião de compositores populares, a alegria, o sofrimento, o talento, a coragem ou a honra. Observando, em pleno carnaval, os marginais do mercado de trabalho e as menos abastadas desfilando como deuses, anjos e heróis no negro asfalto da avenida, concientizamo-nos de que a pobreza não impede a explosão de alegre sensualidade ou o riso do mundo, como se, finalmente, todos entendessem que tudo na vida, inclusive dinheiro e poder,é mera e arbitrária convenção. Ainda que necessite “recursos”, não deixa de ser paradoxal que o carnaval relativize a poupança e o dinheiro na sua lógica do luxo e do esbanjamento. Existem, diz a festa, múltiplos eixos pelos quais as pessoas e as situações podem ser lidas e hierarquizadas6. Na falta de dinheiro, temos a música, o amor, o carnaval e a alegria. A essas se juntam outras espécies de liberdade: transcender o cisma entre a casa e a rua, a mocidade e a velhice e, principalmente, o abismo entre masculinidade e feminilidade — entre homem e mulher. A abertura ritual chega mesmo a diluir a opção entre Deus e o Diabo que, no carnaval, são chamados a “brincar” e se misturam, trocando de lugar7. Por tudo isso, o carnaval se configura como ritual regular e cíclico de práticas utópicas tal como são definidas no Brasil. Como também ocorre no messianismo, trata-se de rejeitar e de se criar outra realidade. Só que no carnaval — em oposição ao que acontece no banditismo (social ou não) e nas fugas religiosas do mundo — vai ao encontro da plenitude da vida, agora englobada pelo riso, pela beleza corporal, pela música e pela fantasia. No limite do simbolismo e da ideologia, a grande tradição carnavalesca — da qual somos herdeiros exclusivos — pretende abarcar inclusive o gesto utópico das sociedades de classe que é sair do segmento social ao qual estamos presos. Do trabalho que nos faz “burros de carga”, que nos “esfola” e escraviza. “Como um povo pobre pode realizar uma festa tão sensual, bonita e luxuosa?”, pergunta uma atônita “razão burguesa” circunscrita pela coerência e pela disciplina dos elos entre meios e fins? Ora, responde uma “razão popular” simbolicamente orientada, a festa existe precisamente porque o povo sabe que a pobreza é um conceito relativo. Além de uma situação, ela é um estado que transcende à 4 Dançado, como se diz entre nós, “o samba no pé”, como uma atividade que implica em ação e, principalmente, em desempenho, não se ligando a nenhum atributo socialmente herdado como a posição social ou o nome de família. 5 Tratei desse assunto com clareza no livro Universo do Carnaval, por meio das belas fotografias de João Poppe. Ali, as imagens revelam essa temática do grotesco que relativiza a sacralidade privada do sexo, da excreção, da micção e de vários outros atos que Bakhtin, com surpreendente poder evocativo e rara sensibilidade sociológica, situou no carnaval. Aquele carnaval que ele julgava desaparecido, consumido pelas chamas de uma iluminada racionalidade burguesa ou, no seu caso, stalinista. Veja-se Bakhtin, 1978. 6 Discorri pela primeira vez sobre essa “classificação múltipla do mundo” que transcende o mero eixo econômico como uma singuralidade do sistema brasileiro, quando analisei o rito autoritário do “Você sabe com quem está falando?” no livro Carnavais, Malandros e Heróis (Cf. DaMatta, 1979: 130). 7 No livro João Ternura, Anibal Machado termina a história usando imagens de um carnaval cósmico, no qual, em pleno Rio de Janeiro, tudo acontece, inclusive a presença ambígua do próprio Deus que 13 esfera econômica e, por isso mesmo, pode ser ritualmente relativizada e servir como motivo de brincadeiras e risos. Ademais, numa sociedade de mandões, teóricos, professores e bacharéis, o carnaval — que horror — comanda pelo exemplo e pelo desempenho. Tremenda inversão num sistema no qual o “povo” é sempre o alvo de leis que não pegam, de impostos injustos, e do “sabe com quem está falando?” dos que estão por cima. Impossível não perceber a reversão das rotinas oficiais fundadas no “façam o que eu digo, mas não façam o que faço”, das hierarquias que promovem distância, medo e reverência do povo, em franco contraste com a sinceridade do jogo carnavalesco que promove o justo oposto, desmascarando os ricos e poderosos, como fez pelo menos com um imperador (Pedro II levou um “limão de cheiro” na cara numa folia carioca) e com um presidente (Itamar Franco foi fotografado ao lado de uma jovem com a pudenda de fora). Isso ocorre porque, diferente dos outros rituais que não dispensam um centro, um motivo e um sujeito, o carnaval 14 tudo fragmenta e descentraliza. Podemos “perder” um aniversário, um baile ou uma formatura, mas é impossível “perder” um carnaval dotado de múltiplos centros e sem dono. Nele convivem comunidade e competição, solidariedade e conflito, pecado e pureza, individualismo e holismo. Daí o contraste radical entre a festa da ordem marcada por alvo e centro, por chefes e patrões (reais e sobrenaturais, como os santos e os deuses) e o carnaval dissolvente de hierarquias. Realmente, se as solenidades glorificam o poder, o carnaval, por contraste , gargalha dos ricos e dos poderosos. O resultado é história: nem Vargas, nem a ditadura militar foram capazes de usar a folia de Momo politicamente. Finalizando reflexões que poderiam não ter fim, permita-me o leitor lembrar a notável observação de uma das personagens de Aníbal Machado, naquele carnaval cósmico de João Ternura: Ternura “É preferível fazer o carnaval a defini-lo”.
Download