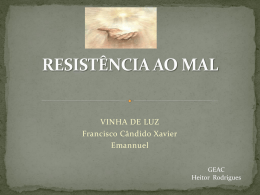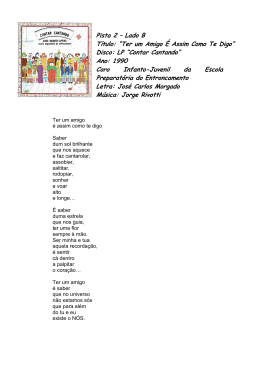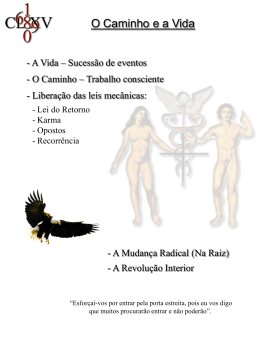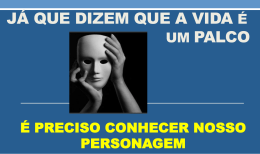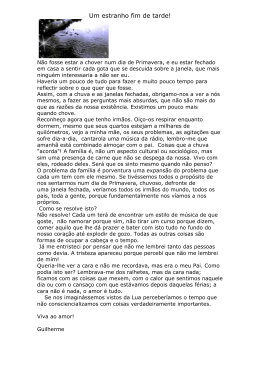A 2010 Se tivessem me chamado para depor, penso. Mas isso é impossível. Talvez, por isso, escrevo. Declararia, por exemplo, que na noite de sábado para domingo 30 de março de 2010 cheguei em casa entre três e três e meia da manhã: o último ônibus de Retiro a La Plata sai à uma, mas uma multidão voltava de não sei que show, e viajamos apertados, a maioria em pé, avançando a passo de homem pela autoestrada e pelo campo. Aflita pela minha demora, a cachorra se jogou em cima de mim assim que abri a porta. Mas eu ainda demorei para perceber que na minha ausência não tinha acontecido nada — minha mãe dormia bem, nos seus oitenta e nove anos, em sua casa no andar de baixo, com respiração regular —, e só então voltei a procurar a cachorra, coloquei-lhe a coleira e a levei para fora. Como sempre que vou perto, passei a chave em apenas uma das três fechaduras que meu pai, pouco antes de morrer, instalou na porta da garagem: o medo de sermos roubados, sequestrados, mortos, essa segurança que chamam, curiosamente, insegurança, já começava a se abater, como uma noite atrás da noite. Era uma noite limpa, declararia, e não fazia frio. Não se via ninguém na rua. A única inquietação que posso ter sentido quando adentrei a avenida seria devido aos automóveis, poucos, mas prepotentes, que passam a essa hora, com alto-falantes a toda e faróis intermitentes iluminando o asfalto. 14 Ou às motos que com não sei que engenhoca fazem soar o cano de escapamento como um tiroteio. Foi então que o vi, ao chegar à esquina. Um cara de uns trinta, com boné de viseira virada para a nuca, musculoso e de brinquinho — quase uma fantasia de jovem. Olhava em direção ao fundo desta larga avenida com canteiros que cerca a cidade. Não estava interessado em mim, não olhou para mim nem uma vez, e é estranho que a esta hora não se olhe para um desconhecido. E a quem podia estar esperando, a esta hora, neste lugar? Quem podia tê-lo exposto, marcando com ele a esta hora? Atravessamos a avenida: a cachorra cagou e mijou nos lugares de sempre com uma exatidão que agradeci e voltamos muito rápido — minha cachorra receando as sombras, e eu fingindo calma —, sem inquietar tampouco agora, aparentemente, o cara de boné que, todo esticado no alto de suas panturrilhas, continuava empenhado em avistar alguma coisa ao longe. Então percebi, atrás dele, na calçada em frente, um carro com três homens dentro e uma porta aberta, como se o esperassem. Viriam em comboio, supus, e algum outro carro teria se perdido. Mas me lembrei de Diego, o vizinho da casa 5, que tinha decidido deixar de alugar minha garagem quando começou a trabalhar à noite, “e à noite, você viu o que fazem agora: te esperam nas sombras e atacam…”. Comecei a correr fingindo que a cachorra finalmente conseguia me arrastar. Tentei girar a chave sem perder um segundo; a cachorra entrou com aquela urgência absurda que o costume infunde e, tão rápido quanto fechei, passei o trinco enorme que meu pai colocou em cima das três fechaduras. Então suspirei e subi, e talvez tenha esquecido tudo, como quem deixa a noite nas mãos de seus donos. Também eu tenho rotinas como as da minha cachorra: se tivessem me chamado para depor, se esse fosse um caso 15 de detetives, juízes e jurados, como nos romances, teria conseguido enumerar o que fiz depois, não porque me lembre, mas porque sempre faço a mesma coisa. Como se me perguntassem: “O coração batia?” Primeiro fui à cozinha, enchi uma xícara com água e a coloquei no micro-ondas; depois fui para o meu escritório ligar o computador e ao meu quarto tirar a roupa. E quando tocou o alarme do forno — três minutos exatos: o que não é computável na vida atual? —, tirei a xícara, joguei um saquinho de chá e me sentei diante da tela, nesse tempo sem tempo que nem pode ter sido tanto. Se a mente consegue se perder na internet, o corpo, esse estorvo, cansado, se recolhe. Tinha passado o dia inteiro na casa de uma amiga de Boedo que talvez, também ela, pudesse prestar depoimento agora (a inconcebível minúcia dos romances policiais se instala em mim; e a culpa de saber, de ter sido testemunha). Chequei minha caixa de e-mails, mas quase ninguém escreve nas noites de sábado. Talvez tenha respondido a algum e passado um tempo examinando os jornais, mas, como os suplementos literários não são mais dominicais, não demorei. E, se entrei na página de chat, não terei permanecido ali mais do que dura uma punheta entre homens velhos, furtivos, decadentes de sono, escondidos de suas mulheres. Mas, finalmente — disso sim daria fé, disso sim me lembro —, uma hora mais tarde, digamos por volta das quatro ou quatro e meia, comecei a percorrer os quartos da casa apagando as luzes e fechando janelas. A varanda de trás, a área de serviço, a cozinha. E quando cheguei ao quartinho que meu pai chamava “o geriátrico” — um cubículo de vidro que ele mesmo inventou na varanda da frente para instalar sua bancada de carpinteiro e sua caixa de eletricista —; quando abri a cortina para puxar o batente aberto da janela, percebi que lá embaixo, a uns três metros, reluzia um carro-patrulha parado, branco na noite, o motor ligado, com a inscrição Polícia Científica e dois policiais dentro em atitude de alerta. 16 Talvez tenha pensado: “O cara de boné.” Não me lembro. Mas tenho certeza de que pensei: “Felizmente, não me viram. Não serei testemunha. Posso seguir minha vida.” E sigilosamente acabei de fechar; e em seguida me deitei como para fazer alarde do que eu verdadeiramente era: um cidadão mais ou menos anômalo, que não reprime suas excentricidades, mas que de nenhuma maneira representa um perigo. Domingo à tarde. Atravesso em direção ao supermercado quando duas garotas me interceptam, na calçada da frente. São gordas, vão de braços dados. — Aconteceu alguma coisa na sua casa ontem à noite? — me perguntam, lutando entre o pudor e o desejo de saber, encenando muito mal o escrúpulo lutuoso com que se aborda uma vítima. Em meio às suas desculpas percebo que são as netas do vizinho da frente, o aposentado da marinha, aquelas que, como eu, chegaram ao bairro para ocupar o andar de cima da casa quando os velhos já não puderam morar sozinhos. — Não, por quê? — pergunto, ofendido, porque pressinto que querem me usar. — Vimos um carro da Polícia Científica parado em frente à sua casa… e achamos… — Ah, é verdade — e só então me lembro da inscrição na porta branca. — Mas não aconteceu nada — digo, e lhes dou as costas, como repudiado por um interesse obsceno. E na segunda-feira ao meio-dia, finalmente, toca a campainha: uma coisa que nunca acontece. Saio para a varanda, abro o mesmo batente que fechei na noite do sábado sobre o carro-patrulha, e vejo a vizinha da casa ao lado. Seu rosto, à força dos liftings, se reduz a uma máscara que quase não reconheço e a assemelha a tantas outras. Pergunto-lhe o que quer, fingindo que estava para entrar no banho — tenho vergonha de me mostrar ainda em roupa de dormir depois de ter passado a manhã inteira corrigindo meu romance. 17 Ela sorri estranhamente, culposa, mas inquieta, com evidente terror. Não pode dizer, afirma. Que desça, por favor, um minuto. Só um minuto, implora. Digo que espere. Jogo um roupão por cima, e enquanto isso imagino sobre o que vai falar. Veio tantas vezes dizer: “Quando vai colocar grades? Podem entrar por essa sua janela, sem grades.” Ou para me contar, inquieta, em um quase delírio, que uma amiga sua, que tem uma varanda como essa… tentei cortá-la, tantas vezes, com as mesmas desculpas: “Estou dando aula”, “Tenho que ir a Buenos Aires”. Mas ela não ouve, e quase fechei a porta na cara dela. Mas desta vez é verdade, percebo ao abrir a porta e ver Marcela meio escondida atrás da roseira, para que minha mãe não a veja: — Entraram ontem, de madrugada. Falou assim, “entraram”, sem esclarecer sobre quem falava, e como se nunca tivéssemos deixado de conversar sobre este assunto. E diz que veio me alertar, mas não noto nela nada além da necessidade de contar. Porque o marido já saiu para trabalhar, e ela ficou sozinha, apavorada de estar sozinha, de enlouquecer a sós sem os cuidados psiquiátricos dele. Minha mãe, alertada pela cachorra que começou a latir como se o cheiro do nosso medo a enlouquecesse, aparece na janela: Marcela se afasta um pouco. “Para não assustá-la”, explica, porque o que tem para me contar, diz, “é muito forte”. Isto é o que me conta, o que ela teria podido declarar: — Entraram com o Ivancito, de madrugada. — Marcela se surpreende quando me vê concordar com a cabeça, e eu faço o gesto sem pensar, me lembrando vagamente do carro-patrulha, mas ela não se detém. Ivancito é seu filho mais novo, de uns vinte e dois anos. — Chegava de uma danceteria, no quatro por quatro. E quando desceu lhe colocaram uma arma na nuca e o obrigaram a entrar em casa e subir. Robert, que tem insônia, estava 18 trabalhando no escritório; e eu, que estava dormindo, acordei, mas não me mexi. Um filho. Um pai. Uma mãe, lembrei. — Mas não eram negritos, viu? — esclareceu Marcela. — Felizmente! Eram comportados, muito educados. Sabiam muito bem o que estavam fazendo (meu pai, supus, teria dito a mesma coisa depois do episódio que agora voltava cada vez mais nítido à minha memória. “Eram uns cavalheiros.”). — “Desliguem o alarme”, foi a primeira coisa que disseram ao Ivancito assim que entraram. “O primário e o secundário, ok?” (Porque temos dois: o que todos ouvem e outro secreto, que soa na empresa de segurança se digitamos, depois da senha, a tecla asterisco. É um sistema novo, e eles já o conheciam.) E por sorte Robert, que sabe lidar com eles, os tranquilizou: “Não se preocupem, rapazes, que eu sempre tenho alguma coisa para vocês. Sempre guardo algo para essas ocasiões.” “E a sua mulher?”, perguntou o chefe. “Deixe-a, está dormindo. E ficaria nervosa, e tudo seria pior.” Deram-lhe ouvidos, por cumplicidade masculina. Mas era realmente uma célula, uma organização: levavam walkie-talkies com os que iam dizendo: “já estamos terminando”, “podem vir”. Um caminhão veio, carregaram os computadores. Levaram dinheiro. E temos certeza de que vão voltar. Digo a ela o que vi na madrugada do domingo, quando cheguei de Buenos Aires (e não tremo por isso: tremo porque a imagem de mãe e pai e filho se junta com a outra palavra, organização, e compõe muito mais nitidamente aquela cena esquecida). Falo sobre o cara de boné com viseira para trás, o carro que parecia esperá-lo, o carro-patrulha. — Como assim um carro-patrulha? — se assusta Marcela. — Se não registramos queixa! Começo a explicar, e ela fica tão nervosa, que tenho que começar de novo, e bastam duas ou três frases para que me interrompa e peça que, por favor, repita tudo isso, exatamente, ao 19 seu marido. Que não me preocupe. Que não registrarão queixa. Mas que, isso sim, por favor, não diga nada a mais ninguém. Quando entro em casa encontro minha mãe, espiando, receosa. — O que a Marcela queria? — pergunta, tremendo: só uma desgraça, um perigo iminente, pode ter me envolvido com gente que detesto. — Nada! — improviso. — Trouxe revistas para você! Ela me obriga a repetir a frase uma ou duas vezes. Quando consegue entender, diz com sarcasmo. — É mesmo? E onde estão essas revistas? Pego alguns velhos exemplares de Hola, daqueles mesmos que Marcela lhe dá e que já estão para serem jogados fora; confio em que tenha se esquecido deles, como se esquece de quase tudo. Dou-os a ela e subo para minha casa, de novo ao meu trabalho. Embora em um depoimento pudesse parecer exagerado, diria que sinto que minha mãe leu em meus gestos uma verdade que eu mesmo não consigo entender; uma mensagem que eu continuo repetindo, um libreto, há mais de trinta anos. Havia alunos em casa, nesta noite. Quando saí à tarde para fazer fotocópias, vi que alguns serralheiros tiravam medidas da entrada da casa dos Chagas: ali estava Robert, com seu pescoço num colar cervical, seu ar de chefe de pavilhão, sua paixão pelas grades. Fez-me gestos para que fosse, que quando voltasse me atenderia. Ao passar em frente ao número 5 encontro Diego, meu vizinho. Comento que seu presságio se cumpriu: que ontem à noite “entraram” na casa 29. Que esperaram o Ivancito, que chegava de uma danceteria, e entraram com ele, e que eu mesmo vi um cara suspeito, de brinquinho e boné de viseira, a alguns metros de onde estamos. — E não ligou para o 911? — diz Diego, como desconfiando de mim. 20 — Não — respondo, um pouco perplexo —, nem pensei nisso. — Não lhe explico que mal sei o que é o 911 e que, em todo caso, não teria ligado. — Minha mulher, que é psicóloga — me repreende —, trabalha lá, e atende as pessoas que se sentem ameaçadas. Ninguém poderia dizer que Diego e sua mulher são policiais, mas sinto de repente a mesma desconfiança. Faço as fotocópias na banca da esquina e, quando volto, Robert se afasta do grupo de serralheiros e, como um médico que abandona a cama rodeada de aprendizes, vem solícito me atender. É um psiquiatra famoso, com má fama entre os modernos. Embora a esta altura o dinheiro que traz para casa deva ser muito menos do que a mulher ganha com seus salões de beleza, conserva um ar típico de diretor de hospício. Cumprimenta-me e me leva para um canto. — O que a Marcela contou? — pergunta em voz baixa, de modo que expresso o meu pesar. — Você viu um carro-patrulha? — Não só eu — digo, como se meu simples testemunho não pudesse lhe resultar confiável —, também as duas gordas que estão ali em frente, sentadas ao lado do velho. E foi às quatro e meia, tenho certeza — digo com aquela urgência característica dos romances policiais. — Bem antes de que entrassem na casa de vocês. Conto a ele que o cara do boné para trás parecia ansioso, agora percebo, para divisar ao longe a chegada de Ivancito, para subir sem demora no carro que o esperava e seguir o rapaz até a porta de sua casa. — Não… Isso foi uma verdadeira operação — interrompe. — Tudo isso era zona liberada! — Zona liberada! — repito quase sem querer. Entusiasma-me que ele, tão rápido, use um vocabulário que só pode ter aprendido no Nunca más. Robert é um homem de direita: casa em Pinamar, apartamento em Miami, presidência do Rotary Club: con- 21 quistas ostentadas como insígnias numa ombreira. Que até ele, que chegou ao bairro em plena ditadura, tenha chegado a entender a iniquidade da polícia, me causa uma sensação de vitória ou de revanche. Um ganho desse governo que apoio. — Mas, diga, o carro-patrulha… dizia Científica, Polícia Científica? Eu respondo que sim, e que isso também tinha chamado a atenção das duas gordas. — É claro! — exclama, baixinho. — Está explicado! Seu rosto se ilumina. Com esse último dado, fez seu diagnóstico, só isso lhe bastava para se lançar ao combate. E me arrasta para a esquina, como nos encontros secretos. — Aconteceu a mesma coisa com uma paciente minha: pouco tempo antes de que entrassem para roubá-la, um carro da Polícia Científica estacionou em frente à casa ao lado. São os que marcam você — diz —, para que depois os outros entrem. E há uma coisa engraçada. Pela primeira vez em trinta anos nos une uma estranha fraternidade. Mas estamos passando em frente à casa de Diego, e o mais dissimuladamente que posso, peço que se cale. — Ah, a mulher dele é policial? — pergunta-me Chagas, e Diego ouve e nos lança um olhar de ódio. Porque são outros tempos. Porque não podemos pensar que todos os milicos são iguais, e que a força inteira é o inimigo. E porque sua mulher trabalha no 911 por necessidade, e até por solidariedade, por que negar isso? Quando chegamos à esquina, praticamente a sós, em frente ao pátio de carros usados, Chagas prossegue: — Bem, essa minha paciente registrou queixa porque o seguro a obriga. E listou mais coisas do que de fato tinham roubado. — E Chagas ri, acha naturais, perdoáveis, essas trapaças. — Depois de um tempo seu telefone tocou… Às três da manhã! Imagine o susto… Eram os que a haviam assaltado. “Filha da puta!”, disseram. “Disse que tínhamos afanado um home theater e agora o delegado está exigindo isso de nós!” 22 Sua esforçada despreocupação, sua quase alegria me fazem confiar-lhe então a obsessão que já me agarrou desde o fundo da mente: a semelhança entre o que aconteceu e outro episódio de 1976. — Há trinta e três anos? — estranha, consternado. — O que aconteceu há trinta e três anos? Conto que naquela noite outra quadrilha assaltou a casa, quando ainda era da família Kuperman. E sugiro que, apesar dos avanços dos direitos humanos, o “aparelho repressivo” ou “o crime organizado”, como queira chamar, continua igual: que esse assalto prova isso. (Mas não lhe digo que antes passaram pela minha casa. Nem conto o que aconteceu naqueles dez minutos em que permaneceram entre nós e não me atrevi a revelar nunca a ninguém, isso que agora me faz tremer como uma febre.) — Da presidenta para baixo, começando por ela — diz Chagas, e um raio em seu olhar é como uma advertência: “Não me confunda” —, todos são ladrões. Todos — destaca com um gesto amplo que parece abranger todo o corpo social doente. — De modo que só resta nos defendermos entre nós. Na minha casa, minha mãe, um tanto erguida demais, como quem se prepara para receber uma onda, me repreende: — O que você estava conversando com o Chagas? — Recomendou os serralheiros! — improvisei. — Oferecia-me seus serviços! — Ah — menospreza ela. Digo que temos de colocar grades na cozinha, não porque corramos qualquer perigo, mas porque o seguro exige. Ela faz uma expressão amarga, como dizendo: que inútil. Se entrassem, o que adiantaria o dinheiro? E, de repente, eu invento: — E falamos sobre as Kuperman… Lembra? — E me aproximo de seu ouvido disposto a lembrá-la da noite em que ela ficou sozinha diante da turma da repressão. Minha mãe manisfesta a dor, mas principalmente a fúria que lhe provoca 23 minha rabugice de falar sobre as dores. Arrependo-me de ter falado. Sinto que nomear a morte é atraí-la. Minha mãe tem quase noventa anos, esquece muitas coisas. — Como poderia não me lembrar…?! — se ofende. E sei que também fala sobre a sua noite. Subo então para a minha casa, para que não se preocupe. A necessidade de escrever já me distrai de qualquer outra coisa. O conhecido desejo de fugir. Mas fico como que plantado no geriátrico, diante da mesma janela de onde vi o carro-patrulha, e contemplo, como quem lê uma mensagem, o aspecto do bairro. “Houses live and die”, relembro, olhando para as casas baixas cercadas, ao longe, pela barreira de edifícios: todo um memento mori. Não podia imaginar então, nos meus doze, treze anos, quando eu mesmo era parte dessa paisagem; não podia imaginar que um bairro também envelhece. Não falo de se tornar antigo, pitoresco: digo velho, sujo, decadente, porque os donos das casas morreram e as viúvas como minha mãe têm quase noventa e não têm vontade de deixar entrar trabalhadores… E, no entanto, digo para mim mesmo, alguma coisa mais fundamental do que as casas sobrevive. Mas o quê? Simplesmente uma quadrilha de assaltantes, de mafiosos, de assassinos? Ou um mecanismo secreto, um código oculto sob a fachada das leis conhecidas? Uma linguagem muda que as regras da linguagem, imperfeitamente, tentam reproduzir ou arteiramente ocultam? Talvez um modo de se relacionar que permite a alguns ser vítimas e a outros agressores sem que ninguém tenha nem sequer necessidade de expressar isso. Mas eu estou a tempo de entender, digo para mim mesmo, se escrevo. Porque nunca senti aquela noite tão próxima; tão próximo seu horror. Começo. B 1976 A cidade é quadrada. As ruas a dividem, com precisão de grade, em partes quadradas, idênticas, numéricas. Quem a sobrevoasse, nessa noite que quero enfocar — um helicóptero da polícia, um guerrilheiro que conseguiu escapar e voa para o exílio —, acreditaria entender a verdadeira função desse quadriculado: uma cela, um plano de operações. Disse o chefe de polícia: “Senhor, para mim só peço o mais duro no combate.” Disse o governador: “Primeiro os subversivos, depois seus cúmplices e por último os indiferentes. Todos serão eliminados.” A quadra em que transcorre esta história está um pouco além do limite: ali onde a mente de quem planejou La Plata deixou o papel em branco. Um pouco além de uma longa avenida que cerca a cidade, a Circunvalación, com largos canteiros no meio. Vejamos a quadra de que falo: cinco casas apenas, ou quatro na verdade — a esquina em que eu vi o cara de boné, rua 18 número 3, é um pátio de carros usados ou roubados, e não contará aqui. A calçada em frente é muito menor. Uma quadra triangular ou, melhor dizendo, um canto de quadra amputada pelo início da estrada a Buenos Aires. Como uma cunha cravada no quadriculado, ou uma proa. 26 Uma única casa ocupa essa quadra, cuja única porta dá para a frente da minha e da casa vizinha — as outras dão de frente para a estrada a Buenos Aires, naquela época muito mais importante. Um trânsito constante de carros, micro-ônibus, caminhões que entram ou fogem da cidade, um tremor intermitente, lembra os tempos em que isso era um lodaçal, pampa bárbaro. Guerra contra a subversão? Repressão? Genocídio? Minha memória — a memória do menino de doze anos que eu era então — vai iluminando fatos mais como uma paisagem. Fragmentos de um mosaico; peças de um quebra-cabeça sangrento que alguém ou alguma coisa monta, silencioso, na noite. Rua 532 entre 13 e 14: certa noite, assaltam a casa de um marinheiro da YPF, colega do meu pai. Não roubam: destroem tudo. A ausência de motivos, a incapacidade de imaginá-los, instala o relato, desde o princípio, na categoria do sagrado. “Entraram”, dizem os vizinhos, em voz baixa, como coroinhas de uma religião proibida, de uma seita secreta em que é melhor não dizer nomes. 27 Há mudanças furtivas, sigilosas: primos que pedem abrigo e que ficam meses, praticamente sem sair, estudando em grupo no andar de cima, para partir de repente quando o rapaz da frente, o filho do marinheiro, me pergunta por que “aqueles garotos” vêm à casa e uma hora depois um balaço perfura, como sem querer, uma janela. Rua 532 entre 17 e 18. Uma explosão na noite nos levanta da cama, a mim e à minha mãe: uma bomba fez voar inteira a casa de um vizinho. Os donos estavam fora, mas de qualquer maneira já não voltam. Durante dias as crianças remexem o impudor das ruínas, a obscena tentação dos bens do prófugo. Há tiroteios noturnos, ao longe, como um basso continuo. E até balas que assobiam, de repente, na janela, na hora do jantar. Uma tia do interior se escandaliza. Minha mãe, em compensação, mal interrompe a refeição para nos pedir que a ajudemos a afastar a mesa para um lugar mais protegido, aumentar o volume da televisão e continuar comendo: “Amanhã saberemos pelo jornal El Día”, diz: quantos policiais assassinados, quantos subversivos abatidos. Rua 17 e 532. Uma grávida aparece metralhada e fica ali estendida, quase vinte e quatro horas, atrapalhando o trânsito, rodeada de soldados que cuidam do espetáculo como uma advertência. Diante desse caos, é claro, as pessoas têm opiniões, atribuem culpas, tomam posição. Vejam os pais de família saindo para a calçada, de manhã cedo, para abrir cada um a porta de sua garagem: com cada movimento parecem dizer alguma coisa em relação à ordem. Nasceram todos entre 1915 e 1925, cresceram falando sobre a Guerra da Espanha e a Segunda Guerra Mundial; todos apoiaram o peronismo e depois, depois de cada governo débil, aprovaram também cada golpe militar, acreditando que imporia no país aquilo que “a tropa” impôs em suas próprias vidas. Chegaram até aqui acreditando ter criado a vida nacional, e querem acreditar que o Processo tampouco se faz sem eles. Vejam-nos, sim, uns sessentões, dando marcha a ré em seus carros, fechando os portões de suas garagens: ainda têm 28 gestos de imigrantes, movimentos de operários. Mas estão decididos a entrar na velhice se dando o luxo negado aos seus ancestrais: umas longas férias. Por isso disfarçaram as frentes de suas casas de pedra Mar del Plata, o único lugar em que, aliás, vislumbraram o luxo. Não os escandaliza a guerrilha, ah, não, eles, que empunharam armas, apenas a desprezam porque sabem que perderá. Saem então suas mulheres, ao mesmo tempo mais robustas e mais elegantes, e ao verem-se ao longe correm para se cumprimentarem e, depois de alguma palavra de preocupação quase sussurrada (“Ouviu ontem à noite?”, “Mas que barbaridade! Quando terminará tudo isso?”), trocam notícias sobre os filhos que começam a viver. Que logo honrarão o esforço de suas vidas com diplomas, com netos, com vitórias. No fundo, não imaginam que possam ser, eles mesmos, as vítimas. Rua 19 e 531. Um matraquear de metralhadora intercepta o trovejar de duas motocicletas. Quando tudo se acalma, um médico do outro quarteirão sai de sua casa para auxiliá-los. É tudo inútil. Aquela única rajada atingiu um no coração e decapitou o outro, filho da diretora da Escola Normal. Batidas policiais, agentes. Levar sempre documentos. Proibido caminhar pela calçada dos edifícios públicos: a sentinela abrirá fogo. Cautelas que se tornam hábito para poder esquecê-las, para esquecer o medo. E é obrigatório declarar as armas, renovar documentos. Apressar-se a constar no cadastro dos perdoados. Há lendas urbanas que se contam como piadas: uma pessoa foi presa por levar pela rua um livro sobre o cubismo; outra foi metralhada por tirar da bolsa um frasco com líquido amarelado: não era um molotov, era um exame de urina. Mas estou indo rápido. A história que quero contar daquela noite acontece, principalmente, na minha casa, a casa 9. Vejamos por enquanto os outros moradores: Casa 5, apartamento A, andar de cima. Família Berenguer. Catalães, adotaram um menino de feições indígenas. O pai é outro marinheiro mercante, da petroleira YPF, prestes 29 a se aposentar por problemas de obesidade. A mãe, dona de casa, da igreja evangélica. Chegaram ao país nos anos quarenta, mas não como exilados — sentem saudade da saudação fascista do público nos cinemas de Barcelona quando o Caudilho aparecia em um noticiário —, mas “fugindo da fome”. Que Deus tenha dado tanta riqueza a esta terra de vagabundos, de negros, os obceca... Isso, e não saber como dizer ao filho o que para o mundo é óbvio. No andar de baixo, Casa 5, apartamento B, possuem um apartamento que hesitam em alugar, com tantas advertências que a televisão faz sobre os desconhecidos. Casa 7. Família Aragón. Coca e Martín Aragón, donos de dois viveiros. De largos olhos verdes, são quase tão bonitos quanto seus quatro filhos, entre vinte e trinta, que posam na foto mural que cobre toda a parede da sala de jantar: três rapazes rugbiers e uma filha mais velha, menos bonita, mais temível: no olhar fixo, no nariz aquilino, parece que avistou exatamente a presa com que sonharam seus pais, sem que — como aos irmãos — a distraia sua própria juventude. Embaixo da parreira do quintal, aos domingos, meu pai e Martín Aragón, cercado pelos filhos, se reúnem para relembrar como estes brigavam quando crianças com outros pibes do bairro. Desde que estão morando sozinhos, Coca e Martín viajam, com o auxílio do Automóvel Clube, pelas províncias, porque detestam os países limítrofes. Uma vara com um gancho de ferro na ponta pende da parreira, pronta para enganchar tubarões em praias patagônicas, atrair dourados em rios de Corrientes, dobrar, no Alto Valle, galhos carregados de frutos. Casa 2. A calçada em frente. Família Cavazzoni. O pai é um marinheiro que acaba de assumir um papel indefinido, mas muito importante, no governo, coroando uma carreira tão elevada quanto discreta. Sem precisar as fontes — e ninguém as pede: sua gravidade, sua solvência parecem ser a prova de que Cavazzoni sempre esteve ali —, foi ele quem avisou meu pai da iminência do golpe; e muito antes, quando Perón morreu, descreveu os rituais que o Bruxo López Rega fazia sobre o cadáver: a prova mais irrefutável de que as Forças 30 Armadas deveriam derrubar aquele governo corrupto. Sua esposa, de calças compridas, doentia e trêmula, sai para fumar às vezes, para bater os capachos no poste de luz. Pelas janelas, entre maquetes e navios e desenhos de âncoras, veem-se os retratos dos filhos mais velhos, vestidos de cadetes na Escola Naval. Têm escolta e um chofer que leva ao colégio os dois filhos mais novos: uma menina de quinze, um menino de uns sete. Todos esses vizinhos, me atreveria a dizer, sem ter amizade, se conhecem, simpatizam, se respeitam. Mas há algo diferente na casa 29, como se o incompreensível salto numérico entre esta e a minha, que simplesmente é 9, remetesse a uma distância secreta que já tivesse sido prevista por quem planejou a cidade ou numerou os lotes. Casa 29. Família Kuperman. A casa da esquina, a casa que todos chamam, devotamente, de o chalé. Foi construída antes das outras, ou muito antes que as outras pudessem maquiar sua aparência proletária. E tem um estilo mais antigo, que fascina as crianças, talvez por sua semelhança com o País de los Niños — que está a poucos quilômetros — ou com aqueles filmes ianques de nazistas e judeus. O chalé das Kuperman imita vagamente uma casa do bosque — pedras de trompe l’oeil, lenhos de alvenaria e uma alta chaminé que envolve a caixa-d’água. Habitam-na três mulheres: dona Felisa, viúva, de uns sessenta e três anos, e suas duas filhas solteiras, entre trinta e quarenta. Mas algo mais se destaca nesse chalé: uma placa de bronze na porta com o nome da filha mais velha e seu título: advogada, a única da nova geração que obteve, dez anos antes, o troféu a que, secretamente, todos aspiram. E há outra casa a ter em conta. Rua 531 número 2. Todas as casas do quarteirão dão de fundos para ela. Ali mora um casal de idosos — ela calceira, ele jardineiro — cujo único filho, dizem, está envolvido na luta contra a subversão. 31 *** Mas, enfim, sobre a minha casa, a casa 9, agora, o que poderia dizer? Que meu pai a fez surgir junto ao chalé das Kuperman, como uma espécie de êmulo e rival, imitador e inimigo. Dois andares, cobertura de telhas, uma varanda de madeira para a rua e outro para o quintal: os corrimões de bombordo e estibordo de uma nau encalhada sem proa nem popa. E essa estranha preferência pela pedra Mar del Plata que aparece, aqui e ali, parecendo aqueles vãos de reboco descascado que mostram antiguidade em países longínquos, onde se constrói em pedra. Uma vez e para sempre. Mas sobre seus donos, sobre meu pai, sobre minha mãe e sobre mim, a família Bazán, o que dizer? Só contar a história me fará saber como somos. Começar dizendo que a essa casa, certa noite, chega um Torino laranja. Com quatro caras, armados. E que esse carro freia de repente, como eu interrompo agora, por prudência e medo, minha escritura.
Download