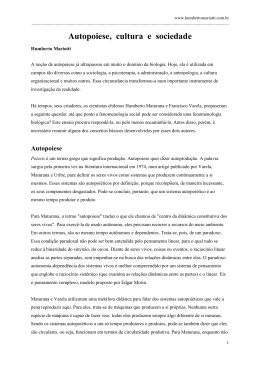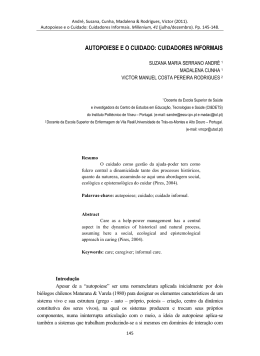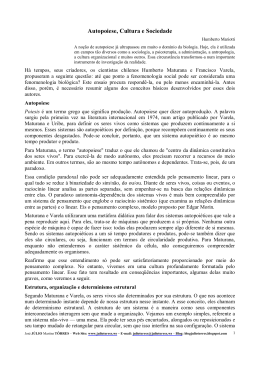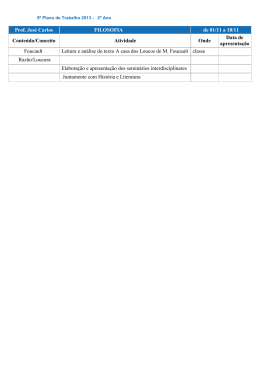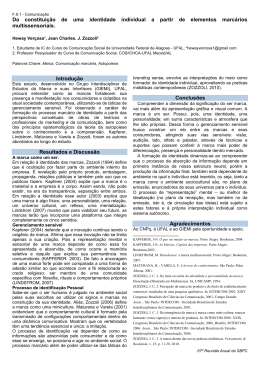AUTOPOIESE, EDUCAÇÃO FORMAL E PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE Luiz Gustavo Silva Souza+ RESUMO O presente artigo pretende apontar possibilidades de conexão e de mútua transformação entre a Teoria da Autopoiese e os modos de organização da educação formal; aborda o aparecimento e a massificação da escola nas sociedades ocidentais, expõe alguns conceitos da Teoria da Autopoiese, questiona a noção de cognição como simples “transmissão de conhecimentos” e aborda essa noção como produção de formas de vida humana. Afirma que conhecer é um processo político e conclui apostando na utilização dos conceitos expostos para fortalecer “políticas inventivas da cognição” no cotidiano escolar, baseadas em uma ética da produção coletiva dos sentidos sócio-políticos da Educação. Palavras-Chave: Autopoiese, Educação, Cognição, Produção de Subjetividade. AUTOPOIESIS, FORMAL EDUCATION AND PRODUCTION OF SUBJECTIVITY ABSTRACT The purpose of this article is to point out the possibilities of articulation of the Autopoiesis Theory and the educational institutions and their mutual transformation. It examines the rise and the generalization of educational institutions in western societies. It exposes some concepts of the Autopoiesis Theory. It overcomes the concept of cognition as a simple “knowledge transmission” and suggests that cognition is intimately connected with subjectivity production processes. It indicates that knowing is a political process. The author believes that the use of concepts of the Autopoiesis Theory can strengthen “inventive cognition policies” in the daily work of educational institutions, based on the collective production of social-political meanings for Education. Key-Words: Autopoiesis, Education, Cognition, Subjectivity Production Processes. + Luiz Gustavo Silva Souza.Professor Substituto da Universidade Federal do Espírito Santo. Membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Subjetividade e Políticas do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo (NEPSP/DPSI/UFES).Psicólogo da Composição Instituto de Psicologia. Av. Construtor David Teixeira, 85/704.Mata da Praia, Vitória, ES. CEP: 29065-320. E-mail: [email protected]. 2 1. INTRODUÇÃO Há alguns séculos, os homens têm se considerado especiais frente aos outros seres vivos. Sentem-se verdadeiramente privilegiados por possuir a razão, a consciência, a capacidade de conhecer o mundo, de apreender sua “realidade objetiva”, de desvendar suas leis. Entretanto, durante esses mesmos séculos, alguns homens levantaram a voz para dar outras opiniões. Em algum remoto rincão do universo cintilante que se derrama em um sem-número de sistemas solares, havia uma vez um astro, em que animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da” história universal”: mas também foi somente um minuto. Passados poucos fôlegos da natureza congelou-se o astro, e os animais inteligentes tiveram de morrer. – Assim poderia alguém inventar uma fábula e nem por isso teria ilustrado suficientemente quão lamentável, quão fantasmagórico e fugaz, quão sem finalidade e gratuito fica o intelecto humano dentro da natureza. Houve eternidades em que ele não estava; quando de novo ele tiver passado, nada terá acontecido. Pois não há para aquele intelecto nenhuma missão mais vasta, que conduzisse além da vida humana. Ao contrário, ele é humano, e somente seu possuidor e genitor o toma tão pateticamente, como se os gonzos do mundo girassem nele. (Nietzsche, 1873/2000, p. 53). Os “gritos” de Nietzsche tinham algo de uma serena certeza: nada é tão estável a ponto de ser eterno. A humanidade se esforça para eternizar o intelecto humano, atribuindolhe características transcendentais, apostando na busca por verdades últimas. Entretanto, mesmo os esquemas mais consistentes, mesmo as opiniões mais cristalizadas, estão submersos em um mar de possibilidades infinitas e guardam o germe de sua própria transformação. A diferença é a única constância. Muitos pensadores (famosos e anônimos) fizeram coro com Nietzsche ao longo da história, antes e depois de ele ter existido. Mais recentemente, há algumas décadas, dois biólogos chilenos entraram nesse rol de pensamento. Interessados em entender o ser humano em sua complexidade, resolveram ensaiar outros raciocínios para conhecer o conhecer. Formularam uma biologia do conhecimento que guardou lugar de destaque para a invenção, para a diferença que “invariavelmente” retorna. Humberto Maturana e Francisco Varela criaram o conceito de autopoiese e contribuíram para a produção de novos olhares sobre o intelecto humano. 3 Partimos do pressuposto de que as diferentes maneiras de entender o intelecto humano e o conhecimento são opções políticas, pois dão base a diferentes práticas sociais e, mais especificamente, a diferentes práticas escolares. O objetivo central deste texto é esboçar aproximações entre a teoria da autopoiese (e seus desdobramentos) dos esquemas de educação escolar. No Brasil, nos últimos anos, as políticas públicas para a educação formal se têm caracterizado por valorizar uma expansão quantitativa dos sistemas de ensino, que é importante mas não é suficiente. Pensamos que o esforço de aproximar os ditos e feitos escolares da teoria da autopoiese e de seus desdobramentos se justifica pela possibilidade de construir instrumentos úteis para uma transformação qualitativa dos sistemas educacionais brasileiros. Uma das preocupações que animam esse esforço é contribuir para a construção e para o fortalecimento de relações democráticas1 e solidárias entre os humanos por meio dos aparelhos de educação formal. No texto que se segue, veremos que aproximações conseguimos realizar. Primeiramente, vamos nos dedicar ao tema do aparecimento e da massificação da escola nas sociedades ocidentais. Em seguida, discutiremos alguns conceitos relacionados à teoria da autopoiese e possíveis desdobramentos. Por fim, tentaremos ensaiar algumas conexões e apontar propostas de trabalho. 2. ESTUDAR, TRABALHAR, VIVER Estar na escola é mais do que absorver conteúdos curriculares. Apesar da aparente obviedade dessa afirmação, talvez valha a pena explorar melhor o seu alcance. O “historiador” francês Michel Foucault (entre tantos outros que seguiram essa direção), afirmou que a escola, ao mesmo tempo em que se constitui como local de ensino de determinados conteúdos curriculares, é antes e talvez principalmente instrumento de disciplinarização dos corpos. Recuperar a história da emergência da escola nas sociedades ocidentais faz parte de um esforço para desnaturalizar sua existência, questionar a obviedade de suas relações hierárquicas, analisar os porquês de seus muros materiais e imateriais. A escola como 4 conhecemos hoje surge no bojo de uma revolução dos modos de organização do mundo e das formas de vida humana. Trata-se do surgimento e do fortalecimento gradual da sociedade disciplinar (Foucault, 1998), do capitalismo e de seus modos de produção.2 Sem dúvida, a escola existia em tempos medievais (Enguita, 1989, p. 107-108). Entretanto, seu funcionamento era completamente diverso. Tratava-se de um estabelecimento necessariamente vinculado à Igreja, destinado a poucos, ou seja, a uma nobreza que dela se servia para ilustrar o espírito por meio dos escritos e das artes. O advento da modernidade e o aparecimento do capitalismo trouxeram a necessidade de massificar a escola e generalizar o adestramento dos corpos.3 Mas, por que eles trouxeram essa exigência? Foucault mostra que a resposta não pode ser simplista nem baseada em um entendimento linear da história. Para ele, as formações históricas são multideterminadas e complexas.4 O surgimento da modernidade é correlato ao surgimento de novas idéias sobre o trabalho, sobre a propriedade e sobre o lucro articulados à reforma protestante, ao surgimento das manufaturas, ao fortalecimento da burguesia, e a muitos outros acontecimentos. A Europa é palco de um grande crescimento demográfico e de uma crescente urbanização.5 A modernidade aparece, portanto, imersa nas seguintes questões: como organizar o espaço e o tempo das cidades? Como distribuir os corpos de maneira a prevenir levantes e revoltas? Como preparar os trabalhadores das fábricas (garantir a disciplina dos movimentos e evitar os pequenos furtos, por exemplo)? As respostas a essas questões vieram na forma do panótico.6 O panótico é um padrão de organização espacial constituído por um “ponto alto” (lugar do vigilante) circundado por um espaço baixo (lugar dos vigiados) e é um modelo para uma vivência disciplinar do tempo e dos espaços (espaços como a família, a escola, o trabalho, enfim). Ele inverte a dinâmica que a Idade Média estabeleceu entre servos e senhores e entre fiéis e Deus. Se antes, nos processos de vigilância e punição importava fazer sobressair o poder de quem vigia e pune (o soberano), trata-se agora de colocar no foco aquele que é vigiado e punido. Foucault descreveu com detalhes os mecanismos de esquadrinhamento do tempo e do espaço nos estabelecimentos escolares, que engendram uma vigilância contínua, um sistema de punições e recompensas, o exame como um instrumento privilegiado, a 5 individualização, a hierarquia, a infantilização e o controle. Ao invés de punir os “súditos” eventualmente e com violência (modelo do suplício medieval), a disciplina aposta no adestramento, na produção de corpos úteis e dóceis (Foucault, 1999) O sociólogo espanhol Mariano Fernández Enguita argumenta que, até o processo de industrialização, quase todas as pessoas aprendiam a fazer seu trabalho fazendo-o. Na antiguidade (na Roma antiga, por exemplo), o centro para a aprendizagem social e para o trabalho era a família. Os filhos acompanhavam seus pais e as filhas acompanhavam suas mães, aprendendo a trabalhar em contato direto com suas respectivas tarefas. Fernández Enguita descreve alguns procedimentos educacionais na Idade média. Uma prática medieval muito difundida era uma espécie de intercâmbio familiar: o envio dos jovens a outras famílias para que fossem treinados por pessoas com as quais não tinham laços de afetividade. Esta prática garantia não somente a auto-disciplina e a aprendizagem de um ofício ou artesanato, mas também garantia a formação dos jovens em um contexto de obediência servil, em um mundo baseado em relações muito assimétricas: mestre-aprendiz, senhor feudal-vassalo, rei-servo, Deus-fiel. A própria Idade Média fez nascer uma prática que chegou a seu ponto culminante no século XVIII: o internamento. Nesse período, a infância marginal foi internada maciçamente em orfanatos e casas de trabalho, onde os jovens eram obrigados a trabalhar de maneira disciplinada. O desenvolvimento das manufaturas ocasionou uma transformação importante: esses jovens passaram a ser vistos pelos industriais como trabalhadores baratos e disciplinados. Nessa época, a escolarização se traduzia por muitas horas de trabalho e alguma instrução. Escolarizar passou a ser disciplinar moralmente para o trabalho que se exerceria posteriormente nas manufaturas. A massificação dos estabelecimentos escolares nos séculos XIX e XX ocorreu a partir destas condições: um lugar entre o lar e a fábrica. As escolas se constituíram como aparelhos disciplinares. A instrução escolar passou a ser valorizada não somente como maneira de adequar os jovens aos modos de produção capitalistas, mas também (e talvez principalmente) a seus modos de relação: hierarquia, infantilização, supremacia do saber científico, especialismos. “A questão não era ensinar um certo montante de conhecimentos no menor tempo possível, mas ter os alunos entre as paredes da sala de aula submetidos ao 6 olhar vigilante do professor o tempo suficiente para domar seu caráter e dar a forma adequada a seu comportamento” (Enguita, op. cit., p. 116). A MODERNIDADE INVENTOU UM HOMEM [...] a ser observado, detalhado em cada comportamento; vigiado, acompanhado, classificado na lógica do joio e do trigo – em relação à norma; corrigido, ou melhor, formado a cada gesto; regulado, enquadrado, comparado, categorizado, hierarquizado pelos saberes que aí se legitimam, legitimando também aquele rosto histórico em seus olhos, boca e ouvidos. Essa nova “humanidade” (jeito de ser homem) vai construindo, parede por parede, a economia subjetiva em todos os espaços sociais e o espaço escolar dentre eles. Reiterando, a economia subjetiva refere-se a uma maneira particular de perceber o mundo, de viver, de amar, de trabalhar, de se relacionar, de ser adulto e criança, de querer, de alegrar-se ou entristecer-se, de errar e de acertar, de aprender e não aprender... (Oliveira, 2001, p. 43). Estar na escola é mais do que absorver conteúdos curriculares. Devemos a Foucault a percepção de que os instrumentos da disciplina, espalhados pela sociedade, exercem uma espécie de poder difuso e que, sem eles, o capitalismo teria enormes dificuldades para se manter. O exercício desse poder disciplinar produz formas de organização das escolas, dos hospitais, das cidades, dos partidos políticos, enfim, do mundo. Entretanto, é importante frisar que ele produz simultaneamente formas de estar no mundo, formas de vida humana. O exercício do poder, tal como Foucault o descreve, produz subjetividade. Vejamos o que entendemos por subjetividade. Não se trata (como quer uma vasta tradição psicológica) de algo individual e interiorizado. Não se trata de algo que se tem e que faz referência a particularidades: “a minha subjetividade, a sua subjetividade”. Tampouco se refere a categorias como “personalidade” ou “estrutura psíquica”. As subjetividades são territórios existenciais produzidos nas tramas do tecido social. São experimentadas de maneira individual, pois os territórios existenciais assumem consistência por meio de uma individuação em um corpo humano. Entretanto, não são “individuais”, uma vez que se originam a partir de um processo de produção que envolve elementos múltiplos e heterogêneos: o corpo, a família, as cidades, as ruas, as relações de trabalho, o capitalismo, as escolas. Essa produção, segundo Félix Guattari, é “industrial e se dá em escala internacional” (Guattari, 2000). 7 Há individualidade somente na medida em que ela própria é produzida. O que há, em uma sociedade capitalística,7 é um efeito de individualização, pois nessas sociedades é assim que funciona hegemonicamente a produção de subjetividade. Assim como a linguagem, a subjetividade é construída socialmente e assumida e vivida como particular. Basta escutar os discursos políticos, basta notar a mobilização cotidiana de enormes quantidades de pessoas e de recursos, para perceber como as escolas continuam sendo importantes elementos para os processos de subjetivação em nossa sociedade. Em nosso país, continuam, por um lado, ocupando (desde muito cedo e até a maturidade) milhares de jovens e, por outro, colocando-se à margem de outros milhares. Conforme vimos, a escola surgiu no ocidente como parte da resposta à seguinte pergunta levantada pela modernidade: “como disciplinar os corpos para torná-los úteis e dóceis?” Nossos tempos acrescentaram uma série de outros problemas para a escolarização. Começaram a surgir, principalmente a partir da década de 1970, novas formas de organização social, política e econômica que inauguraram, simultaneamente, outros processos de produção de subjetividade. Recentemente, dedicamo-nos a uma pesquisa que tinha como um dos objetivos centrais entender as maneiras pelas quais a educação formal do ensino médio se conectou às formas de organização neoliberais e analisar os processos de subjetivação que são colocados em funcionamento nesse espaço escolar e por meio dele (Souza, 2002). Verificamos que se atualizam, no contexto estudado, processos simultâneos de objetivação (produção de mundo) e de subjetivação (produção de modos de vida humanos) em relação de mútuo engendramento com o neoliberalismo: destaca-se o entendimento de educação como produto, como investimento em si; a produção da escolarização para a competição do vestibular, maximizada pela exigência de hiper-formação; o controle pela velocidade (exigência de dedicação simultânea a um sem número de atividades) e a precarização do trabalho docente. Há algum tempo, as novas tecnologias de informação, a Internet, a exigência por uma formação permanente, entre tantos outros “acontecimentos”, têm tirado o chão das escolas e dos educadores. Sentimos que uma certa falta de referências paira no ar. Essa instabilidade característica dos tempos contemporâneos talvez seja indicadora da possibilidade de arriscar outras significações para a escola e para a educação formal, 8 diferentes daquelas que hegemonicamente se afirmam, relacionadas ao capitalismo e ao neoliberalismo. Isso implica, como já se pode deduzir, em formular-lhes outras questões. Acreditamos que esse é um esforço relevante, uma vez que pode contribuir para a construção de relações efetivamente democráticas entre os humanos, relações em que cada um possa ser ouvido e em que as decisões possam ser coletivas. Tentaremos pensar a escola e a educação formal privilegiando a invenção, de maneira atenta à produção desses “novos problemas”. Para isso, contaremos com as contribuições da teoria da autopoiese, que passaremos a analisar no tópico seguinte.8 3. UMA BIOLOGIA DO CONHECIMENTO Recordemo-nos do ano de 2002, quando vivemos épocas de eleição no Brasil. A população escolheu o novo presidente da República, os novos (ou os já “tradicionais”) governadores, deputados e senadores. Observamos uma grande preocupação com a educação em todas as propostas, em todos os programas e discursos políticos dos candidatos. Aumentar o número de vagas nas escolas, o acesso ao ensino superior, entre outras, são freqüentes promessas de campanha, para “mudar o Brasil”. Gostaríamos de levantar a seguinte questão: que educação é essa em que se investem tantas preocupações e esperanças? Acompanhamos um pouco da trajetória do mundo ocidental, que criou e massificou historicamente estabelecimentos quadriculares específicos, as escolas, onde alguns poucos sujeitos são responsáveis por ensinar enquanto outros muitos são incumbidos de aprender. Todo esse arranjo se estabeleceu baseado na premissa de que o processo de ensino-aprendizagem se dá por informação. Em uma sala de aula, há um professor, um especialista detentor de verdades a respeito do mundo, portador dos conhecimentos válidos que os alunos devem aprender. Isso exige, portanto, que o professor transmita informações e que os alunos sejam capazes de recebê-las, elaborá-las, integrá-las em um sistema coerente e armazená-las para que possam ser usadas quando preciso. Quando esse processamento de informações (que se assemelha bastante ao de um computador) é bem sucedido, dizemos que a aluno aprendeu. 9 Esse entendimento do processo de ensino-aprendizagem pressupõe, portanto, que há um mundo cujas verdades devem ser estudadas, reveladas, descobertas. Pressupõe que existe um saber oficial sobre o mundo, um saber válido e neutro, qual seja, o saber científico. Trata-se de uma perspectiva baseada na representação: entende o homem como um ser especial porque dotado da capacidade de representar o mundo em sua maquinaria cognitiva. “De acordo com esta visão, a aprendizagem é o processo mediante o qual o organismo obtém uma informação do meio e constrói uma representação dele que armazena em sua memória e utiliza para gerar sua conduta em resposta às perturbações que dele provêm” (Maturana,1998, p.32). Nas linhas que se seguem, traremos alguns elementos que questionam essa visão. Abordaremos alguns conceitos da teoria da autopoiese, formulada por biólogos chilenos a partir da década de 1970. Para Humberto Maturana, aprendizagem é “[...] o caminho da mudança estrutural que segue o organismo (incluindo seu sistema nervoso) em congruência com as mudanças estruturais do meio como resultado da recíproca seleção estrutural que se produz entre ele e este, durante a recorrência de suas interações, com conservação de duas respectivas identidades” (ibid). Passemos ao exame de algumas noções da teoria da autopoiese, que nos ajudarão a entender a afirmativa acima. Humberto Maturana e Francisco Varela (1995) se interessam pelo seguinte problema: o que é vida? O que é ser vivo? Tradicionalmente, nos programas escolares por exemplo, aprendemos que a vida se define por uma série de critérios como presença de cadeias de carbono, posse de material genético, capacidade de crescimento, de reprodução, entre outros. Diante de uma rocha e de uma samambaia, distinguiríamos a samambaia como viva: ela se desenvolve, tem material genético, é capaz de se reproduzir. Entretanto, esses critérios formam um conjugado pouco rigoroso, porque nem sempre aplicável. Por exemplo, o fato de o plástico ser constituído de cadeias de carbono não nos faz considerar uma escova de dente como ser vivo; é só pensar em uma mula para compreender que julgamos ser viva uma forma de organização que não pode se reproduzir; e podemos nos perguntar se um vírus (que possui material genético) é de fato “vivo”, e assim por diante. Os autores preferem uma outra formulação para o problema da vida. Para eles, vida é autopoiese (autoprodução). Autopoiese é a dinâmica que define o ser vivo: ele gera 10 elementos que entram na cadeia de sua própria produção. Tomemos a célula como modelo para entender essa dinâmica. A célula possui um funcionamento próprio, circunscrito por uma membrana que a separa do meio. Em suas interações recorrentes com o meio, produz os componentes que entrarão na cadeia de sua produção. Ou seja, produz as organelas e os fluidos que compõem sua dinâmica interna e produz os elementos de sua própria membrana, que, por sua vez, permitiu que a dinâmica interna aparecesse e que a célula se individualizasse como ser e assim sucessivamente (Maturana & Varela, op. cit., p. 85). O ser individualizado pela membrana depende da dinâmica autoprodutiva e a dinâmica autoprodutiva depende do ser individualizado pela membrana. Poderíamos continuar a descrever essas relações ao infinito porque elas são circulares. Maturana e Varela afirmam que todos os seres vivos são variações de um mesmo tema (Ibid., p. 112-126): no princípio de uma ontogenia há uma única célula, que se dividirá em muitas outras constituindo um ser, seja ele uma baleia ou um bebê humano, por exemplo. Desde que o ser vivo é apenas uma célula, ele já entra em interação direta com o meio que o circunda. Diremos que essa interação é um acoplamento estrutural: trata-se de uma história de relações recorrentes que provocam mudanças tanto no ser vivo quanto no meio. Ao olhar para a rocha e para a samambaia, dizemos que a samambaia é um ser vivo, (diferente da rocha) porque ela é capaz de produzir elementos que entram na cadeia de sua própria produção como samambaia, a partir das interações que estabelece com o solo, seus elementos químicos, seus sais minerais, as bactérias que o habitam, com a água das chuvas, com a energia solar, com os ventos moderados, etc. A partir dessa perspectiva, o que há para a samambaia são perturbações do meio em que ela fez seu acoplamento. A luz solar, por exemplo, perturba (afeta)9 a samambaia, que a aproveita para a fabricação de energia química (por meio da fotossíntese) essencial para a manutenção de sua autoprodução. Entretanto, se os ventos se tornam por demais violentos, um furacão por exemplo, a samambaia pode ser arrancada do solo, desprovida dos nutrientes necessários para sua adaptação e para a continuidade de sua autopoiese. Em pouco tempo ela secará e se dissolverá no ambiente e diremos que a samambaia morreu, que sua autopoiese cessou. Nesse caso a perturbação do meio foi destrutiva. É preciso reconhecer que não foi o furacão que “determinou” a morte da samambaia. Ele foi apenas uma perturbação. Foi a própria 11 organização da samambaia que determinou a inviabilidade de continuação de sua autopoiese. “[...] enquanto não se desintegra, o ser vivo está adaptado a seu meio, mantendo uma condição de adaptação invariante. Ou seja, ele se conserva. Além disso, dissemos que nesse aspecto todos os seres vivos somos iguais enquanto estamos vivos. [...] não há sobrevivência do mais capaz, há sobrevivência de quem é capaz” (ibid., p. 146). Falamos em adaptação e é importante esclarecer essa noção. Adaptar-se não se refere a um processo de adequação a um meio já dado, mas sim como capacidade de manutenção da autopoiese. “O acoplamento resulta das modificações mútuas que organismo e meio sofrem no curso de suas interações. Cabe lembrar ainda que os acoplamentos são sempre temporários e relativos, sendo constantemente questionados por novas situações colocadas pelo meio” (Kastrup, 1999, p. 117). O meio e o organismo não existem como entidades prévias a seu acoplamento. Ambos são produzidos pelo acoplamento e eles são mais “processos” que “entidades”. Esse entendimento não se restringe aos organismos unicelulares, que são unidades autopoiéticas de primeira ordem. O acoplamento entre muitas células constitui os mais variados arranjos, os mais variados tipos de organismos, que são chamados pelos autores de unidades autopoiéticas de segunda ordem. Um elefante é um exemplo de unidade autopoiética de segunda ordem. Em sua história de existência (ontogenia), o elefante realiza um acoplamento com o meio (que inclui outros seres vivos). Esse acoplamento, como vimos, gera inúmeras perturbações, desencadeando mudanças no meio. Maturana e Varela construíram uma metáfora interessante: a ontogenia de um ser pode ser comparada à trajetória de uma gota d’água lançada verticalmente no cume de um montinho de areia. A queda da gota (o acoplamento) produzirá modificações no montinho e na própria gota. O elefante é um exemplo de unidade de segunda ordem que possui sistema nervoso, diferentemente da samambaia, por exemplo. Maturana e Varela examinam a história natural do sistema nervoso e destacam que “[...] a organização básica de um sistema nervoso tão imensamente complexo como o do homem segue, na essência, a mesma lógica que o da humilde hidra” (Maturana & Varela, op. cit., p. 184). 12 Os autores frisam que o sistema nervoso surgiu como maneira complexa de acoplar receptores sensoriais (nossos cinco sentidos, por exemplo) a superfícies motoras. Operando dessa forma, o sistema nervoso expande grandemente as possibilidades de conduta dos seres vivos. Quando pensamos no cérebro humano, imaginamos que ele funcione como um computador. Ao estudarmos um livro, por exemplo, acreditamos que as impressões visuais que captamos nos trazem “informações”, que são processadas e armazenadas no cérebro. Entretanto, tudo o que dissemos até agora nos faz desconfiar desse entendimento. Vimos que o meio em que vive uma samambaia não é capaz de determinar mudanças em sua organização como planta. O meio lhe inflige perturbações (luz solar ou furacão, por exemplo) que desencadearão conseqüências que lhe serão mais ou menos dramáticas. Entretanto, o meio não pode determinar essas conseqüências. Esse tipo de funcionamento, próprio das unidades autopoiéticas (dos vivos, portanto), é descrito como clausura operacional. Voltemos ao sistema nervoso: “[...] ao contrário do que se costuma pensar, o sistema nervoso não ‘capta informações’ do meio, e sim produz um mundo ao especificar que configurações do meio são perturbações e que mudanças estas desencadeiam no organismo. A metáfora tão em voga do cérebro como um computador é não só ambígua como francamente equivocada” (ibid., p. 195). Vimos que as unidades autopoiéticas incluem uma membrana responsável por sua individuação. A invenção da membrana corresponde à invenção dos limites à pura processualidade do meio e corresponde à instauração de uma dinâmica interna. Entretanto, essa clausura operacional não significa fechamento: a membrana garante as superfícies de perturbação, permitindo o devir contínuo da unidade. Assim como as unidades autopoiéticas, o sistema nervoso (como integrante de uma unidade) também funciona em clausura operacional. “Descrever a aprendizagem como uma internalização do meio confunde as coisas, pois sugere que na dinâmica estrutural do sistema nervoso há fenômenos que existem apenas no domínio de descrições de alguns organismos capazes de linguagem, como nós” (ibid, p. 199). Com efeito, uma samambaia, por exemplo, aprende, na medida em que aprender não é representar internamente o que se dá no mundo, mas gerar uma conduta a partir das perturbações do meio, conservando a autopoiese. Aprender é produzir-se a partir das 13 afetações do meio, portanto aprender é igual a viver. O conhecer é ontológico: conhecer é igual a ser. Quando entendemos que conhecer se dá por um processo de representação do mundo, supomos que há um mundo já dado, invariável e anterior à experiência de conhecer. Quando procedemos assim, acabamos por adotar uma postura claramente antropocêntrica, pois o mundo “verdadeiro” que supomos existir corresponde ao mundo humano (e não ao mundo experimentado por um cão, ou por um mosquito, por exemplo). Tal postura não obscurece somente a relação entre espécies, mas também entre os próprios homens. Vejamos como. Uma série de processos fez com que a cultura aparecesse na história de constituição da espécie humana. A conduta humana é grandemente produzida a partir de um acoplamento com um contexto cultural específico. Foi preciso, portanto, que (na filogênese do humano) os bebês nascessem muito pouco maduros, muito dependentes dos pais, com um sistema nervoso capaz de uma plasticidade gigantesca. Assim, se um bebê nasce no Brasil e é levado a viver em uma família japonesa, no Japão, sua vida será completamente diferente da que experimentaria em nosso país. A cultura humana expandiu enormemente as possibilidades de acoplamento com o mundo, criando uma variedade muito grande de ontogenias possíveis, o que não acontece com um mosquito, por exemplo. Quase a totalidade das condutas do mosquito é determinada geneticamente. O humano, ao contrário, depende dramaticamente da experiência para orientar sua conduta.10 Voltemos à questão do aprender: não se trata de representar um mundo, pois os mundos são produzidos simultaneamente à experiência do conhecer. Percebe-se nesse ponto de nossa argumentação que estamos partindo de uma relativização radical: nada há de especial no humano que o distancie das outras unidades autopoiéticas em termos de valor. Em outras palavras, os seres humanos não são “piores” mas também não são “melhores” que qualquer outro ser vivo. Quando supomos que há um “mundo verdadeiro” que será representado em nosso interior, acabamos por concluir que o mundo que experienciamos é o verdadeiro, é o melhor, enquanto, na realidade, ele é só um mundo entre os muitos possíveis. Essa concepção de “mundo verdadeiro” engendra o etnocentrismo entre os humanos, forma de relação que permeou o massacre de civilizações e povos ao longo de nossa história. Maturana e Varela se preocupam com essa questão: se 14 não admitirmos que a cognição é criação simultânea de seres e mundos múltiplos e não hierarquizáveis em termos de valor, poderemos estar caminhando para nossa autodestruição. Sob a perspectiva da autopoiese, conhecer corresponde a fazer, a operar uma determinada conduta. Essa conduta obviamente não é invariável, mesmo nas unidades autopoiéticas mais simples. Ela é ainda mais flexível quando tratamos da experiência humana e ainda mais se pensamos em nosso contexto urbano e capitalista. Por mais que nos acostumemos com uma determinada rotina, nossas ações estão sempre imersas em uma possibilidade de diferir de si próprias. Há sempre uma pitada de desconhecido. Quando hesitamos frente ao que fazer, ao que falar ou ao que pensar, no próximo momento de nossa existência, vivemos o que Varela chamou de Breakdown (Varela, 1992, apud Kastrup, 1999, p. 130). O termo em inglês evoca uma freada, um corte, uma ruptura: é quando a diferença faz valer o seu retorno. O Breakdown é um momento muito estratégico, pois ele desafia o que nos parece absolutamente natural, verdadeiro. Ele pode ser um ponto disparador da criação de outras formas de acoplamento. Dissemos que pretendíamos questionar o entendimento que toma o computador como modelo para pensar a cognição. Pois bem, tomar o computador como modelo é desconsiderar essa pitada de desconhecido que vivemos em nossa deriva, em nosso processo de conhecer. O computador é capaz de processar informações para resolver um problema dado de antemão. Entretanto, ele não pode inventar os problemas. A possibilidade de inventar problemas é própria do vivo, da dinâmica autopoiética. Por exemplo, quando experimentamos, pela primeira vez, pintar uma tela com um pincel, há uma espécie de fricção com a matéria. Nosso corpo se posiciona, nossa atenção se concentra ora no pincel, ora na viscosidade da tinta, ora no branco desafiador da tela. Nesse acoplamento, inventamos os problemas aos quais iremos nos dedicar: trata-se de molhar o pincel na tinta e levá-lo à tela? Como? A fricção do nosso corpo com a tela e o pincel produz efeitos de objetivação (um quadro pintado, por exemplo) ao mesmo tempo em que produz efeitos de subjetivação (o artista). Por meio dessas reflexões, percebemos que restringir o conhecer à resolução de problemas já dados é um procedimento muito insuficiente. 15 A recognição existe, sem dúvida. Corresponde à regularidade e constância de um acoplamento. Entretanto, conhecer não é somente reconhecer e guarda sempre a possibilidade de rearranjo e de invenção. Há, sem dúvida, repetições e constâncias. Na experiência humana, estas constâncias devem ser analisadas junto com suas conseqüências sociais e políticas. Vivemos cercados de idéias naturalizadas que participam do processo de construção de nossos territórios existenciais. Entretanto, não devemos nos esquecer que as repetições e constâncias surgem por meio de um processo inventivo. A invenção é primeira e permanece. Por mais duras e imutáveis que pareçam, as constâncias estão permanentemente imersas na possibilidade de diferir de si mesmas, de dar lugar a outros campos de consistência, a outros territórios existenciais. “Há constantes, recorrências, regularidades, mas não invariantes. [...] aqui o deslocamento do foco do problema da representação para a invenção apresenta-se explicitamente, restando a representação como um caso particular da enação” (Kastrup, op. cit., p. 145). Enação é um termo utilizado por Francisco Varela (Varela, 1988, apud Kastrup, op. cit., p. 125) para fazer referência a essa cognição corporificada, encarnada, resultante da experiência que se inscreve no corpo, diferente do entendimento de cognição como processo mental. “Não se trata de perguntar como a cognição põe em relação um sujeito e um objeto, mas como, do exercício concreto da cognição, surgem sujeito e objeto” (Kastrup, op. cit., p. 155-156). Durante muito tempo, encaramos o ser humano como um ser vivo especial, capaz de explorar “o” mundo e descobrir seus segredos na forma de leis invariáveis. Esse foi um pressuposto particularmente importante para o projeto de purificação científica empreendido pela modernidade. Em nossas sociedades, a ciência se constituiu como “saber oficial”, ultravalorizado frente aos outros saberes. Somente o método científico seria capaz de chegar a um conhecimento “verdadeiro” e “válido”. Somente alguns seres humanos teriam a capacidade de ser porta-vozes das verdades sobre o mundo. Como vimos, a modernidade das sociedades ocidentais construiu uma “educação formal”, atrelada a esse “saber oficial”. É evidente que essas relações se fizeram e se fazem presentes nas escolas, na organização curricular e arquitetônica, na relação hierárquica entre especialistas, entre professores e estudantes. Fica claro que esse entendimento dos modos do conhecer não é isento de 16 conseqüências políticas, econômicas e sociais. Há, portanto, “políticas da cognição” que discutiremos no tópico que se segue, tentando integrar as reflexões que empreendemos até agora. 4. ENSAIOS PARA UMA CONEXÃO Na primeira parte deste trabalho, falamos sobre o contexto de aparecimento da escola no mundo ocidental. A existência da escola não é tão natural quanto o cotidiano nos faz crer. Seu surgimento se deu para responder a necessidades políticas, tais como: de que maneira adestrar os corpos para uma produção disciplinada? Como legitimar a superioridade econômica de alguns poucos frente ao empobrecimento de muitos? As escolas certamente vivem reflexos dessas questões até hoje. Cria-se um padrão de saber “legítimo”, “oficial”, pretensamente superior aos outros saberes. Esse procedimento é animado por uma certa política representacionista da cognição, que pressupõe que o mundo guarda verdades que devem ser desveladas.11 O conhecimento “oficial” é o conhecimento acadêmico, científico.12 Ele deve ser buscado (por alunos, professores, etc.) como um ideal. Ele deve ser memorizado e repetido. A segunda parte deste trabalho foi destinada a buscar ferramentas teóricas para pensar uma outra política da cognição, capaz de construir outros sentidos para estabelecimentos como as escolas, uma política inventiva da cognição. Justificamos tal esforço na medida em que paralisam-nos as formas de relação capitalísticas, dadas entre os seres humanos e entre eles e o mundo, animadas por uma lógica da representação (que implica na busca de um ideal) e baseadas em procedimentos de infantilização, de hierarquização, de dominação e (nos casos extremos) de extermínio. Para efetivar a democracia nos processos humanos e sociais, julgamos necessária a experimentação de outras formas de relação nos estabelecimentos escolares, baseadas em outra política da cognição. Não encaramos a educação formal como a “solução para todos os nossos problemas”. Porém, ao mesmo tempo, reconhecemos na escola, espaço tão cheio de pessoas e de encontros, um lugar extremamente estratégico. Muito freqüentemente, a escola é descrita como um meio de transmissão dos conhecimentos acumulados em uma sociedade. Dentre os múltiplos saberes socialmente 17 construídos, foi escolhido o saber científico como parâmetro e como conteúdo para as composições curriculares. O saber científico é identificado como saber verdadeiro e deve assumir um maior valor e uma posição hierárquica superior frente aos outros saberes. Por exemplo, as disciplinas de matemática, física e química, com seus cálculos, fórmulas, tabelas, etc., pretendem expressar a verdade acerca dos processos naturais. Em “português” estabelecem-se as regras e categorias por meio das quais funciona a língua e ensina-se a maneira correta de falar e de escrever. Em “biologia”, os jovens aprendem definições e classificações sobre vida e seres vivos. Em história e em geografia, são levados a memorizar datas, personagens, tipos de paisagens, tipos de clima, entre muitas outras coisas. Aqui não teremos a oportunidade de alongar a discussão sobre conteúdos curriculares. O que pretendemos mostrar é o papel central que essa “transmissão dos conhecimentos válidos/verdadeiros” assume no funcionamento escolar. Não negamos que essa transmissão de conhecimentos aconteça: ela acontece, de certa forma. Entretanto, pensamos que o que acontece na escola vai muito além disso. A escola formal faz parte de uma cadeia complexa de produção de modos de vida. Não se trata exatamente de informar os sujeitos, mas participar na formação dos sujeitos, ou seja, nos processos de produção de subjetividade. Tais processos dão lugar a especialistas (pessoas autorizadas a falar sobre algo, detentoras do conhecimento oficial), a processos de infantilização (dos que “não sabem”) e de hierarquização. Percebemos que tais “vetores de subjetivação” são fundamentais para o funcionamento dos modos de produção capitalistas, juntamente com as exigências mais recentes (neoliberais) de hiper-individualismo, competição, flexibilidade, hiper-formação e formação permanente. Os estabelecimentos escolares funcionam hegemonicamente segundo uma política representacionista da cognição: o conhecimento “oficial” (verdadeiro) deve ser memorizado e repetido. Existem uma série de modelos que determinam como deve ser o trabalho dos professores, como devem se comportar os alunos, que tipo de relação deve nutrir a comunidade escolar. É muito forte, até hoje, a idéia de que o acesso à aprendizagem e ao conhecimento verdadeiro deve necessariamente estar ligado à transmissão de “pacotes de informação” em uma aula hierarquicamente organizada, dividida entre os que sabem e os que não sabem, entre os que são competentes e os que fracassam. Entretanto, e a pesar 18 desses modelos, sabemos que a atividade inventiva se faz presente todo o tempo nas escolas. Os trabalhadores (professores, diretores, estudantes) produzem, constantemente, formas inovadoras de manejar seu trabalho. Acreditamos que novas formas de entender o conhecimento podem transformar: a) A organização espacial e temporal da escola: abrir a possibilidade de experimentar tempos e espaços diferentes do quadriculado disciplinar, elaborar uma gestão coletiva desses tempos e espaços; b) As relações entre os funcionários, os professores e os alunos: questionar as hierarquizações, fomentar espaços onde cada um possa ser ouvido e onde possam ser elaborados encaminhamentos de maneira coletiva; [...] tudo o que dissemos aqui, esse saber que sabemos, conduz a uma ética inescapável, que não podemos desprezar. [...] Se sabemos que nosso mundo é sempre o mundo que construímos com outros, toda vez que nos encontrarmos em contradição ou oposição a outro ser humano com quem desejamos conviver, nossa atitude não poderá ser a de reafirmar o que vemos do nosso próprio ponto de vista, e sim a de considerar que nosso ponto de vista é resultado de um acoplamento estrutural dentro de um domínio experiencial tão válido como o de nosso oponente, ainda que o dele nos pareça menos desejável. Caberá, portanto, buscar uma perspectiva mais abrangente, de um domínio experiencial em que o outro também tenha lugar e no qual possamos, com ele, construir um mundo. (Maturana & Varela, op. cit., p. 262). c) As tarefas escolares: tornar explícito o envolvimento de cada um com as tarefas escolares, questionar a primazia das notas e avaliações, deixar de simplesmente repetir e memorizar o conhecimento oficial, interrogando sua validade para o que vivemos no dia-a-dia; d) A organização e os conteúdos das disciplinas: articular o que se estuda na escola com o cotidiano dos funcionários, professores e alunos, partindo de experiências e acontecimentos. São infindáveis os exemplos de temas que poderiam transformar o envolvimento de professores e alunos com os conteúdos das disciplinas: a organização da cidade, as divisões no mundo do trabalho, o lucro, as alternativas de economia solidária, o sistema político em que vivemos, as eleições, os direitos e deveres dos cidadãos, a corrupção, a violência, o narcotráfico, as experiências de gestão participativa da educação e da saúde, etc. e) As relações entre a escola e as comunidades extra-escolares: eliminar as distâncias, uma vez em que se questiona a dualidade “escola-lugar-do-saber X comunidade- 19 lugar-do-não-saber”, estabelecer fóruns de decisão capazes de responder às questões “que escola queremos?, Que mundo queremos?”. Argumentamos que conhecer não é elaborar representações de uma suposta realidade objetiva. Conhecer é um processo de produção simultânea de si e do mundo. Por isso o conhecer é um processo político e isso se torna evidente por meio das relações que fizemos entre a escolarização e o capitalismo. Acreditamos que é necessário (se não, pelo menos estratégico) experimentar políticas inventivas da cognição nos espaços e funcionamentos escolares. O desafio que nos colocamos e que queremos propor é o de construir formas inovadoras de pensar e de viver o cotidiano escolar. Para isso, acreditamos que se faz estratégica uma aproximação com os conceitos da teoria da autopoiese. Ao mesmo tempo, colocamo-nos alertas para o perigo de que esses conceitos virem uma nova ladainha, capaz, justamente, de obscurecer os fins de transformação político-subjetivos em que apostamos. Consideramos, enfim, que a ética deve anteceder os conceitos. NOTAS 1 Não nos referimos aqui a uma democracia “liberal”, pautada unicamente na escolha de “representantes” que acabam por defender prioritariamente interesses privados e privatizantes. Falamos de uma democracia “real”, ou seja, da possibilidade de participação efetiva, junto com os sistemas de administração, nas decisões sobre trabalho, educação, saúde, etc.; na possibilidade de construção de instrumentos e de fóruns capazes de organizar essa participação; na possibilidade de que as pessoas possam fazer ouvir os saberes que constroem em sua prática cotidiana e de que possam gerir essa prática por meio de encaminhamentos coletivos. 2 Veremos com mais detalhes que produção aqui se refere a bens de consumo e também à “produção de subjetividade”, conforme argumenta Félix Guattari (2000). 3 4 Que já era praticado de maneira pontual nos mosteiros medievais (Foucault, 1998). A noção de complexidade não se traduz aqui por “elevado grau de dificuldade”. Ela é utilizada para caracterizar um sistema que funciona por conexões múltiplas e cujos resultados não entram em um registro de previsibilidade. Trata-se de um funcionamento em rizoma (Deleuze & Guattari, 1995, p. 11-37). 5 A concepção de história no registro da complexidade impede que um desses fatores ou qualquer outro seja tomado como determinante único ou principal da emergência da modernidade. 20 6 O panótico foi editado no final do século XVIII por um jurista inglês chamado Jeremy Bentham, mas, no registro da microfísica do poder, já tinha começado a fazer sentir seus efeitos bem antes (Foucault, 1999, p. 209-227). 7 Guattari (2000) usa o termo capitalístico para caracterizar não só os países de capitalismo avançado, mas também os do chamado terceiro mundo e os de socialismo burocrático, que põem para funcionar uma mesma economia libidinal-política. 8 É importante frisar que a problemática exposta pela autopoiese é marcadamente transdisciplinar. Sua origem, o campo da biologia, não exclui suas implicações com a história, com a política, com a filosofia. 9 Para Virgínia Kastrup (1999; p. 115), “Perturbar significa afetar, colocar problema”. 10 Para Maturana (1998, p. 42), “[...] não há diferença intrínseca entre conduta instintiva e conduta aprendida, já que ambas são o resultado da epigênese do organismo e surgem, em cada caso, como conseqüência inevitável da história de interações deste com conservação da organização e da adaptação. A diferença entre elas está somente no grau de liberdade epigênica que determina a estrutura da célula inicial”. 11 As diferentes maneiras de encarar o conhecer têm diferentes conseqüências políticas. É desse solo de idéias de onde brota a noção de “política da cognição”. 12 Certamente, o método científico e os procedimentos acadêmicos podem ser úteis aos seres humanos. Não queremos aqui desqualificar a ciência ou a academia, mas sim, questionar os efeitos políticos da primazia que lhes é atribuída frente a outros saberes. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DELEUZE G. & GUATTARI, F. (1995) Mil platôs. Rio de Janeiro: Ed. 34. ENGUITA, M. (1989) A face oculta da escola: educação e trabalho no capitalismo. Porto Alegre: Artes Médicas. FOUCAULT, M. (1999) Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal. _____________ (1998) Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes. GUATTARI, F. & ROLNIK, S. (2000) Cartografias do desejo. Petrópolis: Vozes. KASTRUP, V. (1999) A invenção de si e do mundo. Campinas: Papirus. MATURANA, H. (1998) Da biologia à psicologia. Porto Alegre: Artes Médicas. MATURANA, H. & VARELA, F. (1995) A árvore do conhecimento. Campinas: Editorial Psy. NIETZSCHE, F. (1873/2000) Sobre verdade e mentira no sentido extra-moral, In: Os pensadores, Nietzsche, São Paulo: Nova Cultural. OLIVEIRA, S. (2001) Micropolítica do fracasso escolar: uma tentativa de aliança com o invisível. Dissertação Mestrado em Educação, UFES, Vitória. 21 SOUZA, L. (2002) Educação em tempos neo-liberais: uma análise micropolítica do ensino médio em Vitória, ES. Relatório de Pesquisa. Vitória : Universidade Federal do Espírito Santo. Primeira decisão editorial em: setembro/ 2004 Versão final em: outubro/ 2004 Aceito em: novembro/ 2004
Baixar