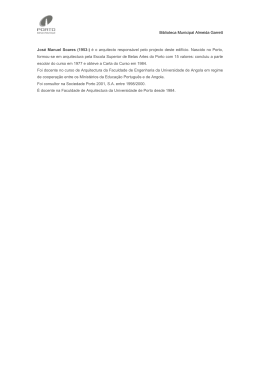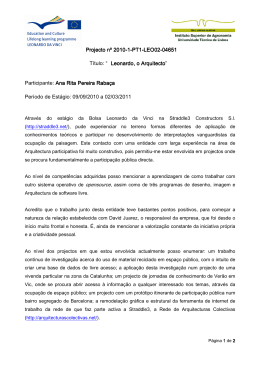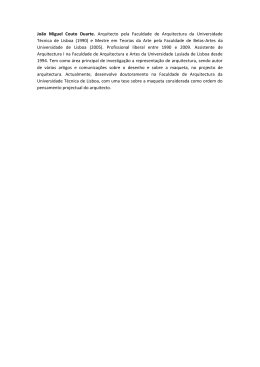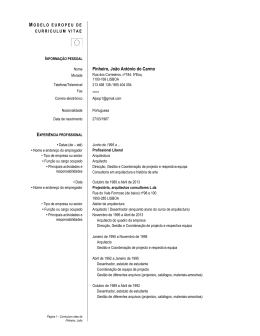ARTE E ARQUITECTURA: FRONTEIRAS E SITUAÇÕES DE CONTACTO NA OBRA DE FERNANDA FRAGATEIRO Maria Azevedo Mendes de Sousa Eiró Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em: Arquitectura Júri Presidente: Prof.ª Doutora Teresa Frederica Tojal de Valsassina Heitor Orientador: Prof.ª Doutora Helena Silva Barranha Gomes Co-Orientador: Prof. Doutor Luís Manuel Morgado Santiago Baptista Vogais: Prof.ª Bárbara dos Santos Coutinho Prof. Ricardo Alberto Bagão Quininha Bak Gordon Outubro 2012 RESUMO: A afinidade entre a arte e a arquitectura não é um tema novo. A relação entre ambas as disciplinas foi, no entanto, adoptando diferentes modelos, sentidos de influência e estruturas hierárquicas para as suas intercepções, subsistindo assim, ao longo dos séculos. As revoluções artísticas dos anos 20 e dos anos 60, que culminam na sua vertente pública contemporânea, aproximam a arte da arquitectura e colocam o artista numa posição, sem precedente, de contiguidade com o arquitecto em relação à possibilidade de actuação no meio urbano. Possibilitando assim, uma alteração definitiva na estrutura hierárquica, à qual a inserção de obras de arte em projectos arquitectónicos obedeceu até ao final do séc. XX. Este encontro no espaço público dará origem a novos términos para a relação entre arte e arquitectura que quebram todos os anteriores e constituem a base do modelo colaborativo, que se pretende definir com a maior profundidade e exactidão possíveis. A presente investigação apoia-se na diversidade da obra e na multiplicidade de plataformas de actuação utilizadas por Fernanda Fragateiro, para dar resposta a questões fundamentais no entendimento dos novos parâmetros de união e comunhão entre arte e arquitectura. A escolha da artista tem por base a visibilidade e importância das suas colaborações no panorama nacional e a sua vasta obra individual de enorme relevância para o estudo das novas tipologias artísticas, por vezes, indistintas da arquitectura. Palavras-chave da dissertação: Colaborações, Arte Pública, Arquitectura, Fernanda Fragateiro. i ABSTRACT: The affinity between art and architecture is not new. Their relationship, however, has adopted different models, types of influence and hierarchic structures that convey each other’s necessities and, thus subsisting throughout the centuries. The artistic revolutions of the 20s and 60s that culminate in art’s contemporary public practice, approximates art to architecture and calls artists into an unprecedented position of contiguity with architects, where both can think and design the urban environment. Resulting in the possibility of constructing a new hierarchic form, that finally, breaks architecture dominance over all artistic and technical fields. This encounter in the public sphere will, not only, give way to new terms for the relationship between art and architecture, but also brake every previous ones and, therefore creating a new collaborative model that we will try to define with the greatest exactitude. The present investigation takes base in the diversity of the work and multiplicity of platforms used by the artist Fernanda Fragateiro, to provide answers to fundamental questions, which in the long term, will provide the understanding of the new parameters that define this form of relation between art and architecture. The artist’s choice emerges from relevance of the individual works displayed and their indistinctiveness from architecture, as well as, the importance and visibility that her collaborations with architects, present in the national context. Keywords: Collaboration, Public Art, Architecture, Fernanda Fragateiro. ii AGRADECIMENTOS: Á Professora Helena Barranha, o mais sentido obrigado, pela paciência, disponibilidade e persistência no acompanhamento e orientação da presente dissertação. Ao Arq. Luís Santiago Baptista, por ter aceite embarcar nesta ‘aventura’, por ter sido uma constante fonte de positivismo e encorajamento, e pela sua contribuição no desenvolvimento temático deste trabalho. Aos arquitectos, João Maria Ventura Trindade, João Gomes da Silva e José Veludo, pela abertura e disponibilidade demonstradas para a realização das entrevistas. À artista Fernanda Fragateiro, pelo interesse demonstrado pelo trabalho e também pela disponibilidade com que me recebeu na realização da entrevista. Aos meus pais, por todo o apoio, compreensão e incentivos vários dados ao longo da elaboração da presente dissertação, e aos meus irmãos, pelas críticas, olhares condenadores e pressão exercida para que a terminasse. Aos meus avós, mas especialmente ao meu avô, Fernando Azevedo Mendes, pela revisão de texto, que não duvido penosa e confusa para um advogado, mas essencial para o resultado final atingido. Ao Manel, sempre paciente e tolerante perante as minhas inseguranças, e um enorme apoio durante este longo processo. iii iv ÍNDICE GERAL RESUMO: i ABSTRACT: ii AGRADECIMENTOS: iii ÍNDICE: v ÍNDICE DE FIGURAS: vii FERNANDA FRAGATEIRO INTRODUÇÃO: 1 CONTEXTUALIZAÇÃO: 9 I. PASSAGEM PARA O ESPAÇO REAL 1.1. do espaço virtual para o espaço real. 11 1.2. o minimalismo e o espaço na arte. 16 1.3. Fernanda Fragateiro: Exposição Invisibilidade, Galeria Leme, 2009.24 II. DIMENSÃO DA CORPORALIDADE 2.1. o corpo, a escala e o lugar. 27 2.2. Fernanda Fragateiro: Caixa para Guardar o Vazio, 2005. 31 III. VERTENTE SOCIAL DA ESPACIALIDADE 3.1. quando a arte sai à rua. 34 3.2. Fernanda Fragateiro: O Paraíso é um Lugar Onde Nada Nunca Acontece, Lisboa Capital do Nada, 2001. 43 IV. A “OBRA DE ARTE TOTAL” 4.1. a ‘Gesamtkunstwerk’ e a colaboração. 47 4.2. Fernanda Fragateiro: ‘Através da Paisagem’, EBG, Mourão, 2002-2008. 59 V. PERCENT FOR ART 5.1. a origem do modelo e a sua evolução. 65 5.2. arte no espaço publico VS arte na arquitectura. 69 5.3. algumas situações e casos de sucesso. 72 5.4. Fernanda Fragateiro: ‘Jardim das Ondas’, Expo’98, Lisboa, 1998. 75 v VI. NOVAS DINÂMICAS COLABORATIVAS 6.1. interdisciplinaridade como método de acção. 84 6.2. problemática dos novos métodos colaborativos. 88 6.3. Design Urbano. 93 6.4. Fernanda Fragateiro: ‘Jardim nas Margens’, Cacém, 2002-2008. 96 VII CONCLUSÕES: 105 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 109 ANEXOS: ANEXO I. Entrevista realizada a Fernanda Fragateiro. 115 ANEXO II. Entrevista realizada ao Arq. João Maria Ventura Trindade. 127 ANEXO III. Entrevista realizada ao Arq. João Gomes da Silva. 136 ANEXO IV. Entrevista realizada ao Arq. José Veludo. 143 vi ÍNDICE DE IMAGENS: Fig. 1. Expanded Field - diagramas I, II e III. 9 Rosalind Krauss - "Sculpture in the Expanded Field." October, Vol. 8, 1979, pp. 36-38. Fig. 2. Interpretação em diagrama da teoria de David Summers. 12 Criado pela autora. Fig. 3. Tatlin – ‘Selection of Materials’, 1914. 13 http://www.russianavantgard.com/Artists/tatlin/tatlin_assortment_materials_a.html Fig. 4. Tatlin – ‘Corner Counter-relief’, 1914. 13 www.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2006/Vanguardias/museo.html Fig. 5. Tatlin - ‘Complex Corner-relief’, 1915. 13 http://artntheory.blogspot.com/2011/05/el-guitare.html Fig. 6. Picasso – ‘Guitarra’, 1914. 13 http://artntheory.blogspot.com/2011/05/el-guitare.html Fig. 7. El Lissitzky – ‘Prounenraum’, 1923 (reconstrução de 1971). 14 http://www.tate.org.uk/research/tateresearch/tatepapers/07autumn/berndes.htm Fig. 8. Piet Mondrian – ‘Salon of Madame B., 1923. 14 Harry Holtzman – Mondrian: The Process Works. New York: Pace Editions, 1970, capa. Fig. 9. A. Rodchenko – ‘Desenho para Quiosque’, 1919. 15 http://coisasdaarquitetura.wordpress.com/2010/12/04/arquitetura-desconstrutivista/ Fig. 10. A. Rodchenko – ‘Desenho para Estação de Rádio’, 1920. 15 http://coisasdaarquitetura.wordpress.com/2010/12/04/arquitetura-desconstrutivista/ Fig. 11. Vladimir Tatlin – ‘Projecto para o Monumento da 3ª Internacional’, 1917. 15 http://arkinetblog.wordpress.com/2010/03/11/ Fig. 12. Maqueta realizada para apresentação em Petrograd e Moscovo, 1920. 15 http://www.cabinetmagazine.org/issues/28/boym2.php Fig. 13. Monumento da 3º Internacional, Paris, 1925. 15 http://www.cabinetmagazine.org/issues/28/boym2.php Fig. 14. Morris – ‘Sem título’, 1965. 18 http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=2010 Fig. 15. Morris – Vista da Geral da Green Gallery, N.Y., 1964. 18 http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=2010 Fig. 16. Morris – ‘Threadwaste’, 1968. 18 http://bestamericanart.blogspot.com/2011/06/minimalism-specific-objects-and.html Fig. 17. Carl Andre – ‘Equivalent VIII’, 1966. 18 http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?workid=508&searchid=8201&tabview=work Fig. 18. Carl Andre – ‘5x10 Altstadt Rectangle’, 1967. 18 http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/show-full/piece/ Fig. 19. Carl Andre – ‘Fall’, 1968. 18 http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/show-full/piece/ Fig. 20. Judd - ‘Untitled’, Solomon R. Guggenheim Museum, N.Y., 1971. http://glasstire.com/2003/02/02/donald-judd-the-early-work-1956-1968/ vii 19 Fig. 21. Judd - ‘Untitled’, Moderna Musset, Stockholm, 1965. 19 http://www.walkerart.org/archive/C/B37399294D4A64CD616C.htm Fig. 22. Judd - ‘Untitled’, Gian Enzo Seprone Gallery, N.Y., 1974. 19 http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online Fig. 23. Judd - ‘Untitled’, Judd Foundation Archives, 1966. 19 http://artsearch.nga.gov.au/Detail.cfm?IRN=14962&PICTAUS=True Fig. 24. Judd – ‘Untitled’, MOMA, N.Y., 1967. 19 James Meyer – Minimalism. London: Phaidon Press Limited, 2010, p. 89. Fig. 25. Judd - ‘Untitled’, T. B. Walker Foundation, 1971. 19 http://www.moma.org/collection Fig. 26. Chinati Foundation, Marfa, Texas 21 http://www.flickr.com/photos/shane_bzdok/6307407127/lightbox/ Fig. 27. Donald Judd - 15 ‘Works in Concrete’, 1980-84. 21 http://www.apartmenttherapy.com/escape-to-marfa-29618 Fig. 28. Detalhe de15 Concrete Works. 21 http://www.apartmenttherapy.com/donald-judds-minimal-style-fur-111723 Fig. 29. Pormenor desenhado por Donald Judd. 21 http://articles.sfgate.com/2005-11-20/living/ Fig. 30. Donald Judd– ‘Utitled’, 1976. 21 http://www.chinati.org/visit/collection/juddalummore.php Fig. 31. Donald Judd - 100 ‘Untitled Works in Mill Aluminum’,1982-1986. 21 http://www.diaart.org/exhibitions/main/42 Fig. 32. Serra – ‘Spalshing’, 1968 no Leo Castelli Warehouse, N. Y. 22 http://sites.duke.edu/artsvis54_01_f2010/2010/11/05/process-art/ Fig. 33. Serra – ‘Gutter Corner Splash: Night Shift’, 1969 no Jasper Johns' Studio. 22 http://www.tate.org.uk/research/tateresearch/tatepapers/07spring/saletnik.htm Fig. 34. Idem no SFMoMA, San Francisco, 1995. 22 http://www.flickriver.com/photos/tags/ernstfuchs/ Fig. 35. Mel Bochner - ‘Mesurments’, 1969. 23 http://sunkyungoh.wordpress.com/2010/12/27/mel-bochner/ Fig. 36. Detalhe de ‘Mesurments’, 1969. 23 http://radicalart.info/concept/tautology/index.html Fig. 37. Sol LeWitt - Detalhe de ‘Drawing Series—Composite, Part #1–24, B’, 1969. 23 http://www.diaart.org/img/press/_l/LeWitt-wall-drawings_l.jpg Fig. 38. Lawrence Weiner - Série 36" x 36", Kunsthalle Bern, 1969. 23 http://www.artnet.com/magazineus/news/ntm/ntm4-1-08.asp Fig. 39. Idem. 23 http://radicalart.info/concept/weiner/ Fig. 40. Gordon Matta-Clark – ‘Conical Intersect’, 1975. 23 http://www.e-flux.com/announcements/gordon-matta-clark/ Fig. 41. Gordon Matta-Clark – ‘Splitting’, 1974. 23 www.theartnewspaper.com/articles/Long-loan-makes-Barcelona-a-MattaClark-centre/ viii Fig. 42. Fernanda Fragateiro - ‘Gavetas Duplas’, 2002. 26 http://www.galerialeme.com/exposicoes_textos.php?lang=ing&id=134 Fig. 43. Fernanda Fragateiro - 'Pequenas Transgressões num Edifício' #2, 2008. 26 http://www.galerialeme.com/exposicoes_textos.php?lang=ing&id=134 Fig. 44. Fernanda Fragateiro - ‘Caixa (desmontagem)’ #6, 2009. 26 http://www.galerialeme.com/exposicoes_textos.php?lang=ing&id=134 Fig. 45. Fernanda Fragateiro - ‘Expectativa de uma Paisagem de Acontecimentos’ #4, 2009. 26 http://www.galerialeme.com/exposicoes_textos.php?lang=ing&id=134 Fig. 46. Fernanda Fragateiro – Vista geral da Exposição. 26 http://www.galerialeme.com/exposicoes_textos.php?lang=ing&id=134 Fig. 47. Robert Morris - 'Bodyspacemotionthings', 1971. 28 http://www.guardian.co.uk/artanddesign/gallery/2009/apr/06/ Fig. 48. 'Bodyspacemotionthings', 1971 de Robert Morris, Tate Modern, Londres, 2009. 28 http://www.guardian.co.uk/artanddesign/gallery/2009/apr/06/ Fig. 49. 'Bodyspacemotionthings', no Museu de Serralves, Porto, 2011. 28 http://www.serralves.pt/actividade/detalhe.php?id=1992 Fig. 50. Vito Acconci - 'Instant House' da série 'Self-erecting architecture', 1980. 28 http://web.mit.edu/newsoffice/2005/techtalk50-3.pdf Fig. 51. Fernanda Fragateiro - Caixa para Guardar o Vazio: Maqueta, 2005. 33 Fernanda Fragateiro - Caixa para guardar o Vazio. Lisboa: Assírio & Alvim, 2007, p. 38. Fig. 52. Intervenção coreográfica dirigida por Aldara Bizarro, 2005. 33 Idem, pp. 14-17. Fig. 53. Fernanda Fragateiro – ‘Caixa para Guardar o Vazio’, 2005. 33 Idem, pp. 56-59. Fig. 54. Daniel Buren - 'Sandwich Men', Paris, 1968. 34 http://catalogue.danielburen.com/fr/expositions/ Fig. 55. Daniel Buren - 'Peinture-Sculpture', Guggenheim N.Y., 1971. 35 http://www.artnet.com/magazine/news/ntm5/ntm3-1-05.asp Fig. 56. Daniel Buren - 'Within and Beyond the Frame', John Weber Gallery, N.Y., 1973. 35 http://catalogue.danielburen.com/fr/expositions/ Fig. 57. Rachel Whiteread - Parts 1-4 de House Study (Grove Road) 1992. 36 http://www.tate.org.uk/tateetc/issue20/rachelwhiteread.htm Fig. 58. Rachel Whiteread - 'House', 1993 (pré intervenção, vista frontal e lateral). 36 http://www.michaelhoppengallery.com Fig. 59. Serra - 'Tilted Arc', 1981. 37 Harriet F. Senie. – The Tilted Arc Controversy: Dangerous Precedent?. Minnesota: University of Minnesota Press, 2001, p. 13. Fig. 60. Richard Serra com 'Tilted Arc'. 37 http://www.lightstalkers.org/images/show/1257411 Fig. 61. Poster para fundo de defesa da obra de Serra, 1988. http://www.globalgallery.com/enlarge/89858/ ix 37 Fig. 62. Destruição do 'Tilted Arc', 1989 37 http://johnpowers.us/indicatorspaces/ Fig. 63. Martha Schwartz - Federal Plaza, N.Y., 1997 37 http://www.marthaschwartz.com/projects/javits_06.html Fig. 64. Projecto da MVVA para Jacob Javits Plaza, N.Y., 2009-11 38 http://www.mvvainc.com/project.php?id=15 Fig. 65. Tim Rollins e o grupo K.O.S., 1987 39 Ian Berry - Tim Rollins and K.O.S.: A History. Massachusetts: The MIT Press, 2009, capa. Fig. 66. Roberto Ramirez do gupo K.O.S), 1982. 39 Ian Berry - Tim Rollins and K.O.S.: A History. Massachusetts: The MIT Press, 2009, p. 16. Fig. 67. Tim Rollins + K.O.S. - 'Amerika-For The People of Bathgate', 1988. 39 http://www.lehman.edu/vpadvance/artgallery/publicart/artists/rollins.html Fig. 68. Tim Rollins + K.O.S. - 'Untitled', 1982-83. 39 Ian Berry - Tim Rollins and K.O.S.: A History. Massachusetts: The MIT Press, 2009, p. 17. Fig. 69. Peggy Diggs - 'Faces', 2008. 39 http://web.williams.edu/humanities/pdiggs/projects0.html# Fig. 70. Daniel J. Martinez - ‘Consequences of a Gesture’, 1993. 41 KWON, Miwon - One Place After Another. Massachusets: The MIT Press, 2002, p.129. Fig. 71. Iñigo Manglano-Ovalle - 'Tele-Vecindario', 1993. 42 Idem, p. 133. Fig. 72. Haha – ‘Flood’, 1992-95 42 http://www.hahahaha.org/projFlood.html Fig. 73. Urbanização 'Pantera Cor-de-Rosa' e Praça Raúl Lino pré-intervenção. 44 Fundação Caloust Gulbenkian - Lisboa Capital do Nada - Marvila 2001: criar, debater, intervir no espaço público. Marvila: Extramuros, 2002, pp. 188-191 Fig. 74. Reuniões realizadas por Fernanda Fragateiro com os habitantes do Bairro. 45 Idem, pp. 192-193. Fig. 75. Diário gráfico utilizado por Fernanda Fragateiro em Lisboa Capital do Nada. 46 Idem, pp. 196-197. Fig. 76. Praça Raúl Lino pós intervenção de Fernanda Fragateiro, 2002. 46 Idem, p. 194. Fig. 77. Mies van der Rohe - Pavilhão de Barcelona, 1929. 50 http://www.miesbcn.com/ Fig. 78. Georg Kolbe – ‘Alba’, Pavilhão de Barcelona, 1929. 50 http://www.miesbcn.com/ Fig. 79. Cartaz da Exposição This is Tomorow, 1956. 52 http://www.thisistomorrow.info/default.aspx?webPageId=1&pageNumber=36 Fig. 80. This is Tomorow - The Independent Group. 52 http://www.thisistomorrow.info/default.aspx?webPageId=1&catId=175&pageNumber=8 Fig. 81. Gerrit Rietveld - Casa Schoder, 1923-24. William J. R. Curtis – Modern Architecture, since 1900. 3ª Ed. London: Phaidon Press Limited, 1996. p. 157 x 53 Fig. 82. Theo van Doesburg - Maison d’Artiste, 1923. 53 Germano Celant – Architecture & Arts 1900/2004. 1ª Ed. Torino: Skira, 2004, p, 212. Fig. 83. Theo van Doesburg e van Eesteren - Maison Particulière, 1923. 53 Alan Colquhoun – Modern Architecture. 1ª Ed. Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 112. Fig. 84. Le Corbusier – Catedral de Notre Dame du Haut, Ronchamp, França, 1954. 54 www.archdaily.com/84988/ad-classics-ronchamp-le-corbusier/ Fig. 85. Frank Gehry – Camp Good Times, 1984-1985. 57 COBB, Henry N. – La Arquitectura da Frank Gehry. Barcelona: Gustavo Gili S.A., 1988. Fig. 86. Herzog & de Meuron – Roche Pharma 92, Basileia, 1993-2000. 57 El Croquis, nº 109/110, Madrid: El Croquis edit., 2003. pp. 24-66 Fig. 87. Rémy Zaugg – Intervenção no edifício Roche Pharma 92,1997-2000. 58 El Croquis, nº 109/110, Madrid: El Croquis edit., 2003. pp. 24-66 Fig. 88. Desenhos do arquitecto e maquete de Fernanda Fragateiro. 60 CEAI – CEAI @ EBG: Ventura Trindade Arquitectos. Matosinhos: DARCO, 2010. Fig. 89. Estação Biológica do Garducho, Mourão, 2002-2008. 61 CEAI – CEAI @ EBG: Ventura Trindade Arquitectos. Matosinhos: DARCO, 2010. Fig. 90. Vista geral, imagens do exterior e interior da Estação Biológica do Garducho. 62 Mourão, 2002-2008. CEAI – CEAI @ EBG: Ventura Trindade Arquitectos. Matosinhos: DARCO, 2010 Fig. 91. Intervenções de Fernanda Fragateiro na Estação Biológica do Garducho. 63 CEAI – CEAI @ EBG: Ventura Trindade Arquitectos. Matosinhos: DARCO, 2010. Fig. 92. Alexander Calder - Flamingo, Chicago, 1974. 67 Barbaralee Diamonstein - Collaboration: Artists & Architects. New York: Whitney Library of Design, 1981, p. 80. Fig. 93. Pablo Picasso - Escultura para o Chicago Civic Center, Illinois, 1967. 67 Idem, p. 67. Fig. 94. Jean Dubuffet - Group of Trees, Chase Manhattan Plaza, NY, 1972. 67 Idem, p. 71. Fig. 95. Obras na Subestação Elétrica Viewland/Hoffman, da Hobbs/Fukui Associates,1979. 73 http://sirisartinventories.si.edu/ipac20/ Fig. 96. Cesar Pelli – Battery Park City Plaza, N.Y., 1982-1989. 74 http://www.mpfp.com/projects/urban_spaces/battery_park_city/ Fig. 97. Sir. Joseph Paxton - Palácio de Cristal, Londres, 1851. 76 http://architeoriahistoriaaa.blogspot.com/p/andando-por-ai.html Fig. 98. Gustave Eiffel - Torre Eiffel, Paris, 1889. 76 http://thiagof-amorim.blogspot.com/2010/05/torre-eiffel.html Fig. 99. André Waterkeyn - Atomiun, Bruxelas, 1958. 76 http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Atomium_WA_1958.jpg Fig. 100. Marcos Pantaleón - Ponte da Barqueta, Sevilha, 1989. 76 http://www.flickriver.com/photos/harry_nl/3291479384/ Fig. 101. Maquete em gesso realizada por Fernanda Fragateiro. António de Campos Rosado - Co-laborações: Arquitectos/Artistas. Lisboa: Parque Expo'98, 2000, p. 117. xi 82 Fig. 102. Jardim das Ondas - Planta de modelação e Corte transversal do terreno. 82 Idem, p. 116. Fig. 103. Jardim das Ondas - Imagem geral da construção/modelação do terreno. 82 Idem, pp. 108-109. Fig. 104. Jardim das Ondas - Revestimento, forma e apropriação do espaço. 83 Idem, pp. 112-113. Fig. 105. Jardim das Ondas, vista Este. 83 http://europaconcorsi.com/projects/143650-Jardim-das-Ondas Fig. 106. Jardim das Ondas, vista Sul 83 http://gracieth-sales.eujafui.com.br/foto/44359/#lp Fig. 107. Jardim das Ondas, vista Norte. 83 http://vasverde.blogspot.com/ Fig. 108. Risco - Plano de Promenor do Cacém: planta de encarnados e amarelos. 98 http://www.risco.org/pt/02_04_cacem.html Fig. 109. Esboço realizado pelo atelier RISCO para o P.P. do Cacém. 98 http://www.risco.org/pt/02_04_cacem.html Fig. 110 Imagens dos diferentes espaços e atravessamentos do Parque Linear. 100 Imagens da autora. Fig. 111. NPK - Parque Linear da Ribeira das Jardas: Plano geral. 101 http://idd.fba.up.pt/roadtowonderland/ Fig. 112. Zona de intervenção da obra de Fernanda Fragateiro no Cacém. 101 http://www.risco.org/pt/02_04_cacem.html Fig. 113. Maquete de estudo da obra Jardim nas Margens feita em barro. 102 Imagens retiradas do filme Lugares Perfeitos, 2003 do realizador Luís Alves Matos. Fig. 114. Maquete final da obra Jardim nas Margens realizada em gesso. 102 Junho das Artes – Óbidos Arte Contemporânea: JÁ 10. Óbidos: C.M., D.L., 2010, p. 29. Fig. 115. Fernanda Fragateiro - Jardim nas Margens: Imagem geral. 103 http://www.risco.org/pt/02_04_cacem.html Fig. 116. Fernanda Fragateiro - Jardim nas Margens: Pormenores. Imagens da autora. xii 104 BIOGRAFIA DE FERNANDA FRAGATEIRO: Fernanda Fragateiro nasceu no Montijo em 1962. Estudou na Escola Superior de Belas Arte e no Ar.Co. onde ingressou em cursos de ilustração e escultura. Nos anos 80 passou por Chicago, interessando-se pela “Arte Povera“ e pelo processo artístico enquanto laboratório e processo. Foi ainda nos Estados Unidos que ficou a conhecer as obras de Donald Judd, Carl André, Gordon Matta-Clark, Vito Acconti, Mary Miss, Dan Graham, Joseph Beuys, Richard Serra, Agnes Martin, Lygia Clark e a do arquitecto Mies van der Rohe, o que foi determinante para a sua formação. Em meados dos anos 80 começa a expor em Lisboa, cidade onde vide e trabalha. O seu trabalho de características multifacetadas tem-se revelado em diversos projectos de instalação, cenografia, ilustração e escultura, alguns dos quais resultaram de colaborações com outros artistas plásticos, arquitectos, arquitectos paisagistas e performers. A sua obra está representada em diversas colecções públicas e privadas, entre as quais o Museu de Arte Contemporânea de Serralves e o Museu Nacional Centro Reina Sofía. INTRODUÇÃO: JUSTIFICAÇÃO DO TEMA: “A qualidade arquitectónica (...) não significa aparecer nos guias arquitectónicos, na história da arquitectura ou ser publicado. Qualidade arquitectónica só pode significar que sou tocado por uma obra.” 1 A presente dissertação foi realizada no âmbito do Mestrado Integrado em Arquitectura, do Instituto Superior Técnico. O tema surgiu da leitura do livro de Peter Zumthor, "Atmospheres", onde o arquitecto fala da importância da sua obra transmitir algo mais, algo para além do desempenho da sua função, algo especial que seja sentido por qualquer utilizador, através dos materiais e do desenho do espaço, e que introduza uma nova atmosfera, um ambiente que transforme quem entra, que marque quem o sinta. Numa abordagem conscientemente distinta, mas que serviu, como contraponto, surge “Delirious New York” de Rem Koolhaas, como proposta visionária, mas ainda representativa de uma época onde é notória a existência de uma crescente contradição entre a instabilidade da metrópole e a perenidade da arquitectura. Numa fase inicial da presente dissertação, esta dualidade apontou para uma valorização da aproximação da arquitectura à arte, proposta por Zumthor. A cidade está cada vez mais rápida, mais instável, mais impessoal, mais caótica; como futura arquitecta, os meus ideais vão de encontro a uma arquitectura que volte a olhar para o Homem e que, variando nas suas formas, seja vivida e experimentada como uma obra de arte contemporânea, tal como afirmou Le Corbusier: “You employ stone, wood and concrete, and with these materials you build houses and palaces; that is construction. Ingenuity at work. But suddenly you touch my heart, and do me good. I am happy and I say: ‘This is beautiful’. That is architecture. Art enters in.” 2 Embora não seja consensual entre muitos autores, a arquitectura trabalha numa contínua irresolução, num dilema constante entre prática utilitária e disciplina criativa, entre a técnica e a estética; na citação acima, Le Corbusier situa-a num espaço intermédio entre o que considera construção e o que considera arte. Deste modo, pretende-se explorar a forma como a arquitectura atinge, ou pode atingir, o seu exponente máximo quando toca os limites da arte, quando transmite emoção, quando convoca uma relação ou se transforma frente a um observador, dando espaço a um ambiente para ser experimentado e não apenas utilizado, destacando-se a importância deste tipo de visão arquitectónica na sociedade contemporânea. 1 2 Peter Zumthor – Atmospheres. Amadora: Editorial Gustavo Gili, SA, 2005, p. 11. Le Corbusier – Towards a New Architecture. 13ª Edição. London: Architectural Press, 1989, p.153. 1 A constatação de que alguns dos arquitectos de referência apresentam uma enorme afinidade com a arte, que varia entre os que se consideram também artistas ou à utilização da arte como laboratório criativo, os que integram obras de arte para complemento do projecto e finalmente, aos que efectivamente colaboram e envolvem artistas do início até ao final da construção do projecto. Esta última via, embora de difícil materialização, produz, os resultados mais completos e fascinantes e é nesta mesma interacção, entre artistas e arquitectos, numa relação que representa a contemporaneidade, tanto das novas práticas arquitectónicas como das artísticas, que se centrará a presente dissertação. O conceito de colaboração suscitado a discussão da relação entre a arte e a arquitectura, nos últimos 30 anos. A actualidade do tema e sua importância para o futuro de ambas as áreas é visível nas diversas exposições realizadas sobre o tema. No contexto nacional realizaram-se, por exemplo, em 2000, a exposição “Co-laborações: Arquitectos/Artistas”, comissariada por Elba Benitez e Luís Enguita, na qual é exposta a colaboração de Fernanda Fragateiro com o arquitecto paisagista João Gomes da Silva para o Jardim das Ondas e, em 2012, no Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado, em Lisboa, inserida no programa da Trienal de Lisboa, realizou-se a exposição “Falemos de Casas: Quando a arte fala arquitectura", comissariada por Delfim Sardo. A nível internacional, para além das exposições, referem-se os colóquios realizados em 1997, na Royal Academy of Arts, em Londres, com o tema “Art and Architecture”, que tiveram como pontos de discussão temáticas imprescindíveis ao entendimento deste conceito, como: “Transgressions: Crossing the lines of Art and Architecture”, “Frames of Mind” e “Fused”, discutidas em mesas redondas por artistas, arquitectos e teóricos. Importa ainda referir o ciclo de seminários realizados na 27ª Bienal de S. Paulo, em 2006, sobre o tema “Como viver junto” e o tema da 12ª Exposição Internacional de Arquitectura, na Bienal de Veneza, em 2010: “People meet architecture”. Apoiados neste interesse renovado pelas colaborações e possibilidades da relação entre a arte e arquitectura, têm também surgido uma série de autores, que incidem especificamente sobre o tema e exploram o conceito colaborativo. Referem-se assim, “Frontiers: Artists and Architects” de Maggie Toy, “Interdisciplinary Architecture: Art/Architecture/Landscape: Intersections” de Nicolleta Trasi, “Arte e Arquitectura: Novas Afinidades” de Julia SchultzDornburg, “One Place After Another” de Miwon Kwon, “Mapping de Terrain: New Genre Public Art” de Suzanne Lacy, e “Frames of Mind: Artists and Architects”, de Jes Fernie, entre outros; todos eles referem esta nova tendência de trabalho conjunto e processo partilhado entre artistas e arquitectos. O tema “Arte e Arquitectura: Fronteiras e Situações de Contacto” surge como oportunidade de explorar as várias mutações que ambas as disciplinas sofreram ao longo dos tempos; os seus encontros e reencontros e a forma como, no seio das suas histórias individuais, das suas diferenças e semelhanças, dos seus estigmas e imagens pré-concebidas, pode resultar uma colaboração plena e benéfica para ambas as partes, e acima de tudo, para a sociedade. 2 De grande influência na escolha do objecto de estudo está o trabalho da artista Fernanda Fragateiro. Desde a conferência dada pela artista na VI Semana da Arquitectura do Instituto Superior Técnico, a 16 de Abril de 2007, que tenho desenvolvido interesse e um enorme fascínio pela sua obra: pela variedade de plataformas nas quais realiza o seu trabalho, pelas obras que evocam uma arquitectura plena, pelo seu envolvimento a nível social e pelas distintas colaborações realizadas com arquitectos e arquitectos paisagistas. OBJECTIVOS: A presente dissertação visa um entendimento desta eterna cumplicidade entre a arte e a arquitectura, que vai muito para além de simultaneidades estéticas ou interesses particulares de alguns artistas e arquitectos e também dos benefícios imensuráveis que o trabalho colaborativo trouxe e pode vir a trazer, no futuro, para ambas as áreas. Os objectivos da presente dissertação são, assim, os seguintes: - Investigar o que a arte no séc. XXI pode oferecer à arquitectura, quais os métodos e plataformas de actuação contemporâneos e como a evolução da arte, a partir de meados do séc. XX, num sentido convergente à arquitectura, promoveu a reaproximação entre ambas as disciplinas. - Explorar as consequências da actual tendência para a especificidade nesta relação interdisciplinar. - Inquirir a pertinência do diálogo interdisciplinar para a cidade actual. - Entender o que motiva a colaboração entre artistas e arquitectos e que plataformas existem para a realização das mesmas. - Averiguar como se materializam as colaborações, quais os benefícios envolvidos para ambos os intervenientes, quais as dificuldades, riscos e mais-valias presentes no processo. - Analisar, através do estudo de obras em que Fernanda Fragateiro interveio, os diferentes resultados, contextos e modo como foi levado a cabo o trabalho conjunto com arquitectos e arquitectos paisagistas. 3 METODOLOGIA E ESTRUTURA: A metodologia utilizada foi sendo descoberta à medida que se foi reunindo informação sobre os temas gerais e investigando a obra de Fernanda Fragateiro, no seu conjunto. A pesquisa sobre o tema mostrou-se, ao longo da investigação, ilimitada. Os temas referentes especificamente às colaborações, ainda escassos e os conceitos que ao mesmo surgem interligados ou que o tentam definir são frequentemente de elevada abertura e ambiguidade. A resposta à dispersão do tema surge, não da pesquisa geral, mas na obra de Fernanda Fragateiro e da leitura crítica das múltiplas referências identificadas na mesma. Através deste recentrar do tema, foi possível limitar as referências e as obras analisadas, pela sua pertinência na discussão da obra de Fernanda Fragateiro e, num âmbito geral, para a temática das colaborações. Partindo de uma selecção das obras da artista que melhor se enquadravam no estudo das suas colaborações, no âmbito da arquitectura, procedeu-se à reunião da pesquisa já efectuada, pelos temas gerais que contextualizam as obras que se pretendem explorar. As obras seleccionadas são: Obras individuais: Exposição Invisibilidade, Galeria Leme (S. Paulo), 2009. Caixa Para Guardar o Vazio, Teatro Viriato, Viseu, 2005. O Paraíso é um Lugar Onde Nada Nunca Acontece, Lisboa Capital do Nada, 2001 Colaborações: Estação Biológica do Garducho, 2002-08 - com João Maria Ventura Trindade. Jardim das Ondas, Expo’98, 1998 – com João Gomes da Silva. Jardim nas Margens, Parque Linear da Ribeira das Jardas, Cacém, 2007 – com NPK arquitectos paisagistas associados. A análise proposta pretende realizar o cruzamento de um contexto geral e maioritariamente internacional com a obra da artista, possibilitando, assim, dar resposta a questões centrais para a compreensão da prática de Fernanda Fragateiro. A metodologia tende a evitar uma organização cronológica, privilegiando uma interpretação temática dos pontos explorados, que se considera mais interessante e eficaz para os fins pretendidos. A realização de entrevistas à artista e aos arquitectos com os quais colaborou, centradas nas suas obras e nas concepções individuais em relação à ideia de colaboração, criou uma narrativa secundária ao corpo da dissertação e justificou, de certo modo, as questões levantadas numa primeira análise, tendo também incentivado a procura de resposta a outras perguntas que, entretanto, se afiguraram pertinentes. 4 A preparação das entrevistas aos arquitectos teve em atenção, não só o projecto de arquitectura, mas igualmente a colaboração com a artista. As questões propostas incidem assim, na obra, mas tentam captar também uma perspectiva pessoal do arquitecto em relação ao tema da dissertação. De uma forma geral, as questões para as quais se procurava resposta são: - Como surgiu a colaboração com Fernanda Fragateiro no contexto do projecto? - Quais as motivações que estão na base da colaboração com a artista? - Em que estágio do projecto foi a artista envolvida ou convidada a intervir? - Qual a dinâmica colaborativa existente na fase criativa, de desenho e materialização da obra? - Qual foi o grau de colaboração existente, a nível do contributo da artista na própria arquitectura e do arquitecto em relação à obra de arte? - Que tipo de problemas ou questões surgiram no decorrer do processo? - Descrição da relação pré-existente e existente com a artista. - Que benefícios ou mais-valias surgem da colaboração com um artista, a nível do resultado final e para a prática individual de cada um? - Que referências têm, a nível nacional e internacional, de relações colaborativas entre artistas e arquitectos? - Como perspectivam o futuro deste tipo de trabalho conjunto? A entrevista realizada à artista, por outro lado, toma um modelo mais livre. As questões surgem relacionadas com as obras referidas, com a sua relação específica com a arquitectura e sobre as várias colaborações nas quais esteve ou está envolvida, assim como, sobre a relação estabelecida com os arquitectos, no decorrer do processo colaborativo. Todas as entrevistas foram fulcrais para o aprofundamento do tema e adquirem, por isso, uma enorme relevância na presente dissertação. A estrutura que decorre da metodologia adoptada obedeceu ao mesmo padrão de descoberta e reorganização progressiva. Numa fase inicial do desenvolvimento do tema, a premissa que se colocava era se a arquitectura poderia ser arte, se o arquitecto se poderia colocar no papel do artista e, por outro lado, se a arte poderia ser considerada arquitectura tendo em conta a sua escala, localização e por vezes função. Ao longo do processo de investigação, esta abordagem foi passando para um plano secundário e a temática da dissolução das fronteiras entre arte e arquitectura passou então para foco central, compreendendo os limites entre disciplinas e os momentos em que ambas se dispõem 5 a romperem as suas próprias barreiras disciplinares e colaborar para um fim comum, para um objectivo estabelecido no qual autoria e responsabilidade são partilhadas por ambos e ainda, os benefícios, enriquecimento e valorização que esta colaboração traz, para as disciplinas em questão. A estruturação sequencial dos seis capítulos, com as obras seleccionadas de Fernanda Fragateiro, visa permitir um entendimento global de uma relação que parte da aproximação da arte à arquitectura, que se inverte com a entrada da arquitectura na esfera da arte e culmina com o seu reencontro no espaço público, onde se dá a institucionalização das colaborações. No primeiro capítulo, focam-se dois momentos chave que marcaram permanentemente a arte e a arquitectura do séc. XX: as vanguardas Russas da década de 1920 e o movimento Minimalista, que se afirma na década de 1960. Ambos têm enorme influência para Fernanda Fragateiro e são visíveis na escolha e tratamento dos materiais que utiliza, na primazia pela tridimensionalidade e na forma como as suas obras se integram, reflectem e homenageiam o espaço em que se inserem. Através da investigação das obras que constituem a “Exposição Invisibilidades”, procura-se expor a forma, como o Minimalismo está na base do interesse da arte pela arquitectura e da possibilidade de contaminação. No segundo capitulo, exploram-se alguns conceitos fulcrais na obra de Fernanda Fragateiro. O corpo, a escala e a criação de ‘lugares’, são constantemente explorados pela artista e surgem interligados e de forma óbvia, na “Caixa Para Guardar o Vazio”. Esta obra revela também a relação da artista com a arquitectura. Ao assumir uma enorme curiosidade e rejeitando ao mesmo tempo, qualquer aproximação limite à prática arquitectónica, Fernanda Fragateiro condiciona, mas torna também particular, a sua forma de colaborar com arquitectos e de intervir nos mais diversos espaços. No terceiro capítulo, propõe-se inicialmente definir a contribuição que a saída dos artistas do museu para a esfera pública, onde domina a arquitectura, teve para a consciencialização dos arquitectos de que a arte começava a invadir o seu espaço de actuação e de que novas formas de relacionamento se impunham. Num mesmo contexto reflecte-se, também, sobre a forma como a arte irá absorver e actuar dentro do contexto social urbano de que agora faz parte. Através do projecto “O Paraíso é um Lugar Onde Nada Nunca Acontece” enquadra-se o trabalho de Fernanda Fragateiro na mais recente vertente da Arte Pública, nomeada por Suzanne Lacy como “new genre public art” e caracterizada pela interacção directa do artista com a comunidade que acolhe a sua obra e por uma postura mais activista sobre temas relevantes para a mesma. A importância desta obra da artista no contexto das colaborações, assenta na demonstração das principais mais-valias da colaboração com artistas, ou seja, a humanização da arquitectura e a utilização da arte, como meio veículo de aproximação à comunidade. O quarto capítulo reflecte sobre o conceito da “obra de arte total”, como fim idealizado para o processo colaborativo proposto e a forma como este conceito foi levado a cabo, ao longo da 6 história da relação entre a arte e a arquitectura. A colaboração de Fernanda Fragateiro com o arquitecto João Maria Ventura Trindade, para a Estação Biológica do Garducho, permite perceber a forma como, embora almejando a “obra de arte total”, os vários lugares que a arte ocupa na arquitectura nem sempre permitem atingir a coerência, a coesão e a interdependência características da interpretação actual deste conceito. O quinto capítulo foca o encontro da arte e da arquitectura no espaço público e os resultados de várias experiências de institucionalização e controlo das colaborações. Os programas de arte pública, para além de principais fomentadores das colaborações entre artistas e arquitectos, permitem um estudo mais factual das dinâmicas e processos colaborativos, já que, providenciam também, o registo de informação relacionada com obras colaborativas realizadas dentro de esquemas que obedecem, salvo raras excepções, ao modelo percent-for-art ou a programas de arte pública, como é o caso do “Jardim das Ondas” de Fernanda Fragateiro em colaboração com o arquitecto paisagista João Gomes da Silva. O último capítulo consiste na proposta da colaboração dentro da actual tendência para a interdisciplinaridade, como solução para a especificidade disciplinar a que se tem vindo a assistir desde o final do séc. XX. Propõe-se assim, através da reunião dos dados adquiridos ao longo da investigação dos vários programas de integração de arte na arquitectura e das colaborações realizadas por Fernanda Fragateiro, a identificação dos factores cruciais ao sucesso ou não das colaborações. O último caso de estudo apresentado, o “Jardim nas Margens” de Fernanda Fragateiro, com o arquitecto paisagista José Veludo, ilustra a complexidade deste processo e o que pode resultar quando este não é controlado, quando não existe sintonia entre artista e arquitecto ou ainda, quando a colaboração é proposta para um projecto urbano de grande dimensão e com múltiplos intervenientes. Todas as secções de capítulo são acompanhadas de uma citação relacionada ou retirada das entrevistas realizadas à artista e aos arquitectos directamente envolvidos nos casos de estudo seleccionados. A presença destes pequenos textos pretende não só introduzir a temática a explorar em cada secção, mas também dar alguns indícios das questões, que através dos caso de estudo se pretende responder. Tenta-se, assim, em paralelo, desenvolver os temas escolhidos e, ao mesmo tempo, revelar a postura de cada arquitecto em relação à temática das colaborações e da artista Fernanda Fragateiro, em relação à sua prática e ao contexto geral da dissertação. 7 FERNANDA FRAGATEIRO - contextualização: O intervalo disciplinar, no qual se situa a obra de Fernanda Fragateiro, envolve uma situação de indefinição entre a arte e a arquitectura, que é objecto de estudo nesta dissertação. 3 Designado por Jane Rendell como “The Space Between” , este espaço de comunhão entre a arte e a arquitectura surge, actualmente, como um dos campos mais profícuos da prática artística contemporânea, cada vez mais dirigida para o espaço público e para a própria arquitectura. A transição da arte para o campo ambíguo que, segundo a autora, se localiza entre a arte e a arquitectura, vem sendo realizada desde o início do séc. XX, e tem apresentado uma evolução constante até aos dias de hoje, conduzindo à diluição dos limites e definições préestabelecidas da escultura e da própria arquitectura. Neste contexto, a aproximação da arte à arquitectura constitui um tema de enorme actualidade e de desenvolvimento e exploração contínua por filósofos, teóricos, artistas e arquitectos. Embora de difícil definição, este tipo de actividade artística é de enorme interesse para a exploração da obra de Fernanda Fragateiro, já que se relaciona, nas suas intenções, preocupações formais, sociais, estéticas e, acima de tudo, na sua prática actual, com a de artistas frequentemente referidos por diversos autores como, por exemplo: Donald Judd, Carl Andre, Gordon Matta-Clark, Robert Morris, Dan Graham, Robert Smithson, Walter de Maria, entre outros. Esta prática apresenta a sua origem no despertar social e utilitário das artes, aliado a um movimento de ruptura com as instituições artísticas e um interesse renovado pela espacialidade, que culminará no encontro, por parte de alguns artistas, com a arquitectura como seu meio primordial de exploração e actuação. O tema da espacialidade marca definitivamente a progressão da arte em direcção à arquitectura e por isso terá especial 4 destaque na introdução da teoria de David Summers, em Real Spaces . De modo a introduzir a obra da artista Fernanda Fragateiro neste contexto, recorrer-se-á a dois conceitos que apontam para uma definição desta prática. O primeiro é introduzido por Rosalind 5 Krauss, em 1979, sob a designação de “Expanded Field” e materializa-se numa série de diagramas nos quais a autora propõe, através da negação, uma estrutura que tenta englobar, contextualizar e denominar as novas tipologias artísticas que surgiram nos anos 60 e 70 (Minimalismo, Performance, Land Art, Arte Povera, Arte Conceptual), que tendem a tornar-se indistintas da arquitectura e da paisagem. 3 Jane Rendell – “Art and Architecture: A place between.” London: I.B. Tauris & Co Ltd, 2008. David Summers – Real Space: World art history and the rise of western modernism. London: Phaidon Press, 2003. 5 Rosalind Krauss – "Sculpture in the Expanded Field." October, Vol. 8, 1979, pp. 30-44. 4 8 Fig. 1. Expanded Field - diagramas I, II e III. Um segundo conceito, que surge com enorme pertinência, é explorado por Jane Rendell como 6 “Critical Spatial Practice” . O termo, utilizado pela autora, constitui uma forma mais assertiva de denominar a arte pública no seu envolvimento com a arquitectura, englobando tanto a possibilidade da arte apresentar uma postura crítica sobre os procedimentos disciplinares e ideologias dominantes na arte e na arquitectura, como uma postura activa em relação aos mais amplos problemas sociais e políticos. No início da demonstração da sua teoria de “Expanded Field”, Krauss começa por explicar que a escultura do Pós-Segunda Guerra, na qual nos iremos focar, não pode ser definida de forma 7 universal, mas que o seu entendimento e definição dependem de uma perspectiva historicista . Explica também que a relação histórica serve de certo modo, como atenuante do novo, do desconhecido, indicando a existência de um relativo conforto no estabelecimento de relações ou afinidades entre o que nos é estranho e o que, ao pertencer ao passado, se torna de certo modo reconhecível. 8 Nicoletta Trasi reforça, no seu artigo “Interdisciplinary Architecture”, que somente através da resolução do confronto entre arquitectura e artes visuais se poderá começar a imaginar novos desenvolvimentos na relação entre ambas as áreas, e que esse confronto só pode ser resolvido ao deixar de ignorar e menosprezar a sua dimensão histórica. 9 Deste modo, Krauss exemplifica como, com nascimento da escultura minimalista dos anos 60, críticos e teóricos rapidamente iniciaram a construção de uma série de ligações de ‘paternidade’ que legitimavam uma forma artística que contestaria as definições clássicas e práticas comuns das áreas da pintura, escultura, musica e teatro. Indicando as suas origens 6 Jane Rendell – Art and Architecture: A place between. London: I.B.Tauris & Co Ltd, 2008, pp. 3-6. Rosalind Krauss– op. cit., p. 33. 8 Idem, p. 30. 9 Nicolleta Trasi – Interdisciplinary Architecture. Londres: Wiley-Academy, 2001, p.12. 7 9 em nomes sonantes do movimento construtivista como Naum Gabo, Vladimir Tatlin ou El Lissitzky, e estabelecendo relações complexas, intrincadas e por vezes descontextualizadas entre o novo e o que, ao pré-existir era já aceite, criaram zonas de conforto e aceitação para os novos termos contestatários e de distanciamento das ‘regras’, dentro das quais os artistas a partir do pós-guerra actuavam. Assim sendo, ao reconhecermos na obra de Fernanda Fragateiro as múltiplas referências históricas e a relação que as suas obras apresentam com as de artistas que marcaram a frente de debate da relação da arte com a arquitectura, tentar-se-á retraçar/identificar, na evolução da arte no séc. XX, as origens de algumas das obras mais marcantes da artista. A estruturação do texto seguirá, de uma forma livre, a cronologia proposta por Defim Sardo em “Ecologia Emocional”. Neste texto sobre o percurso de Fernanda Fragateiro, o autor afirma que a obra da artista se desenvolve de forma evidente no que identifica como o ‘eixo de tradição histórica’ propondo que: “No início, interessar-lhe-ia, sobretudo, o seu carácter de pesquisa formal sobre o espaço e a arquitectura. Posteriormente, esse interesse veio a incidir sobre o centro deste núcleo de questões artísticas, ou seja, o arco que realizam entre a dimensão da corporalidade e a escala pública do espaço. Diria que mais recentemente, também sobre a vertente social da espacialidade que aqui encontra um primeiro eixo de confluência.”10 Dentro desta perspectiva, são indicados três momentos essenciais para a reflexão incidente na obra da artista, que iremos analisar: partindo da inicial pesquisa formal sobre o espaço e a arquitectura, passando pela dimensão da corporalidade e a escala do espaço público e culminando na vertente social da espacialidade. 10 Delfim Sardo – “Ecologia Emocional”, Caixa para guardar o vazio. Lisboa: Assírio & Alvim, 2007, p.36. 10 I DO ESPAÇO VIRTUAL PARA O ESPAÇO REAL 1.1. DO ESPAÇO VIRTUAL PARA O ESPAÇO REAL. “Há, de facto, muitos artistas a trabalhar com uma linguagem que é mais do âmbito da arquitectura, mas também há outros a trabalhar com linguagens que são do âmbito, por exemplo, da Filosofia; portanto, acho que os artistas têm tudo ao seu dispor! Isso é a parte interessante da minha profissão. Posso trabalhar em microprojectos ligados a um cientista ou numa paisagem imensa, que a minha forma de ver as coisas e, mesmo, os próprios resultados serão sempre muito diferentes. O que é interessante é um artista ter desafios, desafios que o façam, de repente, esquecer tudo, partir do zero e pensar: como é que eu posso pensar sobre isto que traga uma nova discussão, uma nova perspectiva aos outros? No meu caso, a arquitectura é um dos temas sobre o qual me questiono e que me desperta curiosidade, mas é também um, entre outros que me interessam, e podem sempre surgir mais.” Excerto da entrevista realizada a Fernanda Fragateiro. 1.1. DO ESPAÇO VIRTUAL AO ESPAÇO REAL No final do séc. XIX e como consequência directa do aparecimento da fotografia e da imagem em movimento na cena artística, as grandes revelações na arte irão centrar-se na questão da imagem. No entanto, nas primeiras décadas do séc. XX, o interesse pela tridimensionalidade e a busca pela representação da quarta dimensão, darão aso a que a exploração espacial se torne na principal temática artista do mesmo século. Esta transição entre dimensões teve um enorme impacto, principalmente para a escultura, mas é também essencial para a contextualização das novas relações entre a arte e a arquitectura. Segundo autores como David Summers, a pesquisa espacial constitui o primeiro passo a caminho da aproximação e dissolução das barreiras anteriormente assumidas entre as duas disciplinas em questão. Summers define as artes segundo a sua plataforma espacial, sugerindo na sua obra “Real Spaces” os conceitos de espaço real – onde insere a arquitectura, a escultura e o design – e de espaço virtual – onde localiza as artes que surgem da representação bidimensional do real, fiel através da fotografia, por exemplo, ou através do imaginário do artista como a pintura, o desenho, ou a serigrafia. Mais especificamente, a escultura e o design têm por base a exploração do espaço pessoal e a arquitectura actua, por sua vez, no espaço social. 11 Numa espécie de ‘matrioska’, a estrutura espacial das artes parte então do real, para o social, onde se localiza a arquitectura, e envolve o espaço pessoal assim como os formatos necessários ao virtual, ou seja, as categorias condicionantes do último serão, sempre, parte do que define o seguinte e finalmente, o geral. Segundo o autor; “o espaço real é, em última instância, definido pelo corpo humano” 12 e as suas condicionantes, são então as mesmas que as do corpo em todas as suas limitações e constrangimentos. A nossa própria espacialidade real implica a ampla condição de nos encontrarmos a nós próprios no mundo, tornando o espaço real condicionado pela nossa estrutura corpórea, pela nossa finitude espácio-temporal e, acima de tudo, pela capacidade humana de se relacionar com o mundo em seu redor e de se definir somente através do mesmo. De forma simplificada, o espaço real é a condição espacial do local físico, do ambiente, do artefacto e da imagem, assim como, da maneira como foram feitos e como podem ser observados e utilizados pelo ser humano, num contexto histórico e sociocultural que define o seu estatuto e o seu valor. A relação referida entre a arte e a arquitectura, em que se pretende incidir e tal como sugerido por Summers, apresenta, a sua origem na transição da pintura (espaço virtual) para o espaço 11 12 David Summers – op. cit., p.43. Idem, p.36. Trad. Liv. 11 pessoal onde se localizava a escultura na sua forma tradicional, criando uma forma de arte que, por um lado, dilui pintura e escultura e, por outro, marca o início de uma corrente interdisciplinar entre práticas artistas que será de difícil definição para críticos e teóricos da arte do séc. XX. Um segundo passo para uma relação directa entre arte e arquitectura é dado posteriormente através da transição da escultura (espaço pessoal) para o espaço social da arquitectura. É neste culminar de todas as artes no espaço real que surgem as possibilidades não só de diálogo e relação, mas de comunhão plena entre a arte e a arquitectura. Fig. 2. Interpretação em diagrama da teoria de David Summers. Um dos primeiros passos dados no caminho da transição de uma arte clássica, estabelecida dentro dos limites do espaço virtual, para uma arte que actua no espaço real, é dado já no 13 início do séc. XX pelas vanguardas russas, 14 sendo o movimento Construtivista, 15 especificamente referenciado por Rosalind Krauss , Mary Jane Jacob , Arlene Raven e 16 Miwon Kwon , como precedente da arte pública. É salientada, pelas autoras acima referidas, a forma como estes artistas, no espaço de duas décadas e potenciados por um clima de instabilidade política e social, percorreram os passos identificados na evolução da arte até à sua vertente pública contemporânea. Sem excepção, as 13 Delfim Sardo – A Visão em Apneia: Escritos sobre Artistas. Lisboa: Babel, 2011, p. 351 Rosalind Krauss – op.cit., p.32. (Krauss explica que embora o conteúdo ou a razão por detrás do objecto final fossem totalmente díspares ou mesmo opostas, a linha de paternidade das obras minimalistas é indicada pela maioria dos historiadores é em última instância, Construtivista). 15 Mary Jane Jacob – Outside the Loop, in Culture In Action, exb. cat. Seattle: Bay Press, 1995. p. 56 “As Public Art shifts from large scale objects, to physically or conceptually site specific projects, to audience-specific concerns (works made in response to those who occupy a given site), it moved from an aesthetic function to a design function, to a social function.” 16 Miwon Kwon – One place after another. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2002, p.106. 14 12 autoras referem uma arte que transita primeiramente entre dimensões, que assimila o espaço como factor intrínseco à sua produção e percepção, que escapa para o exterior assumindo a escala pública e urbana e estabelece um diálogo profundo com a arquitectura, potenciando assim, neste novo ambiente de actuação, uma preocupação que ultrapassa a estética e se foca no utilitário e no social. A exploração espacial, mais especificamente tridimensional nas artes, é desencadeada na segunda década do séc. XX, através do experimentalismo de Vladimir Tatlin (1885-1953), em obras como ‘Corner Relief’ (1914-15) e ‘Selection of materials’ (1914) e da pesquisa da quarta dimensão cubista em obras como ‘Guitarra’ (1914) de Picasso. No entanto, de acordo com Summers, estas obras, embora livres do formato e da estrutura clássica, retêm ainda, a memória da tradição pictórica na sua escala, composição, e no facto de estarem ainda 17 suspensas . Fica, no entanto, retida nestas obras a sugestão de uma pintura tridimensional, que transcende a sua formatação base e sai dos seus moldes geométricos e pré-definidos para conquistar novas formas. Fig. 3. Tatlin – ‘Selection of Materials’, 1914. Fig. 5. Tatlin - ‘Corner Counter-relief’, 1914. Fig. 4. Tatlin – ‘Complex Corner-relief’, 1915. Fig. 6.Picasso – ‘Guitarra’, 1914. A mais coerente transição da pintura, do espaço virtual para o espaço pessoal, é visível na obra Prounenraum (Espaço Proun), do artista e arquitecto El Lissitzky (1890-1941), exposta em 1923 na Grosse Berliner Kunstausstellung. Nesta obra, a arquitectura não serve somente de suporte, mas é parte integrante da obra, não existindo elementos independentes, o espaço constitui uma obra de arte coesa e interdependente nos seus volumes e planos, a espacialidade da sala apropriada pelo artista constitui-se como elemento entre os vários que no conjunto formam o espaço ‘Proun’. O ‘cubo branco modernista’ perde assim, a sua esterilidade para se transformar num ambiente interactivo, activado pelo espectador. Segundo El Lissitzky, “O Proun começa no plano, avança para o modelo espacial e dai para a construção de todos os objectos da vida em geral. Sob este ponto de vista, o Proun ultrapassa a pintura e os seus artistas por um lado, e a máquina e o engenheiro, por outro. Estrutura o espaço, fragmentando17 David Summers – op.cit., p.638. 13 o com elementos de todas as dimensões, e constrói uma nova e versátil figura da natureza que é, no entanto, uniforme.” 18 Este tipo de abordagem foi também partilhado por Piet Modrian ao projectar, em 1926, o Salão de Madame B, em Dresden, apenas executado já em 1970, após a sua morte em 1944. Este projecto surge directamente ligado ao artista anteriormente referido, já que foi o próprio El Lissitzky e sua mulher que sugeriram e mediaram o convite a Piet Mondrian para a execução desta sala no interior da casa de Ida Bienert. 19 Fig. 7. El Lissitzky – ‘Prounenraum’, 1923 (reconstrução de 1971). Fig. 8. Piet Mondrian – ‘Salon of Madame B., 1923. A transição do espaço pessoal para o espaço social, que culmina, em última instância, numa arte que actua no espaço real, tem como factor essencial, um fascínio pela tridimensionalidade e pela actuação directa da arte na sociedade e como resultado, a criação de elementos de escala cada vez mais ambiciosa. Aliando a dimensão a uma funcionalidade intrínseca, estas obras acabariam por se afirmar na sua afinidade com a arquitectura: “the constructivist function 20 is synonymous with architecture” . Exemplos disso são os inúmeros quiosques criados por artistas como Aleksandr Rodchenko e, talvez o maior símbolo do movimento Construtivista: o Monumento à III Internacional de Vladimir Tatlin, de 1919, que segundo Giulio Carlo Argan: “contém todas as premissas do Construtivismo. Indistinção das artes: é arquitectura, estrutura 18 K. Ruhrberg - Arte do século XX, Vol. II. Lisboa: Taschen, 2005, p.449. “In the early 1920’s, she (Madame Ida Bienert) became friendly with El Lissitzky; and it was apparently upon the advice of his future wife, Sophie Küppers, that Bienert first acquired work by Mondrian. Küppers herself had organized Mondrian’s show at Kühl and Kühn, and it was shortly after this, again through her mediation and that of Lissitzky, that Mondrian was invited to redesign the room in Bienert’s home in Plauen, a suburb of Dresden.” Nancy J. Toy – “Mondrian’s Design for the Salon Madame B…, à Dresden”. The Art Bulletin, Vol.62, Nº 4, Dec. 1980, pp.640-647, Disponível em: http://www.jstor.org/pss/3050061 20 Stephen Bann - The Tradition of Construtivism. New York: Da Capo, 1974. p. 122. 19 14 provisória, escultura construtivista em escala gigantesca; funcionalidade técnica e sistema de comunicação; expressividade simbólica do dinamismo ascendente da espiral inclinada (…).” 21 Fig. 9. A. Rodchenko – ‘Desenho para Quiosque’, 1919. Fig. 10. A. Rodchenko – ‘Desenho para Estação de Rádio’, 1920. Fig. 11. Vladimir Tatlin – ‘Projecto para o Monumento da 3ª Internacional’, 1917. Fig. 12. Maqueta realizada para apresentação em Petrograd e Moscovo, 1920. Fig. 13. Apresentação da maqueta do Monumento da 3º Internacional, na Feira Internacional da Industria Moderna e Artes Decorativas em Paris, 1925. Conscientes do impacto da arte na sociedade, estes artistas acabam por entrar no espaço real de uma forma objectiva e com o único propósito de espalharem a sua mensagem, seja política ou ideológica. As barreiras entre arte e arquitectura foram dissolvidas de uma forma permanente e evolutiva, promovendo assim a aproximação da arte à arquitectura, que será a base do grupo Holandês De Stijl e da Escola Alemã da Bauhaus. Este assimilar da arte em relação à arquitectura, como modelo analítico e formal, irá estabelecer uma relação natural e recíproca entre as duas disciplinas, contrariando, deste modo, a sugestão de William Morris (por volta de 1850) e de Walter Gropius (na criação da Bauhaus em 1919), de uma arquitectura que absorve todas as artes. O séc. XX irá estabelecer, assim, a partir da década de 20 e envolvendo mais tarde, os novos experimentalismos artísticos do período Pós-Segunda Guerra, uma relação horizontal, equilibrada, dinâmica, uma contaminação recíproca e de profícuo dialogo entre a arquitectura e as artes plásticas. 21 Giulio Carlo Aragan – Arte Moderna: Do Ilusionismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo: Companhia das Letras,1992. p. 284. 15 1.2. O MINIMALISMO E O ESPAÇO NA ARTE. “As exposições que mais aproximaram o meu trabalho da arquitectura foram: A minha primeira exposição, chamada ‘Instalação’, em 1987, foi na Galeria Monumental, do artista Miguel Sampaio. Quando me convidam a expor na Galeria Monumental, o que me interessa não é o espaço da galeria, não tinha nada para dizer ali, interessa-me muito mais o espaço que está atrás da galeria, entre a primeira sala, onde eu era suposto expor, e o pátio. Esta sala interessa-me porque servia de atelier para os artistas mas estava em muito más condições, estava muito estragada. (…) Uma das peças, por exemplo, era uma parede inteira que fazia a ligação entre dois espaços de atelier, as restantes são também, peças de reconstrução do espaço. Este primeiro gesto, que surge de uma forma muito inconsciente, acaba por ter consequências permanentes para a galeria, (…) quando a minha exposição sai de lá o espaço ganha melhores condições, aliás, ainda hoje essa sala, em conjunto com a sala principal e o pátio, é utilizada como uma grande galeria. Mais do que as peças que fiz e que estão documentadas foi o gesto de, de repente, abrir aquilo tudo que mais me marcou. A segunda exposição tem também a ver com esse gesto e acontece em 1990, na Faculdade de Ciências, na Sala Sul. Na altura, andava a fotografar imenso a cidade, sobretudo esta zona do Chiado que tinha sido alvo de incêndio. (…) Essa vida extremamente violenta, mas muitíssimo poética da construção e da ruina sempre me interessou muito. (…) Consegui que me cedessem uma sala durante três meses e fiz uma exposição com uma série de peças efémeras, umas casas em madeira e gesso em posições instáveis. No entanto, mais uma vez, o que interessa neste projecto é que, depois de eu ter lá feito a exposição, aquele espaço ficou aberto até hoje. Portanto esses dois projectos, que são os projectos que iniciam o meu trabalho, são também fundadores daquilo que, depois, será o meu caminho como artista. Continuo a partir desse gesto de abrir um espaço novo. Excerto da entrevista realizada a Fernanda Fragateiro. 1.2. O MINIMALISMO E O ESPAÇO NA ARTE. “Se pensarmos um pouco a respeito, o facto de o espaço, o vazio, ser o protagonista da arquitectura é, no fundo, natural, porque a arquitectura não é apenas arte nem só imagem de vida histórica ou de vida vivida por nós e pelos outros, é também, e sobretudo, o ambiente, a cena onde vivemos a nossa vida.” 22 O espaço, segundo Zevi, foi sempre uma entidade directamente relacionada com a arquitectura. Sem o estabelecimento de limites normalmente definidos por um arquitecto, sem um contentor, sem algo que o encere, o espaço é na realidade invisível, incomensurável, infinito. Delimitado o espaço, e para um melhor entendimento do mesmo neste capitulo, iremos distinguir, segundo Henrique Muga, os quatro tipos ou níveis de espaço por ele propostos: “o espaço físico, o espaço perceptivo e o espaço cognitivo” inserindo ainda numa categoria 23 própria, o espaço arquitectónico . Sumariamente: Espaço físico: é definido pelo sistema cartesiano, traduzido em coordenadas, podendo 24 também ser descrito quantitativamente, e constitui uma “entidade exterior ao indivíduo” . É espaço para ser ocupado por massas, delimitado pela sua inclusão ou exclusão em volumes fechados, atravessados por aberturas e volumes vazios, é nele também, que num primeiro olhar analítico, se estabelece a base de dados inicial e essencial a qualquer acção de transformação do mesmo. O espaço físico contém em si a possibilidade de objectificação e definição das suas características físicas. Espaço perceptivo: é a experiência imediata que acompanha a utilização do espaço físico; segundo o autor, este espaço contém em si tanto a dimensão física (do objecto), como a social (das pessoas que o habitam). Segundo Merleau-Ponty, autor de “Fenomenologia e Percepção”, “o espaço não é um ambiente (real ou lógico) em que as coisas se dispõem, mas o meio pelo 25 qual a posição das coisas se torna possível” . O espaço perceptivo é, então, construído a partir da experiência humana e inexistente sem a mesma, e a espacialidade somente pode ser definida através da experiência de determinado sujeito em determinada situação. Espaço cognitivo: é a “representação mental que fazemos do espaço físico, a imagem que criamos do ambiente que experienciamos directa ou indirectamente.” 26 É a configuração do espaço físico e perceptivo, interpretada pelos sentidos, processada pelo pensamento e compreendida através da inteligência e percepção individual, é, assim, a experiência do espaço que reside na memória por mais tempo podendo vir a ser alterada ou a distanciar-se da realidade vivida por consecutivas experiências físicas e sensoriais. 22 Bruno Zevi – Saber ver a arquitectura. 5ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p.28. Henrique Muga – Psicologia da Arquitectura. Canelas, VNG: Edições Galivro, 2006, p. 59. 24 Idem. 25 M. Merleau-Ponty - Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 328. 26 Idem, p. 59 – 60. 23 16 Os espaços arquitectónicos e urbanos, embora distintos nas suas formulações são, sem excepção, espaços para ser habitados, experienciados nas suas múltiplas escalas pelo Homem e portanto indissociáveis das três perspectivas de espaço. Inegavelmente também, tanto a arquitectura como o urbanismo têm como ponto central à sua prática o espaço, teorizado, de forma global, por Sigfried Giedion em “Space, Time and Architecture” (1941), Bruno Zevi em “Saber ver a Arquitectura” (1948) ou Roger Scruton em “The Aesthetics of Architecture” (1979), entre outros. Num entendimento mais particular e que se insere de uma forma mais incisiva na ligação entre a arte e a arquitectura, sugere-se também a perspectiva de espaço arquitectónico de Norberg-Schultz, que o define como “expressivo, artístico, estético, e 27 a concretização de espaço existencial” . A arquitectura apresenta várias formas de encarar o espaço e, tal como na arte, o tema da pesquisa espacial é experimental e evolui na forma como é trabalhado pelos diferentes artistas que o tomam também central à sua prática. É no tratamento do espaço que se realça a escultura Minimalista, directamente inspirada pelas vanguardas russas, já referidas, e pelos ideais lançados por Marcel Duchamp, de que “a arte é na realidade feita pelo público, nessa relação do objecto com o espaço, por meio da exposição, 28 que lhe dá verdadeiro sentido plástico” . O espectador e o seu espaço pessoal tornam-se agora, de um modo totalmente consciente para o artista, parte integrante da obra. Segundo Miwon Kwon, “(…) the space of art was no longer perceived as a blank slate, a tabula rasa, but a real place.” 29 Entendido, ainda no início da década de 60, de uma forma bastante formal, o espaço é definido primeiramente pela aglomeração dos seus atributos físicos (tamanho, escala, textura, dimensão das paredes, tectos, divisões; luminosidade, entre outros). Numa segunda instância, o entendimento do espaço irá evoluir para uma perspectiva fenomenológica, ou de espaço perceptivo na qual, a simplicidade formal dos objectos, os materiais ou as técnicas industriais utilizadas, assim como a forma como são colocados nos espaços expositivos, activam as sensações do espectador a cada movimento em redor do objecto. Esta nova forma de pensar a arte, ambiciona a alteração da nossa percepção do próprio espaço e faz-nos reflectir sobre o nosso corpo e sobre a nossa espacialidade perante estes objectos. Podem observar-se como características comuns a este tipo de arte, catalogada em 1965 por 30 Richard Wollheim como Minimalista : a continuação e aprofundamento da pesquisa espacial, a primazia por uma arte tridimensional, a importância dada à essência dos materiais e a sua utilização na forma mais pura, digna, honesta, assim com, o recurso explicito a técnicas industriais que afastam qualquer ligação afectiva e referência ao artista e às suas qualidade 27 Christian Norberg-Schulz - Existencia, Espacio y Arquitectura. Barcelona: Ed. Blume, 1975, p. 33. Marcel Duchamp cit. por Juan Carlos Rico – Montaje de exposiciones: museos, arquitectura, arte. Madrid: Silex Ediciones, 1996, p.12. 29 Miwon Kwon – op. cit., p.11. 30 David Hopkins – After Modern Art: 1945-2000. Oxford: Oxford University Press, 2000, p.138. 28 17 como artesão, na criação de obras que ambicionam, não a sua admiração estética mas sim uma resposta física e interactiva por parte do espectador. “Minimal art, (…), reveals the literal space of the viewer and the viewer’s presence in this space. Placed in the center of the gallery, the Minimal work sets up a ‘theatrical’ relationship with the spectator, demanding his or her attention, much as an actor does” 31 Em “Sculpture in the Expanded Field”, 1979, Rosalind Krauss localiza neste movimento, a entrada da escultura no que intitula de “no man’s land”, categorizando assim um tipo de escultura que não se distinguia da sua envolvente – “it was what was on or in front of a buiding that was not the buiding, or what was in the landscape that was not the landscape.” 32 – dando como exemplo a instalação de Robert Morris, na Green Gallery em 1964. Fig. 14. Morris – ‘Sem título’, 1965. Fig. 15. Morris – Vista da Geral da Green Gallery, N.Y., 1964 Fig. 17. Carl Andre – ‘Equivalent VIII’, 1966. Fig. 18. Carl Andre – ‘5x10 Altstadt Rectangle’, 1967. Fig. 16. Morris – ‘Threadwaste’, 1968. Fig. 19. Carl Andre – ‘Fall’, 1968. A integração destas obras no espaço deve-se à renúncia de um tipo de escultura impositiva, comemorativa e, na maioria das vezes, figurativa, tendo a maioria, como factor comum a “perda 33 do pedestal” . Estas obras aproximam-se do público, do banal e da arquitectura, apresentando-se, conforme se pode observar nas obras de Morris, de elementos arquitectónicos indistintos dos constituintes do espaço, ou nas obras de Carl André, através do extremismo na negação do pedestal e da introdução de uma escultura horizontal e, quase 31 James Meyer – Minimalism. London: Phaidon Press Limited, 2000, p. 33. Rosalind Krauss - op. cit., p. 36. 33 Javier Maderuelo – La pérdida del pedestal. Madrid: Cuadernos el Círculo, Círculo de Bellas Artes, 1994. 32 18 plana, as suas obras confundem-se com o pavimento e integram-se profundamente na arquitectura, criando pisos diferentes e caminhos alternativos no espaço. Ao introduzir o espaço físico e perceptivo como parte integrante da obra, assiste-se a dois fenómenos distintos, que irão criar uma relação mais próxima entre arte e arquitectura: primeiro, ao trabalhar o espaço como parte integrante da obra, torna-se essencial para o artista o entendimento profundo do que o caracteriza geométrica e formalmente. Como consequência desta pesquisa, surge outro fenómeno de aproximação à arquitectura, que se materializa no final dos anos 60, numa busca por parte dos artistas de novos enquadramentos para as suas obras, dispares das salas brancas e neutras dos museus. Esta saída dos artistas para o exterior dos museus culminará na actuação da arte no Espaço Real, definido por Summers. Donald Judd reúne ambos os fenómenos referido, apresentando-se assim, como uma figura central para diluição dos limites entre a arte e a arquitectura, e como a grande referência do Movimento Minimalista. Os seus ‘Objectos Específicos’ apresentam-se como contentores do vazio, objectos neutros que absorvem o espaço e que advêm do fascínio de Judd pela arquitectura Modernista. Esta arte objectual, praticada por Judd, apresenta, como premissas, a retirada ao artista de todo o individualismo que constituía o ‘primeiro mandamento’ do Movimento Moderno, bem como toda a força, expressão pessoal e emocional dos artistas do Expressionismo Abstracto e ainda a recusa a qualquer componente política e social; tudo a favor de uma arte neutra, depurada, totalmente aberta a qualquer interpretação pessoal por parte do espectador. Fig. 20. Judd - ‘Untitled’, Moderna Musset, Stockholm, 1965. Fig. 21. Judd - ‘Untitled’, T. B. Walker Foundation, 1971. Fig. 22. Judd - ‘Untitled’, Solomon R. Guggenheim Museum, N.Y., 1971. Fig. 23. Judd - ‘Untitled’, Gian Enzo Seprone Gallery, N.Y., 1974. Fig.24. Judd - ‘Untitled’, Judd Foundation Archives, 1966. Fig. 25. Judd – ‘Untitled’, MOMA, N.Y., 1967. 19 A importância deste movimento situa-se, à semelhança das vanguardas russas, na quebra das barreiras limítrofes da arte; Suzanne Lacy afirma que “(…) with the advent of minimalism and earthworks those boundaries were extended to circumscribe the sites in which artworks were 34 made and placed” , e que é através deste alargamento do seu espaço de actuação, no final dos anos 60 e início dos anos 70, que a escultura inicia também a sua faceta “site-specific”, na qual a arquitectura ganha um papel de acrescida relevância, servindo na maioria das vezes, segundo Kwon, “como tela para a obra de arte.” 35 Através do afastamento de qualquer referência (histórica, político-social ou pessoal), da obra de arte e da passagem da componente estética para segundo plano, resta aos artistas Minimalistas, como factores decisivos na criação artística, o público, o espaço e a matéria. Assim, na transição da arte, do museu para o espaço público, Miwon Kwon refere que, para além da interpretação do espaço museológico já referida, os artistas, tomam agora também em consideração categorias espaciais como a topografia, padrões de circulação, características sazonais do clima, entre outras, numa nova forma de arte catalogada como Land Art. 36 “Site-specific work in its earliest formation, then, focused on establishing an inextricable, indivisible relationship between the work and its site, and demanded the physical presence of the viewer for the work’s completion.” 37 A obra de Donald Judd constitui um dos casos mais interessantes de contaminação recíproca entre disciplinas que advém deste tipo de arte Minimalista e que obedece ainda a uma interpretação inicial do conceito e “site-specific”. A sua arte, singularmente marcada pela arquitectura irá ser também de enorme relevância para a mesma. Autores como Stefan Beyst ou Richard Guy Wilson 39 38 colocam Judd na prática arquitectónica, comparando-o com Mies van der Rohe e dando como exponente máximo do trabalho do artista, a Chinati Foundation, em Marfa, Texas, Inaugurada em 1987, a Chinati Foundation localiza-se num rancho no Texas, comprado pelo artista em 1973 e para o qual trabalhou de 1979 até ao fim da sua vida, criando, segundo Urs 40 Peter Flueckiger: “the perfect artist’s museum” . O trabalho realizado pode ser encarado como o Espaço Proun de El Lissitzky levado ao extremo; a pequena sala do museu é substituída pelo lugar. Um lugar onde arte, arquitectura e paisagem estabelecem um diálogo profundo e demonstrativo das potencialidades da relação entre as disciplinas referidas. 34 Suzanne Lacy – Mapping the terrain: New Genre Public Art. Seattle, Washington: Bay Press, 1995, p.141. 35 Miwon Kwon – op. cit., p. 3. 36 Miwon Kwon – op. cit., p. 3. 37 Idem, p.11. 38 Stefan Beyst - Donald Judd Designs: a turning point in the history of sculpture?, July 2004, disponível em: http://d-sites.net/english/judd.htm. 39 Urs Peter Flückiger - Donald Judd : Architecture in Marfa. Berlin: Birkhauser, 2007, p. 20. 40 Idem, p.21. 20 Fig. 26. Chinati Foundation, Marfa, Texas. Fig. 27. Donald Judd - 15 ‘Works in Concrete’, 1980-84. Fig. 28. Detalhe de15 Concrete Works. Fig. 30. Donald Judd– ‘Utitled’, 1976. Fig. 29. Pormenor desenhado por Donald Judd Fig. 31. Donald Judd - 100 ‘Untitled Works in Mill Aluminum’,1982-1986. 21 A introdução de um conceito que visa estabelecer uma relação inequívoca entre o objecto e o espaço envolvente, constitui um dos maiores contributos da arte minimalista para a Arte Pública. Em obras intituladas site-specific, o espaço é peça essencial na criação e parte integrante da sua produção e posterior apreciação, tornando-se assim indissociável da obra de arte nos seus vários estágios. Esta relação de convergência entre a arte, o espaço expositivo e o ambiente, é visível nas obras de Richard Serra, ‘Splashing’ (1968) ou ‘Measurment of Time’ 41 (1969) . Fig. 32. Serra – ‘Spalshing’, 1968 no Leo Castelli Warehouse, N. Y. Fig. 33. Serra – ‘Gutter Corner Splash: Night Shift’, 1969 no Jasper Johns' Studio. Fig. 34. Idem no SFMoMA, San Francisco, 1995. Mais do que adaptadas ou realizadas em função do mesmo, tal como as referidas anteriormente, estas obras, de uma forma abrupta, reclamam para si o espaço expositivo de uma forma permanente. Tornam-se inseparáveis deste e contrariam, na sua formulação quase excessiva, as bases da escultura modernista, auto-referencial, autónoma e independente do 42 seu espaço circundante ou do local onde é colocada . Esta forma de encarar o espaço desencadeia um interesse renovado pela arquitectura, que assume diferentes formas. Numa fase inicial, os minimalistas tratavam o espaço como componente nas suas obras; obras que continham o vazio ou que, na sua semelhança a elementos arquitectónicos, se tornavam, pelo contrário, componentes do espaço. No final dos anos 60, tal como já foi referido, alguns artistas reclamam para si o espaço transformando-o de forma permanente, neste momento o espaço deixa de ser parte integrante da obra, e passa a ser a própria obra; são reflexo desta intenção obras como as de Sol LeWitt a partir de 1969, ou a obra ‘Mesurments’ (1969) de Mel Bochner. 41 Na primeira, o artista atira, chumbo líquido contra as paredes da galeria, assumindo uma relação intemporal e inquebrável entre o espaço e a obra, na segunda, barras de aço são assentes no pavimento, com o intuito de observar a reacção do material em relação às condições de humidade do local, numa medida temporal específica. 42 Segundo Miwon Kwon, p.11: “If modernist sculpture absorbed its pedestal/base to sever its connection to or express its indifference to the site, rendering itself more autonomous and self-referential, thus transportable, placeless, and nomadic, then site-specific works, as they first emerged in the wake of minimalism in the late 1960s and early 1970s, forced a dramatic reversal of this modernist paradigm.” 22 A relação com a arquitectura é crescente e intensifica-se na investida para o exterior de alguns artistas saturados das limitações dos espaços institucionais. A comparação entre a obra de Laurence Weiner, ‘36 x 39’ (1968) – na qual o artista removia pequenas porções do revestimento ou da própria parede de modo a revelar o que estava por detrás da parede neutra da galeria ou museu – com as obras de Gordon Matta-Clark – executadas no exterior desses espaços institucionais – comprova a nova dinâmica entre arte e arquitectura e um desejo por parte dos artistas de explorar esta nova possibilidade de utilizar a arquitectura como instrumento, como meio primordial de pesquisa e de suporte das suas obras. Esta nova forma de olhar para a arquitectura, criará uma ânsia por novos espaços, novos enquadramentos para as suas obras e que comprometerá indefinidamente as barreiras que separam estas duas áreas. Fig. 35. Mel Bochner - ‘Mesurments’, 1969. Fig. 36. Detalhe de ‘Mesurments’, 1969. Fig. 37. Sol LeWitte - Detalhe de ‘Drawing Series—Composite, Part I–IV, #1–24, B’, 1969. Fig. 38. Lawrence Weiner - Série 36" x 36", Kunsthalle Bern, 1969. Fig. 40. Gordon Matta-Clark – ‘Conical Intersect’, 1975. Fig. 39. Idem Fig. 41. Gordon Matta-Clark – ‘Splitting’, 1974. 23 1.3. EXPOSIÇÃO INVISIBILIDADE, GALERIA LEME, 2009. 1.3. FERNANDA FRAGATEIRO: EXPOSIÇÃO INVISIBILIDADE, GALERIA LEME, 2009 “Os pressupostos conceptuais e construtivos das intervenções escultóricas de Fernanda Fragateiro impelem a evidenciar a importância que concede aos elementos arquitectónicos, à sua geometria e volumetria e a um processo de observação e reconhecimento que implica frequentemente a deslocação do espectador pelas imediações do espaço, num trabalho individual de apreensão, memorização e ordenamento que reage às várias camadas de sugestão da obra.” 43 Fernanda Fragateiro passou, nos anos 80, um breve período nos Estados Unidos, onde “ficou a conhecer as obras de Donald Judd, Carl Andre, Gordon Matta-Clark, Vito Acconci, Mary Miss, Dan Graham, Joseph Beuys, Richard Serra, Agnes Martin, Lygia Clark e a do arquitecto Mies van der Rohe, o que foi determinante para a sua formação.” 44 As obras da artista apresentam uma relação óbvia com o espaço, já que grande parte do seu trabalho se realiza em torno da exploração do vazio, da sua contenção, representação, ou construção através do recurso a técnicas minimalistas visíveis na depuração formal, nos materiais utilizados, na forma como as suas obras são expostas, na intenção de indivisibilidade entre as obras e o espaço onde são expostas e ainda na relação que estabelece com a arquitectura. Os objectos patentes nesta exposição são realizados em aço inoxidável e alumínio polido: a escolha dos materiais deixa clara a intenção de não só nos “fazer lembrar a natureza não 45 utilitária da escultura” , ao mostrar materiais do quotidiano e de utilização industrial agora polidos e espelhados e transformados em arte, mas também de revelar o espaço arquitectónico. Segundo a artista: “É esse desaparecimento e essa ausência que me interessa quando exponho em espaços arquitectónicos fortíssimos, como é o caso da Galeria Leme ou do Mosteiro de Alcobaça. O facto de eu levar para dentro desses espaços peças em aço polido, fazia com que as peças desaparecessem, mantendo assim a integridade do espaço arquitectónico e, simultaneamente, como as peças reflectem, quer as pessoas, quer o espaço, também se tornavam receptores. Por um lado, são extremamente invisíveis e quase desaparecem e, por outro lado, têm uma multiplicidade de possibilidades de ser vistos e convocam muita coisa. O facto de ser denso e ser intenso, de ter muitas camadas e simultaneamente ser quase invisível, é uma coisa que me interessa muito.” 43 46 Ana Vasconcelos – Expectativa de uma paisagem de acontecimentos #3. Disponível em: http://www.paralelo33.com. 44 Helena Vasconcelos – “Equilibrio e Leveza: Entrevista a Fernanda Fragateiro”, Elle Magazine. Outubro, 2009, pp. 88-91. Dísponivel também em: http://www.baginski.com.pt/pages/clip/clip2.pdf. 45 Ana Vasconcelos – op. cit., p.1. 46 Excerto da entrevista realizada pela autora a Fernanda Fragateiro. 24 A aproximação destas obras a outras minimalistas referidas, é entendida na sugestão de Robert Morris: “The better new work takes relationships out of the work and makes them a function of space, light, and the viewer’s field of vision. The object is but one of the terms in the newer aesthetic. It is in some way more reflexive because one’s awareness of one-self existing in the same space as the work (…)” 47 Refere-se assim, que para além da sintese formal e material que aproxima as obras de Fernanda Fragateiro de uma prática minimalista, a artista não nega, no entanto, a possibilidade de expressão pessoal. Por trás de cada obra, existe um pensamento profundo, uma experiência pessoal reflectida ou uma ideia construida e desenvolvida ao longo do tempo que afasta todos estes objectos de um único conceito. Destaca-se, nestas obras, uma relação de enorme intimidade com a arquitectura e um desejo de fazer parte, de integrar sem hesitação o espaço arquitectónico, revelando-o, tomando-o em sua pose e partilhando-o ao mesmo tempo com o espectador. As formas simples e materiais únicos constituem “textos” para Fernanda Fragateiro. Segundo a própria: “usar um determinado tipo de material já é um texto tão forte, que o que me interessa, se calhar, é dizer numa frase aquilo que se poderia dizer num livro. A minha procura em relação aos materiais é conseguir encontrar essa frase, ou seja, encontrar um único material que contenha a densidade e a quantidade de camadas de pensamento necessária para que a obra comunique ou diga, de uma forma muito sucinta, uma quantidade de coisas que penso e que sinto.” 48 Em “Expectativa de uma paisagem de acontecimentos #4”, Fernanda Fragateiro explora também o conceito de site-specific, ao criar uma obra composta por uma grelha de 825 módulos rectangulares de alumínio polido ou madeira, totalmente articulável e adaptável ao espaço expositivo. A mesma obra pode assim aparecer suspensa, admitindo a verticalidade 49 ou, à semelhança das obras de Carl André, na versão horizontal formando uma espécie de 50 tapete pelo chão . A escolha de superfícies reflectoras, neste caso, convidam o espectador a interagir com o espaço envolvente, percepcionando a obra e a arquitectura que a contém de uma forma renovada e sensorial. É “um dispositivo portátil e reversível, em constante mudança, adaptando-se ao espaço que ocupa, de modo semelhante ao da arquitectura urbana ou da paisagem. Ocupa o espaço e, simultaneamente, é um espaço em si mesmo, tratando a área circundante como parte integral do trabalho.” 51 47 Michael Fried – Art and Objecthood. p.125 Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/22752386/MichaelFried-s-Art-and-Objecthood 48 Fernanda Fragateiro – Excerto da entrevista realizada pela autora. 49 Como é o caso da versão #2 desta obra, realizada em cortiça e exposta no Museu de Arte Contemporânea de Elvas (2007), da versão #3 já em alumínio, exposta na Igreja da Misericórdia em Silves (2009) e da intervenção no Paço dos Duques em Guimarães (2012). 50 Como é o caso da primeira versão desta série, realizada em madeira para Galeria Elba Benitez em Madrid (2006) e da que se refere nesta exposição. 51 Ana Vasconcelos – Expectativa de uma paisagem de acontecimentos #3, 2009. Disponível em: http://algravio.blogspot.com/2009_06_01_archive.html 25 Na série “Caixas” e na obra “Gavetas Duplas”, é explorada, segundo a artista, a ideia do contentor ser simultâneamente o contéudo. Mais uma vez, o material utilizado e a representação estática de objectos quotidianos, aos quais é inerente um movimento de abertura e descoberta, exemplificado através da construção dos vários momentos do mesmo, são exemplo do perfil explorativo e de uma intenção sempre presente de integrar tanto a arquitectura como o espectador nas suas obras. Fig. 42. Fernanda Fragateiro - ‘Gavetas Duplas’, 2002. Fig. 44. Fernanda Fragateiro - ‘Caixa ’ #6, 2009. Fig. 43. Fernanda Fragateiro - 'Pequenas Transgressões num Edifício' #2, 2008. Fig. 45. Fernanda Fragateiro - ‘Expectativa de uma Paisagem de Acontecimentos’ #4, 2009. Fig. 46. Exposição Invisibilidades, Galeria Leme (S. Paulo), 2009: Vista Geral. 26 II DIMENSÃO DA CORPORALIDADE E O ESPAÇO. 2.1. O CORPO, A ESCALA E O LUGAR. “Sim, eu acho que o meu trabalho tem muito a ver com o espaço e, portanto, pensa muito sobre o espaço onde está a ser incluído, mas também pensa sobre ou implica muito o espectador, todas as minhas obras têm um lado performático. Essa separação entre o pensar o espaço e quem o habita ou utiliza, às vezes existe quando se pensa muito na arquitectura, por vezes esquece-se as pessoas, o conforto, o desconforto ou o que isso provoca nas pessoas. Eu trabalho sempre nesses dois campos. (…) Lembro-me de ler uma frase do pensamento do Vito Acconci, em que acho que ele diz: se o espaço for flexível, as pessoas passam a ser flexíveis. Outra, do mesmo artista, que também tenho sempre muito presente é: se um espaço puder ser usado por um adulto da mesma forma que uma criança usa esse espaço, é porque é um espaço interessante, é um espaço que nos abre, que nos não condiciona. O que me interessa é romper com todos os condicionalismos que temos criado nas cidades, (…). Cada vez mais, temos sítios específicos para fazer coisas específicas e as pessoas já não conseguem escolher; sobretudo, gosto da ideia de que as peças sejam bastante flexíveis, que permitam muitos acontecimentos e que ultrapassem as minhas espectativas.” Excerto da entrevista realizada a Fernanda Fragateiro. 2.1. O CORPO, A ESCALA E O LUGAR. Durante a década de 60, a experiência da percepção corporal foi explorada por diversos artistas ligados ao minimalismo; os convites à participação física do espectador difundiram-se e intensificaram-se nas propostas artísticas. A apreciação da obra de arte envolvia então muito mais do que a sua simples observação: a obra era realizada para ser experimentada e por vezes, participada pela sua assistência. Se, até esse momento, eram criadas obras nas quais as características físicas do espectador possibilitavam diferentes percepções do objecto artístico, um novo conceito de arte é agora assente, na dimensão corporal. O corpo passa, assim, a ser tratado como objecto de arte e 52 material essencial na criação artística. Segundo Mary Kelly , os novos conceitos de Body Art e Performance visavam compensar as audiências pela desmaterialização praticada pelos artistas americanos no seio do movimento Minimalista. Considerando especificamente a compreensão da obra de Fernanda Fragateiro, incidir-se-á na Performance Art e no seu factor essencial e mais característico – a interdisciplinaridade: arte, escultura, arquitectura, teatro e música coligam-se de forma a criar a expectativa do corpo; tornando, o próprio artista numa obra de arte que se realiza nestes vários planos. O desafio dos limites da arte e a criação de uma linguagem interdisciplinar entram na linha dos experimentalismos pós-1960, através da introdução de novos termos e práticas como a arte Conceptual, a arte Processual, a Instalação, a Land Art e ainda, a Body Art e a Performance. É numa proposta de aproximação da arte à vida – defendida por Rauschenberg – com contornos da Arte Povera Italiana, do Construtivismo Russo e na forma como o grupo de artistas americanos, a partir de meados do séc. XX, a irá tomar como sua sob os contornos de ‘happenings’ e o experimentalismo das manifestações do grupo Fluxus, que a Performance apresenta as suas bases. Extrapolando a presença física do espectador e a sua percepção do objecto no espaço para a validação da obra como arte, proposta na crítica à teatralidade das obras minimalistas de 53 Michael Fried em “Art and Objecthood” (1998) , estas obras chamam efectivamente o corpo e o próprio espectador à acção, de uma forma totalmente consciente. A palavra ‘espectador’ perde assim, o seu sentido, no que se refere a obras que requerem a activação e participação física de um público, como na instalação interactiva de Robert Morris de 1971, ‘Bodyspacemotionthings’ onde, pela primeira vez, foi proposto ao público que interagisse fisicamente com as obras de arte, no que se relata como, a primeira exposição 52 David Hopkins – op. cit., p. 187. “Mary Kelly asserted that such apparently radical activities compensated audiences for the dematerialization being practiced elsewhere.” 53 Michael Fried – op. cit., pp. 116-147. 27 54 totalmente interactiva da Tate Gallery em Londres . A exposição foi reproduzida recentemente, em 2009, na Tate Modern, em Londres e, em 2011, esteve em Portugal, no Museu de Serralves, no Porto. Neste contexto, refere-se também, a série de trabalhos de Victo Acconci, de 1980, intitulada ‘Self-erecting Architecture Units’, na qual, o espectador era convidado a criar ou activar os espaços, segundo Tom Finkelpearl: “Quer o espectador fosse convidado a pedalar numa bicicleta que movia um cenário, ou a sentar-se num baloiço que puxava para cima paredes enquanto estas caiam no chão, as obras eram incompletas sem a partição activa do público.” 55 Para além do estabelecimento de uma relação de dependência entre espaço, obra e espectador, estas obras apresentam já um carácter lúdico, uma dimensão funcional intrínseca à sua utilização, que transforma o público não só em participante, mas em utilizador ou fruidor. Fig. 47. Robert Morris - 'Bodyspacemotionthings', 1971. Fig. 48. 'Bodyspacemotionthings', na Tate Modern, Londres, 2009. Fig. 49. 'Bodyspacemotionthings', no Museu de Serralves, Porto, 2011. Fig. 50. Vito Acconci - 'Instant House' da série 'Self-erecting architecture', 1980. 54 55 Mais informação em www.tate.org.uk/modern/eventseducation/musicperform/18331.htm Tom Finkelpearl – Dialogues in Public Art. Massachusetts: MIT Press, 2000. p.174. Trad. Liv. 28 Na Body Art, ao contrário da Performance, a exploração corporal é realizada pelo artista em relação ao seu próprio corpo, contrapondo o ideal minimalista do afastamento do artista em relação à sua obra. Estes artistas procuram, assim, expor-se, explorar os limites do seu corpo de forma por vezes chocante e propor ao espectador um questionamento, tanto as actividades mais banais do seu dia-a-dia como os temas mais polémicos e estruturantes da sociedade nos anos 70, como o feminismo, a homossexualidade ou as políticas culturais; concretizando, desta forma, uma aproximação da arte à vida, à sociedade e a um público que se desejava cada vez mais vasto. É também de realçar que artistas como Vito Acconci, Robert Morris, Claes Oldenburg, Bruce Nauman ou Scott Burton, entre outros, darão o salto da Performance Art para a Arte Pública, trabalhando a questão da escala e de um público vasto e indeterminado, na criação de obras, que nalguns casos se focam maioritariamente na função ou numa forma de diálogo social. A transição para a esfera pública, onde se localiza a arquitectura, revelou-se, pelas várias relações que estabelece com o espaço envolvente, bastante apelativa para os artistas que rejeitavam as instituições. A saída para a esfera pública, segundo Suzanne Lacy, teve como ímpeto inicial a expansão do mercado da escultura, aliado às potencialidades que o espaço exterior nas áreas urbanas oferecia como novo contexto expositivo. Este facto é encarado pelos artistas do final dos anos 60 e início dos anos 70 de uma forma bastante literal; segundo a autora, estas obras, embora assimilassem a escala do espaço público, remetiam ainda para 56 versões em grande escala de originais encontrados em museus e galerias . Miwon Kwon distingue, deste modo, a Arte Pública da ‘arte em espaços públicos’ (“art-in-public-places”) 57 , afirmando que o termo Arte Pública era utilizado, em meados da década de 70, por profissionais da Arte Pública, para descrever esculturas de grande escala que eram somente colocadas no espaço público, sem qualquer relação com a sua envolvente. E que o termo ‘arte em espaços públicos’ designava um tipo de arte que, embora obedecesse à mesma escala, integrava uma consciência activa do local onde era inserida, e que era realizada tendo já em conta o espaço que iria ocupar e as suas características arquitectónicas e sociais. No entanto, a associação deste tipo de obras ao conceito de site-specific 58 e a assimilação das novas escalas da Land Art, bem como a possibilidade de verdadeira alteração da paisagem ou ambiente urbano, iria estabilizar a Arte Pública dentro deste conceito de ‘arte em espaços públicos’. Tendo agora de se relacionar, de dialogar, de interagir com o edificado, alguns artistas focam no objecto arquitectónico a sua prática (como Rachel Whiteread, Gordon MattaClark, Dan Graham), ou operam dentro dos procedimentos arquitectónicos para a produção de obras de grandes dimensões ou obras de carácter utilitário. A transição da arte para a esfera pública acabaria por passar pela arquitectura, de modo a contrariar a indiferença ao seu local 56 Suzanne Lacy – op.cit., p. 22. Miwon Kwon – op.cit., p. 60. 58 Em 1974 para contrariar a ineficiente influência no ambiente urbano da Arte Pública a NEA começa a exigir a adopção dos princípios do site-specific na Arte Pública. Miwon Kwon, 2002, p.65 57 29 de integração, vindo o resultado final a ultrapassar a escala dos objectos, para estabelecer novas relações com a sua envolvente arquitectónica e, em última instância, social. Tendo em conta que a Arte Pública apresenta, como factor determinante para o seu 59 alargamento, a sua “condição multidisciplinar” . Torna-se necessário, para os artistas que transitaram para a esfera pública, o estabelecimento de uma relação de maior proximidade com as disciplinas que intervêm no espaço urbano. Embora a pintura, a escultura e o teatro, já se apresentassem interligadas nas formas artísticas, que emergiram nas três décadas seguintes ao pós-guerra, como por exemplo, a Performance; a Arte Pública iria introduzir, neste cruzamento, disciplinas como a arquitectura, o urbanismo, o paisagismo e o design de equipamento, na ambição de criar um novo ambiente urbano e através de uma arte acessível a todos e intimamente ligada ao local onde se insere. Esta relação com a arquitectura através da Arte Pública de carácter utilitário é assumida pelo artista Vito Acconci, que afirma: “There shouldn’t be a separate field called “public art”, there should be only architecture, only landscape architecture; there should be architecture projects, and landscape architecture projects, that everyone – including so-called artists – can apply for. “Public art” gives an artist an excuse to say: this is like architecture, but it isn’t really architecture – so it doesn’t have to observe the rules and regulations that architecture has to observe, it doesn’t have to be as functional as architecture. If the public artist were in the role of architect, there would be nothing to hide behind.” 60 A acessibilidade livre e a presença de um número elevado de espectadores da obra, é para alguns autores, como Malcom Miles e Lucy Lippard, e para artistas como Robert Morris, essencial para o conceito de Arte Pública, intrinsecamente associada à criação de ‘lugares’. 61 Esta transformação do espaço em ‘lugar’ implica, tal como Montaner afirma , a presença física do espectador, neste caso do público geral, e a alteração da percepção do mesmo, de um local do qual por vezes já continha informação em ‘lugar’ renovado que transmite uma experiência e percepção do mesmo, totalmente novas. Patricia Philipes apresenta, no entanto, uma outra perspectiva de Arte Pública: “A arte pública não é pública só porque está ao ar livre (…) é pública porque é uma manifestação de actividades e estratégias que utilizam o público como a génese e o tema a analisar. É pública por causa do género de questões que são levantadas ou 62 postas, e não pela sua acessibilidade ou número de espectadores (…) ” ; nesta afirmação, a presença física do espectador é transcendida pelo carácter social e crítico que a Arte Pública viria a assimilar a partir de 1980. 63 59 José Pedro Ragatão – Arte Pública e os novos desafios das intervenções no espaço público. 2ª Ed. Bond: Books on Demand, 2010, pp. 65-66. 60 Tom Finkelpearl – op. cit., p. 174. 61 Joseph Maria Montaner – Modernidade Superada. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2001. 62 Harriet Senie, Sally Webster – Critical Issues in Public Art: Content, Context and Controversy. Washington: Smithsonian Institution Press, 1998, pp. 297-298. 63 Idem, p. 289. 30 2.2. CAIXA PARA GUARDAR O VAZIO, 2007. 2.2. FERNANDA FRAGATEIRO: CAIXA PARA GUARDAR O VAZIO, 2005. “Caixa para Guardar o Vazio é simultaneamente construção e tempo, corpo e performance, espaço e coreografia.” 64 A importância do corpo na obra de Fernanda Fragateiro é recorrente; ao trabalhar a espacialidade o corpo serve como referencial, como medida da obra; “todas sem excepção contêm a possibilidade do corpo nelas se manifestar, isto é, contêm a possibilidade da 65 performance” ; a artista afirma que: ”Interessa-me criar lugares onde o corpo encontre 66 “inúmeras possibilidades de ser corpo” . Torna-se difícil, neste caso de estudo, não catalogar esta obra como arquitectura. Num primeiro olhar seria, de facto, uma interpretação fácil e com alguma consistência se nos basearmos na função de habitáculo e na escala desta obra. No entanto, a própria artista recusa esta ideia, com a afirmação de que a Caixa para Guardar o Vazio “não serve para aquilo que a arquitectura serve, a sua função não é da ordem da arquitectura mas talvez mais da poesia, ou seja, serve para pensar mas não serve para mais nada. (…) eu acho, que é um projecto que só 67 podia ser feito por um artista.” Fernanda Fragateiro, não ambiciona qualquer relação com a arquitectura, assume apenas, que opera por vezes, dentro de procedimentos arquitectónicos e que tem, pela arquitectura, um enorme fascínio e interesse. A ‘Caixa para Guardar o Vazio’ nasceu de um pedido do Serviço Educativo do Teatro Viriato, em Viseu, para a realização de um projecto tendo como único programa a ideia de através das crianças, comunicar com uma comunidade fechada e pouco interessada em iniciativas mais contemporâneas. Fernanda Fragateiro decidiu trabalhar sobre o espaço, sobre a descoberta do espaço, afirmando: “O que eu queria era que se começasse a pensar nisso e ainda, trazer ao de cima o tema do vazio. Estamos sempre a falar do património material e esquecemo-nos que há uma parte muito importante desse património, que é o vazio, que é o não ter nada, que é o silêncio, e discutir isso com miúdos, discutir sem palavras, parecia-me muito interessante.” 68 A peça segue o conceito das obras de Morris e de Vito Acconci atrás referidas, sendo o último uma grande referência para a artista. A obra é um objecto para ser experimentado, accionado pelo corpo, tocado, vivido, e neste caso, até habitado. De uma forma sucinta e factual, a obra materializa-se num paralelepípedo de quatro por três metros, construído em madeira, aço e uma superfície espelhada, utilizada com pavimento interior. À primeira vista fechado, oculta no seu interior, componentes móveis que, quando activados, atravessam para o exterior possibilitando a entrada e exploração de uma nova relação interior-exterior. Em toda a sua 64 Claudia Taborda – “Figuras de espaço na arquitectura de um Vazio”. Caixa para guardar o vazio. Lisboa: Assírio & Alvim, 2007, p.13. 65 Fernanda Fragateiro – Quarto a céu aberto. Lisboa: Culturgest, 2003, p. 8. 66 Helena Vasconcelos – op.cit., p. 91. 67 Fernanda Fragateiro – Entrevista realizada pela autora. 68 Idem. 31 simplicidade, apresenta, no entanto, várias formulações distintas; inicialmente fixa, imóvel e aparentemente imutável, é constituída por um volume puro, sólido e fechado, de escala próxima da arquitectura, que possibilitaria a sua habitabilidade, não fosse esta negada pelo seu hermetismo inicial, mas que, mesmo assim, “imediatamente remete à ideia primária de 69 abrigo” . Esta forma fixa perder-se-á no tempo e no espaço, num processo vivo de complexificação, no qual surgem uma multiplicidade de volumetrias originárias do primeiro objecto e das suas várias superfícies ocultas, que se assemelham a elementos arquitectónicos como portas, janelas, paredes e passagens. A activação destes elementos é realizada através da dança, numa coreografia especialmente concebida por Aldara Bizarro para a exploração dirigida a crianças. Os corpos dos bailarinos transformam a obra num dispositivo impermanente e imprevisível aos olhos do espectador; ao serem activados os vários dispositivos, o espaço é alterado inúmeras vezes e é-lhe assim retirada toda a solidez inicial; a Caixa perde a sua materialidade, o vazio dá agora azo à “criação de múltiplas espacializações que afectam 70 [surpreendem] o seu observador de um modo ainda não percepcionado” . A performance de corpos que trespassam a obra, que levantam, empurram ou abrem as várias superfícies, numa coreografia geométrica reveladora do espaço no tempo de acção (no que Delfim Sardo intitula de “jogo exploratório”) 71 e, ao mesmo tempo, que introduzem a noção de escala do objecto, introduzem-no também como objecto cénico que, ao ser habitado, encontra a metáfora do espaço real, convertendo-se numa estrutura transversal. Em entrevista, Fernanda Fragateiro explica também o carácter social e político presente na obra afirmando que: “O título da peça refere-se à possibilidade de habitar um vazio, que é um lugar “desabitado pelo corpo”. Realmente interessa-me muito a produção de espaço e a discussão de questões com ele relacionadas, de uma forma poética, mas também política, social, económica, implicando, nessa compreensão/discussão as pequenas comunidades, especialmente as crianças que (com) viveram (com) a peça. Neste projecto quis abarcar todos os sentidos e usar múltiplas possibilidades de compreensão das várias camadas que constroem uma determinada realidade espacial, uma vez que é importante perceber as potencialidades do espaço de, por exemplo, uma folha de papel que temos à nossa frente, do espaço do nosso quarto, da nossa casa ou da nossa sala de aula ou de trabalho, para podermos perceber o espaço da nossa cidade e do nosso mundo, de forma a intervir nele livremente” 72 A importância desta obra reside na forma como estabelece um diálogo com o corpo, como se abre ao público possibilitando uma transição fluida entre sujeito espectador e utilizador, na forma como o seu sentido é regulado através da interacção com quem o experiencia, e 69 Claudia Taborda – op.cit., p.12. Idem, p. 12. 71 Delfim Sardo – p. 37 72 Helena Vasconcelos – op. cit., p.90 70 32 finalmente, na forma como o espaço é trabalhado e se torna cenário para uma experiencia social. Tal como é indicado pela artista, o espaço é o vazio habitado pela presença humana, e como tal, acarreta as consequentes questões de relação e identidade, intrínsecas à nossa presença no mundo e à forma como nos relacionamos em sociedade, com a cidade e com o espaço urbano que nos envolve diariamente. Fig. 51. Maqueta à escala 1:10, 2005. Fig. 52. Intervenção coreográfica dirigida por Aldara Bizarro, 2005. Fig. 53. Fernanda Fragateiro – ‘Caixa para Guardar o Vazio’, 2005, Centro Cultural Vila Flor, Guimarães. 33 III VERTENTE SOCIAL DA ESPACIALIDADE 3.1. QUANDO A ARTE SAI À RUA. “Muito mais condicionante do que a população, são todas as condicionantes do que é trabalhar num espaço público. Um projecto de arte pública, no fundo, é sempre um projecto de negociação com muitas partes, até com o próprio tempo, com o clima. (…) Tenho muito essa posição política de colaborar para chegar a um porto comum, que seja bom para as pessoas. Se calhar, não estou tão interessada em defender uma determinada imagem para o meu trabalho, ou seja, se a imagem não for tão boa ou tão interessante, mas se funcionar para as pessoas para mim já é bom, já fico contente. Há um momento, em que é preciso decidir se queremos criar uma determinada imagem, que tenha um efeito nos media e na aceitação da crítica, ou se queremos fazer uma coisa que, se calhar, pode não ser tão radical ou tão experimental mas que trabalha e traz qualquer coisa de bom para a comunidade. Esta é uma decisão que um artista pode tomar, e acho que ambas as posturas são válidas e interessantes. Eu tenho a que me dá, se calhar, mais prazer, que tem mais a ver comigo e que me faz sentir mais equilibrada. Normalmente não me interessa decorar um espaço, ou fazer uma escultura, o que me interessa é que o meu trabalho possa contribuir para atravessar as coisas sem ser impositivo.” Excerto da entrevista realizada a Fernanda Fragateiro. 3.1. QUANDO A ARTE SAI À RUA “(…) Chris Burden has remarked: ‘I just make art. Public art is something else, I’m not sure it’s art. I think it’s about a social agenda’.” 73 Em 1968, o artista francês Daniel Buren, para uma exibição na Salon de Mai, no Palais de Tokyo, em Paris, contrata dois ‘sandwishmen’ (homens usualmente contratados para carregar cartazes publicitários na mesma época em Paris) para passearem as suas obras no exterior do museu. Cinco anos mais tarde, o mesmo artista realiza outra obra emblemática, intitulada ‘Within and Beyond the Frame’ (1973), para a John Weber Gallery, em Nova Iorque, na qual uma série de telas com as suas riscas características, transpõem o espaço expositivo e saem para o exterior atravessando a fachada da galeria até à fachada do edifício localizado do lado oposto da rua. Através destas duas obras, podemos entender como o espaço de galeria chegou ao seu limite, como o espaço fechado e neutro do ‘cubo branco’ 74 deixou de conseguir conter a arte das novas tendências artísticas dos anos 70, já tratadas no capítulo anterior. Na experiência de retirar à abstracção modernista de Buren, ou mesmo ao Minimalismo de Frank Stella, o pano de fundo branco do museu e ao inseri-las num contexto urbano, complexo, rico em referências culturais, históricas, sociais, ou mesmo, numa situação em que o pano de fundo, é a própria vida. Estas obras tornam-se “vulneráveis ou mesmo invisíveis” 75 e a sua validade artística, que pela localização numa instituição artística era automaticamente garantida, é agora posta em causa. Fig. 54. Daniel Buren - 'Sandwich Men', Paris, 1968. 73 Jane Rendell – op. cit., p. 5. Brian O’Doherty – Inside the White Cube: The ideology of the galler space, 4º Ed. (1ª Ed. 1976). California: University of California Press, 1999. O conceito de “cubo branco” é introduzido por Brian O’Doherty em Inside the White Cube (1976), para descrever os novos espaços museológicos ou expositivos modernos, que na sua inocuidade despiam as obras de arte do seu contexto histórico, social e económico, negando à arte a participação na construção da realidade. 75 David Hopkins –op. cit., p.161. 74 34 Fig. 55. Daniel Buren - 'Peinture-Sculpture', Guggenheim N.Y., 1971. Fig. 56. Daniel Buren - 'Within and Beyond the Frame', John Weber Gallery, N.Y., 1973. Em ambas as obras, realça-se o facto de que uma arte auto-referencial e fundamentalmente estética dificilmente sobreviverá no exterior. Reforçando assim, por um lado, o conceito sitespecific e, por outro, o carácter interventivo dos artistas do Construtivismo e da Arte Povera versus o carácter integracional da arte site-specific. A importância de uma postura interventiva na sociedade, por parte dos protagonistas da Arte Pública é defendida, por exemplo, pelas autoras Rosalyn Deutsche, Luccy Lippard e Miwon Kwon. Segundo a última autora referida, a arte só fará sentido fora do museu e aceite na esfera pública, se estiver interligada ao respectivo contexto e se, na sua génese, estiverem respostas a questões sociais ou urbanas. Kwon explica que ao transitar para o espaço público, “a obra já não pretende ser um substantivo/objecto mas um verbo/processo, provocando a acuidade, não somente física mas critica, do espectador em relação às condições ideológicas da visualização. (…) a crítica ao confinamento cultural da arte (e dos artistas) pelas instituições, é agora dominada por práticas que procuram outros enquadramentos e um intenso envolvimento com o mundo exterior e com o público na sua vivência diária (…).” 76 Com a entrada da arte na esfera pública, os artistas unem-se aos arquitectos no que toca à exposição total do seu trabalho ao mundo, à crítica dos média ou de um público geral, muitas vezes não preparado para novas experiências artísticas ou arquitectónicas. Ao não atenderem às características sociais do local, ao não integrarem a comunidade na obra ou ao ignorarem as novas condicionantes do espaço urbano, os artistas vêm-se, por vezes, incompreendidos e em situações de polémica. Dois casos que ilustram exemplarmente estas situações são: a obra ‘House’ (1993) de Rachel Whiteread e a obra ‘Tilted Arc’ (1981) de Richard Serra. Ambas as obras, independentemente do seu valor artístico, sucumbem à vontade da população, demonstrando que, no espaço público, a aceitação da obra pela comunidade que a acolhe é crucial à sua sobrevivência. O primeiro caso demonstra que os artistas que actuam no espaço público devem desenvolver novas capacidades de relação com o espectador e que devem estar dispostos a discutir a sua obra no seio da comunidade que a irá receber. A obra de Whiteread, ‘House’, visava manter viva a memória da última casa de um bairro Vitoriano do início do séc. XIX, destruído no 76 Miwon Kwon – op. cit., p. 24. 35 decurso da Segunda Guerra Mundial, através da moldagem em cimento do espaço negativo da casa. A presença da obra causou reacções díspares, por parte do público e da comunidade artística, recebendo, por um lado, o prémio Turner, e por outro, acusações desmedidas do favorecimento da artista em relação à política de demolições por parte da população de Tower Hamlets. O não entendimento da intenção da obra causou uma enorme polémica que culminou com a sua demolição em 1994. 77 Fig. 57. Rachel Whiteread - Parts 1-4 de House Study (Grove Road) 1992. Fig. 58. Rachel Whiteread - 'House', 1993 (pré intervenção, vista frontal e lateral). O segundo caso ilustra a obra mais marcante na discussão da arte no espaço público, mas também a que maior polémica causou até aos dias de hoje. A obra ‘Tilted Arc’ de Serra situava-se na Federal Plaza, em Nova Iorque e materializava-se num enorme arco em aço corten, com 36,576m de comprimento e 3,6576m de altura, que atravessa a praça na sua diagonal. Ao cortar o atravessamento directo da praça, Serra obriga o espectador a percorrer a obra minimalista, ganhando assim percepção da sua condição física, corporalidade e espacialidade em relação ao espaço e à própria obra. A polémica que envolveu esta peça surgiu passados apenas dois meses após a sua instalação, através de uma petição com cerca de 1300 assinaturas dirigida à GSA 78 pedindo a remoção da obra. A atitude irreverente de Serra, ao impedir o atravessamento directo da praça, e a própria escolha do material, foram as principais causas da revolta pública, que culminou numa audiência em tribunal e que levou à remoção da peça em 1989. 79 77 James Lingwood – House. London: Phaidon Press/Artangel Trust, 1995. Neste livro encontram-se vários ensaios, artigos e cartas que apareceram na impressa e que ilustram a polémica que envolveu a obra. 78 GSA – U.S. General Services Administration: Agência independente do Governo Americano, criada em 1949 para a gestão de agências federais. 79 Harriet F. Senie, Sally Webster – op. cit., p. 23. 36 Richard Serra criara uma obra que, ao assumir não só uma postura crítica de subversão da ordem do espaço público, como de contraste com a arquitectura envolvente e de questionamento dos hábitos comuns da comunidade, desafiou o conceito de site-specific e todas as obras realizadas até então, que admitiam uma certa invisibilidade no espaço público. Cerca de uma década após a demolição da obra, o espaço deixado livre é ocupado por um projecto de Martha Schwartz que surge como a antítese da proposta de Serra. Trata-se de uma obra de carácter utilitário e lúdico, com um programa funcional definido, que busca uma relação de harmonia com a comunidade. Embora altere o ambiente da praça e ofereça um espaço funcional, nada é questionado ou posto em causa. Os três casos demonstram o fim do artista de estúdio, alheio à envolvente física e humana da sua obra e do impacto que esta pode ter no espaço urbano, e dão a entender as diferentes posturas que o artista pode ter ao intervir no espaço público, assim como o poder do público ou da comunidade em relação à existência da obra de arte. Se no primeiro exemplo, a falta de preparação ou informação da comunidade, criou conflito mesmo quando este não é proposto pela obra, o segundo, busca exactamente esse conflito e tensão com a comunidade através da imposição de um questionamento da experiência quotidiana do espaço e de nós próprios, mas que devido à sua precocidade encontra um público ainda indisponível a esse tipo de experiência artística. Por fim, encontra-mos uma proposta que busca servir uma carência, uma harmonia entre o espaço e quem o vive diariamente e que, acima de tudo, não procura qualquer reacção, que não seja lúdica, por parte da comunidade. Fig. 59. Serra - 'Tilted Arc', 1981. Fig. 60. Richard Serra com 'Tilted Arc'. Fig. 62. Destruição do 'Tilted Arc', 1989. Fig. 61. Poster para fundo de defesa da obra de Serra, 1988. Fig. 63. Martha Schwartz - Federal Plaza, N.Y., 1997. 37 Fig. 64. Projecto da MVVA Landscape Architecture para Jacob Javits Plaza, N.Y., 2009-11. “As Public Art shifts from large scale objects, to physically or conceptually site specific projects, to audience-specific concerns (works made in response to those who occupy a given site), it moved from an aesthetic function to a design function, to a social function. Rather than serving to promote the economic development of American cities, as did Public Art in the late 1960, it is now being viewed as a mean of stabilizing community development throughout urban centers. In the 1990’s the role of public art has shifted from promoting aesthetic quality to contributing to the quality of life, from enriching lives to saving lives.” 80 Mary Jane Jacob refere uma evolução, um caminho específico que culmina numa consciencialização e responsabilização dos artistas em relação ao efeito das suas obras, para a sociedade em geral e para a comunidade em que se inserem em particular. Surgem, assim, dois novos paradigmas dentro da Arte Pública: a arte pública de função social e a arte pública de carácter utilitário. Estes conceitos, embora frequentemente interligados, implicam diferentes modos de actuar no espaço público, e diferentes formas de se relacionarem com o espectador. O primeiro paradigma, também designado por Kwon como ‘arte no interesse do público’ (“art81 in-the-public-interest” ), envolve uma aproximação mais forte entre o artista e o público ou a comunidade; nesta forma de arte pública, o público não só é parte integrante da obra, mas é também factor decisivo na sua formulação. Entre os artistas que, na sua prática, põem em primeiro plano este tipo de questões sociais e/ou politicas, assumindo o papel de activistas ou envolvendo-se em colaborações directas com a comunidade, distinguem-se: John Malpede, Daniel Martinez, Hope Sandrow, Guillermo Gómez-Peña, Tim Rollins + K.O.S., e Peggy Diggs. Este grupo de artistas desenvolve trabalhos em que a arte é entendida como um veículo de acção comunitária, como um meio educacional que enriquece a sociedade, através da expressão de conteúdos específicos, centrados em comunidades locais. A arte não serve, assim, como meio de expressão do artista mas da comunidade na qual actua; não é realizada para um público geral mas para um grupo específico, com uma agenda pré-definida. 80 81 Mary Jane Jacob – op.cit., p. 56. Miwon Kwon – op.cit., p. 60. 38 Como exemplo deste tipo de aproximação ou intervenção artística na sociedade, surge o grupo 82 K.O.S (Kids of Survival), criado por Tim Rollins , em 1984, e ainda activo actualmente; através da arte, Rollins estabelece um diálogo interventivo com estudantes problemáticos da Escola Pública 52 do South Bronx, Nova Iorque. A sua proposta assentava no incentivo da criatividade e numa produção artística, activa e de forte conexão com a literatura, com o objectivo especifico de formar jovens criativos e capacitá-los para além das suas limitações intelectuais, sociais e por vezes psicológicas. Mais recentemente, Peggy Diggs realizou ‘Faces’ (2009) para a Williams College em Massachusets, através da impressão de questões de origem racial em guardanapos distribuídos diariamente na cafetaria e refeitório, a artista tinha como objectivo, não só chamar a atenção ao tema, mas também incitar a discussão do mesmo, passado o tempo de acção da obra. Fig. 65. Tim Rollins e o grupo K.O.S., 1987 Fig. 66. Roberto Ramirez do grupo K.O.S a trabalhar na escola I.S. 52 (South Bronx), 1982. Fig. 67. Tim Rollins + K.O.S. - 'Amerika-For The People of Bathgate', 1988. Fig. 68. Tim Rollins + K.O.S. - 'Untitled', 1982-83. Fig. 69. Peggy Diggs - Guardanapos com questões sobre o racismo distribuídos no projecto 'Faces', 2008. Levando o conceito de ‘arte de interesse público’ ao extremo e a uma forma de arte específica e concretizada, Suzanne Lacy irá introduzir e catalogar, em 1993, este tipo de arte com o termo “new genre of public art” 83 - explorado na sua obra “Mapping the Terrain” e na apresentação do programa Culture in Action: New Public Art in Chicago. Suzanne Lacy foca-se num tipo de arte 82 “(…) they hated schooI, and they loved art, and I knew dip down in my soul, that if we all got together, and we made art together, that not only could we make art but we could make history.” Entrevista a Tim Rollins e os K.O.S. por ocasião da exposição na galeria Lehmann Maupin, em 2008. Disponível em: http://www.lehmannmaupin.com/#/artists/tim-rollins-and-kos/ 83 Suzanne Lacy – op. cit., p. 19. 39 que ultrapassa a estética, o espaço, a arquitectura, o espectador, o artista e a escala, para se centrar na sociedade, envolvendo-se de uma forma mais profunda que nunca com o público. As obras criadas dentro desta nova tendência obedecem ao conceito ‘site-specific’ e relacionam-se com a arquitectura; no entanto, exploram também a história do local, investigam as questões ambientais e políticas, tomando sempre em consideração as características da comunidade que o habita, através de uma relação próxima e de diálogo com a mesma: “A inclusão do público interliga teorias da arte com uma população mais vasta; o espaço existente entre as palavras público e arte, consiste numa relação desconhecida entre o artista e a sua audiência e é a exploração desse mesmo relacionamento, que se torna agora na obra de arte.” 84 Segundo Lacy, o termo “new genre public art” é adoptado para caracterizar arte visual que “(…) utiliza meios tradicionais e não tradicionais, para comunicar ou interagir com um público amplo e diversificado acerca de temas directamente relacionados com o seu quotidiano”, dando exemplos de questões profundas na sociedade contemporânea como “lixo tóxico, racismo, os sem-abrigo, o envelhecimento, os gangues e a identidade cultural.” Estes artistas apresentam uma desenvolvida sensibilidade em relação à audiência, adoptam estratégias públicas e sociais premeditadas e por vezes discutidas com o público que irá acolher a obra, e preocupam-se 85 verdadeiramente com a eficiência da sua obra a longo prazo . Marcante para este conceito e directamente relacionado com a obra de Fernanda Fragateiro para o programa Lisboa Capital do Nada, realizado em Marvila, em 2001, surge o programa curado por Suzanne Lacy, em 1993, Culture in Action: New Public Art in Chicago. O programa, de duração de cerca de cinco meses, reúne artistas de Chicago, a comunidade local e a organização na produção de obras de arte pública. Embora similar a outras iniciativas que visavam expandir os limites deste género de arte, explorar a participação do público no diálogo sobre o local e o significado da arte na sua vivência diária; Culture in Action distinguese ao ambicionar também, a eliminação do papel do arquitecto e de outros profissionais do desenho da cidade, do processo de arte pública; trazendo para o centro do diálogo, e como figura de maior autoridade, a comunidade. 86 Os oito projectos realizados dentro da iniciativa tiveram como requisito a colaboração directa entre o artista e a população residente, não se exigindo, no entanto, qualquer resultado ou acção artística especifica. As obras variam tanto na temática social explorada, como na forma artística escolhida para a transmitir, resultam exemplos que se estendem da escultura, à instalação, ao vídeo e à performance. As mais representativas do conceito de “new genre public art” são da autoria dos artistas, Daniel J. Martinez, Iñigo Manglano-Ovalle e a do grupo Haha. 84 Suzanne Lacy – op. cit., p. 20. Trad. Livre. Idem, p. 19. Trad. Livre. 86 Miwon Kwon – op. cit., p. 104. 85 40 O projecto ‘Consequences of a Gesture’ de Daniel J. Martinez, em colaboração com VinZula Kala e o grupo Los Desfiladores Tres Puntos de West Side, visava promover a interacção entre as diferentes comunidades étnicas. A realização desta proposta contou com cerca de 35 organizações comunitárias e mais de mil afro-ameriacanos e mexicanos de todos os grupos etários, numa ‘manifestação’ multi-étnica que percorreu os bairros Garfild Park e Harrison Park, ambos de reconhecida rivalidade entre grupos hispânicos e afro-americanos. 87 Fig. 70. Colaboração entre Daniel J. Martinez, VinZula Kara e Los Desfiladores Tres Puntos de West Side - ‘Consequences of a Gesture’, 1993. O artista Iñigo Manglano-Ovalle, propõe uma aproximação pessoal e educacional que se prolongará para além da iniciativa. Denominada de ‘Tele-Vecindario’, a instalação de vídeo surge da intenção do artista em trabalhar directamente com cerca de quinze adolescentes do bairro predominantemente latino de West Side Chicago. Manglano-Ovalle reúne os adolescentes numa iniciativa intitulada Street-Level Video. Na qual, através da realização de workshops de técnicas de gravação, produção, exibição e apresentação de vídeo, o artista providência, a este grupo de jovens, as ferramentas necessárias à criação individual e posterior exibição de vídeos que representem as suas vidas e que demonstrem a posição de cada um em relação a várias questões políticas, sociais e de territorialidade urbana. ‘Flood’ é o nome do projecto do grupo Haha em colaboração com cerca de vinte voluntários. Durante cerca de três anos (1992-95), os participantes plantaram uma horta hidropónica de ervas terapêuticas utilizadas em doentes com HIV, num espaço no qual se oferecia também alimentação, actividades educacionais, eventos públicos, informação e terapias alternativas. 88 Este projecto diferencia-se dos anteriores, não só pela sua duração mas também, pela diversidade de formas encontradas para o tratamento de um tema de enorme relevância nos bairros sociais de Chicago. 87 Entrevista a Mary Jane Jacob realizada por John Tucker. Disponível em: http://never-thesame.org/interviews/mary-jane-jacob/ 88 Haha – Flood: A Volunteer Network for Active Participation in Healthcare. Disponível em: http://www.hahahaha.org/projFlood.html 41 Fig. 71. Iñigo Manglano-Ovalle - 'Tele-Vecindario', 1993. Fig. 72. Haha – ‘Flood’, 1992-95. A arte pública, na sua formulação actual, constitui um dos meios artísticos de maior proliferação a nível mundial, da última década. O que Lacy intitula de “new genre public art” mantém-se, no entanto, uma frágil categoria na esfera da arte pública; embora tenha crescente reconhecimento e alguns seguidores no final dos anos 90, Lippard afirma que, de facto, não existem ainda muitos projectos realizados, devido essencialmente ao facto de que, muitos dos artistas que ambicionaram fazer a sua pequena parte para mudar o mundo através de uma arte orientada para a problemática social, acabaram por ser dissuadidos pela burocracia que envolvia este tipo de projectos, percebendo assim que a relação requerida entre artista e comunidade é uma tarefa difícil, e em alguns casos, quase impossível de concretizar. 89 O segundo paradigma apresentado assenta na substituição da comunidade como objecto e meio de actuação, para uma arte que, segundo Kwon, é espaço público, é arquitectura e design. As obras de carácter utilitário apresentam, assim, através da realização de uma função específica, uma proximidade transparente com a arquitectura e são, na sua maioria, realizadas através de colaborações de artistas dentro de projectos arquitectónicos ou urbanísticos. Como foi exemplificado através da controvérsia causada pela obra ‘Tilted Arc’ de Richard Serra e da solução adoptada para a sua substituição, é possível entender, que as obras de arte pública de função utilitária surjam como uma vertente distinta, mas não auto-exclusiva, das intervenções realizadas no espaço público na década de 60. A tensão criada por obras que tinham na sua base um questionamento sobre o espaço público e um inerente confronto com a sociedade, é substituída por uma arte pública mais pragmática e lúdica, que propõe uma relação, agora de harmonia e de subserviência com o público que a acolhe. “The ideology of functional utility, foundational to the modernist ethos of architecture and urban design, came to overtake the essentialism of formalist beauty, traditionally associated with art; site-specific public art now needed to be “useful.”” 90 A arte inclui, nestas situações, uma função específica frequentemente associada ao mobiliário urbano, ou a estruturas que se afirmam como arquitectura e que está intrinsecamente ligada a esta nova mentalidade por parte dos artistas, uma forma de pensar o espaço urbano como ‘local’ de encontro humano, como espaço social. 89 90 Suzanne Lacy – op. cit., p. 124. Miwon Kwon – op. cit., p. 5. 42 3.2. O PARAÍSO É UM LUGAR ONDE NADA NUNCA ACONTECE. 3.2. FERNANDA FRAGATEIRO: O PARAÍSO É UM LUGAR ONDE NADA NUNCA ACONTECE – LISBOA CAPITAL DO NADA, 2001. Fernanda Fragateiro insere-se, então, num restrito grupo de artistas que conseguiram, de certa forma, concretizar a fundo este ‘novo género de arte pública’, defendido por vários historiadores e críticos de arte, ao realizar uma intervenção participada, intitulada ‘O Paraíso é um Lugar Onde Nada Nunca Acontece’, inserida na iniciativa Lisboa Capital do Nada. “Lisboa Capital do Nada procurou contribuir para que o design, as artes plásticas e disciplinas afins frequentem lugares que muitas vezes temem pisar. Não é de lugares físicos que falamos, mas dessa instância da criação em que o conhecimento técnico, sentido ético e envolvimento afectivo se desvanecem a favor da ideia de uma cidadania activa e participada.” 91 Mário Jorge Caeiro, comissário deste evento cultural, que ocorreu durante o mês de Outubro, em 2001, na Freguesia de Marvila, explica que os seus objectivos incluíam – através de um trabalho transdisciplinar entre artistas plásticos, designers, arquitectos paisagistas, arquitectos, geógrafos, antropólogos, instituições, representantes e moradores da freguesia – alterar a imagem negativa de um território fragmentado, um bairro esquecido, trespassado por vias rápidas e segmentado por espaços expectantes de um uso ou de um sentido único, “(…) valorizar o local, quebrar a marginalização e o isolamento e promover uma nova imagem urbana.” 92 A arte surge, neste contexto, para construir uma nova identidade, estabelecer um sentimento de pertença e dar voz àqueles que frequentemente não são ouvidos, através de processos participativos nos quais os habitantes do bairro seriam trazidos “ (…) à discussão dos grandes e pequenos tópicos de trabalho, à apresentação dos seus próprios valores num contexto de alguma projecção mediática.” 93 Fernanda Fragateiro desenvolve assim, um dos projectos que mais envolveram a população e que mais se concentrou nas suas necessidades e qualidade de vida, muito para além da efemeridade do evento. ‘O Paraíso é um Lugar Onde Nada Nunca Acontece’, irá em termos práticos, pensar e redesenhar os espaços adjacentes à Urbanização da ‘Pantera Cor-de-Rosa’ (projecto da autoria do Arq. Gonçalo Byrne) e a Praça Raúl Lino (no Bairro dos Lóios), através da incorporação de massa vegetal e mobiliário urbano nos espaços inicialmente projectados para receber pequenos jardins e que se encontravam abandonados e em decadência, 91 Mário Jorge Caeiro – “Capital do Nada: uma introdução”, Lisboa Capital do Nada: Marvila, 2001. Lisboa: Extra]muros[ associação cultural para a cidade, 2002, p. 10. 92 Idem, p. 11. 93 Idem, p. 13. 43 tentando, ao mesmo tempo, revelar as “potencialidades da relação arte-sociedade, na qual o desenho urbano participativo é essencial” 94 A sugestão da obra parte da associação Tempo de Mudar e o interesse de Fernanda Fragateiro foi imediato. Num primeiro diálogo com os habitantes da urbanização, foram ouvidos os seus anseios em relação à praça e aos espaços adjacentes, de modo a entender as características físicas e sociais. Na Câmara Municipal, Fernanda Fragateiro descobriu que já havia um projecto a decorrer para o mesmo espaço e explica que “a primeira fase, depois de perceber que a Câmara tinha um projecto de requalificação, foi tentar perceber, como é que o meu projecto, que tinha a ver com o plantar daqueles canteiros de uma forma muito simples, se 95 podia articular com o projecto da Câmara” , cujo responsável era o Arq. Paisagista José Eduardo Luiz, da equipa da Direcção Municipal de Ambiente e Espaços Verdes da Câmara Municipal de Lisboa. Fig. 73. Urbanização 'Pantera Cor-de-Rosa' e Praça Raúl Lino préviamente à intervenção de Fernanda Fragateiro. A postura da artista em relação a este projecto é explícita na afirmação: “quando a Câmara soube que eu estava a fazer ali um projecto, o que tentaram foi que eu fizesse uma escultura no meio da praça, coisa que obviamente me recusei a fazer. O que me interessava, na altura, era dar à comunidade o que eles precisavam e não uma peça de decoração, para além de que já havia alguma proximidade com a comunidade e tinham sido criadas algumas expectativas em relação ao que íamos fazer ali.” 96 Durante todo o projecto e nas diversas reuniões com a comunidade, com a Câmara e, especialmente, com o morador do bairro (Sr. João) que tinha ocupado, vedado e plantado densamente um jardim que era propriedade da autarquia e que a artista tentava evitar que fosse arrasado, como era previsto no projecto de requalificação já desenhado, Fernanda Fragateiro apresenta-se como catalisador de ideias e como ponte entre os moradores do bairro e a DMAEV. Nas palavras da própria: “Eu era uma espécie de fada que faz com que as pessoas conversem entre si.” 97 O centro do projecto é a plantação dos canteiros com plantas sazonais oferecidas pela Câmara e por flores e árvores do jardim do Sr. João, cuja destruição se evitava. O desejo de Fernanda 94 Lisboa Capital do Nada – “O paraíso é um lugar onde nada nunca acontece”, Lisboa Capital do Nada: Marvila, 2001. Lisboa: Extra]muros[ associação cultural para a cidade, 2002, p.189 95 Excerto da entrevista realizada pela autora a Fernanda Fragateiro. 96 Idem. 97 Idem. 44 Fragateiro da participação da comunidade no projecto estendeu-se para além das reuniões, tendo conseguido também que o trabalho de transplantação e plantação dos vários canteiros fosse realizado por crianças de um grupo de futebol do bairro, pela Santa Casa da Misericórdia que apoiava o grupo e por jardineiros da Câmara Municipal, que orientaram todo o processo. A data escolhida para estas acções foi propositadamente um fim-de-semana, para que toda a comunidade se deixasse contagiar e criar assim, uma relação com o projecto que garantisse a sua manutenção a longo prazo. A reabilitação da praça Raúl Lino, embora em tempo comum com o projecto dos canteiros, não foi intervenção de Fernanda Fragateiro mas sim da Câmara, no entanto, foi acompanhada de perto e com o olhar crítico da artista. O realizador Luís Alves de Matos registou todo o processo, não só as reuniões e visitas da artista ao espaço como a obra da praça e posterior ocupação, durante alguns meses, dando origem ao documentário ‘A Praça’. Tal como foi referenciado no capítulo anterior, a obra de Fernanda Fragateiro, através da inclusão do público e da esfera social envolvente, situa-se num espaço intermédio entre os termos arte e público, no qual a obra de arte não se encontra no produto final, mas sim na relação estabelecida entre artista e audiência, que se considera essencial à criação do “Lugar” e ao processo de identificação e sentimento de pertença entre o espaço e os seus utilizadores. Através de um diálogo aberto e consistente com a comunidade, ao longo de todas as fases do projecto, Fernanda Fragateiro supera as expectativas iniciais em relação ao âmbito da sua intervenção e restringe-se, como artista plástica, à utilização de uma linguagem expressiva e tantas vezes autocentrada, dando lugar aos desígnios de quem no dia-a-dia estabelecerá uma relação com o espaço e de quem a longo prazo o habitará, resultando assim, um projecto que vai directamente ao encontro das necessidades e carências pessoais em relação a uma praça 98 “assumida descaradamente como Espaço Público” , e constrói um “Lugar” através de gestos simples, que respeitam o que originalmente foi concebido por Gonçalo Byrne mas que o elevam em termos de significância e o adequam aos hábitos de quem o utiliza. Fig. 74. Reuniões realizadas por Fernanda Fragateiro com os habitantes do Bairro. 98 Excerto da entrevista realizada pela autora a Fernanda Fragateiro. 45 “O meu trabalho é uma proposta que envolve os outros e, como dádiva, o projecto existe se for recebido. O projecto é o processo, uma espécie de caminho, em que o princípio não é o passado nem o futuro, é o fim.” 99 Fig. 75. Diário gráfico utilizado por Fernanda Fragateiro para o projecto Lisboa Capital do Nada, 2002. Fig. 76. Praça Raúl Lino pós intervenção de Fernanda Fragateiro, 2002. 99 Excerto da entrevista realizada pela autora a Fernanda Fragateiro . 46 IV PARA UMA OBRA DE ARTE TOTAL 4.1. A ‘GESAMTKUNSTWERK’ E A COLABORAÇÃO. “ (…) Havia alguém que dizia, em tom de brincadeira, que nós aqui no atelier éramos uns arquitectos Renascentistas, mas já no séc. XXI, (…). Nessa altura as obras demoravam imenso tempo e o arquitecto, ao trabalhar em obra, tinha uma espécie de visão global de tudo (…). Na arquitectura Gótica passa-se o mesmo: arquitectura, estrutura e arte partem de uma só visão, de uma só entidade que é o arquitecto. O que eu tento é que, no final, o trabalho de todas as pessoas envolvidas, aparente poder ter sido feito por uma espécie de super pessoa, por alguém que reunia todas essas competências, tal como o arquitecto Renascentista. (…) É uma espécie de convicção minha sobre os projectos de arquitectura, que todos os projectos das várias especialidades têm que ser autonomamente impecáveis e válidos como um todo, que quem fez o projecto de certa especialidade tenha orgulho no seu trabalho individual. Para mim, é completamente impensável fazer um projecto em que a estrutura, por exemplo, seja apenas uma coisa que está por trás para servir os interesses da arquitectura, ou que surjam soluções desconexas realizadas somente para que se chegue a um determinado resultado formal do espaço arquitectónico. Para mim não faz sentido!” Excerto da entrevista realizada ao Arq. João Maria Ventura Trindade. 4.1. A ‘GESAMTKUNSTWERK’ E A COLABORAÇÃO. Ao caminhar para uma relação colaborativa, é importante o estabelecimento das bases nas quais a relação entre a arte e a arquitectura assenta e que podem ir, desde um objectivo comum, materializado no conceito de “obra de arte total”, aos vários tipos de influência estabelecidos, ou mesmo, ao posicionamento da arte na perspectiva da arquitectura ao longo do séc. XX. Primeiramente, o conceito de colaboração entre artistas e arquitectos remete, inevitavelmente, para uma breve análise do que constitui o objectivo final desta tendência actual de reunificação das artes. A referência a uma “reunificação”, deve-se ao facto de que, até ao séc. XVI, arte e arquitectura eram conceitos indistintos, unificados numa só entidade e personificados em figuras como Miguel Ângelo, Diego Siloé, Sansovino ou Bernini. A partir do século referido, Giorgio Vasari (1511-1574) e a criação das primeiras Academias, tornam-se peças chave para o entendimento não só da forma como a arquitectura inicia o seu processo de distinção da arte, com a separação entre as belas-artes, ensinadas nas academias, e as artes aplicadas, realizadas por artesãos e geralmente desvalorizadas. A importância desta distinção assenta no facto de que a última, irá estabelecer o primeiro ponto de contacto numa evolutiva e complexa relação entre a arte e arquitectura do séc. XX. Vasari defendia o isolamento do artista e a sua afirmação, dentro de um sistema tipicamente medieval no qual o trabalho artístico era realizado por inúmeros aprendizes nas guildas/corporações. Segundo Mark Wigley o “panorama vigente contra o qual os limites disciplinares foram constituídos e explicitamente destinados a rejeitar, era o do trabalho colectivo” 100 , no entanto, explica que, tal como Vitrúvio, Vasari não vingou nos seus ideais e que a “tradição corporativa nunca morreu completamente até ao séc. XVIII, quando as artes já não eram misturadas. Só nessa altura é que a distinção entre arquitectura, pintura e escultura era claramente assinalada em cada projecto importante.” 101 De enorme importância também para o entendimento da noção de colaboração é o conceito da “Gesamtkunstwerk”, definido em meados do séc. XIX por Whilhelm Richard Wagner na sua obra intitulada “Das Kunstwerk der Zukunft” 102 . O compositor propunha, através da sua obra, uma convergência entre linguagens artísticas que culmina-se na produção de um espectáculo artístico completo ou uma “obra de arte total”, semelhante às tragédias Gregas, que considerava o mais perfeito exemplo da síntese das artes. Este conceito estará na base de alguns dos estilos arquitectónicos mais marcantes da época moderna e será encarado de diferentes formas, por artistas e arquitectos, até à contemporaneidade. 100 Mark Wigley – op. cit., p. 27. Idem, pp. 27-28 102 “Das Kunstwerk der Zukunft” significa “A Obra de Arte do Futuro” e a primeira edição data de 1849, (Leipzig, Alemanha). 101 47 A anterior afirmação de Wigley comprova o caminho percorrido para a distinção disciplinar entre as artes e a arquitectura, no entanto, na segunda metade do século XIX, em Inglaterra, teóricos e artistas, reunir-se-ão num movimento que defende o retorno a essa mesma tradição corporativa e ao que se pode identificar como a primeira interpretação arquitectónica/artística do conceito Wangeriano da “Gesamtkunstwerk”. Liderado por dois pensadores nacionais, William Morris e John Ruskin, e influenciado pelos ideais humanistas de Augustus W. Pugin, o Arts & Crafts surge como reacção à perda de valores na humanidade, entendida como consequência directa da era da industrialização e da produção em massa. A proposta de uma reforma social, tem na sua base o retorno ao sistema medieval, visível tanto na proposta do Gótico como estilo único dentro do eclectismo arquitectónico que marcava a época, como na proposta de retorno às guildas e ao trabalho colectivo. Artesãos, pintores, escultores, designers e arquitectos trabalhariam juntos, desde o desenho da fachada principal aos mais pequenos pormenores decorativos, evitando recorrer a técnicas industriais ou, como Ruskin defende em The Seven Lamps of Architecture, ao ferro como material proibido. 103 A “obra de arte total” encontra a sua formulação em obras arquitectónicas nas quais o arquitecto controla, através do desenho, todos os elementos do projecto. O conceito idealizado por Wagner é, nesta primeira transição para a arquitectura, ‘objectificado’. A síntese das artes concretiza-se apenas no espaço físico comum, onde os artesãos e o arquitecto trabalhavam e superficialmente, num resultado final coerente e coeso, mas no qual, a arte encontra a sua validade na subjugação à arquitectura. A arte é nesta instância arte aplicada. Segundo James Stirling, a questão da arte e tecnologia dividiu as bases ideológicas do Movimento Moderno 104 Construtivismo e só terá sido resolvida nos movimentos que derivam do , no entanto, é através deste ideal Wagneriano, conjugado com a intenção de derrubar a tradição académica vigente, que irá surgir “uma reacção em cadeia de grupos colaborativos que recusavam a distinção entre as artes: Arte Nova, Jugendstil, os Secessionistas, os Construtivistas, os Futuristas Italianos, o Expressionismo, o De Stijl e a Bauhaus” 105 . Quando Mark Wigley caracteriza estes grupos como “colaborativos” será importante referir que a presente tese defende, desde o início, que sem distinção não é possível a colaboração e que será importante averiguar, essencialmente em relação aos últimos dois grupos referidos, se a classificação dada por Wigley é adequada. Sobre esta questão, pronunciam-se Alan Colquhoun e Paul Goldberger. Colquhoun incide sobre as afirmações de Van der Leck em relação à colaboração entre a pintura moderna e a 103 Peter Gӧssel, Gabriele Leuthäuser – Arquitectura no Século XX. Alemanha: Taschen, 1996, p, 43-46. Charles Jenks, Karl Kropf – Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture, 2ª Ed. England: Wiley-Academy, 2006, p, 16. 105 Mark Wigley – op. city., p. 29. 104 48 arquitectura no movimento De Stijl, e apresenta a seguinte questão: “se é verdade que a pintura e a arquitectura estão a tornar-se cada vez mais indistinguíveis, faz sentido dizer que deveriam entrar em colaboração?” E sugere como resposta que a “colaboração só pode existir entre coisas que são diferentes, como no conceito Wagneriano de “Gesamtkunstwerk”” outro lado, Goldberger 107 106 . Por toma como base o manifesto de Gropius para a Bauhaus de Weimar e questiona também se pode existir uma verdadeira colaboração quando a arquitectura assume um papel de indiscutível superioridade em relação a todas as outras artes. No seu manifesto de 1919, Walter Gropius começa por afirmar que a função mais nobre da arte foi, e deverá ser novamente, o “embelezamento do edificado” 108 , indicando ainda que só através da compreensão do edifício como uma composição de todas as partes, nas quais cada arte deve exercer o seu papel, será possível que a arte volte a ser impregnada pelo espírito da arquitectura, perdido no seu isolamento disciplinar. Se pensarmos agora no termo ‘colaboração’, como uma relação equilibrada e horizontal entre intervenientes que ambicionam o mesmo fim, em contraste com o conceito de que a obra construída deverá ser o propósito de todas as artes. Entende-se que a proposta de Gropius está longe de constituir uma relação equilibrada ou colaborativa e que é, no fundo, mais uma aproximação ao conceito de ‘obra de arte total’ de natureza hierárquica. O que se sugere também, nos movimentos referidos, é que a intenção de colaboração por vezes perde-se na indistinção disciplinar, ou seja, quando arte e arquitectura estabelecem um diálogo tão intenso e uma influência de tal modo recíproca que a pintura toma contornos arquitectónicos e a arquitectura se torna indistinguível de uma versão tridimensional da anterior, torna-se difícil classificar este tipo de resultado como colaboração. Por outro lado, embora unidas e trabalhando em conjunto, o apelo principal aponta para que culminem no desenho e construção arquitectónica e que o trabalho volte ao sistema medieval das guildas, indicando que ainda no início do séc. XX o objectivo principal não era o trabalho colaborativo mas sim cooperativo. Decorrente dos grandes dogmas do início do século, como “a forma segue a função” de Louis Sullivan, “menos é mais” ou “Deus está nos detalhes” de Mies van der Rohe ou ainda o manifesto de Adolf Loos de 1908, “Ornamento e Crime”, que surgem da rejeição a decorações supérfluas, a arquitectura passa a encontrar a sua vertente artística, na composição cuidada, rigorosa e matemática dos seus elementos constituintes mais puros. A “obra de arte total” é, agora, e para estes arquitectos, um edifício criado como um todo em torno de um conceito de 106 Alan Colquhoun – Modern Architecture. Oxford: Oxford University Press, 2002, p, 112. Paul Goldberger – “Two Different Ends”, Collaboration: Artists & Architects. New York: Whitney Library of Design, 1981, p. 56-57. 108 “The ultimate aim of all visual arts is the complete building! To embellish buildings was once the noblest function of the fine arts; they were the indispensable components of great architecture. Today the arts exist in isolation, from which they can be rescued only through the conscious, cooperative effort of all craftsmen. Architects, painters, and sculptors must recognize anew and learn to grasp the composite character of a building both as an entity and in its separate parts. Only then will their work be imbued with the architectonic spirit which it has lost as “salon art.” Walter Gropius, Abril 1919, Staatliche Bauhaus in Weimar. 107 49 beleza racionalista que opera dentro do funcionalismo que marcou as primeiras décadas do séc. XX. A arquitectura, enamorada com ela própria, tende a tornar-se auto-referente, já que o Movimento Moderno, pela sua postura anistórica tomará como base os seus próprios mestres, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius, e as suas obras melhor sucedidas. A relação entre a arte e a arquitectura inicia, assim, um novo percurso ao encontro da “Gesamtkunstwerk”, díspar do conceito moderno, no qual a arte retoma a sua função “decorativa”; embora os arquitectos deste período rejeitassem o ornamento, a arte tinha como função atenuar ou servir de contraponto às formas austeras, à abstracção volumétrica, ou à geometria pura e silenciosa que tantas vezes caracteriza a arquitectura moderna. Como exemplo disso temos a referência do Pavilhão de Barcelona (1929), de Mies van der Rohe, no qual a figura feminina da escultura de Georg Kolbe, situada num dos pátios interiores, contrasta fortemente com a linguagem do pavilhão. Goldberger propõe que este tipo de situação advém dos ideais de Gropius, nos quais a arquitectura é o ponto culminante de todas as artes, e que marcará a forma como os arquitectos das décadas de 1940 a 1960, irão olhar para os artistas da sua geração, explicando que “a maior parte das “colaborações”, até as que melhor sucederam, foram acima de tudo justaposições, foram obras de arte colocadas dentro de obras de arquitectura, com o papel principal da escultura, o de encher o espaço e o papel principal da pintura, o de distrair o olhar e providenciar alivio visual.” Fig. 77. Mies van der Rohe - Pavilhão de Barcelona, 1929. 109 Fig. 78. Georg Kolbe – ‘Alba’, Pavilhão de Barcelona, 1929. O conceito de “gesamtkunstwerk” é distinguido agora pela forma como arte e arquitectura se complementam, na forma como se tornam essenciais ao entendimento e beleza do todo, no entanto, segundo o autor, os exemplos que encontramos, até ao final dos anos 60, mostram-se incapazes ”de nos convencer que podem existir em qualquer outro local, a sua presença dentro de uma particular obra de arquitectura (deveria ser) tão vital para a sua integridade artística como vital para o significado da obra de arquitectura." 110 O final da Segunda Guerra Mundial marcará a crise do Movimento Moderno e o retorno dos apelos à união entre artistas e arquitectos. Sigfried Giedion, figura chave no estabelecimento 109 110 Paul Goldberger – op. cit., p. 56. Trad. Livre Idem, p. 57. Trad. Livre 50 dos CIAM 111 , irá defender acerrimamente uma nova forma de arquitectura que permitia que arquitectos, pintores, escultores e urbanistas voltassem a trabalhar juntos na construção da cidade 112 . Le Corbusier, André Bloc, Fernand Léger, Paul Damaz e Gyorgy Kepes irão, através de projectos e publicações, apoiar este ideal, exposto publicamente por Aldo van Eyck e Alice e Peter Smithson no CIAM VI, 1947, em Bridgwater, e no CIAM IX, 1953, em Aix-en-Provence. Ao chamar a atenção para a frieza da arquitectura moderna e para a necessidade de não obliterar a sua dimensão emocional, nomeadamente no contexto da reconstrução das grandes cidades europeias do pós-guerra, os arquitectos referidos acreditavam que a arquitectura deveria transcender a sua materialidade e satisfazer, para além da sua função, as necessidades emocionais do homem moderno, reclamando que só voltando ao trabalho conjunto se poderia humanizar a arquitectura do futuro. Este período será, assim, marcado pela reconquista dos ausentes conceitos de expressividade e ‘carácter’ arquitectónicos. Formalizados tanto no manifesto de 1944, de Sigfried Giedion, Josep Lluis Sert e Fernand Léger, no qual reclamavam uma “nova monumentalidade” que superasse o puramente funcional; na forma como Giedion insistia no “direito de expressão”, como Léger aclamava o uso da cor como elemento expressivo da cidade, ou como Lúcio Costa defende a “expressão” e a “intenção plástica” de uma arquitectura realizada com tecnologia moderna e ainda como Louis Kahn define a nova monumentalidade na arquitectura como uma qualidade espiritual inerente a uma estrutura intemporal e unitária. Todos estes apelos são também referidos por Montaner, como a razão pela qual surgem muitos dos programas de incentivo à colocação de arte na arquitectura, que segundo o mesmo, culminam na “paulatina instalação de esculturas modernas nos espaços públicos das grandes cidades” 113 . A busca de expressão irá criar um ambiente propício e desejoso da reintegração da arte na produção arquitectónica. O que Sara Selwood distingue dentro do paradigma da “assimilação versus integração”, explicando que, na sua fase inicial, os programas que promoviam a instalação de arte pública na cidade, tinham como questão central, o conceito de “assimilação”, ou seja, da absorção da arte em relação à arquitectura. Muito devido a estes apelos, irão surgir inúmeros grupos que adoptarão uma postura verdadeiramente colaborativa e que, mais uma vez, irão obliterar as fronteiras entre arte e arquitectura como: Cobra, SITE, Situacionistas, Group Espace, Liga Nieuw Beelden, o The Independent Group, ou The Internacional 114 , a exposição “This is Tomorow”, realizada na Whitechapel Gallery, em 1956, em colaboração com membros do The Independent Group, mostrará o expoente criativo do período anterior. Os 38 participantes convidados foram 111 CIAM – Congressos Internacionais da Arquitectura Moderna. Jes Fernie – Two Minds: Artists and Architects in Collaboration. London: Black Dog Publishing, 2006, p. 9. 113 Joseph Maria Montaner – op. cit., p. 85. 114 Tanto os Smithson como van Eyck, ao partilharem uma noção de arquitectura moderna com fundações bem assentes na arte e considerando a arquitectura como uma forma de arte, irão trabalhar de perto com artistas e intelectuais no seio de grupos como o Cobra ou o The Independente. 112 51 divididos em 12 equipas que tentavam reunir, pelo menos, um arquitecto, um designer, um artista e, se possível, um teórico; a cada grupo era pedido que reunissem as suas perspectivas individuais e que produzissem uma obra através da implantação de uma nova metodologia colaborativa, que partia do individual ao contrário do trabalho cooperativo a que se assistiu nas 115 primeiras décadas do séc. XX. Fig. 79. Cartaz da Exposição This is Tomorow, 1956. Fig. 80. This is Tomorow - The Independent Group. É de referir que esta relação contínua, entre a arte e arquitectura, é possibilitada pelo facto de que, no ensino, arte e arquitectura coabitavam nas mesmas instituições, partilhavam o mesmo espaço físico e observaram-se de perto até cerca do final dos anos 50. Sobre o caso Inglês, por exemplo, o arquitecto Richard MacCormac, é peremptório, ao afirmar que: “In the 1958 Oxford Conference, it was the RIBA which decided to remove the architecture schools from the art schools, to put them into universities and to make architecture into a pathetic imitation of science. Of course the scientists didn’t like that with the result that architecture schools hang uncomfortably in the universities (…) I assume that we all agree that architecture is an art and that arts should be taught together in the same institution.” 116 Embora radical, MacCormac toca numa situação que se mostra também relevante para Claire Melhuish. Embora a arquitectura moderna tenha sido construída sob alçada da relação histórica entre arte e arquitectura, foi ao mesmo tempo ganhando distância e separando estas duas áreas, culminado talvez numa ressentida autonomia disciplinar assegurada pela profissionalização da arquitectura. Segundo a autora, essa mesma autonomia tornou-se num “mecanismo defensivo desenhado para manter as outras disciplinas fora do processo construtivo, que agora se consolidou com a crescente regulamentação e responsabilização do arquitecto”, e que terá sido incentivada pelos desenvolvimentos tecnológicos e estandardização de sistemas construtivos, que tiveram como consequência a “elevação do ênfase dado à faceta 115 Informação disponível em: http://www.whitechapelgallery.org/exhibitions/this-is-tomorrow# Maggy Toy – “Frontiers: Artists & Architects”, Architectural Design, Vol. 68, Nº 7/8, July-August, 1997, p.18. 116 52 científica e técnica, em detrimento da faceta artística da arquitectura” 117 , somente recuperada, na segunda metade do séc. XX, com a critica do modernismo e emergência da atitude pósmoderna a nível mundial. A importância de um contexto artístico na formação dos arquitectos promove uma maior abertura e interesse entre ambos e viabiliza, até meados do séc. XX, o que Joseph Maria Montaner caracteriza de uma “intensa sintonia” 118 entre as artes, uma entusiasta contaminação recíproca e o que se pode considerar uma relação que tem na sua base a influência directa ou indirecta da arte na arquitectura, que suplanta a atitude colaborativa, referida por Wigley. Joseph Maria Montaner distingue três níveis de manifestação da influência da arte na arquitectura que nos servirão de referência para explicar esta situação 119 . O autor distingue o primeiro nível como: “influência directa do tipo mimético”, materializada na forma como a arquitectura utiliza directamente os novos repertórios formais das vanguardas artísticas, e que se podem observar na relação entre as obras de Theo Van Doesburg ou Gerrit Thomas Rietveld a as obras de Piet Mondrian, ou mais especificamente na Casa Schrӧder (1920) projectada pelo último arquitecto. Fig. 81. Gerrit Rietveld - Casa Schoder, 1923-24. Fig. 82. Theo van Doesburg - Maison d’Artiste, 1923. Fig. 83. Theo van Doesburg e van Eesteren - Maison Particulière, 1923. O segundo nível é identificado como o “estabelecimento de uma relação estrutural e mental”, na qual a atitude mimética remonta agora, não à forma, mas sim aos processos, métodos e critérios do movimento artístico. A este nível associa-se também, o conceito de ‘interdisciplinaridade auxiliar’ de Heinz Heckhause, 120 no qual uma disciplina emprega métodos provenientes de outra. A Bauhaus, por exemplo, ao reunir artistas e arquitectos num mesmo sistema de ensino e até no mesmo espaço, irá criar um ambiente em que, inevitavelmente 117 Idem, p.26 Joseph Maria Montaner – op. cit., pp. 150. 119 Idem, pp. 149-153. 120 Olga Pombo – “Contribuição para um vocabulário sobre interdisciplinaridade”, A Interdisciplinaridade: Reflexão e Experiência. Lisboa: ed. Texto, 2ª Edição, 1994, pp. 92-97. 118 53 haverá uma contaminação inter-disciplinar rica e vantajosa, no que respeita à relação entre as várias artes e a arquitectura. Por último, Montaner refere um terceiro nível no qual as novas propostas das artes plásticas irão estimular a arquitectura a investigar as suas próprias tradições. A este nível associa-se o modo como a arquitectura moderna, devido à conjuntura política e económica na qual a Europa se encontrava em meados do séc. XX, se apoia nas novas formulações artísticas, para tentar estabelecer a sua própria linguagem e a sua própria estética. Entende-se assim que a relação entre arte e arquitectura subjacente a estes movimentos, embora de enorme proximidade, não é na sua essência colaborativa já que apela primeiramente a uma indistinção entre as artes, constituindo fundamentalmente uma relação de influência recíproca e interesse mútuo. Diferentes níveis de influência e objectivos comuns apresentam diferentes formas da arquitectura posicionar a arte no seu campo de actuação. A partir da investigação antecedente é possível identificar nos movimentos Arts & Crafts, Art Nouveau e na primeira fase da Art Déco, no final do séc. XIX e início do séc. XX, uma arte dividida entre arte bela, académica e distante da arquitectura e uma arte decorativa, aplicada, somente válida quando subjugada à arquitectura no seu campo específico. A relação entre arte e arquitectura segue inicialmente o modelo de arte subjugada à arquitectura. Nos movimentos de vanguarda que surgem a partir de 1920, as revoluções artísticas, conduzem a uma ascendência da arte sobre a arquitectura, visíveis nos vários níveis de influência descritos anteriormente e concretizada na forma como a arquitectura, ao interpretar os movimentos artísticos se torna, por vezes, ela própria arte. Este modelo é visível, até ao final da década de 50 e clarificado com o exemplo da Catedral de Notre Dame du Haut, em Ronchamp, de 1954, do arquitecto Le Corbusier, onde a arquitectura assume totalmente a suas possibilidades plásticas e esculturais. Fig. 84. Le Corbusier – Catedral de Notre Dame du Haut, Ronchamp, França, 1954 (fachadas Sul-Este e Norte e interior). Na década de 1960 e com a saída da arte do museu para o espaço público, arte e arquitectura partilham agora, não só o mesmo espaço de actuação mas também os mesmos valores. Dá-se início à consciencialização de que nesta nova situação de coabitação, ambas devem interagir 54 de forma renovada, não hierárquica e idealmente até, colaborativa. Neste contexto surgem duas formas distintas de posicionar a arte na arquitectura, que comprovarão uma tendência cíclica na temática do lugar da arte na arquitectura. Por um lado, o ressurgimento da Art Déco, incentivado pelo lançamento do livro de Belvis Hiller, “Art Deco of the 20s and 30s” 121 em 1968 e pela exposição “Art Deco”, 122 realizada em 1971 no Minneapolis Institute of Arts, e comissariada pelo mesmo, reavivam o ideal das artes aplicadas do início do século. A arte volta a ter um carácter decorativo e a encontrar o seu lugar ao serviço da arquitectura. Este posicionamento é visível, não só dentro do estilo referido, mas também, nalgumas obras de Josep Lluis Sert e de Alison e Peter Smithson e na arquitectura moderna nacional, de Nuno Portas ou de Nuno Teotónio Pereira. Por outro lado, com a “morte da arquitectura moderna” 123 e a consequente ânsia na busca de novos significados e valores para a arquitectura, emerge um fenómeno que ditará um novo lugar para a arte e que Montaner identifica como “a hostilidade com o público” 124 . A arte é nesta instância um veículo fundamental de comunicação para a integração da sociedade, é “introduzida no edifício moderno para impressionar os nossos sentidos, actuando no nível das aparências” 125 , ou seja, neste modelo, os artistas colaboram num espaço mais ou menos definido e com uma função específica, na qual o valor da obra de arte é superficial e serve como complemento ao simbolismo da própria arquitectura. A este modelo pós-moderno, correspondem, por exemplo, Robert Venturi, Aldo Rossi e Charles Moore. A partir do final dos anos 70, surge o modelo do arquitecto-artista. Relembrando o modelo Renascentista interpretado agora sob o espectro da era da informação, de um conjunto imensurável de novas possibilidades de materiais, técnicas, de novas tecnologias e de uma maior abertura a novas propostas que, segundo Hans Hollein em “Alles ist Architektur” 1968, podem ser físicas ou imateriais. 126 , de Segundo o autor: “Today everything becomes architecture. “Architecture” is just one of many means, is just one possibility.” 127 O arquitecto volta, assim, tal como nas vanguardas da década de 20, a renunciar o valor da arte perante a possibilidade de, ele próprio, ser arquitecto e artista. Peter Zumthor, Frank Gehry, Zaha Hadid, a dupla Diller Scofidio e Kazuyo Sejima com Ryue Nishizawa, pertencem a um leque de arquitectos, que nos anos 70 e 80, emergem neste contexto de ilimitadas possibilidades de expressão e de um ‘star-system’ que exalta a sua atitude criativa e inovadora. 121 Bevis Hiller – Art Deco of the 20s and 30s. Londres: Studio Vista, 1968. Bevis Hiller, Minneapolis Institute of Arts - Art Deco : an exhibition organized by the Minneapolis Institute of Arts, July 8 - Sept 5, 1971 (catálogo da exposição). Minneapolis: The Minneapolis Institute of Arts, 1971. 123 Charles Jencks propõe como data exacta da certidão de óbito que ele próprio passa ao modernismo arquitectónico, o dia 15 de Julho de 1972, às 15:32h, hora e data correspondentes à demolição do complexo de Pruitt-Igoe, em St. Louis, Missouri do arquitecto Minoru Yamasaki. Charles Jencks - The Language of Post-Modern Architecture. New York: Rizzoli, 1977, p.23. 124 Josep Maria Montaner – op. cit., p.138. 125 Idem, p.139. 126 Hans Hollein – “Alles ist Architektur”. Zeitschriftfür Architektur und Städtebau. Bau, Nº 1/2, 1968. 127 Joan Ockman – “Everything is architecture”. Architecture Culture 1943-1968: A Documentary Anthology. New York: Rizzoli, 1993, p. 459. 122 55 Embora todos estes modelos pressuponham uma relação entre a arte e a arquitectura, e alguns até contenham pressupostos colaborativos, o que se pretende explicar através dos exemplos que se seguem, é que a colaboração entre a arte e a arquitectura deve transcender, num extremo, a arte aplicada à arquitectura e, noutro extremo, o modelo do arquitecto-artista. O modelo colaborativo pressupõe, assim, uma relação em que nenhuma das disciplinas define inicialmente o lugar da outra, segundo um processo de transformação não regrado e no qual artistas e arquitectos tomam posições não hierárquicas mas sim igualitárias, possibilitando uma afectação bilateral ao nível do processo criativo, do desenho e no limite, do construtivo. O primeiro exemplo é da autoria de Frank Gehry que, ao longo da sua carreira, colaborou intensamente com artistas (principalmente Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen, mas também Ron Davis, Richard Serra e Lucinda Childs-John Adams), no entanto, é na sua proposta para o Camp Good Times (1984-1985), um campo direccionado para crianças com cancro em Santa Mónica, Califórnia, que surge uma das colaborações mais marcantes. A colaboração parte do arquitecto ao propor, como requisito essencial à aceitação do projecto, a contratação de Claes Oldenburg e da sua mulher Coojse van Bruggen, mostrando, logo à partida, uma vontade de colaboração aberta e inovadora com os artistas. A postura da dupla de artistas é, pela declaração de Coojse, de que “tanto Oldenburg como eu tínhamos pleno conhecimento das nossas limitações; (…) Colocámo-nos nas mãos de Frank, confiávamos que nos apanharia se caíssemos ao dar o salto para a arquitectura”, 128 igualmente aberta e plenamente confiante na parceria criada. Tanto a postura de toda a equipe como o âmbito do projecto, envolveu todos os intervenientes numa atitude desprendida e direccionada para, “encontrar o melhor resultado possível que poderiam oferecer àquelas crianças, dentro das suas capacidades.” 129 e num processo criativo no qual, segundo Gehry, “The question of whether the camp would be architecture or art never was asked. We wanted to blur the lines.” 130 A intensa colaboração culminou em formas artísticas ambiciosas e numa comunhão formal e funcional que dificilmente Gehry e Oldenburg voltariam a alcançar. No entanto, a proposta final não agradou ao cliente. Considerada “artisticamente ostensiva” 131 , foi pedido ao arquitecto que atenuasse o projecto e que o fizesse parecer, segundo Gehry “um campo de férias mais rústico, um campo normal, do género Huckleberry Finn.” Perante esta limitação da sua criatividade, tanto a dupla de artistas, como Gehry, recusaram-se a levar o projecto em diante, acreditando sempre que tanto o processo como o resultado apresentado eram ideais para o contexto do projecto. 128 Coosje van Bruggen – “Saltos a lo desconocido”. La Arquitectura de Frank Gehry. Barcelona: Gustavo Gili, S.A., 1988, p. 133. 129 Idem, p.133. 130 Mildred Friedman – Architecture and Process: Gehry Talks. New York: Universe Publishing, 2002, p.101. 131 Frank Gehry cit. em Coosje van Bruggen – op. cit., p. 140. 56 Fig. 85. Frank Gehry, Claes Oldenburg e Coojse van Bruggen – Maquete para o projecto Camp Good Times, 1984-1945. O segundo exemplo, que quebra todos os modelos expostos, é visível na relação de longa data, entre a dupla Herzog & de Meuron e o artista Rémy Zaugg. No edifício Roche Pharma 92, em Basileia (1993-2000), os arquitectos contactam Zaugg para colaborar no projecto de forma tradicional, segundo o artista, ”(…) os arquitectos e o artista tinham optado por uma colaboração clássica na qual o arquitecto faz a arquitectura e o artista a arte. No entanto, a solução plástica que foi a nossa escolha durante um determinado tempo e as questões resultantes sobre vários elementos arquitectónicos obstrutivos, não cabiam no modelo clássico de colaboração, uma vez que as respectivas funções tendem a associar-se.” 132 O edifício para a farmacêutica F. Hoffmann-La Roche AG é formalmente composto por um volume horizontal e um vertical, que se intersectam ao nível da base, e espacialmente organizado através de uma parede que, ao seccionar o volume vertical do edifício, separa as zonas pública e privada e constitui a área definida, pelos arquitectos, como tela para a intervenção pictórica do artista. Como foi referido, embora inicialmente delimitada, a colaboração de Rémy Zaugg acabou por se estender da intervenção pictórica ao projecto de cor para todo o interior do edifício, afectando toda a obra. Fig. 86. Herzog & de Meuron – Roche Pharma 92, Basileia, 1993-2000. Fachadas exteriores e esquema da intervenção de Rémy Zaugg. 132 Rémy Zaugg - Architecture by Herzog & de Meuron, Wall painting by Rémy Zaugg, A work for Roche Basel. Basel: Birkhäuser, 2001, p. 79. 57 Fig. 87. Rémy Zaugg – Exemplos da intervenção no edifício Roche Pharma 92, de Herzog & de Meuron, Basileia 1993-2000. Sobre a intervenção realizada, Rèmy Zaugg afima que: "A intervenção pictórica tem que brotar da arquitectura. Mais do que isso, o acto artístico e a arquitectura devem dar a impressão de ser concebidos simultaneamente e que um é impensável sem o outro. (…) É nesta condição que a obra do artista é legítima, justificada e com significado. Se o artista for bem sucedido, parecerá que ele não fez nada, a sua obra terá sido determinada e ditada pela própria arquitectura. O artista desaparecerá atrás da manifesta necessidade da obra.” 133 É neste sentido que se prende uma última questão: poderá o trabalho do artista ser validado como uma colaboração, e não como intervenção ou decoração do espaço arquitectónico, se ao observarmos a obra final ficarmos com a “impressão” de indissociação e de um trabalho desenvolvido em tempo comum, tal como o referido por Rémy Zaugg? Ou seja, poderá a colaboração acontecer, não entre artista e arquitecto, mas somente ao nível dos ‘objectos’, ou seja, entre arte e arquitectura? 133 Idem, p. 66. 58 4.2. ESTAÇÃO BIOLÓGICA DO GARDUCHO, 2002-2008. 4.2 FERNANDA FRAGATEIRO: ATRAVÉS DA PAISAGEM, ESTAÇÃO BIOLÓGICA DO GARDUCHO, MOURÃO, 2002-2008. Ao analisar a participação de Fernanda Fragateiro no projecto do atelier do Arq. João Maria Ventura Trindade para a Estação Biológica do Garducho, torna-se mais claro o que se pretende com uma dinâmica colaborativa entre artista e arquitecto ao longo de um projecto e como se pode atingir uma obra coerente, completa, uma “obra de arte total” que surge do conceito de complementaridade, proposto por Goldeberger. Através da sua intervenção, Fernanda Fragateiro engloba eficazmente o edificado, a sua temática, função e desenho, a paisagem que o rodeia, a natureza e o pensamento científico mas também espiritual, numa obra que é inquestionavelmente arquitectónica e que ao mesmo tempo tenta transcender esta mesma definição. Contexto físico da intervenção: No centro da triangulação composta pelas localidades de Moura, Mourão e Barrancos, mais especificamente em Amareleja (Mourão), na estrada que atravessa a fronteira portuguesa em direcção a Valencia del Mombuey, e a cerca de 2km da fronteira com Espanha, encontrava-se, ao lado do marco geodésico das Mentiras, um antigo posto fiscal fronteiriço, adquirido em 1997 pelo Centro de Estudos da Avifauno Ibérica (CEAI). A escolha deste local remoto pelo CEAI advém da sua posição estratégica e dominante, em cota elevada da topografia alentejana, permitindo avistar a extensa área classificada pela Rede Natura 2000 como Zona de Protecção Especial (ZPE) para Aves de Moura/Mourão/Barrancos, devido aos seus diversos valores ecológicos e à presença de espécies ameaçadas, como a Águia-imperial ibérica, o Grou-comum, a Águia de Bonnelli, a Abetarda, o Sisão e o Cortiçol-debarriga-preta 134 , foi ainda neste lugar que se encontrou o ultimo indício do lince ibérico. O Posto da Guarda Fiscal, já há muito abandonado devido ao fim das fronteiras terrestres, era composto por três edificações, à primeira vista deslocadas num local remoto, numa paisagem rural de enorme beleza e de extensão aparentemente sem fim. O projecto: A Estação Biológica do Garducho, criada pelo CEAI para o desenvolvimento de actividades de salvaguarda dos valores naturais da ZPE da região interior do Alentejo Central, tinha como objectivos específicos: o fomento da sensibilidade civil para a importância da biodiversidade, a difusão do conhecimento científico sobre as espécies e habitats da região, a promoção do turismo da natureza, o estímulo do conhecimento científico sobre a importância nacional e 134 Instituto da Conservação da Natureza (ICN) – Plano Sectorial da Rede Natura 2000: Sítios da Lista Nacional (Sítio: Moura/Barrancos), Janeiro 2006. Disponível em: http://www.drapal.minagricultura.pt/valor_ambiental/REDE_NATURA/PTCON_0053_MOURA_BARRANCOS.pdf 59 comunitária dos valores naturais, a difusão do uso de materiais e tecnologias ambientais sustentáveis, a contribuição para o desenvolvimento socioeconómico da região, incentivar o estabelecimento de parcerias institucionais de âmbito regional, nacional e internacional e ainda facultar oportunidades a jovens investigadores, através de estágios e de trabalhos académicos inseridos em projectos da EBG. 135 A intervenção procurou, dentro destas premissas, organizar o programa funcional utilizando a área de implantação das três edificações já existentes e fazendo corresponder a cada uma, um dos núcleos funcionais definidos: alojamento, área pública e zona de trabalho, alcançando, assim, a maximização da área de construção solicitada, com a menor afectação do solo possível. Fig. 88. Desenhos do arquitecto e trabalho de Fernanda Fragateiro proposto em maquete. Limitando a área de implantação, estes elementos funcionam como apoio a uma segunda estrutura, um rectângulo de paredes periféricas de 55x 27,5 metros, que envolve e reúne em si, as anteriores e respectivos pátios anexos. Sobre estes elementos base e pairando sobre o terreno, a construção suspensa permite preservar o solo intacto e permeável mas também que a arquitectura se envolva de uma forma única com a sua envolvente, deixando que a própria topografia do terreno crie uma série de pátios com diferentes níveis de privacidade e acesso. A entrada na estação surge de uma forma natural, quando o terreno atinge a sua distância máxima da massa edificada exterior que paira de nível a uma altura de 2,4 metros, no limite oeste, possibilitando a passagem para o interior de um grande pátio exterior central em redor do qual gravitam os diversos edifícios, espaços exteriores e percursos da estação; no limite oposto o terreno atinge uma cota superior tornando os espaços adjacentes ao edifício residência, mais privados e parcialmente inacessíveis pelo exterior. Este forte contacto com a envolvente é controlado de forma precisa ao longo dos vários espaços, de modo a permitir o enquadramento de vistas amplas sobre a paisagem horizontal ao nível térreo e no piso elevado através da escassez de aberturas, pretende-se concentrar a atenção do visitante em elementos arquitectónicos ou expositivos. 135 Informação disponível em: http://www.ceai.pt/ebg/#ebg_enquadramento/objectivos 60 No limite nascente, emerge o primeiro núcleo funcional, no qual se localiza uma unidade de alojamento para três investigadores com pátio privado. O corpo maior alberga, no piso térreo, o espaço de recepção e loja, uma sala de conferências a poente e um amplo espaço coberto para actividades didácticas ao ar livre, com acesso na extremidade oposta a um piso superior onde se situam os arquivos e o espaço expositivo. No limite poente localiza-se a residência para os investigadores e a zona de trabalho técnico. A cobertura deste núcleo é ocupada somente por um jardim de plantas autóctones; a restante área deste corpo funciona como grande pátio com vista para a extensa paisagem, com excepção da extremidade nascente, onde se localizam os acessos ao piso superior e a cisterna para recolha de águas pluviais. O projecto adquiriu um estatuto único em Portugal, pelo seu carácter inovador, em termos de desenho arquitectónico, tecnologia construtiva utilizada e soluções sustentáveis tanto na construção como na posterior autonomia do edificado. Segundo a CEAI, “existe outra estação biológica em Grândola e estruturas de investigação em biologia e ecologia, mas esta é inovadora. Vai para além do conceito tradicional.” 136 Por todas as razões referidas, o projecto do atelier do Arq. João Maria Trindade, foi distinguido em 2009 com o Prémio FAD (Foment de les Arts i el Disseny), na ata da reunião do júri para a entrega da 51ª edição dos Prémios, pode ler-se: “O júri valoriza a arquitectura capaz de gerar lugares e emoções no meio de uma paisagem sem fim. Aprecia a forma como eleva a sua potente massa, deixando passar sob a sua sombra o território e a vida da fauna. Assim pois o júri entrega o Prémio FAD (Foment de les Arts i el Disseny) de Arquitectura à ESTAÇÃO BIOLÓGICA DO GARDUCHO, EM MOURA, PORTUGAL obra de João Maria Trindade.” 137 Fig. 89. Vista geral da Estação Biológica do Garducho, Mourão, 2002-2008. 136 Afirmações de Carla Janeiro do CEAI feitas à Agência Lusa e publicadas no jornal Expresso online, 19 de Outubro de 2010, disponível em: http://aeiou.expresso.pt/ambiente-alentejo-acolhe-estacao-biologicado-garducho-inovadora-em-portugal=f610214#ixzz1bnHAyJmY 137 Arquin FAD – Ata da reunião do júri da 51 edição dos Prémios FAD de Arquitectura e Design 2009, Barcelona, 2009. Disponível em: http://arquinfad.org/arquinfad_web/press/2009/acta_dos_idiomes.pdf 61 Fig. 90. Imagens do exterior e interior da Estação Biológica do Garducho, Mourão, 2002-2008. A colaboração de Fernanda Fragateiro: A relação existente entre o Arq. João Maria Ventura Trindade e a artista é, como já se deu a entender, de grande afinidade e de constante convivência, devido à proximidade física entre o atelier do arquitecto e o da artista. A relação de confiança e de admiração que têm um pelo outro é identificada por ambos como fulcral para o tipo de trabalho que têm desenvolvido, assim como uma noção firme dos limites de cada um, segundo o arquitecto: “Eventualmente, a maneira de funcionar com a Fernanda e o facto de ser muito simples, muito produtivo e também muito vantajoso trabalhar com ela, é que nós temos muito claro, os dois, quais são os nossos domínios; não quer dizer que eles não se cruzem e misturem mas, para mim, sempre foi muito claro que eu queria fazer arquitectura.” 138 A intervenção da artista, neste edifício, aconteceu de acordo com a relação existente, ou seja, de forma natural e casuística, diferente mais uma vez, do que é normal nas colaborações entre artistas e arquitectos, já que é Fernanda Fragateiro, numa visita desinteressada à obra, que se 138 Excerto da entrevista realizada pela autora ao Arq. João Maria Ventura Trindade. 62 deixa fascinar pelo trabalho já em curso do arquitecto e propõem a realização de uma intervenção artística. João Maria Ventura Trindade explica que a partir daí o trabalho aconteceu separadamente, a obra continuou enquanto a artista desenvolveu a sua proposta: “Eu nunca soube o que ela ia fazer, a obra continuava, ela estava muito entusiasmada, de vez em quando pedia-me para ir ao atelier dela e eu percebia que ela andava a fazer umas experiências sobre a maquete, as pessoas que iam passando pelo atelier da Fernanda também se iam pronunciando sobre aquilo e depois, a dada altura ela apareceu com uma proposta que é basicamente aquilo que lá está.” 139 Ao intervir neste objecto arquitectónico, Fernanda Fragateiro não altera a sua arquitectura, não rompe a continuidade cromática e táctil, nem se afasta da temática e função que domina o objecto. A forma escolhida pela artista para a sua intervenção é simples e parte de um entendimento profundo e sensível da forma como a sua arte têm a capacidade de elevar o espaço, providenciando-lhe uma ‘alma’ e a possibilidade de o objecto arquitectónico estabelecer uma relação e um permanente diálogo com quem o observa, utiliza e sente. Neste caso, Fernanda Fragateiro insere por todo o espaço, fragmentos de textos da obra Breves Notas Sobre a Ciência, do escritor Gonçalo M. Tavares 140 e de autores como: Maria Gabriela Llansol, W.J.T. Mitchell, Juhanni Pallasma, Bernardo Soares, Walter Benjamin, Buckminster Fuller, W.G. Sebald, Robert Walser e Henry David Thoreau 141 . Frases em português e inglês surgem então desenhadas nos planos verticais edificados, a escolha de uma fonte de texto simples, de tamanho único e proporcionado pela escala do próprio edifício, tornam a sua leitura quase obrigatória mas também, simples e convidativa. A configuração das frases incita não só a sua leitura mas interpretação e reflexão – acções que através da sua localização e conteúdo são sugeridas pela artista num enquadramento específico e para um pensamento conjunto, que engloba, o sentido da frase, o espaço que a sustenta, a paisagem, a natureza e a ciência. Fig. 91. Imagens de algumas das intervenções de Fernanda Fragateiro na Estação Biológica do Garducho. 139 Idem. Gonçalo M. Tavares – Breves Notas sobre a Ciência. Lisboa: Relógio de Água, 2006 141 CEAI – CEAI @ EBG: Ventura Trindade Arquitectos. Matosinhos: DARCO magazine, 2010, p. 101. 140 63 Quando encontradas em percursos e passagens, questionam a forma como o percorremos, e põem em questão os elementos arquitectónicos que as acolhem, uma rampa deixa de ser um acesso e passa a ser um caminho que procura uma reflexão desde o interior até ao exterior, uma abertura circular para o exterior, torna-se um ponto de fuga para uma ponderação sobre a relação entre a natureza e o homem, uma cisterna passa a ter uma possibilidade infinita de significados e simbolismo consoante a interpretação que o observador faz da curta frase “suga a paisagem.” Embora o arquitecto subscreva a forma como a obra foi descrita, admite também, que inicialmente teve dúvidas sobre a intervenção que, lhe pareceu um pouco provocatória e até um pouco redutora – “Eu confesso que, de início o trabalho não me pareceu muito interessante (…) num certo sentido, a maneira como nós tínhamos desenhado o edifício, já procurava estabelecer uma determinada relação com aquela paisagem, e por isso, quando a Fernanda propunha escrever frases sobre o edifício, era um pouco como se a arquitectura não funcionasse e fosse necessário fazer legendas. (…) Era como se fosse preciso vir alguém explicar o que nós estávamos a tentar explicar através do edifício.” 142 A discussão da forma como a obra de arte se insere no projecto de arquitectura, surge, neste caso, posterior à definição de ambas, e acaba por envolver, para além da artista e do arquitecto, o escritor Gonçalo M. Tavares que convenceu João Maria Ventura Trindade da validade da obra e a forma como reforçava o que se pretendia somente com a arquitectura. É, no entanto, de referir que, nesta obra, embora se possa fazer a ligação com o conceito de “obra de arte total” contemporânea, tanto a artista como o arquitecto admitem que a arquitectura prevalece sobre a intervenção artística. Na opinião de Fernanda Fragateiro – “o meu trabalho, por um lado, é um comentário à arquitectura, e por outro é uma espécie de projecto expositivo, uma espécie de conteúdo dentro do programa da estação, que surge independente e para além da arquitectura.” 143 A opinião do arquitecto, embora semelhante, propõe que a arte ocupa, neste caso, o lugar proposto no pós-modernismo. A intervenção de Fernanda Fragateiro é, para Ventura Trindade, um meio de comunicação com o público: “A questão que torna o trabalho da Fernanda (…) tão interessante, é que a arquitectura, num certo sentido, é uma coisa muda, somente entendível por um conjunto de pessoas que são arquitectos ou que estão próximos disso. Agora é como se o edifício (…) falasse por si próprio, portanto, nós podemos não ir lá mas as pessoas vão e conseguem compreendê-lo na totalidade das suas intenções, e isso faz muito sentido, principalmente, num edifício que é público e que tem um teor e até um programa muito didáctico ou educativo.” 142 143 144 João Maria Ventura Trindade – Entrevista realizada pela autora. Fernanda Fragateiro – Entrevista realizada pela autora. João Maria Ventura Trindade – Entrevista realizada pela autora. 64 144 V PERCENT FOR ART 5.1. A ORIGEM DO MODELO E A SUA EVOLUÇÃO. “O tema das colaborações, pessoalmente interessa-me muito porque, desde que eu comecei a trabalhar como arquitecto paisagista, procurei justamente trabalhar em colaboração, e isso foi um mote, uma intenção que explorei até agora e com resultados bastante próprios, bastante característicos dessa postura, resultados positivos mas também negativos. Mas essa forma de trabalhar, que põe questões de fronteira e de limite às vezes complexas, outras vezes ajuda a defini-las e a entende-las, (…) é um tipo de produção que só é possível com fundos públicos, ou com a articulação de fundos privados que permitam a produção destas peças. No caso da Expo’98, não houve um programa governamental mas criou-se um fundo, um programa que de alguma maneira é produzido pelo governo mas num contexto específico, concreto e limitado no tempo.” Excerto da entrevista realizada ao Arq. João Gomes da Silva. 5.1. A ORIGEM DO MODELO E A SUA EVOLUÇÃO. “It should be noted that the movement towards placing art in public places, however mixed the quality of particular works or of discernment in their placement, has been a force that can only improve the climate for successful collaborations between artists and architects in general.” 145 O modelo ‘percent for art’, embora tendo ganho elevada notoriedade somente em meados do séc. XX, remonta ao início do século. A Suíça, por exemplo, nos primeiros anos da década de 1920, apresentava já uma política de incentivo às artes na arquitectura; a Alemanha e a França também cedo adoptaram este tipo de investimento, no decorrer da década 1930 e, nos EUA, surge também em 1934, através do U.S. Treasury Department, o modelo Public Works of Art Project. A maioria destes modelos propunha que entre 0,5% a 2% do orçamento das obras públicas fosse dedicado à implementação de arte no interior, exterior ou envolvente do edificado; no entanto, a razão pela qual muitos autores localizam a emergência destes programas a partir de 1960 deve-se apenas ao facto de, na sua formulação inicial, estes modelos sugerem apenas uma prática opcional e não obrigatória, como será o caso da sua versão mais actual 146 . O primeiro programa a destacar-se, já em 1959, foi o programa “Aesthetic Ornamentation of City Structures”, em Filadélfia; apenas quatro anos mais tarde (1963), volta a surgir nos Estados Unidos e através da GSA (U.S. General Services Adminitration), uma iniciativa a nível nacional intitulada agora Art-in-Architecture. Este último programa viria a substituir o programa Public Works of Art Project, que sucumbiu, tal como muitos outros, passado somente uma década de existência devido, não só à Grande Depressão (1929-1932), mas também, à falta de aceitação do público em relação às obras instaladas 147 . O surgimento destes modelos durante a década de 1960 deve a sua origem, por um lado, a uma necessidade de reconstrução das cidades no pós-guerra, e por outro, ao desenvolvimento de um sentimento saudosista das antigas cidades construídas em épocas nas quais arte e arquitectura eram conceitos indistintos. Acreditava-se que as artes visuais, não só contribuiriam eficazmente, como seriam essenciais para a reconstrução de um espaço urbano apelativo, que fomentasse e recriasse valores comunitários e estabelecesse uma relação mais próxima entre a cidade e os seus habitantes, ou seja, que divergisse da “repetitiva, monótona, e funcionalista 145 Paul Goldeberger – op. cit., p.70 Como exemplos surgem o caso Francês da “Délégation aux Arts Plastiques (DAP)”, criada em 1937, mas que só em 1951, através de um lei proposta pelo Ministro da Educação Pierre-Olivier Lapie, se tornou obrigatória a aplicação da politica do 1% pela arte em todas as construções do domínio da educação; o mesmo acontece em relação ao programa lançado pelo Threasury Department em 1934 em relação à proposta da GSA, em 1963, com a diferença que nesta ultima a politica em causa abrangia todas as áreas dos serviços públicos e mais tarde, em Inglaterra, 1988, através do programa do Arts Council. 147 Steven J. Tepper – “Unfamiliar Object in Familiar Spaces: The Public Response to Art-in-Architecture”. Working Paper #8, Princeton University Center for Arts and Cultural Policy Studies, March 2, 1999. p.4 Disponível em http://www.princeton.edu/~artspol/workpap/WP08%20-%20Tepper.pdf 146 65 arquitectura do estilo modernista (…) confiava-se que os artistas através da sua influência humanizassem a desumana, alienada e desafecta paisagem urbana da era moderna” 148 . Embora em contextos diferentes, os apelos e razões para a implantação deste tipo de programas repetem-se pelos Estados Unidos e Europa. Se, em 1959, Michael von Maschzisker, um dos fundadores do programa Aesthetic Ornamentation of City Structures, já afirmava: “Espalhe-se a mensagem de que as belas-artes devem voltar à Arquitectura Americana e de que a esterilização e a sua cativa monotonia devem ser banidas das nossas avenidas.” 149 . Em 1988, o manifesto do Arts and Architecture, programa do Arts Council em Inglaterra, elabora as mesmas questões e apresenta um breve enquadramento histórico para sua justificação. Alguns autores, como Sara Selwood, afirmam que o nascimento dos processos ‘percent for art’ se deve, efectivamente, ao movimento dos artistas para o espaço público e a uma necessidade de controlar, apoiar e criar mais e melhores oportunidades para esta nova prática, promovendo, ao mesmo tempo, a excelência artística 150 . Esta ideia é contestada por Tom Finkelpearl, ao afirmar que, embora o desalento em relação à frieza e sistematização da cidade moderna tivesse atingido um ponto em que o “arquitecto era demonizado como o destruidor da cidade e aos artistas era irrealisticamente pedido que a salvassem”, estes incentivos à colocação de arte no espaço público, apresentam-se também ligados a questões políticas e económicas. Segundo o autor, “as leis foram criadas com o intuito de atrair pessoas de volta às áreas do centro da cidade, que estavam a ser abandonadas” 151 , com o intuito de estimular a economia, atraindo transeuntes, turistas, investidores e empresas que procurem locais que proporcionem um agradável ambiente de trabalho nestas áreas renovadas 152 , mas partem também da preocupação dos governos locais em assegurar emprego aos artistas e outros agentes na área da cultura. 153 Por todas, ou qualquer uma destas razões, os programas baseados nos esquemas ‘percent for art’ proliferaram pela Europa, pelos Estados Unidos (em 2003 existiriam cerca de 350, programas dentro deste modelo em vários estados e municípios dos EUA 154 ) e ainda na Ásia, com o caso singular de Singapura. Seguindo, com excepção do último, o modelo tradicional já referido na implementação arte em locais tão distintos como: escolas, esquadras de polícia, estações de bombeiros, tribunais, hospitais, clínicas, terminais de passageiros, prisões, centros de detenção, parques e jardins públicos e instalações de saneamento e abrigos. 148 Miwon Kwon – op. cit., p.64. Penny Balkin Bach – Public Art in Philadelphia. Philadelphia: Temple University Press, 1992, p. 130. Trad. Livre. 150 Sara Selwood – The Benefits of Public Art. London: Policy Studies Institute, 1996, p.42. 151 Tom Finkelpearl – Dialogues in Public Art. Massachusetts: MIT Press, 2000, p.21. Trad. Livre. 152 Sara Selwood – op. cit. pp. 43-44 153 Slavica Radišić - “Public Art Policies – A Comparative Study”. 1postozaumjetnost.wordpress, 2010. http://1postozaumjetnost.wordpress.com/texts/cultural-policy/ (acedido em Agosto, 2011) 154 Atkins, Robert – “When the Art is Public, The Making is, Too”. New York Times, Arts & Leisure, Section 2, July 23, 1995. p.1 149 66 Embora a arte tenha invadido a urbe devido aos incentivos estatais, podemos afirmar que a aceitação do público em relação às obras que ocupavam agora lugar nas praças, ruas, jardins e edifícios públicos das cidades, não correspondia ao entusiasmo dos organismos por detrás dos programas. A vontade de criar uma nova identidade através da arte foi, numa fase inicial, suplantada por reacções fortes ou de total indiferença em relação às esculturas abstractas criadas pelos mais notórios representantes da arte moderna, como Alexander Calder, Pablo Picasso, Jean Dubuffet, entre outros, que “pareciam longe de servir qualquer propósito” 155 . Fig. 92. Alexander Calder - Flamingo, John C. Kluczynski Federal Building, Chicago, 1974. Fig. 93. Pablo Picasso - Escultura para o Chicago Civic Center, Illinois, 1967. Fig. 94. Jean Dubuffet - Group of Trees, Chase Manhattan Plaza, NY, 1972. Opondo-se às criticas realizadas por autores como Malcom Miles, Tom Finkelpearl, Rosalyn Deutsch, Miwon Kwon ou Sharon Zukin em relação às obras criadas até sensivelmente às ultimas décadas do séc. XX, Daniel Buren explica que “o hábito de os artistas trabalharem, conscientemente ou não, para um público específico e por vezes esclarecido, ou seja, o público dos museus, causou um afastamento drástico de um público que pode ser também esclarecido mas que não é especialista, já que acima de tudo, nunca recebeu qualquer educação artística.” 156 Esta realidade irá marcar a postura de algumas direcções de programas do modelo ‘percent for art’, conotada por Robert Lee Fleming e Melissa Tapper Goldman como, o “Princípio da Torre Eiffel”, ou seja, perante a incompreensão inicial do público em relação às obras, a reacção dos organismos seria condescendente, apelando ao público que mesmo não as entendendo, tivesse paciência e que com tempo eventualmente acabariam por habituar-se e até gostar destes enormes objectos abstractos, assim como aconteceu com a Torre Eiffel, hoje em dia um ícone Francês. Charles Cuningham, director do Art Institute de Seattle, personifica esta tendência, em 1967, ao afirmar, nas suas declarações por ocasião da inauguração da obra “Chicago Picasso” na Daley Plaza, Chicago, que: “Aqueles que ainda não experienciaram este 155 Mel Gooding – “The Failure of Modernism: The Crisis in Public Art”. Public: Art: Space. London: Merrel Holberton, 1998, p.18 156 Idem, p.17. 67 tipo de arte podem não gostar, mas não tem mal. Daqui a alguns anos, ela será aceite pelos transeuntes, da mesma forma que Van Gogh e outros o são hoje em dia.” 157 Segundo Miwow Kwon e Suzanne Lacy, o descontentamento geral e críticas várias às obras realizadas dentro dos programas devem-se não só à imposição de um tipo de arte que se mostrava indisponível em ir ao encontro deste público mais vasto e que, consequentemente, não conseguia comunicar com o mesmo; mas também devido ao facto de que, só por volta de 1974 é que estas iniciativas começam a promover, nos seus programas, o conceito sitespecific, e uma preocupação explícita e exigência clara de que o local seja respeitado, de que a obra seja criada em função do lugar. Esta nova forma de olhar para a intervenção de artistas no espaço público, constitui um importante passo em direcção ao conceito de “obra de arte total” descrito por Goldberger, no qual a arte e a arquitectura se tornam interdependentes em relação ao objecto total, ao seu significado e presença no espaço urbano. A contínua evolução destes programas dá-se paralelamente à evolução da arte pública, analisada no primeiro capítulo da presente dissertação. De certo modo, as fases e preocupações são semelhantes e identificadas como: uma primeira, que parte de uma vontade inicial de integrar a arte novamente no ambiente urbano, aliada a uma vontade dos artistas em sair do espaço museológico e partir para o espaço real ou de domínio arquitectónico. Numa segunda instância e quase uma década mais tarde, surge a integração do conceito site-specific como requerimento essencial ao sucesso da integração da arte na arquitectura. Mais tarde, entendeu-se também que deveria haver um maior envolvimento entre artista e arquitecto, na prática, os artistas deveriam ser convidados a entrar no processo desde o seu início, o que, idealmente resultaria na criação de obras de arte coesas e que revelassem o verdadeiro sentido da colaboração. Uma última fase corresponderá, tal como na arte pública, ao despertar da percepção social e educacional nas colaborações, a arte entende agora a possibilidade, de não só decorar, fazer parte do processo criativo, e humanizar a arquitectura; que deve também ter uma consciência social, tirando partido do meio privilegiado que são as colaborações e a possibilidade de actuação no espaço público. 157 Charles Cuningham citado em: Tom Finkelpearl – p.22 68 5.2. ARTE EM ESPAÇO PÚBLICO VS ARTE NA ARQUITECTURA. “Quando se faz um edifício e se cria um espaço de paisagem que o envolve ou que o contém, tal como a criação de espaço público, interagindo com artistas ou com outras visões, tem a ver, com um período da nossa história recente e da nossa economia, em que há disponibilidade para isso. Essa disponibilidade terminou, estamos a fechar um ciclo económico e esta cultura de espaço público, tal como a conhecemos até agora, terminou. Temos agora de trabalhar de outra maneira, de tentar perceber como é que vamos trabalhar sendo que estamos a operar sobre outras coisas, outros problemas, a cidade é hoje uma coisa muito indeterminada nalguns aspectos, e é exactamente essa indeterminação e esse limite que também é preciso entender.” Excerto da entrevista realizada ao Arq. João Gomes da Silva. 5.2. ARTE NO ESPAÇO PÚBLICO VS ARTE NA ARQUITECTURA. No seu texto “Public Art for The Public” 158 , Robert Lee Fleming e Melissa Tapper Goldman percorrem a história dos programas ‘percent for art’, Art in Public Places (APP) lançado em 1967 pela National Edowment for the Arts (NEA) e o programa Art in Architecture (AiA) lançado em 1963 pela U.S. General Services Administration (GSA), com o objectivo de identificar as razões pelas quais um sucedeu e mantém ainda hoje as suas funções e o outro sucumbiu no início dos anos 90. A importância desta revisão assenta no facto de ambos os programas que seguem o modelo ‘percent for art’ e especificamente a sua evolução, são referidos por vários autores como: Malcom Miles, Miwon Kwon, Suzanne Lacy, entre outros, que se dedicaram ao tema da arte pública e das colaborações, como, não só representativa do percurso de outros programas semelhantes, mas também essencial à compreensão da origem das novas dinâmicas colaborativos entre arte e arquitectura. Torna-se, desta forma mais claro, que existe uma necessidade de encurtar caminho no diálogo entre artista e arquitecto, para que a inserção de arte na arquitectura seja uma prática válida e benéfica para o ambiente urbano. Na forma como esse processo se deu podemos tirar desde logo algumas conclusões úteis ao desenvolvimento do tema. Quando implantado, o programa APP, baseava a sua prática no enaltecimento das capacidades dos artistas e na possibilidade de partilhar com o público geral a mais qualificada arte dos seus tempos, optando inicialmente por não apresentar orientações específicas para os fundos que concedia através da realização de concursos, onde artistas conceituados entregavam maquetas que relembravam obras, na sua maioria abstractas, retiradas directamente de museus ou galerias ampliadas para a escala do espaço público 159 . Este modo de selecção, supostamente garantia “que os subsídios só seriam entregues a artistas da mais alta qualidade, aos quais a NEA confiava para produzir obras sem o peso da censura ou orientação de comissários.” 160 . As consequências desta postura são desde logo visíveis na primeira obra criada dentro do programa APP: La Grand Vitesse de Alexander Calder, instalada na Vandenberg Plaza, Grand Rapids, Michigan e na atitude de Henry Moore, um dos artistas que mais obra realizou dentro deste tipo de programas nos anos 1970, e que representa, na sua afirmação, a atitude da maioria dos artistas comissariados: “I don’t like doing commissions in the sense that I go and look at a site and then think of something. Once I have been asked to consider a certain place where one of my sculptures 158 Fleming, Ronald Lee, e Melissa Tapper Goldman - “Public Art for the public”. Artigo Digital disponível em: www.nationalaffairs.com/public_interest/detail/public-art-for-the-public: The National Affairs, Inc., 22 de Março de 2005. 159 Suzanne Lacy – op. cit., p. 22. 160 Idem p. 62. Trad. Livre. 69 might possibly be placed, I try to choose something suitable from what I’ve done or from what I’m about to do. But I don’t sit down and try to create something especially for it.” 161 O debate causado pelos resultados insatisfatórios e crítica geral do público em relação às obras levantou uma importante questão subjacente ao programa: “a tensão entre os direitos do artista como entidade, de criar obras sem direcção ou input e os direitos do público, que as pagava através dos seus impostos, de ter arte pública eficaz e significativa, que reflectisse as suas necessidades” 162 . No final dos anos 80, o programa da NEA era encarado como uma possibilidade sem benefícios óbvios para as várias partes envolvidas, nomeadamente para a comunidade, e como um enorme risco a correr pelos promotores e arquitectos. Bert Kubli, comissário do programa, explica que a NEA acabou por assumir os seus erros no final dos anos 80, através da introdução do termo site-specific, da participação activa dos artistas na escolha do local onde colocariam a sua obra e ainda do papel essencial do administrador de arte pública, no controlo do desenvolvimento do processo e do resultado final 163 . Em 1979, apelariam a um maior diálogo entre artista e comunidade, requisitando no projecto artístico, a demonstração dos “métodos a utilizar de modo a garantir uma resposta informada por parte da comunidade à obra”, e em 1983, esta medida incluiria não só a descrição, mas também o planeamento de actividades “que educassem e preparassem a comunidade e a forma como esta seria envolvida, preparada e como seria realizado este diálogo”. Novas medidas são tomadas ainda, com base na realização da emergência das noções colaborativas como reflexo das “design teams”, moldadas a partir da prática arquitectónica, a NEA irá então, reunir “forças com os programas de Visual Arts and Design para encorajar a interacção entre artistas e arquitectos através da exploração e desenvolvimento de novos métodos colaborativos.” 164 A arte pública deveria deixar de ser uma escultura autónoma e abandonada numa praça ou no exterior de um edifício de uma grande empresa, para se tornar parte ou elemento da sua envolvente arquitectónica e paisagística. Uma nova metodologia de trabalho que olha para a arte de uma perspectiva funcionalista e que assenta na questão de que utilidade tem a obra e que sentido tem ou virá a ter em relação ao objecto arquitectónico, será entusiasticamente adoptada por artistas como: Athena Tacha, Ned Smyth, Andrea Blum, Siah Armajani, Elyn Zimmermen e Scott Burton, que idealizavam, mesmo perante alguns insucessos, que a sua integração numa “design team” significaria a partilha de responsabilidades em partes iguais com o arquitecto e urbanista, na tomada de decisões. Rosalyn Deutsch, afirma que a utilidade de certas obras relaciona-se em geral com a renovada associação da arte à sua função social, Kwon afirma ainda, que esta postura está explicitamente associada a artistas que integram “design teams” e que partilham a noção de 161 162 163 164 Miwon Kwon – op. cit., p. 63. Robert Lee Fleming – p. 64. Idem – p. 69. Suzanne Lacy – op. cit., p.23 70 que quanto mais a obra de arte se integrar e desaparecer na arquitectura em forma de bancos, mesas, ou adoptar a forma de elementos arquitectónicos como, pilares, escadas, paredes ou pavimentos, maior o seu valor social. Também o programa Art in Architecture da GSA, embora tenha sido mais flexível e se tenha, com tempo, adaptado às novas realidades da arte no espaço público, esteve em 1981 na frente do caso mais memorável e polémico deste tipo de programas, ao delegar, em 1979 à NEA a escolha do artista (Richard Serra) e respectiva obra a instalar na Federal Plaza, em Nova York, o ‘Tilted Arc’ (ver capítulo 3.1). Ao contrário da NEA, a GSA entendeu atempadamente os seus erros e, no mesmo ano da demolição do Tilted Arc, reformulou a sua estrutura e tomou medidas preventivas que possibilitaram a sua subsistência até aos dias de hoje. Em 1996, Robert Peck, o novo Comissário dos Serviços dos Edifícios Públicos da GSA, fez as reformas mais interessantes ao programa, “ exigindo que os artistas fossem contratados numa fase muito mais inicial, do processo de desenho arquitectónico, do que alguma vez tinha acontecido. Peck exigia também que os artistas participassem na revisão de desenvolvimento do projecto, que ocorre a cerca de um terço do processo de desenho do projecto. 165 Outra decisão relevante, que distingue verdadeiramente os dois programas, foi a alteração dos paneis de decisão, em vez dos típicos três profissionais do mundo da arte, estes passam agora a evolver, no mínimo, um profissional do mundo da arte reconhecido a nível nacional, um artista local, um representante da comunidade, o arquitecto responsável pelo projecto, um representante da GSA nomeado pelo cliente e ainda dois associados da GSA. Segundo Fleming, o resultado da reforma de Peck, é hoje em dia visível em obras que verdadeiramente enaltecem o espaço onde estão e que agradam e melhoram a qualidade de vida dos seus utilizadores. No mesmo ano, devido a cortes orçamentais severos relacionados com a impopularidade do programa, o programa Art in Public Places, deixa de conseguir subsistir. Segundo Fleming o erro encontra-se no não entendimento por parte da NEA de que “o propósito não é criar arte para o menor denominador comum da opinião do público, mas sim arte que encontra a sua inspiração num certo rigor contextual, arte que desafie o público ao invés de abordá-lo com desprezo” 166 . Segundo Jes Fernie: “no final da década de 1990, (…) este modelo foi largamente abandonado. A ideia base de que a arquitectura, como as suas formas alienadas, poderia beneficiar da capacidade humanística da arte (…) antagonizou muitos arquitectos que sentiam que os programas comissionistas da arte estavam a ser impostos sem particular cuidado ou sensibilidade pelas suas propostas arquitectónicas”, ficando, de certo modo, aliviados pela reformulação e até exclusão de alguns destes programas. 165 167 Robert Lee Fleming – op. cit., p.70 “He required that artists be hired for projects much earlier in the architectural design phase than had been the case before. (…) He required that artists have a hand in the design development review of the plans for a building that occurs about a third of the way into a project” 166 Idem, p. 76. 167 Jes Fernie – op. cit., p. 10. 71 5.3. ALGUMAS SITUAÇÕES E CASOS DE SUCESSO. “A referência mais contemporânea que tenho e que foi a que mais me interessou conhecer e investigar durante esse período, foi obviamente a relação entre Herzog & Meuron e Remy Zaugg, que terminou com a morte de Remy Zaugg, mas que produziu um conjunto de experiências, em ambos os campos e especialmente no campo de colaboração, que me parecem ter feito avançar a arquitectura e a produção do espaço, tanto produzido por artistas como por arquitectos. Num plano mais próximo, é o arquitecto Carrilho da Graça, com quem nós temos colaborado muito e que foi aliás, uma das minhas colaborações mais importantes. Carrilho da Graça sempre teve essa necessidade, ou de interagir directamente com artistas e com diversos artistas, ou de interagir indirectamente, a partir da observação de experiências de determinados artistas e da sua incorporação como parte da arquitectura. Eu tenho para mim que o trabalho dos artistas funciona um pouco como um laboratório de pesquisa avançada e de investigação da matéria, porque estão, em relação a todas as artes mais sociais e políticas, que são a arquitectura e a arquitectura paisagista, menos constrangidos por questões de regulamentos, programas ou mesmo de encomendas de clientes e, portanto, têm uma liberdade um pouco maior que nós.” Excerto da entrevista realizada ao Arq. João Gomes da Silva. 5.3. ALGUMAS SITUAÇÕES E CASOS DE SUCESSO. “One might ask what artists can contribute to the building environment over and above architects, landscape architects and designers? What, for instance, distinguishes a bollard design by an artist from that of an architect or an industrial designer?” 168 Sara Selwood, curadora. Sara Selwood apresenta estas questões a uma série de promotores. A opinião geral, é de que a presença da arte se traduz num sentimento de autenticidade para um lugar e na tendência para uma libertação criativa acentuada em projectos de reabilitação urbana, no entanto, a autora questiona a validade desta ideia preconcebida perante as várias obras similares de Henry Moore que surgem em praças e espaços públicos de diferentes cidades do mundo. Paralelamente, a forma como a arquitectura foi obrigada a integrar a arte, pelo bem de uma cidade mais humana e atractiva, nem sempre foi bem aceite pelos arquitectos. Alguns, considerando que a sua arquitectura era ela própria arte, viam a integração da arte nos seus projectos como redundante e desnecessária. Sobre isso, o artista Mike Stubbs afirma que as “pessoas preferem ter bons edifícios bem desenhados do que maus edifícios com apontamentos de arte na sua base, para distrair o utilizador da realidade” 169 , Richard Serra explica, também, que nos EUA muitos arquitectos têm adoptado esta postura, preferindo recusar a oportunidade aos artistas, não distribuindo o fundo de apoio, e realizando eles próprios a arte consoante as suas necessidades e ideias específicas para o projecto, em função do que imaginam que será bem aceite. 170 Outra situação que advém das novas metodologias colaborativas é o facto de que, quando a arte se mostrava totalmente integrada na arquitectura, perdia o seu estatuto, e era nesta situação usualmente observada como decoração, voltando a questão da “obra de arte total” Existem vários casos de enorme sucesso na, história recente das colaborações, no entanto, tentando não reduzir esta análise a uma opinião estética, ou da unidade do projecto de arquitectura e arte, serão referidos três casos para reflexão que marcaram o interesse inicial por este tipo de colaborações e alavancaram a ideia de “design team”, integrando artistas e arquitectos. Embora, passado já meio século, as situações descritas, as ideias pré-formadas de uma área em relação à outra, as dificuldades iniciais e as identificadas no desenvolvimento do processo colaborativo e o que surge como resultado final, mantém a sua actualidade e reflecte- 168 Sara Selwood – op.cit., p. 55-56. Idem, p. 52. Trad. Livre. 170 Idem, p. 54. “What you have in the USA is architects who, rather than giving the percent to painters and sculptors, take it upon themselves to interact with the needs of what they think ought to be presented to the public… Serious sculptors are denied the possibility of those interventions because the architects are co-opting the money… that parades as post-modernist signature for context.” Richard Serra. 169 72 se em outros mais recentes, dando assim uma perspectiva geral deste tipo de projectos interdisciplinares. O primeiro processo colaborativo integrado num programa de ‘percent for art’ e no qual o artista é inserido logo no início do processo criativo arquitectónico, é identificado por Tom Finkelpearl 171 , David Patten, entre outros, como o projecto para a Subestação Eléctrica Viewland/Hoffman, dos arquitectos Hobbs/Fukui Associates, com a colaboração dos artistas: Andrew Keating, Sherry Markovitz e Lewis "Buster" Simpson, e patrocinado pelo Seattle City Lights, dentro do esquema Percent for Art do Seattle Arts Commission, em 1979. Considerado como a primeira formulação efectiva de uma “Design Team”, envolvendo artistas e arquitectos no desenvolvimento de um projecto, desde o seu processo criativo até à sua conclusão. Com base nesta primeira experiência surge o primeiro aviso: “As subsequent generations of design teams will attest, it was not easy goig. (…) The artists were not used to the process of public design. How could they be? This was the first design team and some architects of subsequent generations have cursed the day that architects from Hobbs/Fukui opened the door for this collaboration.” 172 Fig. 95. Obras criadas pelos artistas para a Subestação Eléctrica Viewland/Hoffman, da Hobbs/Fukui Associates,1979. O primeiro indício das diferenças entre artistas e arquitectos, em relação ao processo criativo, foi o facto de os artistas insistirem que a primeira acção do projecto deveria ser a reunião das opiniões dos moradores do bairro, sobre as suas inquietações relativamente à proximidade da subestação eléctrica em relação às suas casas que, consequentemente, abriu um longo processo de deliberações entre artistas e arquitectos, que destronou o normal procedimento arquitectónico e levo-o, segundo Richard Andrews, a um processo desregrado e caótico, ao qual nem artistas e arquitectos estavam habituados e que “(…) embora artistas e designers tenham em comum o vocabulário da forma e do material, afastam-se no seu entendimento de 171 172 Tom Finkelpearl foi director do New York City’s Percent for Art Program entre 1990 e 1996. Tom Finkelpearl – op. cit., pp. 25-26. 73 como o processo criativo individual da arte, do design funcional e ainda na forma como este deve ser integrado no projecto real.” 173 O segundo projecto colaborativo, que também atingiu enorme sucesso junto da comunidade artística, arquitectónica e do público em geral, foi o desenho da Battery Park City Plaza, em Nova York, 1982-1989, dentro do programa Percent for Art do NYC Department of Cultural Affairs, com arquitectura de Cesar Pelli, arquitectura paisagística de M. Paul Friedberg e colaboração dos artistas Siah Armajani e Scott Burton. O que sucedeu, neste caso, foi o contrário do anteriormente referido; se, no primeiro, o entusiasmo inicial dos arquitectos se foi desvanecendo com as dificuldades no arranque do projecto, em Battery Park, o arquitecto Cesar Pelli não se deixou entusiasmar e expôs, desde o inicio, as suas inquietações em relação à colaboração, afirmando que: “Pensei que era péssima ideia. (…) Existem demasiados exemplos de arte anti-civica, exemplos onde o edifício é visto como ‘pano de fundo’ para o artista que sente que tem de criar uma situação confronto." 174 No entanto, a colaboração ocorreu de forma ideal, arte e arquitectura diluem-se e surgem no espaço de forma fluida e sem os bruscos contrastes das intervenções iniciais deste tipo de programas, a que Pelli se refere. Fig. 96. Cesar Pelli, Siah Armajani e Scott Burton – Battery Park City Plaza, N.Y., 1982-1989. Não podemos afirmar que somente pelo facto de um artista intervir num projecto arquitectónico pode fazer com que este seja mais apelativo para o público, da mesma forma que também não é possível garantir o sucesso do projecto somente ao trazer o artista para o interior do processo criativo. O que nos é possível dizer, nesta fase, é que foi este o caminho escolhido pela maioria dos programas de fundos para a integração da arte na arquitectura, como solução para os casos de insucesso já referidos e que, embora seja impossível garantir o sucesso destas colaborações, o maior envolvimento dos artistas durante o processo criativo, por norma complexo de gerir, apresenta uma maior percentagem de resultados satisfatórios, em relação à tardia implantação de arte num objecto arquitectónico já definido ou mesmo, construído. 173 Steven Huss, Diane Shamash – A Field Guide to Seattle’s Public Art. Seattle: Seattle Arts Commission, 1992, p. 67. Trad. Livre. 174 Douglas C. McGill - "Architect and Artists Collaborate on Battery Park City Plaza" New York Times, January 31, 1989, III, p. 17 74 5.4. PROGRAMA DE ARTE PÚBLICA DA EXPO’98. 5.4. FERNANDA FRAGATEIRO: JARDIM DAS ONDAS, EXPO’98, LISBOA, 1998. Este caso de estudo reúne duas condições específicas relevantes para a integração da arte na arquitectura. Embora a relação estabelecida entre ambas as disciplinas surja em casos bastante diferenciados, existem meios através dos quais este envolvimento é naturalmente potenciado e, em certos casos, como os programas de arte pública ou urbana, são criadas condições em que a relação entre arte e arquitectura se torna um requisito e uma exigência. A primeira condição reside no facto de surgir no contexto de uma exposição universal, assinalada aqui como território fértil e intemporal no diálogo interdisciplinar. Praticamente sem excepções, o binómio proposto por António Mega Ferreira: “Exposição Internacional – Exposição de Arquitecturas” 175 domina o panorama histórico das exposições universais, e é visível na sua riquíssima tradição iniciada em 1851, com a apresentação do icónico Palácio de Cristal de Joseph Paxton, na primeira Grande Exposição em Londres. Desde aí que estas exposições se tornaram palco para as mais arrojadas e marcantes expressões arquitectónicas do seu tempo. Por um lado, a temporalidade limitada dos objectos arquitectónicos permitia um desprendimento com o contexto em que se inseriam, orçamentos menos condicionados e programas flexíveis; factos que se traduzem na possibilidade de o arquitecto se exprimir sem o normal leque de restrições, de apresentar um atitude experimental, de se permitir um visão artística e auto-referencial sobre o programa e conceito arquitectónico, que nem sempre lhe é permitida em projectos permanentes e de custos controlados. Por outro, em exemplos como o Palácio de Cristal (recolocado posteriormente, em Upper Norwood, Londres, onde ficou até 1936, ano do incêndio que o destruiu na totalidade), a Torre Eiffel (construída para a Exposição de Paris, em 1889), o Atomium (obra futurista realizada para a Exposição de Bruxelas, em 1958) ou a mais recente ponte da Barqueta (que une o casco histórico de Sevilha à ilha da Cartuja onde se realizou a Expo 92), entre outros, marcam ainda a paisagem e história das cidades onde se localizam. Embora realizadas para um evento temporário, o estatuto simbólico e a mostra de tendências e inovações construtivas ou arquitectónicas inerente a estas obras resguardou-as para o futuro e tornou-as ícones do seu respectivo país. Aliado a esta possibilidade e contexto permissivo de uma atitude inovadora, surge também um interesse especial pela colocação de arte e difusão de artistas, nacionais mas também internacionais, neste enorme espaço público. 175 António Mega Ferreira – “Da arte de bem ordenar”, Manuel Salgado: Espaço Público. Lisboa: Parque das Nações D.L., 2000, p. 5. 75 Fig. 97. Sir. Joseph Paxton - Palácio de Cristal, Londres, 1851. Fig. 98. Gustave Eiffel - Torre Eiffel, Paris, 1889. Fig. 99. André Waterkeyn - Atomiun, Bruxelas, 1958. Fig. 100. Marcos Pantaleón - Ponte da Barqueta, Sevilha, 1989. A segunda condição referida prende-se com a criação de um programa de arte pública, sem precedentes em Portugal, que, pela forma como foi realizado e concretizado, corresponde ao cuidado e à responsabilidade com que as obras são colocadas no espaço arquitectónico ou urbano, à forma como os vários artistas foram envolvidos e convidados a participar, não só no programa mas também nas decisões afectas às suas obras. Embora de duração temporária e implantação delimitada pela zona de intervenção, o programa de arte pública da Parque Expo’98 é um exemplo de sucesso no panorama nacional e constitui a plataforma através da qual surge o Jardim das Ondas – referido e discutido como uma verdadeira colaboração entre artista e arquitecto, neste caso paisagista. Contexto físico da intervenção: O Jardim das Ondas situa-se no actual Parque das Nações, que entre 22 de Maio e 30 de Setembro de 1998 deu espaço à EXPO’98 e que correspondia à zona ocupada pela Doca dos Olivais e por uma série de grandes infra-estruturas industriais, em avançado estado de degradação, como o Matadouro Industrial de Lisboa, o Depósito Geral de Materiais de Guerra, a estação de Tratamento de Águas Residuais, o Aterro Sanitário e a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) de Beirolas e ainda a refinaria da Petrogal e depósitos de produtos petrolíferos (ex-Sacor e outras companhias); a poente da linha de caminhos-de-ferro, no final dos anos 80, estavam ainda instaladas pequenas e médias indústrias 176 e, alguma habitação desordenada e precária. Todo este território urgia reabilitação e uma nova solução urbana que tirasse partido da sua localização de privilegiada, junto ao rio Tejo, na zona oriental de Lisboa. A primeira fase do projecto consistiu, então, na relocalização das actividades industriais e da população residente, na demolição de todas as construções existentes, com excepção das torres da refinaria, que constituem, hoje em dia, o único vestígio das pré-existências e do carácter industrial do lugar. Posteriormente, procedeu-se também à descontaminação dos solos e águas subterrâneas e ao saneamento, despoluição e regularização da parte terminal do 176 Informação disponível em: http://www.portaldasnacoes.pt/item/como-era-o-parque-das-nacoes/. 76 rio Trancão, estabelecendo assim a tábula rasa que um projecto destas dimensões e importância, a nível local e nacional, requeria. O projecto: A operação EXPO’98 englobava, três grandes objectivos: por um lado a realização da primeira Exposição Mundial em Portugal, e última do seu género realizada a nível mundial no séc. XX, com toda a carga simbólica e visibilidade nacional inerentes; por outro, pretendia-se a reabilitação urbanística e ambiental da área com cerca de 340 hectares já referida, na qual a exposição seria inserida, bem como a restituição, aos cidadãos, do direito de usufruírem destes 5km de frente ribeirinha em utilização desadequada. A manutenção de uma coerência plena e consciência global entre estes dois objectivos, constitui o terceiro objectivo 177 , que constitui “um dos grandes segredos para o sucesso geral do empreendimento Expo’98” 178 e que se materializa num projecto capaz de conciliar eficazmente a realização da exposição, com os usos futuros dos seus espaços e construções permanentes. Como objectivo cultural, visava-se, através do tema definido para a Exposição Mundial: “Os Oceanos: um Património para o Futuro”, promover uma reflexão profícua em torno da temática oceanológica, renunciando uma óptica estritamente historicista, e propondo a “revisão do tema nas suas perspectivas de futuro, relacionando-o com a ciência, a política, a tecnologia e as artes.” 179 A difícil tarefa de harmonizar, estruturar e dirigir o projecto de reabilitação urbana e do espaço expositivo geral, ficou a cargo do arquitecto Manuel Salgado, que pensou o projecto da Expo’98, na totalidade. O atelier Risco, distinguido pela realização deste projecto com o Prémio Valmor em 1998 e com o Prémio do Instituto Português de Design, em 1999, ficaria então responsável pelo projecto geral do recinto, projectos de infra-estruturas, espaços públicos e zonas verdes, assim como as estruturas modulares destinadas aos restaurantes e outros equipamentos de apoio, os pavilhões modulares para a área internacional sul, áreas das organizações nacionais e internacionais, e projectos para o Edifício Olímpico (actualmente Lisboa/Expo), o Anfiteatro ao Ar Livre, o restaurante junto à Doca dos Olivais e o Teatro Camões/ Sala Júlio Verne. 180 Através do desenvolvimento do projecto imobiliário, da malha residencial e de um projecto de uma exposição de grandes dimensões, são desenhados dois eixos principais, um longitudinal, paralelo à linha ferroviária, nomeado Alameda dos Oceanos e um eixo perpendicular a este, 177 Eng. José de Melo Torres Campos – Relatório da Exposição Mundial de Lisboa de 1998 (realizado para apresentação ao Bureau International des Expositions). Lisboa: Expo’98, Dezembro 1998, pp. 9-11. Disponível em: http://www.portaldasnacoes.pt/images/stories/documentos/parque_das_nacoes/historia_ patrimonio/expo_98/expo_98/ficheiro/Relatorio.pdf 178 Idem, p. 51. 179 Informação disponível em: http://www.parqueexpo.pt/conteudo.aspx?lang=pt&id_object=692&name= EXPO'98 180 Atelier RISCO – Expo’98: Espaço Público do Recinto. Disponível em: www.risco.org/pt/02_04_expo98.html 77 que estabelece uma forte linha de visão para o Tejo, com início na Av. de Berlim, agarrando o aeroporto de Lisboa, a Estação do Oriente e rasgando a cidade até ao rio. Partindo destes eixos principais foi desenhada uma malha de 7 por 7m, que estabelece a base de desenho do espaço público, “que estrutura o desenho do chão, e define as regras de localização de imobiliário, equipamentos, infra-estruturas, plantações e intervenções artísticas” 181 . Definidas as principais orientações, salienta-se a relevância do espaço público em toda a área de intervenção, como elemento essencial da reconversão urbana e na unificação dos diferentes projectos permanentes e temporários que constituíram o recinto da Expo’98. O protagonismo que o Arq. Manuel Salgado conferiu ao tratamento do espaço público deu azo a um projecto de arte pública sem precedentes, que constitui hoje em dia “um dos mais relevantes núcleos na cidade de Lisboa, reunindo não só reconhecidos criadores internacionais, como prestigiados autores nacionais, nalguns casos de escassa ou nula representação na malha urbana da Capital.” 182 Segundo António Mega Ferreira, o programa de arte urbana da Parque Expo’98, “representa a soma de partes que se foram afigurando como elementos indispensáveis à construção da paisagem, não como figurações decorativas, mas como topoi de uma estratégia de desconstrução e reconstrução do espaço urbano que culmina no recinto da Expo’98 mas se prolonga, inevitavelmente por toda a zona de intervenção.” 183 Invulgar e de relevância no panorama nacional devido ao tratamento dado à implantação e presença das obras de arte contemporânea no espaço público, o interesse por este aspecto surge numa fase ainda inicial e mantêm-se ao longo de todo desenvolvimento da obra como conceito chave e, ainda, como principal razão pela qual este programa prosperou e resultou em sucesso. Encarregue de pensar a intervenção dos artistas, António Campos Rosado explica: “não nos limitámos a deslocar obras de arte existentes para um local público, nem é isso que torna o objecto artístico um objecto de arte pública ou urbana, no sentido público, citadino e metropolitano. Um objecto de arte pública é pensado de raiz para essa situação.(…) Neste sentido, a articulação das esculturas com as suas ideias, das esculturas com o espaço ambiental/urbano/arquitectónico/vivencial da zona é fulcral para o sucesso que muitas vezes não é reconhecido imediatamente. A existência desses objectos é sentida pelo visitante de uma forma por vezes quase subliminar” 184 Procurava-se que, através de cada intervenção, um espaço público anónimo se tornaria num espaço de estada, num espaço humanizado que contrariaria o “monolitismo característico da cidade”; para isso era pedido aos artistas que considerassem na “idealização e integração da 181 Atelier RISCO – op. cit., não paginado. Informação disponível em: http://www.lisboapatrimoniocultural.pt/itinerarios/Paginas/Itinerario-Parquedas-Nacoes.aspx 183 António Mega Ferreira – “Figuras Livres”. Arte Urbana. Lisboa: Parque Expo 98 S.A., 1998, p. 9 184 António de Campos Rosado, um dos responsáveis pelo projecto de Arte Pública na Expo 98 em entrevista ao NetParque , disponível em http://www.netparque.pt/NPShowStory.asp?id=261976 182 78 sua obra no espaço público” a forma como esta poderia tornar o lugar onde seria implantada num lugar de referência para o cidadão, que assumissem para as suas obras um carácter de reacção contra a “indiferença generalizada, sugerindo ao individuo um objecto paradoxal e de descontinuidade dentro da malha urbana” que resultasse não só como elemento transgressor e “não pacificado, dentro da estrutura da cidade” mas também, que, ultrapassando o valor estético do gesto artístico, os criadores questionassem o “valor estético da sua obra e o lugar que esta ocupa dentro de uma lógica espacial.” 185 Sobre o processo de trabalho adoptado com os artistas, Manuel Salgado explica: “A nossa primeira preocupação foi a relação da arte urbana como o passado. Não pretendíamos um discurso passadista. Depois de discutirmos um pouco que tipo de intervenção é que podíamos ter (...) Foi necessário decidir onde localizar as peças. (…) Foi um trabalho interessante: integrar uma forte componente de arte urbana num espaço recém-nascido, sem cair na tentação de o rechear com referências à História de Portugal. (…) Pensávamos uma peça para um determinado local. Havia uma conversa com o artista em que se definia a peça, considerávamos a altura, o espaço onde se inseria, a forma como seria vista de vários sítios.” 186 A diversidade das obras, dos vinte e quatro artistas seleccionados para intervir, não só no recinto, mas também ao longo do que é agora o Parque das Nações é visível no funcionalismo de Kanimambo, de Ângela Ferreira, no carácter arquitectónico de obras como Penélope, de Fernanda Fragateira ou a obra de Pedro Cabrita Reis no viaduto da Av. Marechal Gomes da Costa e rotunda da Expo98; em esculturas como Rizoma de Antony Gormley, ou Homem-Sol de Jorge Vieira, no movimento de Reflexo do céu, navegante de Susumu Shingu, na postura historicista do Lago das Tágides de João Cutileiro, simbólica de Ilha de repouso de Rui Sanches e Onda Luso Americana de Stephen Frietch e Steven Spurlock, ou na perspectiva lúdica de obras como Cursiva de Amy Yoes; nas soluções bidimensionais de pavimento, destaca-se por exemplo, a praça da Porta Sul de Pedro Calapez, a intervenção de Fernando Conduto no Rossio dos Olivais, a de Pedro Proença, no cais dos argonautas, a de Xana no Cais Português, e os murais, Haveráguas de Roberto Matta, ou Navigatio Sancti Brendanni Abbatis de Ilda David. De entre o enorme espectro de obras realizadas surge, como caso singular, a participação da artista Fernanda Fragateiro, não só relevante pelo facto de constituir a intervenção mais extensa realizada, incluindo os Jardins de Água e o Jardim das Ondas, mas também por constituir o único caso colaborativo dentro do programa de arte pública. Segundo Manuel Salgado – “o trabalho de Fernanda Fragateiro, ao contrário dos outros artistas, foi desenvolvido em colaboração constante connosco. Tínhamos uma ideia para aquele jardim da água, desde a ideia da fonte que acaba no rio àquelas formas. Convidámos a Fernanda para fazer várias 185 António Manuel Pinto – “Arte Urbana: entre o espaço público e o espaço humano”. Arte Urbana. Lisboa: Expo 98, 2000, p. 13. 186 Manuel Salgado – op. cit., pp. 20-22. 79 intervenções e ela contribuiu muito para o projecto, contando uma história inspirada em Virginia Wolf. Havia um muro e ela propôs que o muro funcionasse como uma cortina, depois propôs uns bancos e uma girafa a ver-se ao espalho. Num sítio com o chão em calçada que era para ser trabalhada propôs aquela malha/tricôt infindável. Apresentou várias contribuições que enriqueceram o conceito que existia para uma ideia de organização geral daquele espaço.” 187 Para além da clara influência que a artista teve no desenho dos Jardins de Água, interessanos, acima de tudo, explorar a sua outra obra, o Jardim das Ondas, na qual a colaboração com o arquitecto paisagista João Gomes da Silva foi de tal modo equilibrada e profícua que o resultado final paira entre o objecto de arte e um jardim ou espaço de estada, sendo difícil identificar onde acaba o trabalho da artista e começa o do arquitecto paisagista e vice-versa, 188 uma obra que se situa na linha invisível descrita por Mark Wigley . A intervenção de Fernanda Fragateiro: Fernanda Fragateiro e o Arq. João Gomes da Silva colaboram com o Arq. Manuel Salgado no projecto dos Jardins de Água, devido ao sucesso da obra e ao facto de a colaboração surgir com muita facilidade e naturalidade, decidem prolongá-la para o Jardim das Ondas, espaço destinado a receber um projecto de João Gomes da Silva para o qual já havia uma série de desenhos. A postura do arquitecto é, neste caso, essencial para o sucesso deste projecto: “Devo dizer, que foi um projecto muito personalizado, (…) ao contrário de outros espaços que envolveram outras pessoas, houve, de uma forma talvez mais inconsciente da minha parte e de uma forma mais controlada e consciente da parte dela, tal como é muitas vezes próprio entre os homens e as mulheres, essa intenção e disponibilidade, sobretudo disponibilidade, para o fazer. Portanto, a minha posição foi – Bom, temos uma hipótese mas estamos completamente abertos para explorar outra e, portanto, como é que vamos fazer, como é que vamos trabalhar? A posição do lado dela foi um pouco diferente, até porque os artistas funcionam muito mais dependentes da noção de autoria e trabalham de uma forma normalmente muito mais isolada do que arquitectos.” 189 Para a artista: “Embora seja um trabalho de colaboração, tem uma linha divisória bastante marcada. No fundo, o que o João Gomes da Silva faz é permitir que aquele projecto aconteça (…) é uma coisa muito importante. (…) Eu proponho aquele projecto e concebo-o sozinha e o que o João faz, é entender, respeitar imenso e contribuir, com o saber dele, para que aquele projecto seja possível, mesmo que os outros paisagistas ligados ao próprio espaço da Expo, achassem que aquele espaço não era viável, não funcionava ou que tinha uma artificialidade que não coincidia com a linguagem do resto do espaço.” 187 Idem, p. 25. Mark Wigley – op. cit., p. 29. 189 Excerto da entrevista realizada pela autora ao Arq. João Gomes da Silva. 190 Excerto da entrevista realizada pela autora a Fernanda Fragateiro. 188 80 190 A resistência ao projecto por parte dos restantes arquitectos paisagistas deve-se à insistência da artista, apoiada de forma incontestável pelo arquitecto, na utilização de matérias orgânicas na modelação do terreno. José Veludo foi um dos arquitectos que se opôs à realização da obra, alegando que a não utilização de matérias rígidas, punha em causa a manutenção de um espaço de apropriação intensa e que na sua formulação continha situações de limite de fragilidade. Por outro lado, para artista, sendo que o espaço, não era um jardim normal, “era uma coisa muito especial que, teria sempre de ter um tratamento exclusivo” 191 , possibilitado pelo contexto expositivo em que seria criado e pelo estatuto de obra de arte. O Jardim das Ondas, surge como mais um dos espaços públicos de lazer projectados no âmbito da Expo’98, mas diferenciando-se, no sentido em que a arte pública, não só serve como referência para o cidadão, para dinamizar ou criar um identidade para o lugar, neste caso particular, a arte é tudo isto mas é também em si, o lugar, integrando-se dentro do conceito de art-as-public-place e de uma obra de Land Art que admite ser habitada e vivida integralmente pelo espectador. Partindo de um amplo espaço disponível - cerca de um hectare - destinado à utilização lúdica dos visitantes, a artista e o arquitecto paisagista irão pensá-lo como tal, e integrá-lo dentro da temática geral da exposição. A inspiração surge no movimento das águas, não só nas ondas como na sua propagação quando algo se deposita sobre a sua superfície. Este padrão surge agora de uma forma estática e terrena, captado no tempo como uma fotografia tridimensional e representado na topografia do jardim, conferindo, a um espaço que tende a ser plano, um dinamismo e fluidez que dificilmente se consegue através do simples tratamento e diferenciação de espaços neste tipo de projectos. Embora a sua escala só permita a sua total apreciação e entendimento pleno, através de um distanciamento significativo ou de uma perspectiva aérea, cada alteração no terreno ou apontamento arbóreo é entendido por Fernanda Fragateiro como micro espaço dentro de um plano maior e globalizante de todas as acções. A colaboração pode ser visível nas diferentes escalas às quais o projecto, tanto artístico como paisagístico, deve obedecer, e na coerência com que cada uma encaixa na outra e o torna tanto funcional como simbólico e esteticamente completo. 191 Idem. 81 Fig. 101. Maquete em gesso realizada por Fernanda Fragateiro. Fig. 102. Planta de modelação e Corte transversal do terreno. O solo é utilizado como matéria de deformação, e os elementos naturais como o sol, água e vegetação como materiais de sensorialidade; o espaço compõe-se por várias elevações ou depressões no solo, totalmente relvado, pontuado na sua extremidade sul e poente por árvores. Para recriar os vários efeitos da água definidos numa maqueta realizada em gesso, foram realizados rigorosos cortes sistemáticos na planta que seriam recriados através da modelação mecânica de solo arenoso. Um primeiro impasse no projecto, surgiu na verificação de que somente através da direcção directa, do trabalho pelos autores no local, se chegaria ao resultado imaginado, e que da mesma forma, a fotografia aérea ou de ângulos elevados seria o único meio de controlo eficaz da obra durante a sua construção. Fig. 103. Imagem geral da construção/modelação do terreno. Todos os aspectos estéticos, técnicos e de futura manutenção do espaço foram alvo de discernimento e preocupação por ambos os autores, desde a escolha do material de acabamento da superfície relvada, à rega, que se quis fixa, automática e invisível “de forma a criar resistência ao material nos meses em que o clima mediterrânico de Lisboa tende a diminuir a sua vitalidade”. 192 192 António Campos Rosado – Co-laborações: Arquitectos/Artistas. Lisboa: Parque Expo 98, 2000, p. 107. 82 Fig. 104. Revestimento, forma e apropriação do espaço. Embora se tenha tentado prevenir, quando a Expo’98 fechou portas, o jardim encontrava-se em mau estado de conservação, devido à intensa utilização a que tinha sido sujeito e consequência positiva do seu sucesso que gerou como espaço público de lazer. Depois de realizados os necessários trabalhos de manutenção, e passado mais de uma década da sua construção, o Jardim das Ondas, mantém-se como um importante espaço público de vivência comunitária, diariamente apropriado de variadas formas e por diferentes gerações. Ainda podemos observar em qualquer visita, adultos que nele se sentam à sombra de uma árvore, que passeiam e atravessam os seus socalcos, jovens que o escolhem para o desenvolvimento de actividades desportivas ou crianças que rebolam nas suas ondas. Fig. 105. Jardim das Ondas, vista Este. Fig. 106. Jardim das Ondas, vista Sul. 83 Fig. 107. Jardim das Ondas, vista Norte. VI NOVAS DINÂMICAS COLABORATIVAS. 6.1. INTERDISCIPLINARIDADE COM MÉTODO DE ACÇÃO. “Eu acho que a maior vantagem é a aprendizagem. Mesmo que não queiramos, estamos sempre a ser preconceituosos, não é? É, de facto, muito importante, questionarmos a forma como trabalhamos, e sobre esse ponto de vista, o trabalhar com pessoas com uma visão diferente, como no caso dos artistas plásticos, é uma possibilidade de questionar as coisas de forma diferente. Podiam ser outros olhares, mas é mais fácil encontrar no campo das artes, olhares críticos que questionem o está a ser feito. Eu acho que a importância esgota-se toda aí. Depois há uma outra dimensão, já menos importante, que é a dimensão daquilo que se produz, porque aquilo que eu estava a falar anteriormente era da dimensão do processo. O processo é mesmo a coisa mais importante, talvez no início, uma pessoa não veja isso com clareza, mas à medida que os anos vão avançando, eu acho que isso se torna mais claro. O que nos alimenta mais, que nos dá aprendizagem, aquilo que nos apaixona, aquilo que nos dá vida é sempre o processo e, não tanto, o resultado.” Excerto da entrevista realizada ao Arq. José Veludo. 6.1. A INTERDISCIPLINARIDADE COM MÉTODO DE ACÇÃO. Aliada à especialização disciplinar, que tem vindo a ocorrer desde o início do séc. XX, cada vez se torna mais pertinente explorar as possibilidades destas novas metodologias de trabalho a nível interdisciplinar. Aliado ao facto de que as disciplinas têm limitado cada vez mais o seu campo de acção, surge assim uma necessidade de complementaridade, de cooperação entre vários actores para a resolução de problemas, a um nível geral. Especificamente sobre as disciplinas que intervêm no desenho da cidade, surge o facto de o espaço urbano se ter tornado incrementalmente complexo de resolver e trabalhar, a variedade de espaços e a sua demanda a utilizações e programas variados requer a intervenção de várias especialidades, que idealmente se reúnem e disponibilizam os seus conhecimentos e processos para melhor satisfazer os novos requisitos da urbe contemporânea. Toda a colaboração tem por base a interdisciplinaridade mas, quando falamos de interdisciplinaridade, não nos referimos à clássica cooperação entre as artes, como a tradicional integração de obras arquitectónicas e escultóricas num mesmo espaço, ou ainda, à óbvia coordenação de diferentes especialidades técnicas que se unem em torno do projecto arquitectónico (projecto de estruturas, de redes interiores de energia, iluminação, comunicação, abastecimento de águas e climatização). A interdisciplinaridade com a qual identificamos a acção colaborativa, e na qual nos queremos focar, é muito mais do que a adição de um número de competências técnicas que se sobrepõem num mesmo objectivo final, ou da divisão de um projecto em várias partes componentes, (como exemplo: edificado, trabalho exterior e obra de arte) sobre as quais cada disciplina se encarrega da sua parte num processo independente, a que Pedro Brandão classifica de “pluridisciplinaridade ou multidisciplinaridade” 193 ou uma simples relação de cooperação disciplinar. Numa perspectiva inicial, a colaboração apresenta uma necessidade de cooperação; no entanto, o trabalho das várias partes consiste num processo, coordenado, sincronizado e aberto, que só resulta de uma insistência contínua na construção e manutenção de uma visão partilhada do problema, ou simplesmente, de um interesse mútuo de todos os participantes em coordenar esforços para a resolução de um problema ou construção de um novo objecto. É, no entanto importante, para o esclarecimento do tema, o que distingue a pluridisciplinaridade da transdisciplinaridade? Primeiramente, e segundo Olga Pombo, a interdisciplinaridade surge como “mais do que a pluridisciplinaridade e menos do que a transdisciplinaridade.” 193 194 Estabelecida a hierarquia entre Pedro Brandão – Ética e Profissões, no Design Urbano: Convicções, responsabilidade e Interdisciplinaridade; Livro I - As Identidade do Desenho e a Cidade. Departamento de Escultura da Universidade de Barcelona: Tese de Doutoramento, 2005, p.141. 194 Olga Pombo, Henrique M. Guimarães e Teresa Levy – A Interdisciplinaridade: Reflexão e Experiência, 2ª Ed. Lisboa: Texto Editora, 1994, p. 11. 84 os diferentes modos nas quais as disciplinas se relacionam e articulam, os dois extremos são definidos da seguinte forma: A pluridisciplinaridade, sinónimo de multidisciplinaridade, é entendida como a colaboração entre disciplinas com vista à recolha de informações provenientes das disciplinas envolvidas ou à análise conjunta de um mesmo objecto, num período temporal limitado e pontual, para a análise de um problema concreto, sem que se dêem alterações estruturais ou enriquecimento no processo normal de cada disciplina, ou seja, não implica uma integração conceptual interna. Assim como acontece na arquitectura, várias disciplinas unem-se em torno de um único objecto, o edifício, a pluridisciplinaridade propõe que o conjunto disciplinar se encontra ao serviço, exclusivamente da disciplina que contem o objecto de estudo. Esta metodologia de trabalho tende para a interdisciplinaridade “quando as relações de interdependência entre disciplinas emergem. Passa-se então do simples intercâmbio de ideias a uma cooperação e a uma certa compenetração das disciplinas.” 195 A transdisciplinaridade identifica-se com o nível máximo de integração disciplinar e acontece quando duas ou mais disciplinas se unem, fora do seu âmbito profissional e disciplinar, de modo a encontrar uma linguagem comum, centrada numa problemática complexa e com certa autonomia conceptual, que pode evoluir para o desenvolvimento para o desenvolvimento de nova área de conhecimento, ou uma nova disciplina. “Trata-se de uma forma extrema de integração disciplinar (…) rompendo fronteiras entre as disciplinas envolvidas, ela implicaria profundas alterações” 196 na estrutura do conhecimento. Finalmente a interdisciplinaridade aponta para um nível intermédio, para uma noção de relação recíproca e um espaço comum mas delineado entre disciplinas. Diferindo, assim, da simples adição disciplinar, no momento em que procura uma síntese relativamente a um objecto comum e permite a transferência de conceitos, metodologias, integração de conceitos, e a “utilização de métodos próprios de pesquisa em zonas de fronteira que podem pôr em causa os saberes e práticas instituídas” 197 e tem ainda, ao contrário da pluridisciplinaridade, no que consta ao resultado, o enriquecimento recíproco das disciplinas envolvidas. A questão mais imediata, que surge sobre a colaboração ou relações interdisciplinares entre artistas e arquitectos, é o facto de que o desenvolvimento de qualquer projecto requer, como sabemos, uma série de participantes e intermediários para a sua concretização e desenvolvimento, esta necessidade de recorrência a outras especialidades técnicas e científicas, é encarada pelos arquitectos com naturalidade, no entanto, a ameaça ao seu domínio estético e de escala, pelas disciplinas criativas, como a arte ou o design, traz à superfície alguma tensão, associada por alguns autores, como derivada da autonomia 195 Idem, pp. 92-97 Olga Pombo – op. cit., p. 13. 197 Pedro Brandão - Ética e Profissões, no Design Urbano: Convicções, Responsabilidade e Interdisciplinaridade; Livro II - Profissão de Arquitecto: Identidade e Prospectiva. Departamento de Escultura da Universidade de Barcelona: Tese de Doutoramento, 2005, p. 216. 196 85 disciplinar e a separação, especificamente entre estas disciplinas, no movimento moderno. Por outro lado, especificamente para os artistas de estúdio, embora entendam os benefícios e desejem a instalação das suas obras no espaço público e no edificado urbano, esta questão põe-se como uma invasão do seu ego criativo, da sua privacidade e do seu solitário processo artístico. O artista Andrew Drake, expõe esta preocupação, no sentido em que “uma obra de arte só tem integridade quando o artista tem sobre ela controle absoluto, trabalhando todos os aspectos no seu estúdio” 198 . Neste tipo de situação, a necessária partilha do processo criativo e a sensação de perda de controlo sobre o mesmo, pode tornar a colaboração num processo, por vezes ingrato e esgotante. É importante referir também que, embora isto seja verdade para os “studio-based artists”, esta situação é atenuada quando nos referimos a artistas que já fizeram a transição para o domínio público e que já se habituaram a delegar a produção da sua obra, ou que já apresentam capacidades de dialogo com vários autores como o público, clientes, curadores e administradores, como é o caso de Fernanda Fragateiro. Para este tipo de artistas, o trabalho interdisciplinar desenvolve-se com maior diligência, e na opinião de Will Alsop, embora as “demandas de terceiros, seja um choque e um desafio, tornam também o trabalho extremamente estimulante.” 199 Concluímos, assim, que este tipo de colaboração tem como característica principal, a ênfase no processo criativo, e não tanto no objecto final, segundo o arquitecto Will Alsop: “(…) a colaboração tem-se tornado mais significante que a obra; os meios em vez do fim; o processo, não o resultado; a sensação e não a responsabilidade. O preenchimento de tempo significativo, não a missão” 200 . O crítico de arte Jeff Kelly, refere também que a colaboração é um processo de transformação mutua, em que mais importante que o resultado final é a transformação que ocorre no processo criativo, explicando que, colaboração ”significa que artistas e arquitectos, podem nem criar um objecto de arte nem de arquitectura (…) em vez disso, é a procura daqueles momentos híbridos no processo colaborativo, nos quais tanto a arte como a arquitectura, na sua forma reconhecível e identificável, desaparecem e dão lugar a outra coisa, uma coisa que não é nem uma, nem outra.” 201 Entram, mais uma vez, em cena as teorias de negação de Rosalind Krauss, já referidas na conclusão do primeiro capítulo. Ao afirmar que o resultado de uma colaboração honesta e plena entre artistas e arquitectos é algo que não representa ou que não se insurge como uma obra de arte ou como arquitectura, coloca o produto da colaboração entre estas duas áreas num campo de indefinição no qual Krauss colocou as novas práticas artísticas que surgem a partir dos anos 60. Acerca desta indefinição em relação ao resultado da colaboração, Mark 198 Maggie Toy – op. cit., p. 27. Trad. Livre. Will Alsop – “Frames of Mind”, Frontiers: Artists & Architects. Architectural Design, Vol. 68, Nº 7/8, JulyAugust, 1997, p. 28. Trad. Livre. 200 Idem, p. 28. Trad. Livre 201 Jeff Kelly – “Common Work”, Mapping the Terrain: New Genre Public Art. Washington: Bay Press, 1995, p. 140. Trad. Livre. 199 86 Wigley, explica de forma clara que “colaboração não se resume a pessoas talentosas, de diferentes campos, a trabalharem juntas em projectos estimulantes. A colaboração começa realmente quando já não é nítido quem é o responsável pelo quê. Duas pessoas assinam um projecto que não existe, no trabalho, nenhuma linha visível que nos permita atribuir a cada uma delas as diferentes partes ou papeis, nenhuma divisão clara entre a arte e a arquitectura.” 202 Marx Wigley – op. cit., p. 25. Trad. Livre. 87 202 6.2. PROBLEMÁTICA DAS NOVAS DINÂMICAS COLABORATIVAS. “Se calhar, um dia vai surgir um projecto, e eu gostaria de trabalhar com João Maria Ventura Trindade nesses moldes, que nasça dos dois, que seja uma verdadeira colaboração, ou seja, que eu não seja chamada a comentar um projecto dele, mas que possamos pensar e construir qualquer coisa juntos, na qual não se distinga arquitecto de artista, e isso se calhar é a parte mais limite da colaboração, que é muito, muito difícil de acontecer.” Excerto da entrevista realizada a Fernanda Fragateiro. “Há uma coisa, que acho que é importante dizer-lhe: É que, à partida, um artista plástico é aquele que leva até ao fim a realização da sua obra, isto para dizer, que a determinada altura nestes processos, a materialização escapa às nossas mãos. Isso é um problema porque, na materialização, tudo, incluído o mais pequeno pormenor, é importante para o processo, e nem sempre é possível controlar todas as coisas que acontecem em obra. E também aconteceram acidentes destes nesta obra, ou seja, a determinada altura, aquilo que se tinha na cabeça, na da Fernanda e na nossa, não se conseguiu materializar.” Excerto da entrevista realizada ao Arq. José Veludo. “Quando as coisas não correm como eu gostaria que corressem, tenho alguma dificuldade em aceitar esses erros, e é um defeito meu. (…) Acho que o Herzog, ao contrário da maioria dos arquitectos, tem uma enorme curiosidade relativamente áquilo que o artista pode trazer. Se calhar é mesmo dos poucos arquitectos que tem. O problema dos arquitectos é que têm um desejo, quase incontrolável, de controlar todo o processo, e o facto de pensarem que o artista pode contaminar esse processo é um risco muito grande para a sua imagem.” Excerto da entrevista realizada a Fernanda Fragateiro. 6.2. PROBLEMÁTICA DAS NOVAS DINÂMICAS COLABORATIVAS. “It is like that story about two thieves who hole up in an abandoned restaurant to plan their next job. While they are plotting in the basement kitchen, the dumbwaiter comes down and there is an order for fried chicken, Southern style. “What shall we do” asks one. “Quick fill the order,” says the other, “or they’ll come and find us.” So they send up some fried chicken Southern style. But then another order comes down, and another and they keep filing them and sending them 203 up. This is what happened to our revolution.” Através desta alegoria, o artista Siah Armajani, descreve o sentimento de alguns artistas perante a complexidade que atingiu os métodos colaborativos, na década de 80, usando o termo: “revolução”, em relação à tentativa dos artistas em participar activamente e desde o início do processo de desenho do projecto, o artista afirma que “A arte pública era uma promessa que se tornou num pesadelo. (…) a ideia de uma “design team” simplesmente não resulta (…) pois quem acaba, no final por tomar as decisões é quem controla o dinheiro, ou seja, o promotor imobiliário e o administrador artístico”. A curadora Patricia Fuller refere-se também a esta questão da complexidade ao dizer que “a crescente tendência para a complexificação e ‘rigidificação’ do processo, a codificação de um género de arte intitulado Arte Pública e a ideia de profissionalismo que admite artistas e arquitectos na mesma fraternidade, parece ter criado um aparato que só se justifica na criação de objectos permanentes.” 204 Embora muitos programas proponham uma série de regras a cumprir para melhorar a eficácia das colaborações, os autores referidos afirmam que é impossível antever à partida, ou identificar os factores de garantia de sucesso para qualquer colaboração, já que, considerandoas essencialmente como um processo dinâmico, recente, flexível e imprevisível, talvez não deva haver um conjunto de regras que limite o seu funcionamento. São propostos, no entanto, vários pontos a ter em conta, tanto para artistas como para arquitectos que se envolvem neste tipo de projectos e que visam apenas a salvaguarda dos intervenientes e a identificação de factores críticos, de modo a evitar algumas situações de confronto, que derivam da experiência de cada uma das partes. O arquitecto Will Alsop 205 propõe de uma forma genérica, mas que toca ao mesmo tempo em todas as questões essenciais, apenas três condições: Respeito mútuo. Os termos da colaboração devem ser claros e estão lá para benefício de ambas as partes. 203 Siah Armajani cit. por Tom Finkelpearl – op. cit., pp. 26-27. Suzanne Lacy – op.cit., pp. 22-23. Trad. Livre. 205 Will Alsop – “Frames of Mind”, Frontiers: Artists & Architects. Architectural Design, Vol. 127, 30 de Julho de 1997. Londres: Wiley-Academy,1998, p. 37. 204 88 Onde existe vontade, existe oportunidade para os colaboradores descobrirem o que não sabem. A estes pontos, o artista David Patten 206 , incidindo mais na dinâmica de trabalho acrescenta que: Os intervenientes devem aceitar a colaboração e acreditar que podem contribuir significativamente para o projecto. Devem trabalhar colaborativamente (visitas ao local, reuniões, desenhos, discussões, etc.) para construir uma visão partilhada do projecto. Devem-se mostrar abertos e entender as diferentes habilidades, conhecimentos e experiências um do outro. Convém estabelecer um mecanismo de coordenadas (calendário de reuniões, definir como se vão trocar dados e informações, qual o caminho crítico, etc.) para suportar a colaboração. Acordar um programa de alto nível e gerir sessões de trabalho de modo a criar um entendimento partilhado do local a intervir e uma visão em arco do projecto, de modo a que cada um tenha a maior liberdade possível no seu trabalho dentro de um esquema geral. O arquitecto Nick Childs 207 entende como factores absolutamente críticos na relação de trabalho: Selecção - a forma como os artistas são seleccionados deve ser cuidada e abrir espaço a quem se mostra interessado e habilitado para o trabalho conjunto, se o arquitecto for integrado nesta escolha, garante-se um maior cometimento na relação e evita-se por vezes, as desastrosas consequências de impingir um artista numa design team sem que qualquer um se mostre aberto à dinâmica de trabalho. Motivação - intervenientes motivados é fundamental para o sucesso do projecto, o cliente, ao construir a design team deve, para isso, ter desde o início um ideia clara do que quer atingir e explicar o que teve em conta na selecção de cada interveniente. Gestão do projecto - deve ser realizada por alguém que entenda as intenções e mostre empatia pelo projecto, idealmente deve ser um arquitecto a gerir o projecto. Status - o artista deve ter relevância suficiente no projecto para que tenha alguma autoridade e controle sobre os seus elementos na obra, garantindo assim que este tenha uma atitude responsável. A responsabilidade geral recai, no entanto, sobre o arquitecto, já que este tem como função a entrega de um edifício seguro e dentro do orçamento e do programa. Confiança - a partir do momento em que são seleccionados os intervenientes, deve ser dado espaço e tempo para que artista e arquitecto se conheçam e entrem em 206 David Patten – “An Artist's Perspective: Remember What Jack Said”, 2007. Disponível em: http://www.publicartonline.org.uk/resources/rescollaboration/collaboration_artist.php, 207 Nick Childs – “Collaboration: An Architect's Perspective: A losing battle?”, Dezembro 2000. Disponível em: http://www.publicartonline.org.uk/resources/rescollaboration/collaboration_architect.php 89 contacto com as obras um do outro, estabelecendo assim uma relação de confiança, respeito, reconhecimento de capacidades e entendimento mútuo. Comunicação - é essencial para o sucesso, o cliente deve ser claro nas suas intenções, o artista deve ter capacidade de transmitir as suas ideias e o arquitecto deve conseguir entendê-las e tomá-las em consideração. As diferentes linguagens são, por vezes, uma barreira intransponível e que torna a colaboração num processo desnecessariamente complexo. Compromisso - toda a equipa deve querer suportar a colaboração, o envolvimento e apoio mútuo dos intervenientes deve fazer parte das orientações e termos exigidos para o projecto colaborativo, todos devem entender a importância que a sua intervenção tem ou terá num plano geral e na ambição do cliente. Nos casos de estudo seleccionados, somente no último é que a colaboração não surge de forma casual e por vontade de ambos os intervenientes, aproximando-se assim dos programas de arte pública e percent-for-art, atrás analisados, no sentido da problemática das colaborações entre artistas e arquitectos. As principais questões devem-se ainda a um certo preconceito na forma como uma disciplina olha para a outra, e ainda a certos comportamentos padrão que distinguem artistas de arquitectos. A arquitectura mantém, nos dias de hoje, um certo controlo sobre a maior parte das disciplinas com as quais interage. Para João Maria Ventura Trindade, continua ainda a haver “essa tendência de prevalecer sobre todas as outras especialidades, de todas lhe serem subservientes ou funcionarem, simplesmente, para que a arquitectura brilhe” 208 , e para Fernanda Fragateiro, o problema tem ainda a ver com a necessidade de controlo total por parte de muitos arquitectos em relação ao projecto. Por outro lado, embora haja um desejo evidenciado, tanto pelos arquitectos como pela artista, de uma colaboração equilibrada, que obedeça na íntegra ao processo que a define e à consequente diluição entre as fronteiras do trabalho de cada um, é indicada também, a necessidade de limites claros e evidentes durante todo o processo colaborativo, ou seja, defende-se a contaminação reciproca e a experimentação, desde que apoiada na consciência das limitações de todo e qualquer interveniente. A inexistência desta fronteira tem como consequência a entrada dos arquitectos e artistas em campos que não são os seus. O alargamento do seu campo de acção e a experimentação numa área distinta entende aliciante por diversas razões: para os artistas, assenta na possibilidade de criar ambientes, de intervir no espaço urbano e na questão da escala e para os arquitectos, deve-se, por exemplo, à evolução tecnológica e ao facto de os materiais e técnicas de desenho e construção disponíveis nos dias de hoje, permitirem uma maior liberdade formal, uma enorme variedade de soluções estéticas e uma possibilidade de expressão. 208 João Maria Ventura Trindade – Excerto da entrevista realizada pela autora. 90 Outra questão que se põe tem a ver com a forma como o artista trabalha, discutindo-se essencialmente a questão da autoria e de controlo durante o processo criativo e de materialização. João Gomes da Silva refere que “os artistas funcionam muito mais dependentes da noção de autoria e trabalham de uma forma normalmente muito mais isolada do que os arquitectos habituados a ter que colaborar até com outras pessoas para poder concretizar as coisas” 209 . Fernanda Fragateiro admite também a sua limitação como artista, no que se refere à perda de controlo durante a fase de materialização através da simples afirmação de que “quando as coisas não correm como eu gostaria que corressem, tenho 210 alguma dificuldade em aceitar esses erros” e compensando com o facto de ser uma artista extremamente aberta a novos contextos, equipas e enquadramentos, que adopta em relação às colaborações, uma posição sempre democrática que visa atingir sempre um ponto comum que beneficie o espaço e a sua experiência pela comunidade do local onde se insere, em detrimento, por vezes, da criação de uma determinada imagem, que tenha um efeito nos media e na aceitação institucional ou da crítica. Para João Gomes da Silva e para João Maria Ventura Trindade, a chave do processo colaborativo está na abertura e na disponibilidade que apresentam a um pensamento distinto, a uma intervenção artística e mesmo a possíveis alterações ao seu próprio projecto, que indicam também dependente de uma pré-existente relação de sintonia e confiança, que idealmente surja também de uma relação a nível pessoal que ultrapasse a diplomacia e cedência de posições que muitas vezes acontece em colaborações. O arquitecto José Veludo, em referência ao facto de que o trabalho com artistas implica sempre uma certa indefinição e que é sempre um risco, considera absolutamente crucial que se acredite no artista e que se tenha confiança no seu trabalho, de outro modo não é possível ultrapassar as dificuldades decorrentes do projecto ou gozar as vantagens e mais-valias que surgem, a nível individual nos processos colaborativos. Estas vantagens, na opinião geral dos arquitectos entrevistados, assentam na aprendizagem oriunda do processo e não do resultado e ainda na possibilidade de questionamento dos processos e preconceitos habituais da arquitectura, derivada do contacto com uma disciplina que dispõe de maior liberdade e menores constrangimentos em relação a regulamentos, programas e exigências tanto, técnicas como provenientes da vontade de um cliente. De uma forma muito prática, José Veludo explica também que, “no fundo, a parte mais interessante, é a de sensibilidades diferentes poderem participar num processo comum” 211 e acrescenta, a vantagem mais centrada na arquitectura que é: “colaborar com artistas, ajuda-nos a legitimar determinados caminhos que não são tão materializáveis, nem tão funcionais.” 209 João Gomes da Silva – Excerto da entrevista realizada pela autora. Fernanda Fragateiro – Excerto da entrevista realizada pela autora. 211 José Veludo – Excerto da entrevista realizada pela autora. 212 Idem. 210 91 212 Sabemos que nenhuma destas listas de factores e interpretações é garantia de sucesso. As questões que surgem, nos vários projectos colaborativos em que foi possível ter acesso às opiniões dos intervenientes, são acima de tudo relacionadas com imagens pré-concebidas de artistas em relação a arquitectos e vice-versa, nas diferentes formas de trabalhar de cada um, em questões de autoria e responsabilidade intrínsecas a qualquer trabalho interdisciplinar e ainda ao facto de que a grande maioria das colaborações que surgem de programas percentfor-art forçam relações entre arquitectos e artistas que não se mostram à partida abertos ou interessados em projectos específicos. 92 6.3. O DESIGN URBANO. “Eu acho que só há uma forma de trabalhar quando se trabalha com equipas, que, como diz bem, uma coisa é: os programas são algo que muitas vezes nos transcende, que vem de montante e que extravasa o contexto e a dimensão em que estamos a trabalhar. A outra coisa é: a partir do momento em que se trabalha com alguém, ou em que existem várias componentes numa equipa, a ideia é haver o menos programa possível e eu acho, que aqui, com a Fernanda isso aconteceu em pleno. É evidente que se houvesse alguma coisa, naquilo que a Fernanda tivesse feito, que incomodasse ou que de alguma forma inviabilizasse aquilo que era parte do conceito do parque, teríamos discutido isso com ela. Isso aconteceu de facto, mais tarde, na materialização do projecto e aí teve-se que, em conjunto, encontrar um caminho e afinar decisões.” Excerto da entrevista realizada ao Arq. José Veludo. 6.3. O DESIGN URBANO. O Design Urbano parte de uma reacção contra a especialização ou o isolamento disciplinar e introduz o pensamento interdisciplinar, como possível contemporâneas originadas pelas novas mutações das cidades solução 213 para as questões e inclui, “casos tão distintos como a reabilitação das frentes ribeirinhas ou marítimas, a criação de novos centros urbanos, os recintos para eventos temporários como as Expo ou as Olimpíadas, as reabilitações de espaços históricos nas cidades, espaços associados a redes de transportes públicos, verdes urbanos ou parques empresariais, ou residenciais...” 214 Tendo como prioridade o Espaço Público, na sua dimensão não só espacial mas também económica e social, o Design Urbano apresenta uma especial afinidade, não só com o espaço, mas com a sua “estetização, e em particular com a arte pública” 215 . Reunindo, assim, muitos dos temas referidos individualmente ao longo desta proposta de aprofundamento das colaborações entre artistas e arquitectos. A relação colaborativa em análise engloba não só arte e arquitectura, mas também disciplinas ou outros agentes como o paisagismo, o design, a engenharia civil ou de infra-estruturas, o planeamento, a gestão, a geografia e ainda diversos profissionais das ciências humanas como sociólogos ou historiadores. Se, por um lado, este novo domínio de colaboração actua nos interstícios disciplinares, por outro, ultrapassa a temática tratada até agora e torna-a mais complexa e globalizante ao introduzir questões mais específicas como, as diferentes escalas (do traçado geral ao pormenor da iluminação) nas quais um só objecto é trabalhado por vários intervenientes, questões de responsabilidade ou de qual a disciplina mais indicada a tratar dos temas específicos do projecto e ainda, dentro desta responsabilidade, o dever de manter em todo o projecto uma visão holística e partilhada entre as várias entidades e disciplinas envolvidas. Poder-se-á dizer que a arte (neste caso trata-se mais concretamente da arte pública) e a arquitectura, encontram no Design Urbano uma outra estabilidade e um novo sentido para a sua relação, que vai para além da esporádica colaboração entre as disciplinas. Partindo de uma distinção entre o Desenho Urbano e o Design Urbano, proposta por Brandão e, na qual, a segunda ultrapassa a composição urbana para se focar também “na estetização do espaço público ou melhor, no desenho de um ambiente urbano qualificado” 216 e para além do projecto, propõe ainda a importância do processo na sua variante interdisciplinar onde se impõe uma procura estratégica de “instrumentos conceptuais, para desembaraçar a 213 Pedro Brandão - Ética e Profissão, no Design Urbano: Convicções, resposabilidade e interdisciplinaridade; Livro I - As Identidades do Desenho e a Cidade. Tese de Doutoramento em Espaço Público e Regeneração Urbana, Barcelona: Departamento de Escultura da universidade de Barcelona, 2005, p. 111. 214 Idem, p. 114. 215 Idem, p.119. 216 Idem, p. 115. 93 Arquitectura, a Arte e o Design, de obsessões familiares” 217 . Estas características do Design Urbano acabam então, por encurtar o caminho das colaborações e da participação de artistas em projectos urbanos e arquitectónicos e assemelham-se aos interesses que estiveram, e estão ainda, na base das colaborações originadas em programas de arte pública, já que visam explorar os benefícios da arte como instrumento revitalizador de centros urbanos, como meio de fomentar unidade e valores comunitários, como catalisador de investidores ou forma de dinamizar a economia da cidade e ainda como processo de criação de identidade e carácter de um determinado espaço, bairro, ou cidade. A arte pública continua, no entanto, a debater-se com o dilema da subserviência ou confronto. Para Malcom Miles, por exemplo, a arte no design urbano toma somente um de dois papeis, “como decoração dentro do revisitado campo do design urbano no qual as necessidades do utilizador são centrais, e como processo social de criticismo e envolvimento, definindo o espaço público não como lugar público mas como campo de complexos interesses públicos.” 218 Mantendo viva a sensação de que a arte, ao entrar na esfera da arquitectura deve tomar para si uma função ou resguardar-se como decoração, toma-se assim consciência de que os maiores benefícios do envolvimento e colaboração entre artistas e arquitectos estão no processo, na liberação que o trabalho conjunto pode trazer para a prática individual e pela experimentação de novas formas de olhar para a arquitectura, de novas dinâmicas de trabalho e novos desafios para ambos. Tal como em colaborações nas quais o artista toma um papel activo no projecto, o Design Urbano tenta também resolver o que Remesar identifica como a incoerência metodológica que mais impossibilita o discurso interdisciplinar entre a arquitectura (incluído o paisagismo e urbanismo) e a arte (arte pública), identificada também como a questão central dos programas de arte pública americana já referidos e que segundo o autor acontece “quando arquitectos e urbanistas falam de espaço público, arte pública ou design urbano, estes temas surgem periféricos ao discurso central e quando um artista fala sobre a cidade, refere-se a ela somente como cenário para a sua intervenção.” 219 A esta visão, propõe-se ainda a de Brandão, ao sugerir um novo domínio colaborativo que resolva “a sempre pertinente questão de domínio das escalas” na qual a “relação com o espaço se coloca, desde as dimensões menores que a da arquitectura (…), até aos mais amplos sistemas, por exemplo das estruturas naturais ou estruturas viárias.” É esta relação, embora não englobando a escala urbana, que também se objectiva com a proposta de colaborações entre artistas e arquitectos, ou seja, a de um objecto trabalhado na escala arquitectónica e do objecto, reconstruindo a teoria de Summers e ambicionando um resultado final que reúna no 217 Idem, p.118. Malcom Miles – Art, Space and the City: public art and de urban future. London: Routledge, 1997, p. 74. Trad. Livre. 219 A. Remesar – Public Art & Urban Design, Interdisciplinary and Social Perspectives. Waterfront of Arts III, web version nº4, p. 5. 218 94 seu desenho, de forma propositada e consciente ainda no espaço virtual (no projecto), o espaço pessoal, o espaço social e o espaço real. 95 6.4. JARDIM NAS MARGEM, CACÉM, 2002-2008. 6.4. FERNANDA FRAGATEIRO: JARDIM NAS MARGEM, CACÉM, 2002-2008. O Plano de Pormenor da Área Central do Cacém surge dentro do Programa Polis do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional que, em conjunto com as autoridades locais, visa realizar intervenções de qualificação urbana e ambiental, financiadas pelas respectivas Autarquias, Governo e União Europeia (através de Fundos Comunitários), com a ambição de tornar as cidades em territórios de “inovação e competitividade, cidadania e coesão social, de qualidades de ambiente e de vida, bem planeados e governados.” 220 As escalas, mais uma vez são aumentadas, o Programa Polis olha para a cidade em diferentes escalas territoriais, partindo de uma visão de “regeneração urbana” que se centra na escala dos espaços intra-urbanos específicos na cidade, as várias comunidades que a constituem e “envolve a articulação de diferentes componentes (habitação, reabilitação e revitalização urbanas, coesão social ambiental mobilidade, etc.)”, para uma visão de “competitividade /diferenciação” na qual a cidade é colocada enquanto nó de “redes nacionais e internacionais entre cidades portuguesas para a valorização partilhada de recursos e a cooperação entre cidades, potencialidades e conhecimento” e finalmente para uma visão de “integração regional” na qual a escala é a da “”cidade-região”, definida como o espaço funcionalmente estruturado por uma ou várias cidades e envolvendo uma rede sub-regional de centros e de áreas de influência rural” 221 O Design Urbano irá actuar na escala urbana, arquitectónica e do objecto, compatibilizando a estrutura geral com a gestão destes intervenientes e outros que por necessidade sejam integrados para o cumprimento dos objectivos gerais. A uma escala menor localiza-se a colaboração entre artista e arquitecto que, como se verá, propõe uma das relações de maior proximidade entre espaço público e comunidade, conciliando todas as intenções acima descritas, com especial enfoque na questão da diferenciação e do fenómeno de identidade. Contexto físico da intervenção: A cidade do Cacém, pertencente ao conselho de Sintra, é um dos muitos subúrbios de Lisboa que tem crescido exponencial e desordenadamente desde a década de 70 e que, como tal, sofria dos sintomas típicos do “urbanismo expansivo”, caracterizados no estudo de Félix Ribeiro 222 realizado em 1999; de uma forma incisiva, referem-se: o esvaziamento da função residencial dos centros históricos (“tercialização”, desertificação, abandono e degradação); a degradação do património edificado (no “casco” urbano, periferias mais antigas e bairros 220 Gabinete do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidade - PORTUGAL POLÍTICA CIDADES POLIS XXI 2007-2013, apresentado em Maio 2008. Disponível em: http://www.dgotdu.pt/pc/documentos/POLISXXI-apresentacao.pdf 221 Gabinete do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidade – op. cit., pp. 2-3. 222 Refere-se este estudo pela relevância que teve na criação do Programa Polis e na forma como é aplicado e referido nas várias intervenções do programa a nível nacional. DE 96 sociais); a intensificação das extensões suburbanas caóticas, desprovidas de eficientes infraestruturas técnicas e sociais e com fracas condições de vivência urbana; o congestionamento crescente do trânsito associado aos movimentos pendulares de habitação-emprego e a degradação acelerada da paisagem urbano (escassez de espaços verdes e espaços públicos atrofiados pela dinâmica de construção compacta) 223 . Este cenário caracterizava a situação do centro do Cacém e a urgência de uma intervenção capaz de colmatar as consequências do que o Arq. Nuno Lourenço designa por “analfabetismo urbanístico” 224 A situação mais grave, e que consequentemente teve maior relevância no projecto de intervenção, prende-se com o estado da ribeira das Jardas que atravessa as freguesias de Aqualva e Cacém, esquecida, desvalorizada e em estado de elevada degradação. A progressiva construção nas margens da ribeira acabaria por obstruir o leito e colocá-la numa situação de “traseiras”, na maior parte do seu percurso pelo Cacém, em que a presença de muros e edificado ilegal limitavam o acesso da população e tornavam o canal “num autêntico esgoto a céu aberto” 225 de condições sanitárias e biológicas consideradas preocupantes. Como elemento natural de maior importância, não só na reunião de ambas as freguesias que separava, mas também para o sistema ecológico e de espaços verdes do projecto, a ribeira das Jardas foi encarada dentro do projecto de requalificação da área central do Cacém, como peça chave e ponto fulcral no cumprimento dos objectivos gerais apresentados no Plano Director Municipal como “actuações dominantes” e dos quais se realçam: a melhoria da qualidade vida, a revitalização da vida comunitária, a ampliação da fruição da cidade e obviamente da natureza e a criação das infra-estruturas necessárias à melhoria global da mobilidade e acessibilidades. 226 A preparação dos trabalhos para a requalificação da área central do Cacém incluiu um inquérito social e levantamento das actividades, a elaboração do projecto de expropriações, a operação de transformação fundiária e a demolição de todas as construções na área inundável da ribeira, assim como de algum edificado sem condições de habitabilidade ou segurança, e no realojamento da população afectada temporária ou permanentemente. 223 Programa Polis – Plano Estratégico do Cacém. Documento online, p. 10. Disponível em: http://polis.sitebysite.pt/cacem/docs/PPCacem.pdf 224 Nuno Lourenço – “Cacém e Antas: Desenhar o espaço urbano com os edifícios ou apesar deles”, Design Urbano inclusivo: uma experiência de projecto em Marvila: Fragmentos e Nexos. Lisboa: Centro Português do Design, 2004, p.143 225 Kátia Catulo – “Ribeira das Jardas devolvida aos moradores do Cacém”: Diário de Noticias Online, 21 de Abril 2008. Disponível em: http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=998210&page=-1 226 Programa Polis – op. cit., p. 21 97 Fig. 108. Risco - Plano de Promenor do Cacém: Delimitação da intervenção e planta de encarnados e amarelos. Fig. 109. Esboço realizado pelo atelier RISCO. O projecto: A integração neste programa permitiu alargar qualitativa e quantitativamente o âmbito desta intervenção levada a cargo pelo ateliê de arquitectura e desenho urbano RISCO (Manuel Salgado e Nuno Lourenço), a nível de Plano de Pormenor e arquitectura, e pelo ateliê de arquitectura paisagista NPK a nível de paisagismo e ambiente, tornando assim os objectivos gerais mais ambiciosos e expansivos. Nos, cerca de 45 hectares de área de intervenção, estabelece-se um plano que visa uma “restruturação da rede viária; a “beneficiação dos espaços públicos” através da exponenciação da circulação pedonal, criação de novos espaços verdes e de estada; a “regeneração/recomposição da edificação” para a criação de uma nova unidade arquitectónica; a “beneficiação e extensão do parque urbano” criando um novo equilíbrio entre o uso 98 habitacional, em predominância, e a presença de espaços verdes, assim como a formação de um “verde contínuo” que quebre a densidade edificada da cidade e a “requalificação da ribeira das jardas” de modo a controlar as cheias, o grau de poluição do curso de água e a devolução da mesma aos cidadãos através da criação de uma área verde adjacente de utilização lúdica. Por fim, resta referir a criação do Parque Linear da Ribeira das Jardas, que se explanará separadamente por ser a intervenção central e mais estruturante do Plano de Pormenor e do Programa Polis do Cacém, e por constituir um projecto colaborativo que envolveu o atelier NPK e a artista Fernanda Fragateiro. Numa zona que se estende por 4 hectares, com início na entrada na cidade de Aqualva-Cacém pelo IC19, no sentido Lisboa – Sintra, e que termina na união com o Parque Urbano do Cacém, o Parque Linear desenvolve-se ao longo da Ribeira das Jardas criando um importante corredor verde numa zona suburbana altamente densificada. Inaugurado em Dezembro de 2007, o parque serve uma população de cerca de 70 mil habitantes de Aqualva e Cacém e tem o duplo objectivo de reenquadrar o curso de água na nova estrutura da cidade, tirando proveito das suas múltiplas valências, a nível cénico, de estrutura ecológica e de transformação da paisagem para a criação de um grande espaço público de lazer, que integra equipamentos de utilização colectiva (parque infantil e equipamentos desportivos) para usufruto multigeracional e no qual a natureza tem especial protagonismo. O parque divide-se em duas tipologias principais, demarcadas por uma diferença de cota que se destina “a criar zonas de alargamento do programa em caso de cheias”, a primeira tipologia corresponde ao espaço canal de enquadramento e protecção à Ribeira, que resolverá os “os problemas de hidráulica e de manutenção de imagem associados à regularização das margens”; a segunda tipologia, a uma cota mais elevada, corresponde aos espaços contíguos “equipados com maior capacidade de carga” e destinados a equipamento cultural, desportivo e de lazer onde a não impermeabilização dos solos é uma preocupação base. 227 A presença da água e a forma como percorre longitudinalmente todo o parque, a sua fluidez, o som que emite na transposição das rochas que se depositam no leito e a frescura e paz à qual se associa este elemento da natureza, proporcionam dentro do esquema descrito, a criação de diferentes espaços ao longo do parque, espaços de reflexão, espaços de passagem, espaços vocacionados a actividades lúdicas e de exercitação física e espaços de estada. Bilateral e paralelamente à ribeira, são também criados, dois percursos de circulação pedonal e ciclável que a cruzam em quatro pontos-chave de atravessamento urbano. 227 RISCO - Relatório do Plano de Pormenor do Cacém, 19.09.2001, p. 21: Disponível em: http://195.23.241.219/Docs_cmsintra/Regulamentos/PP_Cacem/documentos.htm 99 Fig. 110. Imagens dos diferentes espaços, atravessamentos e relação com a envolvente do Parque Linear. A intervenção de Fernanda Fragateiro: O convite à artista surge por parte do Arq. Manuel Salgado e tem como objectivo a sua integração na equipe da NPK e a realização de uma intervenção no Parque Linear da Ribeira das Jardas. Para José Veludo, do atelier NPK, a possibilidade de colaboração com a artista é encarada “como uma oportunidade de diversificar a equipa e ampliar, aquilo que são os olhares e as sensibilidades no tratamento do território” e a aceitação da sua participação deve-se ao facto de lhe ter parecido “um melhor caminho para dar uma identidade e caracterizar o espaço de modo a que as pessoas se identifiquem com ele. 228 ” A escolha da localização da intervenção foi óbvia para ambos, o espaço escolhido soma características como, centralidade, forma, relação com a envolvente e, mais importante ainda, o facto de ser um local onde o “desenho viário se sobrepunha muito àquilo que era a lógica geral” 229 de aproximação aos valores naturais presentes na zona. Formalmente é um espaço rotunda que reúne, a diferentes cotas, o acesso principal na cidade pelo IC19, a Rua João de Deus (continuação da anterior para Sul), a Av. dos Bons Amigos (que dá acesso à nova estação ferroviária de Aqualva-Cacém), e a Rua de Angola que se desenvolve para Oeste no 228 229 José Veludo – Excerto da entrevista realizada pela autora. Idem. 100 Cacém. Confinada por este espaço ovóide, orientado perpendicularmente mas contíguo ao curso de água e único ponto em que o parque entra na cidade para além do eixo viário que o limita, situa-se a obra de Fernanda Fragateiro intitulada Jardim nas Margens. Fig. 111. NPK - Parque Linear: Plano geral. Fig. 112. Zona de intervenção da obra de Fernanda Fragateiro. A obra assemelha-se à solução criada pela artista para o Jardim das Ondas, no sentido em que busca a criação de espaço de uso flexível, múltiplo e diverso através de formas que têm o corpo como medida e que surgem ergonómica e funcionalmente pensadas num proposta de modelação de terreno, que neste caso, se adapta às características sociais e físicas do local. Segundo a artista: “Neste projecto, por exemplo, (…) era ridículo estar a propor um revestimento com matéria vegetal num sitio urbano, duro, complicado e que não vai ter os mesmos cuidados que numa zona da Expo, feita para uma classe média alta, um espaço onde aconteceu a Expo e para o qual tinha sido especialmente contratada um equipa, para tratar dos jardins. Portanto, no Cacém, eu sabia que tinha de introduzir e interessava-me também introduzir matérias mais duras como o betão ou a borracha.” 230 A intervenção consiste em quatro círculos côncavos que se distribuem pelo espaço disponível e que, de certa forma, reúnem em si as várias funções presentes no jardim, são espaços de passagem ou de circuito, espaços de estada, de contemplação ou reflexão, locais de reunião que possibilitam ainda a actividade física e de lazer para várias gerações. Uma das particularidades deste espaço em relação aos restantes que compõem o parque, está no facto de se elevar naturalmente em relação ao nível da água e ainda na sua pontuação com estas formas criadas por Fernanda Fragateiro, como marcas consequentes, de pingas de água que caíram no terreno e que foram sobredimensionadas pela artista para criar diferentes espaços, ambientes e utilizações. O projecto parte de uma maquete em gesso criada pela artista. A partir de um molde do terreno as formas são esculpidas utilizando a mão como escala e como corpo, ao referir o projecto, a artista explica que “o gesto da mão, tem um saber que lhe pertence e que nós não sabemos de onde vem, a mão coisas que não estão no cérebro mas que estão em nós como um todo. O 230 Fernanda Fragateiro – Excerto da entrevista realizada pela autora. 101 jardim do Cacém tinha muito o gesto de se retirar uma parte da matéria para criar lugares de acolhimento para o corpo, e por isso é que eu queria que as formas feitas em betão fossem macias, que fossem acolhedoras o suficiente para uma mãe se deitar com o filho, claro que não podia ser nem rugoso nem agressivo. A zona de borracha também deveria ser suficientemente mole para que um miúdo pudesse cair sem se magoar, aqueles espaços e formas foram imaginados para que se façam coisas que uma pessoa não faz normalmente no meio da cidade.” Fig. 113. Maquete de estudo da obra Jardim nas Margens feita em barro. Fig. 114. Maquete final da obra Jardim nas Margens realizada em gesso. Embora esta obra se aproxime, de certo modo, do Jardim das Ondas, a sua materialização distancia-se devido às opções do arquitecto e, acima de tudo, pelo contexto que a envolvia; considerando, tanto o local e contexto social como o tipo de projecto no qual se inseria e que não lhe permitiram a mesma liberdade. O que para o arquitecto foi “um importante trabalho de ajuste, entre aquilo que foi o impulso da Fernanda e aquilo que era viável”, Fernanda Fragateiro descreve como: “a certa altura eu perdi completamente o poder e a voz nesse projecto, simplesmente foi-me dito que as coisas tinham que ser assim porque não havia outra maneira de as produzir. As peças em betão, por exemplo, eram peças únicas realizadas com cofragens feitas no lugar (…) e passaram a ser uma data de gomos de betão, portanto, houve ali soluções que não foram como eu as tinha pensado e confesso que também não consegui lidar muito bem com isso e acabei por me afastar um bocado”, confessando também que não chegou a ver, nem tem qualquer registo do projecto tal como ele foi terminado. É importante entender que este tipo de situações acontece com alguma frequência, na realização de projectos desta dimensão e até em projectos nos quais participam vários 102 intervenientes. Embora Fernanda Fragateiro tenha já bastante experiência neste tipo de projectos, a questão do controlo é uma peça chave para qualquer tipo de colaboração e, neste caso, mostrou ser predominante em relação a um panorama geral, a uma visão partilhada e a um projecto para a comunidade que, segundo a artista, estão no centro das suas prioridades ao entrar neste tipo de processos. Pode-se assim concluir que, embora a postura do arquitecto e da artista pareçam ser acertadas, não há como prever resultados que partem de situações tão complexas como é um projecto de intervenção urbana. No entanto e para além das dificuldades referidas, esta obra site-specific parece não pertencer de uma forma tão completa em lugar nenhum, as formas circulares estabelecem não só um diálogo conceptual com a presença da água e com a sua envolvente, visível na forma como os elementos criados se adaptam à topografia do terreno, mas estabelecem também uma relação formal com os limites do próprio jardim. A integração da obra no seu espaço, é suave e torna a proximidade e presença do nó viário na extremidade Oeste, quase natural e não ofensiva ou intrusiva. A forma como este troço de jardim é tratado pela artista incute-lhe uma imagem distinta e que se tornará referência não só para o Parque Linear como para a cidade. A arte é neste contexto, identidade, carácter, referência, para a cidade mas é também utilitária, funcional e estabelece uma proximidade com público, ímpar em todo o parque. Fig. 115. Fernanda Fragateiro - Jardim nas Margens: Imagem geral. 103 Fig. 116. Fernanda Fragateiro - Jardim nas Margens: Pormenores. 104 VIII CONCLUSÕES CONCLUSÕES: O tema “Arte e arquitectura: Fronteiras e situações de contacto, na obra de Fernanda Fragateiro”, a temática das colaborações e a análise da obra de Fernanda Fragateiro, mantêm, mesmo numa fase conclusiva, uma enorme abertura e subjectividade. Deste modo, para as conclusões, propõe-se um caminho inverso ao percorrido no desenvolvimento do tema da presente dissertação e que pretende, desde já assinalar a legitimidade das colaborações num contexto urbano de crescente complexidade e indeterminação. O desenho da cidade realiza-se hoje em dia, a vários níveis, integra várias escalas e tende a abranger, não só a dimensão espacial, mas também, a económica e a social da cidade. O Design Urbano apresenta-se como uma proposta colaborativa que ambiciona responder à nova conjuntura urbana de forma globalizante e multidisciplinar, marcando deste modo, a pertinência de novas propostas e dinâmicas de trabalho que partam da quebra de limites e obsessões dos vários aparelhos disciplinares. Todos os arquitectos entrevistados assinalam o incremento de responsabilidade do arquitecto, como factor relevante para o futuro das experiências colaborativas: João Maria Ventura Trindade assinala que, actualmente “os requisitos de um edifício são de tal modo exigentes e vastos, que nós temos que estar completamente concentrados na nossa especialidade, tornando-se difícil ter tempo ou ter capacidade de gerir ou dominar várias coisas ao mesmo tempo.” 231 Neste contexto, torna-se evidente também, que nenhum dos modelos de relação entre arte e arquitectura propostos – do arquitecto-artista, da arte subjugada à arquitectura, da arte integrada na arquitectura e de uma arquitectura que renuncia o valor da arte para ser ela própria arte – poderá servir na resolução definitiva das questões assinaladas. A colaboração entre artistas e arquitectos, tal como definida no último capítulo, entende-se assim, como uma solução de enorme actualidade e coerência com a instabilidade, indefinição, ritmo e complexidade das cidades do séc. XXI. As situações que emergem dos casos de estudo foram, por um lado, uma surpresa e, por outro, confirmaram que os estigmas e preconceitos existentes entre as duas disciplinas não desapareceram, mesmo dentro do conceito de colaboração. A longa história de afinidade entre as disciplinas é continuamente marcada pelas óbvias diferenças entre metodologias, formas de pensar e olhar para mundo, para o Homem e para a sociedade, características de ambas. Durante o processo colaborativo revelam-se as discrepâncias processuais entre as disciplinas em questão. O modo como o arquitecto encara o uso ou a função como uma componente 231 João Maria Ventura Trindade – Excerto da entrevista realizada pela autora. 105 inerente a qualquer projecto e o artista como uma possibilidade na sua obra. A forma como a obra de arte admite um elevado grau de liberdade e de alteração contínua em relação à rigidez e exigência do desenho arquitectónico ou o trabalho interdisciplinar ou em equipa, comum em arquitectura, em contraste com o individualismo do processo artístico. Constituem algumas das divergências mais visíveis. A colaboração exige portanto, arquitectos e artistas dispostos e aptos a encontrar novas formas de comunicar e trabalhar. A conclusão de que não é possível chegar a uma receita de sucesso ou a uma lista de pontoschave a cumprir para uma colaboração equilibrada, hierarquicamente horizontal e profícua para os intervenientes e para o utilizador, é exposta de forma óbvia nos casos de estudo relativos às colaborações de Fernanda Fragateiro. No caso da Estação Biológica do Garducho, questões de autoria surgem de relações de enorme proximidade e confiança entre artista e arquitecto. No Jardim das Ondas, uma obra referida por vários autores como no extremo do idealismo colaborativo, revela-se como arquitectura ao serviço da arte e cria uma situação inversa à que se explora na secção referente à obra de arte total, na qual a arquitectura surge indiscutivelmente, no topo da hierarquia disciplinar. A obra Jardim nas Margens expõe ainda, questões relacionadas com o uso, com a passagem do conceptual à materialização e revela as diferenças óbvias na postura de artistas e arquitectos, quando integrados em equipas multidisciplinares. Assim como os limites da arte e da arquitectura se expandiram para englobar novas formulações e plataformas de actuação, o conceito de “obra de arte total“ torna-se agora mais vasto. A sua materialização, embora raramente conseguida admite portanto, uma obra criada na sua totalidade por artistas e arquitectos ou somente, um resultado final no qual a linha de distinção entre o trabalho do arquitecto e o do artista resulte muito ténue ou aparente ser inexistente. No entanto, interessa apontar, que se acredita que é através das colaborações que a arquitectura atinge os seus resultados mais interessantes e de maior relevância para o contexto urbano e que, acima de tudo, apresenta benefícios imensuráveis para artistas e arquitectos envolvidos, para a sociedade e para a criação de um ambiente urbano humanizado de qualidade. Os programas de arte pública e outros que operam dentro do modelo percent-for-art são identificados como o meio mais privilegiado para realização de projectos colaborativos. Através da investigação de vários programas, entende-se também, que a relação colaborativa com artistas que apresentam, à partida, uma forte relação com a arquitectura, um interesse pelo espaço construído ou um trabalho de exploração que assente na espacialidade e na criação de ambientes reais ou virtuais, apresentam uma maior facilidade e interesse em participar neste tipo de projectos. Por outro lado, artistas que centram o seu trabalho em questões sociais ou que se interessam por uma relação próxima com as comunidades e com o público em geral, constituem uma enorme mais-valia para projectos arquitectónicos públicos ou de participação pública. 106 Fernanda Fragateiro, tal como foi explorado através das suas obras individuais, apresenta uma relação específica com a arquitectura, visível no modo como a utiliza como processo, como transcendente nas suas criações e, talvez a mais importante, a forma como a arquitectura surge como condição de possibilidade nas suas obras, sejam elas bidimensionais ou tridimensionais. O seu interesse pelo espaço, quando cruzado com o corpo, resulta numa ambição de criação de lugares e de transformação do espaço físico ou do vazio. Que será de enorme relevância para a forma como olha para a possibilidade de intervir em qualquer espaço ou projecto arquitectónico. A arte entra na arquitectura normalmente com uma função específica, que varia da decoração, à comunicação ou aproximação à sociedade, à atenuação de formas demasiado rígidas, à humanização, à criação de valor e identidade ou ainda, como elemento funcional ou lúdico. No seu projecto “O Paraíso é um Lugar Onde Nada Nunca Acontece”, Fernanda Fragateiro, actua nestas várias vertentes, ao mesmo tempo que assume as tendências artísticas da transição do séc. XX para o séc. XXI, do projecto de participação pública. Entende-se, assim, que Fernanda Fragateiro, para além de apresentar características que permitem uma relação de proximidade com arquitectos e uma elevada aptidão para intervir em projectos arquitectónicos, apresenta também, uma postura essencial ao nível das colaborações. Que é compreendida na sua disponibilidade e flexibilidade como artista e pela sua dominante curiosidade, que a faz receber distintas oportunidades de pensamento e acção, com enorme vontade e entusiasmo. No entanto, através dos casos de estudo e da entrevista realizada à artista, entende-se que Fernanda Fragateiro não vai ao limite colaborativo defendido ao longo da dissertação e exemplificado através da referência ao projecto Camp Good Times, na Califórnia, do edifício Roche Pharma 92, em Basileia ou da Subestação Eléctrica Viewland/Hoffman, em Seattle. Embora seja salvaguardado que a colaboração deverá partir de campos distintos, idealmente no decorrer do processo as barreiras disciplinares deveram ser quebradas ou diluídas. Nos casos de estudo seleccionados, embora extremamente elucidadores para a temática, comprovam a rareza com que as colaborações resultam desta forma. Fernanda Fragateiro integra de forma correcta todas as colaboração, ou seja, parte do seu campo disciplinar e define, à partida e eficazmente, os limites do seu campo de actuação. No entanto, raramente se deixa contaminar no decorrer do processo ou envolver-se a fundo na experiência colaborativa, ficando aquém da colaboração plena e dos benefícios que advêm da mesma. Comprovando esta atitude, de certo modo defensiva, a própria artista afirma em entrevista, o desconforto sentido e a ausência de vontade em repetir o único projecto no qual deixou cair as suas barreiras e se abriu totalmente a uma nova metodologia, em “O Paraíso é um Lugar Onde Nada Nunca Acontece”, Lisboa Capital do Nada. 107 Ao longo da dissertação foi sendo referida a dificuldade de concretização de colaborações literais. Na postura pragmática e na opção frequentemente funcional das suas obras, Fernanda Fragateiro garante a materialização das suas obras e a sua aceitação pelo público que as acolhe. A primazia pela concretização ao invés da experimentação é legitimada, quando posta em contraste com artistas e obras mais arrojadas, como Richard Serra ou quando comparada com a colaboração limite de Frank Gehry, Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen que não atingiu a materialidade. Conclui-se assim, que Fernanda Fragateiro apresenta um conjunto de características, exclusivas no âmbito das colaborações, no entanto, até ao momento, o seu pragmatismo e objectividade têm-se sobreposto ao entusiasmo e curiosidade com que afirma aceitar este tipo de propostas, impedindo-a de levar a fundo o conceito colaborativo. Embora continuem sujeitas a contextos específicos, o futuro das colaborações parece assegurado, na medida em que, tanto Fernanda Fragateiro como os arquitectos entrevistados afirmam ambicionar a concretização da colaboração plena e, sem excepção, confirmam os benefícios que advêm da partilha de metodologias, procedimentos e ideias que decorre do processo. Segundo a própria artista: “Se calhar, um dia vai surgir um projecto, e eu gostaria de trabalhar com João Gomes da Silva nesses moldes, que nasça dos dois, que seja uma verdadeira colaboração, ou seja, que eu não seja chamada a comentar um projecto dele, mas que possamos pensar e construir qualquer coisa juntos. Um projecto no qual não se distinga arquitecto de artista e isso, se calhar, é a parte mais limite da colaboração, que é muito, muito difícil de acontecer.” 232 Fernanda Fragateiro – Excerto da entrevista realizada pela autora. 108 232 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: LIVROS: ARAGAN, Giulio Carlo - Arte Moderna: Do Ilusionismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. BACH, Penny Balkin – Public Art in Philadelphia. Philadelphia: Temple University Press, 1992. BANN, Stephen - The Tradition of Construtivism. New York: Da Capo, 1974. BRANDÃO, Pedro e REMESAR, Antoni – Design Urbano Inclusivo: Uma Experiência de Projecto em Marvila, “Fragmentos e Nexos”. Lisboa: CDP, 2004. CAEIRO, Mário Jorge – Lisboa Capital do Nada: Marvila, 2001. Lisboa: Extra]muros[ associação cultural para a cidade, 2002. CEAI – CEAI @ EBG: Ventura Trindade Arquitectos. Matosinhos: DARCO magazine, 2010. COBB, Henry N. – La Arquitectura da Frank Gehry. Barcelona: Gustavo Gili S.A., 1988. COQUHOUN, Alan - Modern Architecture. Oxford: Oxford University Press, 2002. CORBUSIER, Le - Towards a New Architecture, 13ª Ed. Great Britain: Architectural Press, 1989. DIAMONSTEIN, Barbaralee - Collaboration: Artists & Architects. New York: Whitney Library of Design, 1981. FERNIE, Jes - Two Minds: Artists and Architects in Collaboration. London: Black Dog Publishing, 2006. FINKELPEARL, Tom - Dialogues in Public Art. Massachusetts: MIT Press, 2000. FLÜCKIGER, Urs Peter - Donald Judd: Architecture in Marfa. Berlin: Birkhauser, 2007. FRAGATEIRO, Fernanda - Caixa Para Guardar o Vazio (cat.). Lisboa: Assírio & Alvim, 2007. FRAGATEIRO, Fernanda. Quarto a céu aberto (cat.). Lisboa: Culturgest, 2003. FRAMPTON, Kenneth - História Crítica da Arquitectura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2003. GOODING, Mel – Public: Art: Space. London: Merrel Holberton, 1998. GREENBERG, Clement – The Collected Essays of Clement Greenberg. Chicago: The University of Chicago Press, 1986. 109 GӧSSEL, Peter; LEUTHÄUSER, Gabriele - Arquitectura no Século XX. Alemanha: Taschen, 1996. HOPKINS, David - After Modern Art: 1945-2000. Oxford: Oxford University Press, 2000. HUSS, Steven; SHAMASH, Diane – A Field Guide to Seattle’s Public Art (cat.). Seattle: Seattle Arts Commission, 1992. JENKS, Charles; KROPF, Karl - Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture, 2ª Ed. England: Wiley-Academy, 2006. JUDD, Donald - Specific Objects. New York: Arts Yearbook, 8, 1965. KELLEIN, Thomas - Donald Judd 1955-1968. Bielefeld, 2002. KRAUSS, Rosalind - Caminhos da escultura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1998. KWON, Miwon - One Place After Another. Cambridge, Massachusets: The MIT Press, 2002. LACY, Suzanne - Mapping the Terrain: New Genre Public Art. Seattle, Washington: Bay Press, 1995. LINGWOOD, James - House. London: Phaido Press/ Artangel Trust, 1995. MADERUELO, Javier - Arte Público: Naturaleza y ciudad. Madrid: Fundación César Manrique, 2001. MADERUELO, Javier - El Espacio Raptado. Madrid: Mondadori, 1990. MADERUELO, Javier – La pérdida del pedestal. Madrid: Cuadernos el Círculo, Círculo de Bellas Artes, 1994. MALLGRAVE, Harry Francis - Architectural Theory, Vol I: An Anthology from Vitruvius to 1870. United Kingdom: Wiley-Blackwell, 2006. MERLEAU-PONTY, M. - Fenomenologia da Percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1996. MEYER, James - Minimalism. London: Phaidon Press Limited, 2000. MILES, Malcom - Art, Space and the City: Public Art and Urban Futures. New York: Routledge , 1997. MONTANER, Joseph Maria - A Modernidade Superada. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2001. MUGA, Henrique. Psicologia da Arquitectura. Canelas, VNG: Edições Gustavo Gili, 2006. OCKMAN, Joan – “Hans Hollein: Everything is Architecture”. Architecture Culture 1943-1968: A Documentary Anthology. New York: Rizzoli, 1993, pp. 459-462. 110 O’DOHERTY, Brian – Inside the White Cube: The ideology of the galler space, 4º Ed. (1ª Ed. 1976). California: University of California Press, 1999. OLIVEIRA (ed.), Sónia; MELO (co-aut), Alexandre – Arte Urbana. Lisboa: Parque Expo 98 S.A., 1998. PIOTROWSKI, Andrzej; ROBINSON, Julia William - The Discipline of Architecture. Minneapolis: Universidade of Minnesota Press, 2000. POMBO, Olga – “Contribuição para um vocabulário sobre interdisciplinaridade”, A Interdisciplinaridade: Reflexão e Experiência. Lisboa: Ed. Texto, 2ª Edição, 1994. POMBO, Olga; GUIMARÃES, Henrique M; LEVY, Teresa – A Interdisciplinaridade: Reflexão e Experiência, 2ª Ed. Lisboa: Texto Editora, 1994. RENDELL, Jane - Art and Architecture: A place between. London: I.B. Tauris & Co Ltd, 2008. ROSADO, António de Campos - Co-laborações: Arquitectos/Artistas. Lisboa: Parque Expo'98, 2000. SALGADO, Manuel – Manuel Salgado: Espaço Público. Lisboa: Parque das Nações D.L., 2000. SARDO, Delfim – A Visão em Apneia: Escritos sobre Artistas. Lisboa: Athena, 2011. SELWOOD, Sara – The Benefits of Public Art: The polemics of permanent art in public places. London: Policy Studies Institute, 1996. SENIE, Harriet F.; WEBSTER, Sally – Critical Issues in Public Art: Content, Context and Controversy. Washington: Smithsonian Institution Press, 1998. RICO, Juan Carlos – Montaje de exposiciones: museos, arquitectura, arte. Madrid: Silex Ediciones, 1996. RUHRBERG, K. - Arte do século XX, Vol. II. Lisboa: Taschen, 2005. SERT, Josep Lluis; LÉGER, Fernand; GIEDION, Sigfried – Nine Points on Monumentality. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1963. SCHINDLER, R.M. - Architect: 1887-1953. New York: NY: Rizzoli, 1988. SCHULZ-DORNBURG, Julia - Arte e Arquitectura: Novas Afinidades. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. SUMMERS, David – Real Space: World art history and the rise of western modernism. London: Phaidon Press, 2003. TAVARES, Gonçalo M. – Breves Notas sobre a Ciência. Lisboa: Relógio de Água, 2006. TRASI, Nicolleta (ed.) – Interdisciplinary Architecture. Londres: Wiley-Academy, 2001. 111 VELEZ, João Paulo - Expo’98: História de um Território Reinventado. Lisboa: Parque Expo 98 D.L., 1998. ZAUGG, Rémy - Architecture by Herzog & de Meuron, Wall painting by Rémy Zaugg, A work for Roche Basel. Basel: Birkhäuser, 2001. ZUMTHOR, Peter - Atmospheres. Amadora: Editorial Gustavo Gili, 2005. ZEVI, Bruno – Saber ver a arquitectura. 5ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. DISSERTAÇÕES ACADÉMICAS: BRANDÃO, Pedro - Ética e Profissões, no Design Urbano: Convicções, resposabilidade e Interdisciplinaridade; Livro I - As Identidade do Desenho e a Cidade. Tese de Doutoramento em Espaço Público e Regeneração Urbana, Barcelona: Departamento de Escultura da Universidade de Barcelona, 2005. BRANDÃO, Pedro - Ética e Profissões, no Design Urbano: Convicções, Responsabilidade e Interdisciplinaridade; Livro II - Profissão de Arquitecto: Identidade e Prospectiva. Tese de Doutoramento em Espaço Público e Regeneração Urbana, Barcelona: Departamento de Escultura da Universidade de Barcelona, 2005. RAGATÃO, José Pedro - Arte Pública e os novos desafios das intervenções no espaço público, Ed. 2ª. Lisboa: Books on Demand (publicações de teses), 2010. 112 PERIÓDICOS: ATKINS, Robert - "When the Art is Public, The Making Is, Too." New York Times, Art & Leisure, Section 2, July 23, 1995. CATULO, Kátia – “Ribeira das Jardas devolvida aos moradores do Cacém”: Diário de Noticias Online, 21 de Abril 2008. JACOB, Mary Jane - "Outside the Loop." In Culture in Action, exb. cat., 56. Seattle: Bay Press, 1995. JANEIRO (CEAI), Carla – “Declarações sobre a Estação Biológica do Garducho”, Expresso Online, 19 de Outubro de 2010. KRAUSS, Rosalind - "Sculpture in the Expanded Field." October, Vol. 8, 1979. REMESAR, Antoni – “Public Art & Urban Design, Interdisciplinary and Social Perspectives”. On the W@terfront, Public Art & Urban Design: Interdisciplinary and Social Perspectives, Nº4, 2004. http://www.ub.edu/escult/epolis/WaterIII.pdf ROBERT, Atkins – “When the Art is Public, The Making is, Too”. New York Times, Arts & Leisure, Section 2, July 23, 1995. TOY, Maggie (ed.) – “Frontiers: Artists and Architects”, Architectural Design, Vol. 127, 30 de Julho de 1997. Londres: Wiley-Academy,1998. TOY, Nancy J. - ““Mondrian’s Design for the Salon Madame B…, à Dresden”.” The Art Bulletin, Vol. 62, Nº4, Dezembro de 1980, pp. 640-647. VASCONCELOS, Helena - “Equilibrio e Leveza: Entrevista a Fernanda Fragateiro.” Elle Magazine, Outubro de 2009: pp. 88-91. 113 WEBSITES CONSULTADOS: Department of Cultural Affairs, New York City. Percent for Art http://www.nyc.gov/html/dcla/html/panyc/faq.shtml Tate Modern www.tate.org.uk/modern Dictionary of Art Historians http://www.dictionaryofarthistorians.org/semperg.htm Exposição ‘This is Tomorow’, 1956, Whitechapel Gallery, Londres http://www.whitechapelgallery.org/exhibitions/this-is-tomorrow# Centro de Estudos da Avifauna Ibérica (CEAI) http://www.ceai.pt/ebg/#ebg_enquadramento/objectivos Instituto da Conservação da Natureza (ICN) – Plano Sectorial da Rede Natura 2000: Sítios da Lista Nacional, Janeiro 2006. http://www.drapal.min-agricultura.pt/valor_ambiental Prémios FAD de Arquitectura e Design 2009, Barcelona, 2009 http://arquinfad.org/arquinfad_web/press/2009/acta_dos_idiomes.pdf Portal das Nações http://www.portaldasnacoes.pt/item/como-era-o-parque-das-nacoes/ Parque Expo http://www.parqueexpo.pt/conteudo.aspx?lang=pt&id_object=692&name=EXPO'98 Lisboa Património Cultural http://www.lisboapatrimoniocultural.pt/itinerarios/Paginas/Itinerario-Parque-das-Nacoes.aspx Portugal política de cidades polis xxi 2007-2013 – Gabinete do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidade, apresentado http://www.dgotdu.pt/pc/documentos/POLISXXI-apresentacao.pdf Lehmann Maupin Gallery, New York, sobre Tim Rollins e os K.O.S http://www.lehmannmaupin.com/#/artists/tim-rollins-and-kos/ Programa POLIS, Cacém http://polis.sitebysite.pt/cacem/ Atelier RISCO http://www.risco.org/pt/02_04_expo98.html 114 em Maio 2008. ANEXOS ANEXO I: ENTREVISTA REALIZADA A FERNANDA FRAGATEIRO A 28-02-2012, NO SEU ATELIER: A primeira pergunta tem a ver com a característica do seu trabalho que deu aso ao tema da dissertação, ou seja, a sua relação muito específica com o espaço e com a arquitectura. Como surge esta relação na sua obra? A exploração do espaço existe na minha obra e no meu trabalho desde sempre. Partindo da minha estadia na Escola Superior de Belas Artes (ESBAL) em que, mais importante do que as esculturas que fiz e do que a própria relação com os professores, foi uma determinada atitude relativamente à ocupação e compreensão do próprio espaço na Escola. A minha primeira paixão pela ESBAL, tem mais a ver com o espaço, um antigo convento, do que com o próprio ensino. Uma atitude, que acabou por limitar a minha actividade na escola e por ser considerada como uma pessoa que trabalhava à margem do próprio sistema. Fui muitas vezes prejudicada por isso e acabei por abandonar a ESBAL no terceiro ano. Lembro-me que uma das coisas que fiz na escola, foi criar o meu próprio atelier dentro do espaço da ESBAL. Descobri um saguão, uma espécie de pequeno vazio sem telhado. Rebentei uma porta para ter acesso ao espaço e criei uma peça, um dispositivo que construí com a artista Catarina Baleiras e que funcionava como atelier, essencialmente um espaço para pensar. Porquê criar um espaço seu dentro de um espaço público, uma escola, que supostamente, já lhe oferecia condições para pensar? Acho que sempre tive muito a necessidade de ter um espaço q de trabalho meu. Não tem nada a ver com propriedade nem com um sentimento de posse mas sim, com um espaço de pensamento e de liberdade e que eu precisava de ter, seja uma mesa, seja um simples lugar no chão. Por exemplo, quando me retiraram o atelier que tinha construído, fiz outra coisa, agora mais comedida e dentro do espaço de trabalho comum dos alunos de Escultura, que foi limitar no chão uma área que era a minha área de trabalho. Neste percurso inicial, a arquitectura e até a própria construção são as temáticas muito próximas da exploração espacial que também acaba por integrar no seu trabalho? As minhas primeiras exposições em 87 e 89/90, nascem, por exemplo, de uma observação da dinâmica do espaço da cidade, em que simultaneamente estão coisas a crescer, a nascer e a serem construídas, ao mesmo tempo que há coisas que se estão a destruir, a desfazer, a envelhecer. Foram estas exposições que mais aproximaram o meu trabalho à arquitectura. Em que sentido? A minha primeira exposição, chamada ‘Instalação’ foi em 1987, na Galeria Monumental do artista Miguel Sampaio. Quando me convidam a expor na Galeria Monumental, o que me interessa não é o espaço da galeria, mas o espaço que está atrás da galeria, entre a primeira sala onde eu era suposto expor e o pátio. Esta sala interessa-me porque servia de atelier para os artistas mas estava em muito más condições. Não fiquei na sala destinada porque não tinha nada para dizer ali! O que eu queria, era falar 115 com aquele espaço e convocar o próprio espaço, as paredes em ruinas, os fragmentos de tijolos. Interessava-me criar peças que refizessem aquele espaço, interessava-me trabalhar num espaço onde nunca ninguém tinha feito nada e que nem tinha condições para ser uma galeria de arte. Uma das peças, por exemplo, era uma parede inteira que fazia a ligação entre dois espaços de atelier, as restantes são também, peças de reconstrução do espaço. Este primeiro gesto, que surge de uma forma muito inconsciente, acaba por ter consequências permanentes para a galeria (…), quando a minha exposição sai de lá, o espaço ganha melhores condições, aliás, ainda hoje essa sala, em conjunto com a sala principal e o pátio é utilizado como uma grande galeria. Mais do que as peças que fiz e que estão documentadas foi o gesto de, de repente, abrir aquilo tudo que mais me marcou. A segunda exposição tem também a ver com esse gesto e acontece em 1990, na Faculdade de Ciências, na Sala Sul. Na altura, andava a fotografar imenso a cidade, sobretudo esta zona do Chiado que tinha sido alvo de incêndio. Havia imensos prédios em ruinas e esse processo interessava-me imenso, sobretudo, a forma como as pessoas conviviam com estas ruínas, como se fosse uma coisa normal. Era como numa situação de guerra, as pessoas habituam-se, adaptam-se e seguem a sua vida normal enquanto, que ao lado está um prédio que levou com uma bomba em cima. Essa vida extremamente violenta, mas muitíssimo poética da construção e da ruina, sempre me interessou muito. (…) Consegui que me cedessem uma sala (na Faculdade de Ciências) durante três meses e fiz uma exposição com uma série de peças efémeras, umas casas em madeira e gesso em posições instáveis. No entanto, mais uma vez, o que interessa neste projecto é que, depois de eu ter lá feito a exposição, aquele espaço ficou aberto até hoje. Portanto esses dois projectos, que são os projectos que iniciam o meu trabalho, são também fundadores daquilo que depois, será o meu caminho como artista. Continuo a partir muito desse gesto de abrir um espaço novo. Este trabalho de materiais que se associa na sua obra ao minimalismo, como a utilização de um só material, o cuidado que tem no tratamento deste e da sua linguagem no espaço… Para mim, o material já é um texto. Usar um determinado tipo de material já é um texto tão forte que o que me interessa, se calhar, é dizer numa frase aquilo que se poderia dizer num livro. A minha procura em relação aos materiais é conseguir encontrar essa frase, ou seja, o material que contém a densidade e a quantidade de camadas de pensamento necessária para que a obra comunique ou diga, de uma forma muito sucinta uma quantidade de coisas que penso e que sinto. Na Exposição Invisibilidades, na Galeria Leme, são apresentadas cinco peças. A que gostaria de referir, para já é a peça: Expectativas de uma Paisagem de Acontecimentos #4. Como se enquadra esta peça no panorama geral da sua obra? É de facto uma peça quase matriz. Primeiro, porque é uma peça de chão e um plano de chão para mim, representa o mínimo de num lugar para habitar (…). Eu acho, que uma casa pode ser um chão, pode não ter mais nada, muitas vezes, quando há um edifício que é demolido ou que vai desaparecendo, o plano do chão é sempre a última marca a desaparecer, não é? É também uma peça, que dependendo do material se torna articulável, pode-se estender ou retrair e permite que nela se multipliquem paisagens. É uma peça que certamente vai continuar a aparecer no futuro, que eu vou continuar a trabalhar. 116 As peças Caixas #4 e #5 que também figuram na exposição vão de encontro a outra temática, também muito presente na sua obra que é o vazio. São contentores ou representam mais do que isso? O que me interessa nas Caixas é a ideia do contentor ser simultaneamente o conteúdo. Essas peças nascem de um pensamento acerca das caixas de cartão que se encontram por todo o lado no espaço da cidade, da fragilidade que ganham ao serem abandonadas e expostas às condições atmosféricas ou às pessoas que quase as destroem antes de as deitarem fora. Da importância e força que ganham ao serem reutilizadas, habitadas e ao servirem de abrigo. Em todas estas situações, de repente surgem modelos, podiam ser modelos de casas ou de espaços habitáveis. Durante muitos anos olhei e registei esses objectos e chegou uma altura em que os apanhei e comecei a trazê-los para o atelier, para os medir e estuda e de repente há modelos desses objectos que encontramos e que nos fazem lembrar maquetes de casas ou de espaços habitáveis. Os desdobramentos das caixas representam estes modelos no tempo a partir de uma matriz, uma caixa de dimensão fixa, que quando aberta vai colapsando de uma forma organizada. Existe um movimento contínuo implícito em todas essas peças. O aço ou alumínio polido é o material dominante nesta exposição e é também o material de eleição para muitas peças realizadas pelas grandes figuras do minimalismo. Porque opta por este tipo de material? Acho que são materiais, que pelo facto de serem reflectores, acabam por desaparecer no espaço. É esse desaparecimento e essa ausência que me interessa quando exponho em espaços arquitectónicos fortíssimos como é o caso da Galeria Leme ou do Mosteiro de Alcobaça. O facto de eu levar para dentro desses espaços peças em aço polido, fazia com que as peças desaparecessem, mantendo assim a integridade do espaço arquitectónico e simultaneamente, como as peças reflectem, quer as pessoas, quer o espaço, também se tornavam receptores. Por um lado são extremamente invisíveis e quase desaparecem e por outro lado, têm uma multiplicidade de possibilidades de ser vistos e convocar várias coisas. O facto de ser denso e ser intenso, de ter muitas camadas e simultaneamente ser quase invisível, é uma coisa que me interessa muito. A relação entre o espaço, o espectador e a obra é então propositado e conseguido através da utilização deste tipo de materiais? Sim, eu acho que o meu trabalho, (…) pensa muito sobre o espaço onde está a ser incluído, mas também pensa sobre ou implica muito o espectador. Todas as minhas obras têm um lado performativo. Essa separação entre o pensar o espaço e quem o habita ou utiliza, existe por vezes na arquitectura. Quando só se pensa na arquitectura, por vezes esquecesse o conforto, o desconforto ou o que isso provoca nas pessoas. Eu trabalho sempre nesses dois campos. Na Casa da Musica, por exemplo, fiz uma instalação com redes vermelhas de modo a criar um diálogo que surge de um confronto muito forte com o espaço. Aí houve um pensar sobre, dar às pessoas um lugar ou criar um lugar extremamente acolhedor, em oposição àquilo que a arquitectura oferecia. O conceito site-specific aplica-se de que forma à sua obra? O meu trabalho responde muito ao lugar. Eu considero-me uma artista extremamente flexível, no sentido em que, não tenho exactamente uma agenda na cabeça, ou seja, não tenho um caderno de ideias que 117 vou aplicando à medida que as oportunidades vão surgindo. Aquilo que me interessa e me entusiasma é a disponibilidade para pensar de novo cada vez que me surge um problema ou um desafio ou uma ideia. A Caixa para Guardar o Vazio, surge como uma epítome desse lado performativo e da exploração do espaço. Como surge e como foi pensada esta obra? A Caixa para Guardar o Vazio nasce de um pedido que me é feito pelo Serviço Educativo do Teatro Viriato, em Viseu, para a realização de um projecto que, através das crianças, chegasse e comunicasse com a comunidade. Aqui as crianças são um veículo para chegar a uma comunidade do interior, do Norte de Portugal, extremamente fechada, conservadora e que não aderia muito aos projectos e iniciativas mais contemporâneas. O Teatro sentia, acima de tudo, uma grande necessidade de comunicar e de expandir um público que se tinha tornado extremamente restrito e portanto, eu sabia que tinha que tinha de ser uma coisa muitíssimo experimental e muitíssimo sensorial, mas ainda não sabia bem o que era. Decidi trabalhar sobre o espaço porque achava que havia um desconhecimento geral sobre esse tema, é um tema que não é discutido e é também um tema, sobre o qual as crianças não pensam. (…) O que eu queria era que se começa-se a pensar o espaço e ainda, trazer ao de cima o tema do vazio. Estamos sempre a falar do património material e esquecemo-nos que há uma parte muito importante desse património, que é o vazio, que é o não ter nada, que é o silêncio e discutir isso com miúdos, discutir sem palavras, parecia-me muito interessante. Considera que esta sua obra ultrapassa a barreira da arte para a arquitectura pelo facto de ser um habitáculo, uma construção? Por um lado sim, mas por outro não serve para aquilo que a arquitectura serve. A sua função não é tanto da ordem da arquitectura mas talvez mais da poesia, ou seja, serve para pensar mas não serve para mais nada. No entanto, é importante dizer que sentir é também uma forma de habitar o espaço, mas eu acho, que é um projecto que só podia ser feito por um artista, se calhar aquela caixa e o desenho podia ser feito por um arquitecto… Houve intervenção de arquitectos no desenho da obra? (…) Nós fizemos, aqui no atelier, uma maquete que não partiu de um desenho, não houve um projecto com acontece na arquitectura. Quer dizer, houve uma série de desenhos em articulação com a parte da dança, mas nunca foram feitos projectos técnicos desta peça. A peça foi construída pelos carpinteiros a partir da maquete e foram os próprios carpinteiros que pediram para que eu falar com arquitectos (…). A construção era feita simplesmente através de medições na maquete, eu ia vendo, os bailarinos iam testando e portanto, é uma obra que parece que foi muito desenhado e pensada, mas há ali muita coisa que foi sendo criada por todos os intervenientes. Só pedi ajuda a dois amigos arquitectos, para fazer uma segunda maquete, a partir da minha, porque era preciso uma para testar se estava tudo a funcionar, mas não existem desenhos técnicos da peça. Mesmo em projectos públicos, que obviamente têm esse lado da arquitectura e da engenharia, tento que o projecto técnico seja o mais leve e menos elaborado possível. “O Paraíso é um Lugar Onde Nada Nunca Acontece” (título de uma canção dos Talking Heads), foi um trabalho que envolveu toda uma comunidade, como se estabeleceu esse diálogo? Esse projecto foi muito especial e durou um largo período de tempo a ir acontecendo porque teve muitos percalços pelo meio. Nasce, do evento Lisboa Capital do Nada, no qual a própria organização desafiava as associações locais a proporem projectos, ideais ou colocarem uma espécie de mapa de necessidades 118 sobre o qual os artistas poderiam trabalhar. A “Tempo de Mudar”, do Bairro dos Lóios, era uma associação extremamente activa e séria, que disse que tinham uma série de jardins no Bairro da Pantera Cor-de-Rosa, projecto do Gonçalo Byrne, que nunca tinham sido plantados e que eles gostariam de plantar ou de fazer qualquer coisa. Fiquei logo muito interessada nesse assunto, mas não havia verbas nenhumas para o projecto e portanto, era preciso entrar em contacto com a Câmara para ver se poderiam ajudar. Quando fiz o primeiro contacto com a Câmara, percebi que já havia um projecto para aquele espaço, um projecto de reabilitação da praça Raul Lino, uma praça fabulosa, que serve aquele conjunto de edifícios. A primeira fase, depois de perceber que a Câmara tinha um projecto de requalificação, foi tentar perceber, como é que o meu projecto, que tinha a ver com o plantar daqueles canteiros de uma forma muito simples, se podia articular com o projecto da Câmara. (…) O que me chamou a atenção naquele espaço, foi um jardim densamente plantado mas todo vedado com paus e redes, que ‘pertencia’ há mais de 15 anos a morador chamado Sr. João. Este jardim tinha um ar horrível, palmeiras, oliveiras, sardinheiras, arrozeiras, couves entre outras, plantadas do modo ‘tudo ao molho e fé em Deus’ e o projecto da Câmara, obviamente, ia arrasar com o jardim do Sr. João e plantar nesse lugar umas lavandas lindíssimas, mas todas iguais. Isso fez-me muita impressão! Achei que era uma atitude extremamente invasiva pela parte da autarquia e, embora o senhor não fosse proprietário daquele espaço, tinha cuidado dele e manteve-o verde durante muitos anos. Quando a Câmara soube que eu estava a fazer ali um projecto, o que tentaram foi que eu fizesse uma escultura no meio da praça, coisa a que obviamente me recusei. O que me interessava na altura, era dar à comunidade o que eles precisavam e não uma peça de decoração. (…) É aí que se inicia o diálogo com a população do bairro? Sim, para além das reuniões públicas com a Câmara, houve também uma série de reuniões com o Sr. João. A ideia era convencê-lo a abrir o espaço tinha ocupado e vedado, a todas as outras pessoas (…), preservando um trabalho que era, de certo modo, um exemplo para as outras pessoas. Aqui, o meu papel como artista era, como eu dizia sempre: “eu não faço nada, sou só uma espécie de fada que faz com que as pessoas conversem entre si. Por sorte, ele ficou logo convencido com a ideia de abrir o espaço dele e até, de fazer uma selecção das plantas e árvores que estavam no jardim e distribuí-las pelos outros canteiros e espaços que não tinham nada (…). Basicamente o que se fez foi isso. Houve somente um diálogo inicial ou houve também uma participação activa ou física por parte da comunidade no projecto? Quem fez a operação de retirar as plantas, foi um grupo de crianças do bairro, que pertenciam a um grupo de futebol (…), a Santa Casa da Misericórdia, que dava apoio a esse grupo e alguns jardineiros da Câmara que acompanhavam e ensinavam os processos de transplantação. Arranjámos um fim-desemana em que os miúdos vieram todos e fez-se esse trabalho envolvendo a comunidade. Foi um processo muito simples, foi somente transplantar uma série de coisas de uns espaços para outros e abrir aquilo tudo. Em relação à manutenção, a Câmara forneceu um sistema de rega. 119 A própria praça foi também requalificada. Foi também um projecto da sua autoria? Isso foi um projecto do Zé Luís (arquitecto da Câmara) e eu acompanhei o que estava a ser feito mas não intervim directamente. O facto de o público ou da população entrar logo na fase criativa da obra e de certa forma condicioná-la, é uma coisa com a qual se sente à vontade, repetiria este tipo de trabalho participativo? Eu acho que são sempre processos muito complicados e para darem algum resultado, demoram tempo e implicam muita dedicação, muita energia, e eu não sei se tenho essa energia, esse tempo e muitas vezes o dinheiro e a disponibilidade para o fazer. O que eu posso dizer deste projecto é que houve um momento, em que implicar as pessoas no meu trabalho e mais uma vez, uma comunidade maioritariamente de pessoas muito jovens, não foi nada condicionante, aliás, foi o motor do trabalho. Muito mais condicionante do que a população, são todas as limitações de um trabalho para um espaço público. Um projecto de arte pública, no fundo, é sempre um projecto de negociação com muitas partes e até com o próprio tempo, com o clima, etc. Tem vindo nos últimos anos a colaborar com vários arquitectos. Como distingue as diferentes relações? A relação com o João Trindade é se calhar, a relação mais informal que tenho em termos de colaboração. Há muitas coisas que surgem das nossas conversas que eventualmente se vão reflectir no meu trabalho aqui no atelier ou no trabalho dele e que nem sequer faz sentido que apareça o meu nome ou o dele. É a relação mais especial de trabalho que tenho, porque está assente na informalidade e numa partilha de ideias muito natural. Gosto particularmente da forma como o João pensa e de como resolve os problemas. É uma pessoa muito prática, mas ao mesmo tempo muitíssimo curiosa e tal como eu, não repete fórmulas, está sempre à procura de maneiras diferentes de pensar sobre as coisas. Para além disso, nos projectos que fizemos juntos, há sempre uma separação, ou seja, embora haja uma grande articulação com o trabalho dele, há uma fronteira. Pois é um projecto meu que se integra ou que pensa um espaço que o João desenhou. Se calhar, um dia vai surgir um projecto, e eu gostaria de trabalhar com João nesses moldes, que nasça dos dois, que seja uma verdadeira colaboração, ou seja, que eu não seja chamada a comentar um projecto dele, mas que possamos pensar e construir qualquer coisa juntos, na qual não se distinga arquitecto de artista, e isso se calhar é a parte mais limite da colaboração, que é muito, muito difícil de acontecer. No Garducho, por exemplo, se um dia apagarmos todas aquelas frases, o projecto do edifício continua a ter uma autonomia, continua a ser o que é. No fundo, o meu trabalho é mais um comentário. Por um lado, é um comentário à arquitectura e por outro, é uma espécie de projecto expositivo ou de conteúdo dentro do programa daquela estação, que surge independentemente e para além da arquitectura. O José Veludo é uma pessoa mais técnica, aliás, ele era uma das pessoas, que em relação ao Jardim das Ondas, estavam um bocado mais sépticas. Mas porque ele tinha uma noção de que aqueles espaços são extremamente difíceis de manter, portanto, a preocupação dele era em como é que se manteriam aqueles montes de terra cobertos de matéria vegetal com a enorme carga de utilização diária... E o que eu disse sempre foi: isto tem de ser tratado como uma coisa muito especial, não pode ser tratado como um relvado qualquer. Se é um espaço onde podem acontecer coisas muito diferentes daquelas que 120 acontecem num jardim normal tem que se ter esse tipo de cuidados, portanto, tem que ser constantemente reparado e há zonas que têm que ser vedadas quando estão muito desgastadas. Ele foi das pessoas que fez bastante força para que eu introduzisse matérias duras, e eu disse sempre que não, sabendo obviamente que seria mais difícil. No texto sobre o Jardim das Ondas, presente no catálogo da exposição: Co-laborações: Arquitectos/Artistas, é referido como um projecto de colaboração que dilui todas as linhas que separam artistas de arquitectos. Isso aconteceu na prática, no processo criativo ou construtivo ou vem só da imagem final da obra? Embora seja um trabalho de colaboração, tem uma linha divisória até bastante marcada. No fundo, o que o João Gomes da Silva faz, é permitir que aquele projecto aconteça. Claro que, o deixar que um projecto aconteça já é uma coisa muito importante porque, se olhar para o desenho urbano da zona de intervenção da Expo e se olhar para o desenho que tem a ver com a parte paisagística, projecto também do João Gomes da Silva, aquele jardim é um objecto estranho que aterrou ali e que rompe com aquela linguagem ‘mais natural’ do projecto. Portanto, eu proponho aquele projecto e concebo-o sozinha e o que o João faz, é entender, respeitar imenso a minha proposta e contribuir com o saber dele para que aquele projecto seja possível. Os outros paisagistas ligados ao espaço da Expo, achavam que aquele espaço não era viável, que não funcionava ou que tinha uma artificialidade que não coincidia com a linguagem do resto do espaço. Não concebemos aquele projecto juntos, mas o João Gomes da Silva teve, neste cenário, a sensibilidade e a abertura para dizer: “eu vou ajudar a artista a fazer o seu projecto e vou pôr todo o meu saber ao serviço”. (…) E isso foi muito importante porque havia muitas resistências ao projecto. A sua intervenção para a Expo’98 foi singular e díspar das dos outros artistas, porquê? Como surgem estas intervenções? É muito simples a forma com nasceram as cerca de sete intervenções que fiz no espaço da Expo. Tudo começou com um pedido do Arq. Manuel Salgado, para que eu resolvesse o revestimento do muro de entrada dos Jardins da Água. Um pedido que é clássico, ou seja, é para resolver um revestimento, uma superfície, um desenho que se aplique num chão ou numa parede que já está desenhada, que o artista é normalmente chamado, e foi só para isso que ele me convidou e claro que eu fiquei muito contente por trabalhar naquele espaço da Expo e ter, pela primeira vez um projecto público de grande escala e com a sorte de ter meios disponíveis para o fazer. Pedi primeiro, que ele me explicasse o que eram os Jardins da Água e há medida que ele me ia explicando e mostrado o projecto, eu ia, de uma forma muito naïf, criticando e propondo outras soluções (…) Neste momento, penso sinceramente que, também pelo facto de os arquitectos estarem tão cheios de trabalho, o Manuel achou muito bem-vindo que alguém de fora interviesse, e acabou por dizer: então resolve, então pensa. Assim nascem um muro, uns bancos, um chão e umas paredes de um lago e, quando se chega ao fim dos Jardins da Água, há um espaço vazio ainda pouco definido, que me interessou imenso. Para esse espaço pedi especificamente ao Manuel para fazer um jardim. Foi então o seu primeiro projecto para um jardim? Sim, nunca tinha feito um jardim na vida. (…) Fiquei seriamente a pensar sobre, como é que podíamos criar ali situações de experiência de espaço, diferentes daquelas que já estavam autocriadas pela forma muito simples e quadriculada pela qual este se organizava. A questão que se punha desde logo, era que 121 quando olhava para o rio queria esquecer tudo o resto, mas não percebia porque é que não se conseguia criar qualquer coisa que tivesse a ver com a subtileza, com o movimento, com a leveza e com a força do movimento do rio. Se todo o tema da Expo era sobre o mar, porque é que tudo estava a ser construído de uma forma extremamente rígida? Porque opta por modelar o terreno e realizar um jardim, atípico, totalmente revestido a relva? Eu acho que muitas vezes os jardins mantêm a mesma lógica que resto do espaço urbano. São espaços segmentados, cheios de atravessamentos, caminhos, zonas para sentar, etc. A experiência que eu tive, em pequenina, de viver junto a um jardim do velho Caldeira Cabral, no Montijo, que é um jardim muito inglês, com grandes planos de relva, ou seja, espaços muitíssimo flexíveis onde podia pisar a relva, onde não tinha que estar num caminho ou sentada num banco de um jardim. (…) Essa experiência influencioume muito e durante muito tempo não conheci, em Portugal, mais nenhum jardim onde se pudesse pisar a relva. Portanto, isso era a experiência principal de espaço que eu queria reproduzir. Estes projectos estiveram integrados no programa de arte pública da Expo? No catálogo da Expo, o meu projecto está nos projectos de arte pública simplesmente porque era estúpido separá-los, mas eu trabalhei, penso eu, de forma diferente dos outros artistas. No fundo, eu colaborava com o atelier do Manuel Salgado, o RISCO, e depois, mais especificamente com o João Gomes da Silva, portanto, era quase como se eu fosse mais um membro da equipa. Havia de facto um programa de arte pública, dirigido pelo meu marido e para o qual eu não fui convidada, mas para o qual foram escolhidos um série de artistas. A partir do momento em que o Manuel Salgado me convidou, ficou logo muito claro que eu não estava ligada ao programa de arte pública. Quem fez a produção das obras? A produção dos meus trabalhos foi feita pela RISCO, na altura não fiz, mas é uma coisa que agora faço sempre. Naquele caso eu nem sequer tinha experiência, portanto, o que eu fiz, foi a parte de projecto e depois a RISCO resolveu toda a parte técnica, de projecto e de produção ou encomenda das peças. No caso do Jardim das Ondas foi o atelier do João Gomes da Silva. Existe nesse processo uma certa perca de controlo pelo facto de não ter sida a Fernanda a tratar da produção das peças? Não houve, neste caso, porque eu tive muito próxima e considero, que tive até bastante controlo em ambos os jardins. Por exemplo, no muro, desde a escolha do material, ao esquema de cores, até à disposição e colocação das pastilhas de vidro, foram tudo processos totalmente controlados por mim. Os bancos, também em pastilha de vidro e com frases da Virginia Wolf retiradas do Livro das Ondas e o desenho da calçada foram executados conforme desenhos feito por mim, assim como os painéis cerâmicos das algas, já no fim do jardim, foram revestidos com um vidrado especial feito com uma técnica descoberta por duas amigas minhas para eu utilizar ali. Portanto, acho que houve um controle muito grande. No Jardim das Ondas, também houve um controle no terreno, embora a primeira vez que se fez o jardim ele não ficou bem construído, quando se reconstruiu tivemos tempo para refazer exactamente como queríamos. 122 A obra Jardim das Margens surge na continuação de um processo de modelação do terreno que utiliza primeiro no Jardim das Ondas, como distingue estes dois projectos de arte pública? Esse projecto surge também a partir de um convite do Arq. Manuel Salgado para eu trabalhar com a NPK, no projecto do Cacém. Neste projecto, por exemplo, embora as formas fossem similares às da Expo, era ridículo estar a propor um revestimento com matéria vegetal num sitio urbano, duro, complicado e que não vai ter os mesmos cuidados que numa zona da Expo, feita para uma classe média alta, num espaço onde aconteceu a Expo e para o qual tinha sido especialmente contratada um equipa para tratar dos jardins. No Cacém, interessava-me agora introduzir matérias mais duras como o betão. O Jardim nas Margens, devia ser um espaço de descompressão, em oposição, ao resto do Parque Linear da Ribeira das Jardas, que era um sítio para andar, para passear ou atravessar. Aquela espécie de pêra enterrada, com carros a circular à volta, tinha mesmo de ser um espaço de descompressão para os miúdos e para os adolescentes, portanto, a introdução de matérias como o betão e as borrachas foi muito pensada. O Arq. José Veludo revelou que sentiu alguma perda de controlo na materialização do projecto. Os artistas estão habituados a ter um maior controle sobre as suas peças e os arquitectos estão mais habituados a lidar com esse tipo de situações. Como encarou essa situação? O que acontece é que, não sei como é que a NPK desenvolveu a relação com os construtores, mas a certa altura eu perdi completamente o poder e a voz nesse projecto. Simplesmente disseram-me que as coisas tinham que ser assim, porque não havia outra maneira de as produzir. As peças em betão, por exemplo, eram peças únicas realizadas com cofragens feitas no lugar. Uma calote esférica é uma calote esférica e não uma data de gomos de betão como os que lá estão. Portanto, houve ali soluções que não foram como eu as tinha pensado e confesso, que também não consegui lidar muito bem com isso e acabei por me afastar um bocado. Vi o jardim já acabado de longe, mas nem o tenho fotografado nem nada. Quando as coisas não correm como eu gostaria que corressem, tenho alguma dificuldade em aceitar esses erros. É um defeito meu! O processo criativo das peças ou obras de arte é muito distinto do da arquitectura, ou seja, um espaço, um edifício ou mesmo uma paisagem, no caso da arquitectura paisagista, é muitas vezes pensada para se adaptar a certos processos construtivos. Foi isso que aconteceu? Eu desenhei aquele jardim com colheres e com as mãos. (…) Quando fiz os projectos para os jardins, a minha mão era como se fosse o meu corpo, é uma escala para a criação da maquete. Acho que o gesto da mão tem um saber que lhe pertence, (…) a mão sabe coisas que não estão no cérebro mas que estão em nós como um todo. O jardim do Cacém tinha muito o gesto de se retirar uma parte da matéria para criar lugares de acolhimento para o corpo e, por isso, é que eu queria que as coisas fossem feitas em betão mas que fossem macias, que fossem acolhedoras o suficiente para uma mãe se deitar com o filho (…) e a zona de borracha, também deveria ser suficientemente mole para que um miúdo pudesse cair sem se magoar. Aqueles espaços e formas foram imaginados para que se façam coisas que uma pessoa não faz normalmente no meio da cidade. 123 A apropriação do espaço é um tema que é pensado com o processo criativo ou é uma preocupação que surge posterior à obra de arte? Acho que não posso definir uma regra. Quando faço um projecto para o espaço público penso sempre: o que é que eu posso trazer para este espaço, que de algum modo contribua para uma maior qualidade ou uma experiência de espaço diferente. Há um lado, sempre muito optimista na minha visão do espaço público. Interessa-me trazer, acima de tudo, qualidade. Poderia ter uma atitude mais crítica, mais cínica ou até mais destrutiva, e isso seria igualmente interessante, (…) o que não faltam são coisas para destruir e para criticar, mas a minha abordagem é sempre: como é que eu posso criar condições para que, no espaço público, haja uma experiência do espaço e que essa experiência envolva sempre uma comunidade. Que referências tem de artistas que trabalham maioritariamente no espaço público e de uma forma próxima com a arquitectura? Lembro-me de ler uma frase do pensamento do Vito Acconci, em que acho que ele diz: “se o espaço for flexível, as pessoas passam a ser flexíveis”. Outra, do mesmo artista, que também tenho sempre muito presente é: “se um espaço puder ser usado por um adulto da mesma forma que uma criança usa esse espaço, é porque é um espaço interessante, é um espaço que nos abre, que não nos condiciona”. O que me interessa é romper com todos os condicionalismos que temos criado nas cidades, (…). Cada vez mais, temos sítios específicos para fazer coisas específicas, e as pessoas já não conseguem escolher, portanto, sobretudo gosto da ideia de que as peças sejam bastante flexíveis, que permitam muitos acontecimentos e que ultrapassem as minhas espectativas. O Vito Acconci, por exemplo, embora pareça muito um arquitecto, eu acho que não é. O Vito Acconci, através da criação do seu próprio atelier, encontrou uma forma de poder fazer projectos enquanto artista, que estão muito mais próximos ou que às vezes são do campo da arquitectura, de uma forma legal. Começam mais recentemente a existir uma série de intervenções em edifícios, sempre foi um objectivo seu, superar o que é a clássica instalação de arte em arquitectura? Sim, existe essa vontade e até, espero poder fazê-las no futuro de formas mais radicais. Em termos de colaborações entre artistas e arquitectos, quais são as suas principais referências? Conheço muito bem o trabalho e a relação dos Herzog & de Meuron, com o Rémy Zaugg, essa é talvez a que eu tenho mais presente, porque é um trabalho muito subtil e muito interessante. Acho que o Herzog, ao contrário da maioria dos arquitectos, tem uma enorme curiosidade relativamente áquilo que o artista pode trazer. Se calhar é mesmo dos poucos arquitectos que tem. O problema dos arquitectos é que têm um desejo, quase incontrolável, de controlar todo o processo e só o facto, de pensarem que o artista pode contaminar esse processo, é um risco muito grande para a sua imagem. Isso não acontece, por exemplo, com o Arq. João Maria Ventura Trindade? É evidente que relações de confronto também são muito válidas, mas a relação entre mim e o João Maria Ventura Trindade é assim, porque eu sou muito ‘soft’. Tenho muito essa posição política de colaborar para chegar a um porto comum, que seja bom para as pessoas. Se calhar, não estou tão interessada em defender uma determinada imagem para o meu trabalho, ou seja, se a imagem não for tão boa ou tão 124 interessante, mas se funcionar para as pessoas para mim já é bom, já fico contente. Há um momento, em que é preciso decidir se queremos criar uma determinada imagem, que tenha um efeito nos media e na aceitação da crítica ou, se queremos fazer uma coisa que, se calhar, pode não ser tão radical ou tão experimental mas que, funciona e traz qualquer coisa de bom para a comunidade. Esta é uma decisão que um artista pode tomar e acho que ambas as posturas são válidas e interessantes. Eu tenho a que me dá, se calhar, mais prazer, que tem mais a ver comigo e que me faz sentir mais equilibrada. Normalmente não me interessa decorar um espaço ou fazer uma escultura, o que me interessa, é que o meu trabalho possa contribuir para atravessar as coisas e sem ser impositivo. Porque opta, mesmo quando não está a trabalhar com o arquitecto por uma linguagem quase arquitectónica nas suas obras? Eu acho, que há muitos artistas a trabalhar com uma linguagem que é mais do âmbito da arquitectura, mas também há outros a trabalhar com linguagens que são do âmbito da Filosofia. Acho que os artistas têm tudo ao seu dispor! Isso é a parte interessante da minha profissão, ou seja, podes trabalhar em microprojectos ligado a um cientista ou a uma paisagem imensa, que a tua forma de ver as coisas e os resultados serão sempre muito diferentes. O que é interessante é um artista ter desafios, desafios que o façam, de repente esquecer tudo, partir do zero e pensar: como é que eu posso pensar sobre isto que traga uma nova discussão, uma nova perspectiva aos outros. A arquitectura é um dos temas sobre o qual me questiono e que me desperta curiosidade, mas é também um, entre outros que me interessam. As colaborações com arquitectos é um tema que pretende continuar? É como lhe digo, eu sou muito receptiva e portanto, no caso do João Maria Trindade há um desafio que está na mesa de trabalharmos juntos num museu em Moura, com o João Pedro Falcão de Campos estou a trabalhar num projecto para o Banco de Portugal... O uso do texto e da literatura difere muito na sua obra quando orientada para o espaço público ou para o museu. Porquê esta distinção? Eu acho que uma frase ou um texto inscrito num elemento arquitectónico desenha um espaço, ou seja, não é outra parede, não é um chão, um tecto ou um móvel, estes elementos transformam-se em outras coisas que, para mim, passam também a desenhar espaço. Tenho sempre muito cuidado na colocação do texto em arquitectura, porque não gosto que surja de uma forma decorativa, deve ser muito mais do que isso, ou seja, não é para ser lido como se estivesse numa página. O que me interessa é que o texto crie outra dimensão espacial, que atravesse quase como uma janela. Escrever uma frase numa parede não é criar uma janela obviamente, mas é também um dispositivo. É um dispositivo que cria ou destrói espaço e por isso, utilizo-o de forma muito cuidadosa, escolho onde é que o texto é escrito, se é num rodapé ao longo de um determinado percurso, se é numa zona em que se desce uma escada, se é num canto de uma parede, o local determina sempre a forma como ele vai ser encarado. A forma como utiliza a literatura, de uma forma indirecta em peças expositivas ou de uma forma textual e directa no espaço público é consequência de públicos distintos, talvez menos informados no caso do espaço público? Há muitas surpresas boas no espaço público com um público que não sabe nada e por vezes, tenho isso em conta e noutras sou surpreendida. 125 A ‘Caixa Para Guardar o Vazio’, por exemplo, é um projecto muitíssimo abstracto, porque no fundo, não acontece nada ali. Tem somente a magia do quotidiano de uma criança pequena que abre uma gaveta pela primeira vez, que brinca com uma porta, que se põe de baixo de uma mesa. Essa magia, que sentimos quando estamos a descobrir uma coisa nova, foi exactamente o que eu quis que acontecesse na Caixa para Guardar o Vazio. Mesmo sendo um projecto para pessoas que já abriram muitas gavetas, queria mostrar que esses gestos simples podem ser mágicos e misteriosos e que as coisas que fazes diariamente podem ser sentidas de outras maneiras. Só no final é que tive a noção do risco que estava a correr e que pensei que poderia não resultar de todo. Era um projecto para miúdos que não tinha cores, não tinha musica, tinha somente uns bailarinos que fazem uns gestos, mas era uma coisa em madeira que parecia, não ter história nenhuma, na qual se espera que aconteça qualquer coisa e no fim, quando entram na Caixa, apercebem-se, que não há nada a não ser um espelho no chão e aí o que acontece são eles próprios. Nisto, foi uma enorme surpresa ver a reacção dos miúdos. Não me interessa explicar porque é que funciona tão bem, mas interessa dizer que funciona ainda melhor dependendo de quão dura é a vida para as pessoas que o habitam, ou seja, grupos de crianças mais desprotegidas, de miúdos com deficiências ou pessoas idosas. Quanto menos coisas as pessoas têm, mais disponíveis estão para fazer o projecto. 126 ANEXO II: ENTREVISTA REALIZADA A JOÃO MARIA VENTURA TRINDADE A 14-02-2012, NO ATELIER VENTURA TRINDADE ASSOCIADOS: Percebi, nas várias leituras que fiz sobre a sua obra, que tem uma relação muito específica com a artista Fernanda Fragateiro. Podia descrever um pouco esta relação? No fundo, eu aqui tenho a sorte de estar rodeado, e é mesmo esse o termo, porque o meu atelier está exactamente no meio, entre um engenheiro de estruturas, o Paulo Cardoso e uma artista plástica, a Fernanda Fragateiro e portanto, não necessito de estar eu a pensar, nem sobre a estrutura do edifício, como fazia o Corbusier, nem sobre uma intervenção mais de arte sobre o edifício, porque no fundo estamos aqui numa espécie de pequena comunidade. É por isso que isto funciona desta maneira. Mas é assim uma coisa bastante casuística diria eu. Não foi uma coisa procurada, mas sim uma coisa que aconteceu. Não foi uma coisa que eu optei por ter ou que possa agora optar por não ter porque mas acaba sempre por acontecer. Quando chegamos a determinado ponto num projecto em que é mesmo necessário que a Fernanda cá passe, e tem acontecido de uma forma natural, mas quando não acontece eu também lhe telefono e ela vem cá propositadamente, fazer uma espécie de consulta de psicanálise, como nós costumamos dizer. Eu explico-lhe os meus problemas e ela, muitas vezes explica-me que aquilo não é um problema porque a partir do seu ponto de vista, aquilo até é fácil de resolver. Um dos primeiros trabalhos nos quais a Fernanda Fragateiro colaborou com o atelier, foi na remodelação de uma moradia unifamiliar em Évora (Casa na Quinta do Evaristo, 2000-2005), como surge esta intervenção? Nessa casa, por exemplo, estávamos com umas dúvidas sobre como resolver uns alpendres que surgem, tanto do processo de demolição parcial da casa existente, como os que foram criados para fortalecer a relação entre a casa e o exterior e achámos que deveriam ter uma matéria, uma cor ou uma textura qualquer que assinala-se a sua importância naquele projecto, e aí lembro-me de ter telefonado especificamente à Fernanda, para ela cá vir ver a maquete e ver o que achava que se devia fazer naquilo. Nós andávamos com umas ideias de fazer um revestimento em cerâmico, tipo azulejo ou tijolo nesses alpendres e a Fernanda andava entusiasmadíssima, na altura, a ler um livro de um autor francês (Maurice Blanchot, L’attente l’oubli de 1962), que aparenta ser um diálogo entre duas personagens mas percebese, no fim do livro, que é só uma, que é um monólogo escrito em diálogo. Quando eu lhe mostrei o projecto daquela casa, ela associou-o imediatamente a esse livro, porque dizia, que aquela casa também eram duas, uma era a casa que estava lá antes e que se mantém em grande medida, mas tem também, uma espécie de formalização nova que a faz parecer uma casa diferente. Então, começou a retirar textos desse livro e a usá-los pela casa, criando uma espécie de jogo no qual se vão descobrindo os textos nos espaços. (…) As frases retiradas do livro são colocadas perto do rodapé, gravadas na madeira do pavimento. 127 Este projecto e o da Estação Biológica sobrepõem-se no tempo, foi daí que surgiu a colaboração ou intervenção da artista na Estação Biológica do Garducho? Sim, ela estava a trabalhar nesse projecto e uma vez fomos juntos a Évora porque eu ia ver a obra da Estação Biológica e ela foi também. Quando viu a Estação ficou fascinada com o projecto e neste caso, foi ela que se propôs trabalhar sobre o edifício e nós dissemos logo que sim! Já distinguida com um prémio de arquitectura ibérica (FAD, 2009), a Estação Biológica do Garducho, é uma obra arquitectónica de enorme beleza, qualidade e funcionalidade, o que lhe faltava? Havia algum tipo de intenção inicial da sua parte em acrescentar uma obra ou intervenção da artista? Não, a Fernanda começou a trabalhar sobre a obra sem termos nenhuma intenção específica, portanto, ao contrário da casa em Évora, que eu tinha pedido especificamente para ela olhar para dois espaços e nos dar a sua opinião, na Estação Biológica não! Simplesmente propôs-nos trabalhar sobre o edifício quando este já estava em obra. Lembro-me que ela pediu logo a maquete de trabalho que tínhamos feito e levou-a para o atelier dela durante uns tempos para fazer experiências sobre o edifício e ver o que é que achava que podia propor. Só se tornou uma coisa mais deliberada, quando começou a haver algum interesse de várias entidades, por um lado, do CEAI, a associação que era dona do edifício e por outro, também da Gulbenkian, ou seja, ambas viam com bons olhos a intervenção da Fernanda sobre aquele edifício e até se conseguiram fundos à parte para que esta se realizasse. Da parte do seu atelier, foi então dada total liberdade à artista em relação à sua intervenção? Completamente! Eu nunca soube o que ela ia fazer. A obra continuava e ela (…) de vez em quando pedia-me para ir ao atelier dela e eu percebia que ela andava a fazer umas experiências sobre a maquete e as pessoas que iam passando pelo atelier da Fernanda, também se iam pronunciando sobre aquilo e, a dada altura, ela apareceu com uma proposta que é basicamente aquilo que lá está. Visto ter sido concedido um fundo especial, houve alguma intenção específica por parte do CEAI, por exemplo? De facto, havia uma coisa que tinha sido proposta pelo CEAI, que ia de encontro às muitas acções de educação ambiental que realizam com miúdos de escolas. Eles queriam estabelecer um percurso didáctico na Estação, e queriam, nomeadamente, ter alguns animais pintados sobre as paredes do edifício. Mas a Fernanda apareceu com uma ideia muito mais interessante sobre isso, que era ter uma espécie de silhuetas ou sombras parciais ou não, de uma série de animais (…). Já não me lembro se isso começou primeiro ou se foi mesmo as inscrições dos textos sobre o edifício. Não sei. Sei que havia essa ideia e que, às tantas, a Fernanda apareceu também com a ideia de escrever uma espécie de legendas sobre o edifício, coisas que tinham a ver com a paisagem e que eram retiradas de uma série de textos. Como foram seleccionados os textos? A Fernanda tinha conhecido, nessa altura, um escritor que é o Gonçalo M. Tavares, que foi ao atelier dela e veio aqui também ao nosso e tornámo-nos todos muito amigos, (…). 128 O Gonçalo tinha editado um livro incrível nessa altura que são as 'Breves Notas Sobre a Ciência' (Abril 2006) que a Fernanda tinha lido e que me emprestou para ler. Andávamos muito entusiasmados com o livro e fala-mos daquilo com o Gonçalo. Portanto, foi um processo parecido com o da casa em Évora, foi também a partir de um livro que depois se escolheram essas frases. Nem todas são do Gonçalo, existem também frases de outros autores sobre a paisagem, mas a maior são dele e todas elas foram escritas pela Fernanda. Referiu-se anteriormente aos excertos de textos ou às frases como “legendas” do edifício. Acha que a arquitectura precisa por vezes de ser explicada ou legendada? Eu confesso que de início o trabalho não me pareceu muito interessante, quer dizer, não é que não parecesse interessante mas pareceu-me um pouco provocatório. Num certo sentido, a maneira como nós tínhamos desenhado o edifício, já procurava estabelecer uma determinada relação com aquela paisagem e por isso, quando a Fernanda propunha escrever frases sobre o edifício, era um pouco como se a arquitectura não funciona-se e fosse necessário fazer legendas para que essa relação fosse perceptível. Era como se manifestassem que a arquitectura não era suficiente para explicar uma determinada relação do espaço com a paisagem. Não é que me parecesse desnecessário ter aquelas frases, mas de alguma forma aquilo que as frases diziam ou propunham na relação com a paisagem, era aquilo que nós já estávamos a fazer ao desenhar o edifício daquela forma, portanto, aquilo parecia-me um bocado redutor. (…) Esse aspecto foi discutido com os vários intervenientes? Como foi resolvido? Sim, discutimos bastante sobre isto numa série de conversas entre mim, a Fernanda e o Gonçalo M. Tavares. O Gonçalo, por exemplo, estava fascinado com o trabalho e disse uma coisa muito interessante sobre os textos, que é: “o facto de escrever uma coisa, ou seja, escrever em letras sobre um edifício, é como se essas letras ganhassem espessura, e não é só isso, é como se isso obrigasse a que as pessoas tivessem um tempo mais demorado de atenção sobre um edifício. Se tivermos a olhar para uma parede branca, olhamos três segundos, mas se tivermos a olhar para uma parede branca que tem uma coisa escrita, olhamos durante o tempo que precisamos para ler essa coisa e reflectir sobre ela”. Portanto, ao contrário da opinião que eu tinha, que achava que essas legendas da Fernanda eram redutoras sobre o edifício, o Gonçalo achava que não, pelo contrário, achava que era uma espécie de elogio ao edifício e que no fundo, reforçavam um determinado sentido que o edifício já estava a propor. Isto deu origem a imensas discussões. Foi bastante engraçado e acabei por ultrapassar essa ideia de que a obra revelava uma espécie de falha do nosso trabalho como arquitectos e eles, acabaram por me convencer completamente em as ter. Mas era uma coisa que me incomodava um bocado e admito que de início não estava muito convicto. Passados quase 5 anos desde a finalização da obra, como olha agora para a intervenção da artista? Como seria o edifício sem esta obra? Não é que eu ache que o trabalho da Fernanda sobre o edifício seja supérfluo. Nada disso, bem pelo contrário! O que eu acho é que, não era por ele não existir, que o edifício não conseguiria comunicar também, algumas ideias. A questão que torna o trabalho da Fernanda agora tão interessante, é que a arquitectura, num certo sentido, é uma coisa muda, é entendível por um conjunto de pessoas que são arquitectos ou que estão 129 próximos disso, mas é relativamente muda para o resto das pessoas. Agora, é como se o edifício, para além de estar ali, de ser o que é, de ter a sua forma e de propor uma certa relação entre aquele espaço e a paisagem à volta, falasse também, ou seja, nós podemos não ir lá, mas as pessoas vão e conseguem compreendê-lo na totalidade das suas intenções, e isso faz muito sentido, principalmente, num edifício que é público e que tem um teor e até um programa muito didáctico ou educativo. Decorrente de propostas e obras da artista, existe neste caso, ou costumam existir alterações a nível da arquitectura? Sim, isso acontece bastante. Embora neste caso, a Fernanda tenha entrado no processo quando o edifício estava já a começar a ser construído ou pelo menos, nós já tínhamos o projecto acabado. Lembro-me de algumas coisas que foram alteradas a partir de coisas que a Fernanda ia dizendo ou de coisas que nós íamos discutindo com o Paulo Cardoso, com o engenheiro, com a Fernanda ou com o Gonçalo M. Tavares. Ou seja, houve de certeza alterações ao projecto motivadas pela proposta da Fernanda e costuma haver porque nós discutimos sempre bastante, mesmo à medida que o projecto vai avançando. Como caracteriza a sua relação com a Fernanda Fragateiro, tendo em conta o que é a sua noção da realidade das colaborações entre artistas e arquitectos? A versão mais clássica é os edifícios já estarem mais ou menos prontos e depois é pedido a um artista, uma peça para um determinado espaço. Não é que essa peça não interaja de uma maneira interessante com esse espaço e até o modifique num certo sentido, mas é sempre uma opção um pouco a posteriori. Aqui não tem sido a posteriori, tem sido sempre à medida que o projecto avança e às vezes antes de projecto começar a ser construído. Normalmente é numa fase em que nós já temos o projecto muito definido, mas na qual, ainda há também muito espaço para alterações e ainda há coisas que nos surgem um bocado em dúvida, que a Fernanda entra, ou seja, entra mal consigamos explicar o projecto como um todo. No processo criativo inicial ou enquanto o projecto está a ser experimentado ou ainda em trabalho de maquete, nessa fase normalmente não discutimos os projectos, mesmo quando eu vou ao atelier da Fernanda ou ela ao meu. Os projectos de que falamos são os projectos que ela já tem mais ou menos montados ou ensaiados no atelier, ou seja, nos quais já tem muito claro o que vai fazer e aí apresenta-mos cheia de entusiasmo e eu dou a minha opinião, às vezes até bem outras mal, mas provoca sempre para ambos uma reacção qualquer. O nosso caso é diferente do clássico, acima de tudo, porque ela não tem criado peças para um espaço, no sentido em que nem sequer são peças, são intervenções sobre o próprio edifício que muitas vezes o modificam e que, muitas vezes é modificando mesmo o projecto que nós estávamos a fazer que ela intervém, ou seja, o trabalho dela, por vezes, nem se materializa num projecto próprio ou numa intervenção. É diferente porque nem sempre é identificável. O termo é mesmo intrometer-se no nosso trabalho. É pela forma da Fernanda Fragateiro trabalhar que torna a sua colaboração com arquitectos distinta da que refere como clássica? Acho que nesse aspecto, o trabalho da Fernanda é eventualmente bastante diferente da maior parte do trabalho de outros artistas contemporâneos, nomeadamente portugueses, que trabalham com arquitectos. 130 Em muitas das colaborações, o trabalho é normalmente mais individual, quer o do artista, quer o do arquitecto com quem colabora. Relacionam-se, sim, mas são processos separados. No caso da Fernanda, eu acho que não é assim que ela pensa. Não sei ao certo, mas acho que ela, à partida, ou se interessa ou não e, quando se interessa pelo projecto, interessa-se também pelo que ele propõe, pelo espaço, pelo carácter, etc. Ela trabalha e reage a isso modificando muitas vezes o projecto, ou seja, não é tanto a perspectiva de fazer uma coisa para um sítio ou de fazer uma peça para um espaço, mas é o próprio espaço que é trabalhado. O trabalho da Fernanda Fragateiro aproxima-se por vezes da arquitectura, no entanto, também se defende nesta dissertação, que se não houver distinção entre as áreas também não é possível que haja colaborações? Acho que de facto, a Fernanda trabalha muito como se fosse um arquitecto, não é? Ela odiará que eu diga isto, mas é verdade. Há, eu não diria pudor, mas uma resistência mútua entre os arquitectos e os artistas, exactamente porque a linha de fronteira entre o nosso trabalho não é muito clara. Muitas vezes os arquitectos intrometem-se num trabalho que já é mais do campo de um artista e vice-versa. Eventualmente, a razão pela qual é muito simples, muito produtivo e também muito vantajoso trabalhar com a Fernanda Fragateiro, é que é para os dois, muito claro, quais são os nossos domínios. Não quer dizer que eles não se cruzem ou misturem mas, para mim sempre foi muito claro que eu queria fazer arquitectura. Nós aqui no atelier, não entramos em nenhum campo que não seja da arquitectura mas sei, que há uma certa tendência dos arquitectos para fazerem isso. A evolução tecnológica e as novas possibilidades e técnicas de construção, actualmente, permitem-nos fazer todo o tipo de formas, e portanto, podemos trabalhar um edifício como se fossemos um escultor, (…) até porque os escultores, hoje em dia também fazem peças que se habitam, não é? Exactamente por isso é que há uma espécie de diluição e uma certa, não lhe chamaria rivalidade, mas uma certa resistência entre os arquitectos e os artistas porque às vezes há, de facto, uma certa intromissão. A própria maneira de trabalhar aqui no atelier não tem muito a ver com isso, portanto, não nos deixamos seduzir pelas possibilidades construtivas dos materiais ou tecnologias e tentamos nunca no intrometer no que é o campo do artista. Temos esses espectros bem distintos, por isso, quando achamos que há um ponto qualquer no projecto em que faria sentido um tipo de trabalho que já sai do nosso métier, muitas vezes discutimos isso com a Fernanda (…). Embora trabalhe por vezes no limite da fronteira entre a arte e a arquitectura, a Fernanda não quer ser arquitecta, disso eu tenho a certeza. É muito claro o tipo de trabalho que ela faz tem a ver com espaço e muitas vezes até, com construção e com edifícios, podendo parecer que está quase a intervir como um arquitecto, mas não está. E para nós é muito claro! Quais são as suas referências a nível nacional e internacional de colaborações entre artistas e arquitectos? Há uma colaboração que se tornou mais ou menos constante, entre os Herzog & de Meuron com um artista que é o Rémy Zaugg, houve muitos trabalhos que fizeram em conjunto, eles chegaram até a desenhar o estúdio do Rémy Zaugg, tal como nós desenha-mos o da Fernanda. Aí trata-se também de uma colaboração menos separável, portanto, o que o Rémy Zaugg faz muitas vezes, é intervir sobre as definições do projecto de arquitectura e por isso, o trabalho, não é muitas vezes separável do edifício. (…) 131 Outro exemplo do Herzog & de Meuron que tenho, é o trabalho que fizeram para o Estádio Olímpico de Pequim, conhecido como o Ninho de Pássaro, com o Ai Weiwei, um artista chinês. Também foi uma colaboração, (…) muito discutida em conjunto e isso é que me interessa imenso. (…) A nível nacional, acho que a grande referência é o arquitecto Nuno Teotónio Pereira, que tem vários exemplos de integração de arte ou de intervenções de artistas na sua arquitectura. No entanto fá-lo de uma forma diferente da minha e da Fernanda, ou seja, trata-se somente da colocação de obras em edifícios já terminados e portanto, com um teor talvez mais decorativo. Quais as vantagens de uma relação tão próxima entre um arquitecto e neste caso, uma artista? O que para mim é muito fascinante em trabalhar com a Fernanda, tem exactamente a ver com o que estava a dizer, ou seja, não me interessa muito que ela produza uma peça para um edifício nosso. Não é que não goste dos trabalhos que ela faz que são mais objectuais mas, não é isso que nos resolve problemas. Eu costumo dizer que às vezes lhe telefono quando precisamos de uma visão exterior e diferente da nossa, porque às vezes a solução que é difícil para nós, é fácil para ela. O que me interessa é isso, é o facto de estarmos a pensar sobre o mesmo assunto, que é o espaço, a partir de pontos de vista diferentes. Existe para si uma receita, ou uma postura chave, para que uma colaboração resulte e funcione? Não faço ideia, mas imagino que são coisas muito mais simples do que as pessoas às vezes possam pensar. Em primeiro lugar, acho que deve de haver uma sintonia qualquer de pensamento e uma relação a nível pessoal. Por exemplo, no meu caso e da Fernanda, (…) não há pudores nem constrangimentos e por isso, estamos livres para dizer as maiores barbaridades sobre o trabalho um do outro. Isso é uma coisa fundamental porque não se pode estar a fazer cedências, não é? É uma coisa horrível, uma pessoa estar a fazer cedências sobre a sua posição, sobre a sua convicção para tentar agradar ou para fazer diplomacia, isso não funciona! (…) Se calhar o que acontece frequentemente na relação dos arquitectos com os artistas é um bocado isso. Há ali uma espécie de limitação diplomática dos territórios para que aquilo tudo funcione e para que não sejam feridas susceptibilidades. Isso não pode existir na nossa maneira de trabalhar. Existem outros casos, como por exemplo, o Pedro Cabrita Reis quando trabalha com o Souto Moura, normalmente faz peças que reagem fortemente ao espaço arquitectónico que foi desenhado. Esta relação começa a ganhar alguma dimensão, mas nos três ou quatro trabalhos que fizeram, não se pode dizer que colaboraram, mas sim, que trabalharam ambos para o mesmo espaço. Se calhar, qualquer dia começam a ficar mais à vontade um com o outro, começam a haver mais discussões ou debates, menos cedências, menos pudor nas suas opiniões sobre o trabalho um do outro e começam a sair coisas diferentes. Mas o confronto é por vezes necessário e pode também dar azo a resultados muito interessantes, não? Sim, isso também é muito interessante e eu não vejo problema nenhum em que isso aconteça, mas não é a nossa maneira de trabalhar. Esta maneira de trabalhar com a Fernanda é o que nos é mais natural, mas não é que ache que isto seja mais ou menos interessante do que outro tipo de posições. 132 Eu, por exemplo, gosto imenso da peça que o Pedro Cabrita Reis fez para o edifício do Souto Moura no Campus da Novartis em Basileia (…). Quando vi esta peça pela primeira vez, senti que era completamente necessária ao edifício porque, era como se o projecto do Souto Moura fosse tão mecânico, tão racional, tão frio, tão geométrico que chegasse quase ao ponto de ser insuportável. Era como se não houvesse nenhuma falha, nenhum erro, nenhum defeito e aquela obra do Pedro Cabrita Reis é exactamente o contrário disso tudo. É uma espécie de caos no meio daquele espaço e funciona claramente por confronto, mas é uma espécie de confronto complementar, parece que é necessária, ou seja, a partir do momento em que aquela peça lá está, parece que ela não poderia nunca, não ter estado lá. E isso, também acho muitíssimo interessante. É uma coisa diferente daquilo que tem acontecido aqui connosco e com a Fernanda Fragateiro, que no fundo, é quase estarmos lado a lado na mesma mesa a trabalhar na mesma direcção. Neste trabalho do Pedro Cabrita Reis com o Eduardo Souto Moura, é como se eles estivessem frente a frente nessa mesa a discutir violentamente, cada um com a sua posição e a fazerem coisas totalmente diferentes, que no final, também gera um resultado que faz todo o sentido interligado. Em que é que a colaboração com a Fernanda Fragateiro alterou a sua prática arquitectónica ou mesmo a dinâmica de trabalho do seu atelier? O ponto de onde nós partimos, e isto tem a ver com uma espécie de convicção minha sobre os projectos de arquitectura e é uma coisa que eu defendo desde que comecei a trabalhar no atelier do João Luís Carrilho da Graça, onde fiquei muitos anos. Lembro-me de discutir isto, vezes sem conta, com o João Luís Carrilho da Graça, porque ele tinha uma posição diferente. Eu sempre defendi que todos os projectos das várias especialidades, desde o projecto de climatização, ao de estruturas, ao de instalações eléctricas etc., todos têm que ser autonomamente impecáveis e isto é uma coisa muito minha. O que eu gosto é que os engenheiros que trabalham connosco, possam ter orgulho do projecto que fizeram (…) e que ele faça sentido como um todo, como uma coisa autónoma que depois, claro, que faça sentido conjuntamente com os restantes trabalhos. Para mim, é completamente impensável fazer um projecto em que a estrutura é apenas uma coisa que está por trás para servir os interesses da arquitectura (…) ou seja, quando tudo é feito para que se chegue a um determinado resultado formal do espaço arquitectónico. Para mim não faz sentido! O que faz sentido, e isso tem muito a ver com o facto de trabalhar desde sempre em conjunto com o Paulo Cardoso, que é tão responsável pelos projectos que fazemos aqui com eu sou. (…) Essa postura vai de encontro ao conceito de obra de arte total quando se tenta transpô-la para o séc. XIX… Por exemplo, o projecto da Estação Biológica é um projecto do ponto de vista da engenharia de estruturas fascinante, tudo aquilo faz imenso sentido. Há até coisas engraçadas como, por exemplo, o facto de não termos sido nós a desenhar os alçados daquele edifício. Como as fachadas são umas paredes vigas, foram os engenheiros de estruturas que desenharam os alçados do edifício. Todos, tanto eu, como o Paulo Cardoso e por vezes a Fernanda ou outros, trabalhamos neste sentido, ou seja, com a finalidade de que cada parte seja válida, autónoma e que nos possamos orgulhar individualmente do nosso trabalho mas, no entanto, caminhamos para um todo, para um único elemento no qual todas essas partes sobressaiam de forma equilibrada. 133 É um equilíbrio que no caso da arquitectura nem sempre é fácil de atingir, mas é um princípio que se mantém? É muito mais difícil no caso da arquitectura porque há sempre essa tendência de prevalecer sobre todas as outras especialidades, de todas lhe serem subservientes ou funcionarem, simplesmente, para que a arquitectura brilhe, não é? Eu não me interesso muito por isso. Interessa-me muito mais, que todos os projectos sejam autonomamente inteligentes, que façam sentido e quando, todos eles são cruzados uns com os outros, façam sentido para uma coisa mais global. Portanto, quando trabalhamos com um artista a posição não é diferente da do engenheiro de hidráulicas, de estruturas ou outro qualquer. O artista tem que ter todo o seu campo aberto e não deve fazer cedências no seu projecto para servir os interesses da arquitectura. (…) Faz lembrar um pouco um arquitecto Renascentista com vários heterónimos que encarnam as várias especialidades… Uma vez tive exactamente essa conversa, já não me lembro com quem é que era, mas a Fernanda também estava, e havia alguém dizia, em tom de brincadeira, que nós aqui éramos um bocado uns arquitectos Renascentistas, mas já no séc. XXI, portanto, estávamos para aí quatro séculos atrasados. E é um bocado isso. Houve uma altura em que as obras demoravam imenso tempo e o arquitecto, ao trabalhar em obra, tinha uma espécie de visão global de tudo, de todas as especialidades, aliás essa palavra nem se quer existia ainda, mas no fundo, uma obra era uma obra e todas as coisas faziam sentido cruzadas (…) e todos os elementos partiam de uma só visão, a do arquitecto. A verdade é que hoje em dia fazer um projecto de um edifício é bastante mais complexo porque há um sem número de requisitos legais, funcionais, etc., (da acústica, às estruturas, às hidráulicas, às eficiências térmicas, etc.), portanto, é absolutamente impossível fazermos tudo sozinhos, temos sempre que trabalhar com equipas cada vez maiores. O que eu tento é que, no final, o trabalho de todas as pessoas aparente poderia ter ser feito por uma espécie de super pessoa, por alguém que reunia todas essas competências, que talvez seja o arquitecto Renascentista. Estou-me a lembrar, (…) que o Corbusier era ainda no séc. XX, uma espécie de arquitecto Renascentista. Pensava de uma forma muito racional os edifícios, pensava a estrutura como se fosse um engenheiro, a seguir, trabalhava como um arquitecto ao definir os espaços (…) e por fim, ainda desenha sobre eles e introduzia pinturas, baixos-relevos ou esculturas como se fosse um artista. Como vê o futuro das colaborações, em geral e no caso específico do atelier? Eu acho que faz todo o sentido existir, e digo por experiência própria, que às vezes a nossa maneira de pensar não é suficiente para resolver completamente um projecto. Há uma expressão do Gonçalo M. Tavares que até está no nosso site como abertura e de que eu gosto imenso, que diz que: “Observar pelo canto do olho é, em ciência, começar a elaborar a hipótese. O que é observado pelo centro do olho é o evidente, o óbvio, aquilo que é partilhado pela multidão. Na ciência, como no mundo das invenções, observar pelo canto do olho é ver o pormenor diferente, aquele que é o começo de qualquer coisa de significativo. Observar a realidade pelo canto do olho, isto é: pensar ligeiramente ao lado. 134 233 A isto chama-se criatividade. Daqui saíram todas as grandes teorias científicas importantes.” Nós como arquitectos, estamos sempre a olhar a partir de um determinado ponto de vista mas se conseguíssemos olhar para a mesma coisa, a partir de uma outra perspectiva muitas das coisas que às vezes são difíceis de resolver num projecto, tornar-se-iam bastante mais claras, não é? Mas isso (…) é extremamente difícil de conseguir fazer. O que tem acontecido muito facilmente, é que nós discutimos um projecto e a Fernanda tem um ponto de vista que é o seu, eu tenho o meu, o Paulo Cardoso tem o dele e às vezes, ainda vêm outras pessoas que têm outros pontos de vista muito diferente. Nesse sentido e, pelo menos no nosso caso, acho completamente necessário, aliás, não consigo sequer imaginar trabalhar de outra forma. No fundo seria o mesmo que agora começarmos a ser nós a pensar nos projectos de estruturas dos edifícios que desenhamos. De facto, é como diz, não só a relação que criou entre o arquitecto, o engenheiro e o artista é casuística é também rara no panorama da arquitectura… Eu percebo, mas de facto, na maneira como nós temos trabalhado aqui com a Fernanda, lá está, não são coisas complementares. Ela não vem depois introduzir uma coisa qualquer que se possa optar por ter ou não, não é isso que se passa. (…) Mas claro que se ela não entrevir, hão de haver coisas que ficam pior resolvidas no projecto. Hoje em dia não há hipótese porque os requisitos de um edifício são de tal modo exigentes e são tantos, que nós temos que estar completamente concentrados na nossa especialidade, é difícil ter tempo ou ter capacidade de gerir ou dominar várias coisas ao mesmo tempo, não é? Portanto, eu diria que cada vez é mais necessário haver estas colaborações com outro tipo de pessoas, e neste aspecto, eu não falava só dos artistas, mas também de outro tipo de pessoas como sociólogos, por exemplo, escritores porque não. 233 Gonçalo M. Tavares – Breves Notas sobre a Ciência. Lisboa: Relógio d’Água Editores, Abril 2006. 135 ANEXO III: ENTREVISTA REALIZADA A JOÃO GOMES DA SILVA, A 30-01-2012, NO ATELIER GLOBAL ARQUITECTURA PAISAGISTA: Começo por lhe pedir para descrever a sua intervenção no projecto da Expo’98. Eu fui co-autor, com o Arq. Manuel Salgado, do plano que ganhou o concurso para o recinto da Expo’98 e depois tivemos a tarefa de fazer, o que se chamou na altura, projecto de solo. Fizemos, em colaboração e a vertente de colaboração estendesse aqui a todos os intervenientes, o projecto de espaços públicos da Expo, no seu todo. Começando pelo que constituiu uma espécie de plano geral, no qual uma série de regras e elementos de base se estabeleceram, nomeadamente, a relação entre o espaço público, a sua infra-estrutura e a tão importante revelação ou ocultação da mesma. A partir do momento em que se fez esse trabalho de base, começaram-se a identificar os temas de trabalho mais isolados e autonomizaramse alguns projectos, quer para o meu lado, quer para o lado do Arq. Manuel Salgado e do RISCO. Surgiram assim, vários espaços, entre eles os jardins e, a certa altura, pensou-se que seria interessante, antes de se começar a fazer qualquer projecto, envolver outras pessoas que pudessem pensar e ajudar a conceber o espaço público. Refere-se agora aos artistas? Estamos em finais dos anos 90, ou seja, vimos de uma cultura, estabelecida nas últimas duas décadas (80 e 90), que assentava na ideia de espaço público e da interacção com as artes. Assim surgiu a ideia de convidar vários artistas e criar um programa de arte pública, a desenvolver no âmbito da Expo. Portanto, para além do envolvimento dos engenheiros, foram convidados vários artistas para intervir no espaço, alguns intervieram de maneira mais tradicional, trabalhando sobre os pavimentos a partir de padrões regulares, abstractos ou figurativos; outros trabalharam de uma forma mais tridimensional, ou seja, sobre a forma de esculturas ou de instalações e outros trabalharam de uma forma mais insidiosa mas também mais intensa ou intrincada como é o caso da Fernanda Fragateiro. Como distingue este Jardim, dos Jardins de Água, em termos de envolvência dos vários intervenientes? Considera que foi também um projecto colaborativo ou foi somente um projecto conjunto? Os Jardins de Água e o Jardim das Ondas foram dois jardins que se autonomizaram no desenvolvimento do projecto de espaço público. O projecto dos Jardins de Água, foi conduzido pela RISCO e portanto, houve uma liderança em relação a esse processo e o nosso envolvimento numa outra posição, que não a de coordenação ou de liderança, mas talvez de colaboração. O Jardim das Ondas tinha um sentido diferente dos Jardins de Água e era da nossa inteira responsabilidade e mais tarde, seria também, da Fernanda Fragateiro. Como surgem os temas para ambos os jardins e como afectam estes, o desenho dos espaços? O pensamento que está por trás do desenvolvimento dos espaços da Expo’98 e da própria exposição em si, é ainda muito influenciado pelo pensamento pós-moderno da tematização da arquitectura e da 136 figuração das ideias. Portanto, a utilização dos temas de uma forma destacada, serve muito o propósito de uma exposição, que é moldada por um acontecimento mais do domínio do marketing (...). A Expo 98, celebra os oceanos e sua importância a partir de muitos pontos de vista, entre os quais, a questão da relação entre os vários cantos do mundo através dos oceanos. Do tema geral começam a declinar, uma série de outros temas como os Jardins de Água ou o Jardim das Ondas. Os temas são escolhidos por um gabinete, ou se quisermos, um corpo dentro da própria Expo’98, que basicamente pensava o tema dos conteúdos. Toda esta questão dos temas esteve muito presente na concepção do evento em si, tanto na questão dos conteúdos e dos espaços, como dos conteúdos e das exposições e ainda, dos conteúdos e das instalações. (…) Os Jardins de Água, por exemplo, foi um tema que nos foi proposto, não fomos nós que inventámos, aliás, nós fugimos dos temas como ‘diabo da cruz’ porque não trabalhamos a partir de uma ideia de figuração ou de configuração, mas digamos que, aquilo que foi entregue aos responsáveis pelo conceito, neste caso arquitectos, arquitectos paisagistas e artistas foi esse tema propriamente dito. Como distingue o Jardim das Ondas, dos Jardins de Água em termos de programa e envolvência dos vários intervenientes? Os Jardins de Água são determinados pela ideia de querer fazer um conjunto de espaços públicos com uma função fundamentalmente de descanso, de lazer, de uma certa alternância em relação à visita dos pavilhões e de um contraste com os espaços de grande concentração de gente ou de direccionamento de fluxos. O Jardim das Ondas, supostamente seria um espaço de um lazer ainda mais profundo, ou seja, a ideia é que fosse um grande espaço aberto e relvado, que criasse uma grande superfície de estadia e permanência na margem do rio. Portanto, são duas situações um bocado diferentes mas de função similar e, se reparar bem, a estrutura dos Jardins de Água é uma sequência de espaços, uns mais do domínio do duro, do artificial, do pavimento; englobam toda aquela parte central que cruza fluxos e nos dois extremos, encontram-se espaços mais do domínio do jardim. O Jardim das Ondas constitui uma só unidade espacial. Nesse sentido, o Arq. Manuel Salgado propôs que trabalhássemos juntos, o RISCO, nós e a Fernanda Fragateiro em relação aos Jardins das Águas. Em relação ao Jardim das Ondas, que era um projecto que nos tinha sido atribuído em exclusivo, com o desenrolar do processo acabamos por envolver a Fernanda Fragateiro e acabamos até, por desistir (…) de uma configuração de espaço que já tínhamos desenvolvido e abraçámos o projecto que fizemos com ela. Portanto foi uma escolha que aconteceu de uma forma quase natural e que surgiu encadeada com os Jardins das Águas? Foi, foi uma que surgiu da naturalidade como a nossa relação de trabalho se desenvolveu. Agora incidindo no Jardim das Ondas, em alguma altura do processo surgiram questões de autoria, tendo também em conta que já havia, da parte do arquitecto, um estudo desenvolvido para este espaço? Devo dizer, que a coisa foi muito personalizada em termos do trabalho desenvolvido entre mim e ela. Ao contrário de outros espaços que envolveram outras pessoas, houve, de uma forma talvez mais inconsciente da minha parte e de uma forma mais controlada e consciente da parte dela, tal como é muitas vezes próprio entre os homens e as mulheres, essa intenção e disponibilidade. Sobretudo disponibilidade para o fazer. 137 Portanto, aquilo que foi a minha posição foi – Bom, temos uma hipótese mas estamos completamente abertos para explorar outra e portanto, como é que vamos fazer, como é que vamos trabalhar? A posição do lado dela foi um pouco diferente, até porque os artistas funcionam muito mais dependentes da noção de autoria e trabalham de uma forma normalmente muito mais isolada do que arquitectos. No meu caso de arquitecto paisagista, estamos habituados a ter que colaborar com outras pessoas para poder concretizar as coisas. Os projectos são coisas muito complexas, então estes espaços públicos, são muitíssimo complexos porque envolve muita gente, muitos problemas. Neste caso concreto houve essa disponibilidade e, essa disponibilidade é o mais importante para se eliminarem esse tipo de problemas que surgem quando a questão da autoria se põe. Portanto, isso não foi discutido inicialmente, daquilo que me recordo e posteriormente não se pôs esse problema. Como decorreu a fase mais conceptual do projecto, foi um processo partilhado? O que se passou, de um ponto de vista muito prático foi que, uma vez entendidas ambas as posições, fizeram-se reuniões e sessões de trabalho nas quais, a Fernanda Fragateiro disse que gostaria de fazer um projecto que de alguma maneira se baseava num livro, numa referência que ela tem da Virginia Woolf, que é o ‘The Waves’ (1931), que aliás aparece também no Jardim das Águas. A Fernanda trabalha muito a partir da reflexão e do pensamento sobre as realidades em que está interessada no momento. Apresentou-nos então, uma proposta sobre a forma de uma maquete de gesso, que surgiu do trabalhar sobre as formas da água. A água que é aparentemente uma matéria formal, na verdade não o é, porque a água, sendo uma matéria com propriedades que não se ficam apenas pelo plástico, deforma-se constantemente em função da energia que possui ou em função do elemento que a contem, ou seja, a água ao ser representada através da forma surge de uma maneira absolutamente transfigurada. Na verdade, aquilo que a Fernanda Fragateiro propõe, é a configuração de um conjunto de formas com escalas absolutamente transgredidas. Não há uma escala comum às formas, há um espaço em que coexistem várias formas de muitas escalas, que aparecem compostas nesses vários estudos que ela fez a partir de modelos em gesso e também de fotografias. Ela debruça-se sobre um conjunto de formas que são normalmente próprias da relação e, mais exactamente, do contacto entre o mar e a terra. Essas formas, compostas e articuladas entre si, são próprias à água nos seus diversos estados e formas de energia, são próprias daquilo que a água imprime na terra. Por exemplo, há um conjunto de formas que representam de alguma maneira o movimento provocado pela energia transmitida à água pelo vento, há outras formas que têm a ver com a inscrição que a água faz na areia, há outros momentos em que se observa a forma de quando um pingo cai num plano de água. Estas formas têm simplesmente a ver com a impressão da água, com o efeito da água sobre a matéria e não a água em si. (…) Qual foi a sua reacção a esta proposta, já que, a passagem destes esquemas conceptuais para o desenho e mesmo materialização nem sempre é óbvia ou fácil? Há na tradição dos anos 70 na arquitectura paisagista moderna, pode-se chamar assim, sobretudo, em França e na Bélgica, a que se chamou "Jardins Culture", ou seja, "Jardins Cultura", em que a construção de espaços a partir da modelação do terreno, que é uma das três grandes tectónicas da paisagem, foi muito utilizada, sobretudo, num determinado tipo de desenvolvimento urbano, pós Carta de Atenas. (…) Os "Jardins Culture" surgem da vontade de criar espaços públicos a partir de uma perspectiva plástica e muito livre em relação ao espaço em si. Nós podemos ver alguns exemplos disso em Portugal, nos Olivais Sul. (…) A minha reacção é então, mais ou menos esta – Bom mas isso é um "Jardin Culture" dos anos 70 e passados 20 anos, isto é ainda um conceito muito presente, portanto, tenho um certo receio da 138 colagem a essa imagem. E ela disse – Não tenha receios, isto é uma outra coisa. E como a minha posição desde o início era bastante aberta, disse – Bom, se é outra coisa, vamos tentar perceber o que é. Passando agora para a questão do projecto, ou seja, já de desenho do espaço… O que fizemos em seguida foi tentar perceber, através de desenhos, esquiços e de várias maquetas que a Fernanda foi fazendo e ainda de desenhos e cálculos que nós também fomos fazendo, como é que essas formas, com escalas muito diversas convocadas para o mesmo espaço, se poderiam articular, tomar forma e começar a concretizar. Obviamente que se queremos convocar várias formas no mesmo espaço precisamos de uma unidade, precisamos de uma certa abstracção relativamente à matéria, ou seja precisávamos de uma matéria única e portanto, a relva aparece como material que estabiliza as formas que são feitas com terra. Depois há problemas técnicos que se põem na construção daquelas formas, porque a certa altura, temos ondulações que são bastante declivosas, não é? Ora a matéria tem propriedades físicas e momentos de estabilidade e de instabilidade, nós não íamos fazer aquelas formas em betão, não íamos fazê-las em gesso, não íamos fazê-las em nenhuma matéria estável, mas sim em terra e depois, íamos estabilizá-las e sobretudo unificá-las com relva. Isto parece tudo muito simples mas, na verdade, teve de se perceber como é que se conseguia, primeiro, chegar a uma forma final muito complexa. Segundo, torná-la possível de construir e em último, resolver todos os problemas técnicos que estão inerentes. Escolhida a matéria que era a relva, perceber que várias relvas tinham ali que existir e como as manter num contexto mediterrânico de verões quentes e secos. Evitámos colocar candeeiros ou focos, a não ser muito pontualmente, no conjunto de árvores, que nós propusemos e a Fernanda decidiu juntar. Que são um conjunto de chocos plantados sobretudo num dos limites, para que a sombra, quando a luz sobretudo Poente, começa a ser mais baixa, se projectasse para o interior do espaço e o tornasse não só habitável no Verão mas, que cria-se uma amenidade inerente ao conforto e que faz parte deste sentido lúdico característico deste espaço em particular. Todas estas questões, que se envolvem com a possibilidade de ‘fazer’, que é própria da construção de projectos artísticos, unem-se às da construção de espaços públicos e de espaços de paisagem, como a questão do conforto, da possibilidade de ser mantido. Depois há outras questões que têm haver, com a apropriação e que são bastante interessantes. Durante a fase de construção, obviamente surgiram problemas ou questões com ela relacionadas, como foi acompanhado esse processo? A Fernanda Fragateiro é uma pessoa que trabalha tanto na fase conceptual, como na fase de produção ou para nós, a fase de obra. Foi um trabalho muito conjunto, sobretudo o lado escultural, de moldar o terreno e a confirmação e ajuste da forma, foi algo que foi bastante acompanhado por ela, até porque tinha objectivos, bastante concretos, em relação a isso. Eu fui pondo questões e fui, no fundo, ajudando a concretizar esse trabalho, através de técnicas topográficas escolhidas e utilizadas para transpor os desenhos que tínhamos feito para o espaço. Depois há um momento, em que se atinge a forma pretendida e se faz o revestimento com tapetes de relva. A relva foi aplicada de uma maneira muito rápida, para que o vento não destrui-se ou altera-se as formas (…). A área foi reservada e a relva ficou a enraizar durante algumas semanas. Estes trabalhos finais de pavimentações, revestimentos e plantações, sobretudo plantações de revestimentos, são sempre os últimos a serem feitos e, apesar de ter havido uma excelente coordenação do conjunto de 139 obras no recinto, as coisas depois precipitaram-se. Mas quando chegou o dia, a relva estava instalada e o projecto da Fernanda e nosso estava concretizado. Essa dicotomia entre um objecto de arte e um espaço de exaustiva utilização foi tida em consideração? Desde a arte moderna à arte contemporânea, a interacção com as pessoas é um factor chave, e aqui, mais uma vez foi um pressuposto do projecto e, um aspecto talvez tão importante quanto a concepção e produção do objecto artístico, que neste caso é o espaço. Do meu ponto de vista esta interacção é fundamental porque, basicamente, estamos a criar um espaço público e minha perspectiva era: Se é um espaço público, como é que ele se apropria e como é que ele resiste? Há aqui situações de um limite de fragilidade. Aquelas pendentes e encostas são muito frágeis do ponto de vista da solidez, portanto, quando há uma apropriação que é muito intensa e sendo a relva um material vivo, quando é muito pisado chega a momentos de uma certa instabilidade. Ai iniciou-se outro processo muito importante, que foi a observação dessa apropriação através de várias formas de registo, que foi também, objecto de um tipo de comunicação enquanto projecto. Agora, passados quase 14 anos, como olha para este espaço que co-criou? É um jardim ou é uma obra de arte? A minha opinião é que o jardim é essas coisas todas. Não estou muito preocupado com a categorização, até porque existe um território deliberadamente híbrido e é essa hibridez e essa fusão, se bem que com objectivos e olhares diferentes, é o que torna o Jardim das Ondas numa coisa única, na qual, a forma como as pessoas se relacionam com ela é o fundamental e é daí que se retira essa experiência. Há vários registos que são feitos sobre esta obra, uns são do domínio da fotografia, portanto, estáticos e no fundo, gestos que objectualizam este espaço vivido, mas há um outro registo muito importante, feito por um cineasta, a pedido da Fernanda. É um registo dinâmico no qual as imagens são tomadas a partir de um ângulo fixo e por fracções ao longo de 24h, que montadas sequencialmente revelam, num determinado tempo, a dinâmica do espaço e as diversas formas como pessoas com diferentes interesses, miúdos, jovens, adultos e pessoas mais velhas, utilizam o espaço a várias horas, com luz diferente e com todas as dinâmicas do próprio espaço. Há uma altura em que a rega começa a funcionar, as sombras movimentam-se quase como pessoas e tudo se sucede ali. Todo o tipo de interacções entre as pessoas, entre as pessoas e o espaço, tudo inimaginável sucede ali. (…) Portanto considera irrelevante ou desnecessária a catalogação deste tipo de espaços? Não, eu acho que é preciso catalogar, no sentido em que, quando reflectirmos sobre as coisas, reflectirmos a partir de determinadas perspectivas. Estas reflexões são sempre feitas de uma perspectiva de limites disciplinares ou da observação dessa transgressão das fronteiras disciplinares, (…). E nesse sentido, é muito interessante, especialmente para mim, perceber de que forma, de que processos e a que resultados se chegou com estas intervenções que não são originais ou originadas nesse momento. A colaboração entre artistas e arquitectos existe desde sempre e portanto, essa hibridez e essa complexidade no espaço, que é própria da arte em conjunto com a arquitectura, existem também desde sempre, ou seja, o que existe é um revisitar dessa disponibilidade naquele momento. 140 Ao longo da sua carreira já tinha tido colaborado desta forma com algum artista? Já colaborei muitas vezes com artistas, mas nunca de uma forma tão concretizada. Mais ao menos ao mesmo tempo, trabalhei para o projecto do Museu de Serralves. (…) Nessa altura houve uma interacção forte com alguns artistas que lá trabalharam. O primeiro deles foi o Richard Serra para a peça 'Walking is Measuring'. Houve uma interacção, obviamente, não tão próxima, por ser alguém que está muito distante e que trabalha de uma maneira muito fechada, fruto de boas e más experiências sobre os temas da colaboração. O Richard Serra vem de uma experiência traumática, que é sobretudo a experiência do Tilted Arc. Este é um processo que está muito bem documentado e eu estudei-o muito bem na altura, para perceber a natureza do trabalho dele e, sobretudo, deste tema da colaboração. Esta colaboração teve um sentido completamente distinto, pois houve comunicação, mas cada um interagiu a seguir, da maneira que melhor entendeu. (…) O meu trabalho articulou-se para, de alguma maneira, tornar mais explícito e mais claro o trabalho do artista. Uma das alterações óbvias foi, a substituição de tiras em chapa de aço corten, que delimitava o percurso, para que não anulassem a força expressiva da peça dele. Isso foi uma coisa que eu entendi de imediato e retirei, nem penso que ele tenha chegado a saber. Para além disso tenho colaborado com outros artistas, nomeadamente com o Gilberto Reis, que é um artista quase invisível mas que tem um trabalho bastante interessante e que, do ponto de vista conceptual, ainda interage bastante connosco Que referências tem, em termos de colaborações entre artistas e arquitectos no panorama nacional e internacional? A referência mais contemporânea que tenho e que foi a que mais me interessou conhecer e investigar durante esse período, foi obviamente a relação entre Herzog & Meuron e o Rémy Zaugg, que terminou com a morte do Rémy Zaugg, mas que produziu um conjunto de experiências em ambos os campos e especialmente no campo das colaborações, que me parecem ter feito avançar a arquitectura e a produção do espaço, tanto por artistas como por arquitectos. Num plano mais próximo, é o arquitecto Carrilho da Graça, com quem nós temos colaborado muito e que foi aliás, uma das minhas colaborações mais importantes, no tempo, em quantidade e em qualidade. O Carrilho da Graça sempre teve essa necessidade de, ou interagir directamente com artistas e tem-no feito com diversos artistas, ou interagir indirectamente a partir da observação de experiências de determinados artistas e da sua incorporação como parte da arquitectura. Eu tenho para mim, que o trabalho dos artistas, funciona um pouco como um laboratório de pesquisa avançada e de investigação da matéria, porque estão, em relação a todas as artes mais sociais e políticas, que são a arquitectura e a arquitectura paisagista, menos constrangidos por questões de regulamentos, programas ou mesmo de encomendas de clientes e portanto, têm uma liberdade um pouco maior que nós. Esta interacção e esta observação é uma forma de colaborar indirecta. Um artista que observo muito, por exemplo, é o Eliasson. Claro que eu nunca o conheci nem nunca interagi com ele, no entanto, investigo muito o trabalho dele e de outras pessoas e, a partir daí, tento extrair experiências, tento reinventá-las e reinventar o espaço e a produção do espaço a partir dessa observação. Nós agimos não isoladamente e esta colaboração indirecta é muito visível em quase toda a produção de espaço e produção de artistas como a Fernanda Fragateiro. 141 Para fechar a entrevista pergunto-lhe como olha para o futuro deste tipo de trabalho colaborativo? O tema das colaborações, pessoalmente interessa-me muito porque desde que eu comecei a trabalhar como arquitecto paisagista, procurei justamente trabalhar em colaboração e isso foi um mote, uma intenção que explorei até agora e com resultados bastante próprios dessa postura, resultados positivos mas também negativos. É uma forma de trabalhar que põe questões de fronteira e de limite às vezes complexas, mas outras vezes ajuda a defini-las e a entende-las. É um ciclo que de alguma maneira se acaba, que vai fechar agora e que se centra nesta questão da colaboração. Quando diz que é um ciclo que agora se está a fechar, o que é que isso significa? Quando eu digo que isto está a terminar, é porque é um tipo de produção que só é possível com fundos públicos, ou com a articulação de fundos privados que permitam a produção destas peças. No caso da Expo’98, não houve um programa governamental mas criou-se um fundo, um programa que de alguma maneira é produzido pelo governo mas num contexto específico, concreto e limitado no tempo. Vamos lá ver, a colaboração com arquitectos, quando se faz um edifício e se cria um espaço de paisagem que o envolve ou que o contém, ou ainda, a criação de espaço público através da interacção com artistas ou com outras visões, tem a ver, com um período da nossa história recente e da nossa economia, em que há disponibilidade para isso. Essa disponibilidade terminou. Estamos a fechar um ciclo económico e esta cultura de espaço público, tal como a conhecemos até agora, terminou. Temos agora de trabalhar de outra maneira, de tentar perceber como é que vamos trabalhar, sendo que estamos a operar sobre outras coisas, outros problemas. A cidade é hoje uma coisa muito indeterminada nalguns aspectos e é exactamente essa indeterminação e esse limite, que é preciso entender. Por exemplo, como é que as paisagens são produtivas, como é que se criam espaços que são também públicos noutras realidades que não apenas as da cidade mais tradicional ou, de que maneira é que a infra-estrutura entra na nossa vida e de que maneira se criam grandes espaços públicos que na verdade são espaços de infra-estrutura. Estes são temas que resultam de um ciclo económico, social e cultural que se fecha agora, que terminou, não há mais, não há mais dinheiro. 142 ANEXO IV: ENTREVISTA REALIZADA A JOSÉ VELUDO, A 30-01-2012, NO ATELIER NPK ARQUITECTOS PAISAGISTAS ASSOCIADOS: Começo por lhe pedir para enquadrar a NPK e a colaboração com a Fernanda Fragateiro, dentro de um projecto multidisciplinar e de enorme dimensão como foi o Plano de Pormenor do Cacém. Antes do Programa Polis do Cacém, houve um estudo de um Plano de Pormenor, feito com o RISCO, que englobava várias unidades de projecto. Entretanto, a Câmara de Sintra aproveitou o aparecimento da Polis e lançou o Programa Polis do Cacém e aí foram desenvolvidos vários projectos, um deles, o Parque Linear, que foi entregue aos NPK. A ideia do trabalho com a Fernanda Fragateiro, acho que já vinha de trás mas como nós gostamos muito do trabalho dela e nos dávamos muito bem, a coisa seguiu assim, ou seja, quando o projecto avançou, avançamos com ela. No Cacém esta é a única intervenção de Fernanda Fragateiro? Sim, penso que foi. O projecto do Parque Linear da Ribeira das Jardas supera o espaço público ou o jardim relvado e arborizado, pela sua complexidade a nível da biodiversidade, presença da ribeira, percursos e ligação não só à cidade mas entre as duas freguesias que une. De onde surge a necessidade ou intenção de colocar arte urbana num parque já em si tão completo e diversificado? Eu acho que é mais uma oportunidade do que uma necessidade. Neste caso, tem muito a ver com a escala, trata-se de uma escala relativamente generosa para o espaço urbano e um espaço maior do que aquilo a que nós normalmente chamamos um jardim e por isso lhe chamamos parque. Há neste tipo de situação, uma oportunidade de diversificar a equipa e no fundo, de ampliar aquilo que são os olhares e as sensibilidades no tratamento do território. Aliás, a questão da necessidade é uma questão que também precisa de contexto, quer dizer, há muitos tipos de necessidades. Qual necessidade? A integração da arte no espaço público urbano teve por detrás, por exemplo, nos primeiros programas de arte pública que refiro na dissertação, uma procura de identidade e carácter para um espaço? Sim, aí já faz sentido e de facto, pareceu-nos ser um caminho ou um melhor caminho, para dar uma identidade e caracterizar o espaço de modo a que as pessoas se identifiquem com ele. A escolha da localização da obra dentro do espaço pode advir também, de outro tipo de necessidades. Como foi feita, neste caso, essa decisão? O sítio ou o espaço físico para a obra, foi escolhido (…) porque somava várias características, como a sua centralidade, a forma do espaço, a sua relação com a envolvente e o facto de que neste local, o desenho viário se sobrepunha muito àquilo que era a lógica geral, ou seja, criar uma maior aproximação aquilo que era os valores naturais do local e do próprio sistema do rio. Nesse sentido, como isto era uma coisa que se afastava mais, havia uma maior necessidade de trabalhar para integrar, portanto, quando este espaço surgiu, achamos que era óptimo, por todas essas razões e por esta necessidade específica. 143 Essa escolha foi realizada em conjunto e de forma consensual com a artista? Sim, mas há aqui situações que eu estou a descrever com alguma assertividade relativa porque entretanto já se passaram alguns anos, mas penso que foi assim. Todo o processo criativo foi conjunto mas também é evidente que mesmo os processos criativos que são conjuntos têm processos criativos autónomos que depois se casam, se juntam, se encontram e se complementam. Que informações ou talvez programa foram dadas a Fernanda Fragateiro para a criação da sua obra? Eu acho que não houve programa, o programa era: O que vamos fazer aqui e, o que é que se vai passar aqui? Eu acho que era mais isso. É óbvio que a partir daí há uma adaptação, há um descer ao programa de um parque no geral e deste em particular. Mas no início não havia um programa definido. Como foi decidido o carácter da obra, se seria lúdico, de intervenção social, simbólico ou temático por exemplo? Houve um falar com a Fernanda, houve um conhecer e experimentar o sítio e a seguir, houve uma vontade, um conceito e uma decisão tomada pela Fernanda. Da nossa parte, houve uma aceitação das decisões tomadas e um trabalho conjunto para integrar as ideias da Fernanda. É muito interessante essa libertação em relação ao programa, que existe por vezes nas colaborações. Pedia-lhe então que explicasse que dinâmica de trabalho foi adoptada para a realização desta obra? Eu acho que só há uma forma de trabalhar quando se trabalha com equipas, que, como diz bem, uma coisa é: os programas são os programas e ponto final, ou seja, são algo que muitas vezes nos transcende, que vem de montante e que, no fundo, é importante porque são decisões que extravasão o nosso contexto e a dimensão em que estamos a trabalhar. A outra coisa é: a partir do momento em que se trabalha com alguém ou em que existem várias componentes numa equipa, a ideia é haver o menos programa possível. Eu acho que com a Fernanda isso aconteceu em pleno. É evidente que se houvesse alguma coisa, naquilo que a Fernanda tivesse feito, que incomodasse ou que de alguma forma inviabilizasse aquilo que era parte do conceito do parque, teríamos discutido isso com ela. Isso aconteceu de facto mais tarde, na materialização do projecto e aí tivemos que em conjunto, encontrar um caminho e afinar decisões. Concorda com a postura de que essa tensão é essencial e benéfica ao processo colaborativo? Eu acho que essa tensão é boa mas tem que haver sempre um encontro. Se não há esse encontro, então, estão as pessoas erradas a trabalhar umas com as outras. Quer dizer, quando esse desencontro acontece em trabalhos (…), é porque a coisa não está bem ou então, não há empatia na forma de trabalhar. 144 A arquitectura paisagista é em si uma profissão que requer um constante trabalho interdisciplinar, normalmente mais direccionado para a arquitectura. O que traz de novo a colaboração com artistas? Quais os principais benefícios? Eu acho que é a aprendizagem. (…) Por mais que façamos um esforço para não o ser, estamos sempre a ser preconceituosos e o simples facto de entrarem outras pessoas na equipa, que vêem as coisas de outra maneira, ajuda-nos a questionar os preconceitos e a experimentar outras coisas. É de facto, muito importante, nós questionarmos a forma como trabalhamos e sobre esse ponto de vista, o trabalhar com pessoas com uma visão diferente, como no caso dos artistas plásticos, é uma possibilidade de questionar as coisas de forma diferente. Podiam ser outros olhares mas é mais fácil encontrar neste campo das artes, olhares mais diversos que questionem mais as coisas que estão a ser feitas. Eu acho que a importância esgotasse toda aí. Depois há uma outra dimensão, já menos importante, que é a dimensão daquilo que se produz, porque aquilo que eu estava a falar anteriormente era da dimensão do processo. O processo é mesmo a coisa mais importante, talvez no início, uma pessoa não veja isso com clareza mas, há medida que os anos vão avançando, eu acho que isso se torna mais claro. O que nos alimenta mais, o que nos dá aprendizagem, aquilo que nos apaixona, aquilo que nos dá vida é sempre o processo e não tanto, o resultado. É óbvio que a determinada altura, quando esse casamento de sensibilidade é bom, achamos que aquilo que é produzido é qualquer coisa de ordem superior. É mais bonito, é mais perfeito, é mais equilibrado, não é? Mas se a primeira parte do processo não tiver corrido bem, também olhamos para o resultado e achamos que aquilo não nos transmite equilíbrio nenhum. Neste caso específico, aconteceu essa aprendizagem? Sim, eu acho que sim. Neste caso, não acho importante identificar ou sintetizar o que foi mais marcante, mas de forma geral e até mais óbvia, acho que a aprendizagem é uma pessoa sentir-se satisfeita com aquilo que aconteceu. De alguma forma, podemos dizer que isto nunca teria sido assim se a Fernanda não tivesse trabalhado connosco, portanto, houve qualquer coisa de diferente e ela há-de dizer a mesma coisa. Voltando agora ao Jardim nas Margens no Parque Linear, como é que a artista apresentou a sua ideia e daí se partiu para a materialização? Já lá foi? Sim várias vezes. Este projecto tem muito a ver com o género de preocupações da Fernanda Fragateiro e como pôde então ver, foi um processo com algumas semelhanças ao outro que referiu, o Jardim das Ondas. Para o Jardim nas Margens, a Fernanda fez uma maqueta muito bonita mas que foi um problema e digo isto somente em relação à modelação do terreno, que nem sempre é uma coisa simples. Nessa materialização, teve de haver um importante trabalho de ajuste entre aquilo que foi o impulso da Fernanda e aquilo que nós achávamos que era viável. Tudo isto foi muito falado e muito trabalhado entre nós, NPK, e a artista. 145 Há uma coisa nesta fase, que acho que é importante dizer-lhe: É que, à partida, um artista plástico é aquele que leva até ao fim a realização da sua obra, isto para dizer, que a determinada altura nestes processos, a materialização escapa às nossas mãos. Isso é um problema, porque na materialização, tudo, incluído o mais pequeno pormenor é importante para o processo mas nem sempre é possível controlar todas as coisas que acontecem em obra. Também aconteceram acidentes destes nesta obra, ou seja, a determinada altura, aquilo que se tinha na cabeça, na da Fernanda e na nossa, não se conseguiu materializar por que causa desta perda de controlo devido há quantidade de entidades que são postas no processo: donos de obra, fiscalizações, empreiteiros, há muitos processos burocráticos e jurídicos que a determinada altura não se controlam. Acho que isso é uma coisa que não faz muito sentido em muitas materializações. Basta que haja uma falha no caderno de encargos, algo que a fiscalização não vê ou um prazo que entretanto é apertado, para que a materialização tenha problemas que não são controlados e se para nós, isso já é difícil e a coisa diluísse mais, por parte dos artistas plásticos, isto torna-se ainda mais grave. Por exemplo, quando a Fernanda fez aquela girafa que está no Jardim das Águas, foi ela que a realizou e trabalhou com os artesãos que fizeram aquilo, e isso, neste tipo de projecto é impensável. Neste caso, a artista manteve-se também ao longo desse processo ou distanciou-se dessas questões técnicas? Esteve muito presente, até porque, sempre que havia questões de alterações ou de nós percebermos que nesse processo algo ia contra algo que estava conversado com a Fernanda, a Fernanda era chamada. Já referiu que foi dada muita liberdade à artista para questões relacionadas com a forma, o tema e as características gerais da obra, pergunto-lhe agora sobre a responsabilidade e capacidade de tomar decisões mais técnicas e sobre essa pressão que refere como inerente à materialização de um projecto? A maior parte das coisas que se passa na vida são batalhas: “eu quero, posso e mando” existe em poucas situações e há que tentar encontrar a maneira mais viável e compatível para a situação que se apresenta. Mas no sentido de poder dar capacidade de decisão à Fernanda, isso sim. À vontade! Isso é uma questão do mundo em que se vive. Nós arquitectos, hoje em dia, queixamo-nos exactamente do mesmo, queixamo-nos também que o processo nos está a ser retirado das mãos. É exactamente a mesma coisa. A tendência é para a especificidade disciplinar, que culmina na não-aceitação de que há uma visão mais global acerca de um processo. (…) Até mesmo no Cacém, a determinada altura, senti que era uma pena que a materialização não pudesse ter sido ainda mais acompanhada, por nós e pela Fernanda. Nós andámos sempre em cima, estávamos lá permanentemente, mas mesmo assim, senti falta de uma interacção maior no processo de materialização, e eu acho que a Fernanda também sentiu. Que relevância teve o tema da apropriação do espaço no processo colaborativo ou de trabalho? A apropriação do espaço por parte das pessoas foi muito discutida até porque, como arquitecto paisagista essa é uma das minhas principais preocupações já que influência muito a forma como este é mantido ao longo do tempo. Foi muito importante pormo-nos todos ao mesmo nível para discutir questões como: Para que é que isto servia? Para quem era? Como ia ser utilizado? Todas elas foram amplamente discutidas com a Fernanda. 146 Olhando agora com uma certa distância temporal, como vê este projecto e a presença da obra como parte integrante do mesmo? Acho que resultou bem, estou satisfeito. Sabe que há aqui uma coisa que, penso eu, é uma das maiores diferenças entre as pessoas que trabalham só na arquitectura para as pessoas que trabalham só na arquitectura paisagística, ou seja, há uma temporalidade que nos projectos de arquitectura paisagística é mais alongado que nos de arquitectura. Eu só considero que uma coisa resulta bem ao fim de cerca de dez anos. No ano em que o projecto é feito, resulta sempre, não há razão para não resultar; agora, o que é que vai ser aquele espaço daqui a dez anos é uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Para este projecto, no fim deste ano, já começo a achar que a coisa funciona muito bem, mas mantenho a curiosidade para saber como é que o espaço vai evoluir em dez anos. Um sinal de que funciona muito bem, é o facto de o espaço ter sido muito pouco vandalizado, aliás, este espaço já foi vandalizado (…). O Parque Linear da Ribeira das Jardas foi um processo muito disciplinar, não nos podemos queixar da falta de disciplinaridade neste processo. Correu muito bem! Já tinham colaborado anteriormente com artistas? Poucas vezes ou raramente se concretiza, no nosso caso raramente se concretiza, eu acho que é mais por uma questão financeira. Acho que é essa a grande questão. Houve uma situação de colaboração com o Fernando Brízio, que tem formação em design, mas que não deu num projecto. (…) Que referências tem em termos de colaborações ou mesmo de artistas aos quais recorra como inspiração? É evidente que tenho referências, mas não olho para a arte como inspiração, como referência, nem recorro a esse meio para resolver projectos específicos. Acho que a arte é uma coisa vasta e aberta e, acho acima de tudo, que é um processo. Há um romantismo em relação à arte e aos artistas, da parte das pessoas que não o são. Eu, como qualquer outro, nesta perspectiva tenho muita vontade de trabalhar com artistas. De uma forma mais pragmática, o artista plástico é alguém que olha para as situações com mais liberdade porque não há um programa funcional normalmente dedicado à arte ou o programa funcional é pelo menos, mais diminuto e isso é uma vantagem em determinada altura porque também nos ajuda de alguma forma a justificar muita coisa. É verdade! Ajuda-nos a legitimar determinados caminhos que não são tão materializáveis, nem tão funcionais. Como prevê o futuro das colaborações entre artistas e arquitectos? Agora as coisas estão complicadas, não sei se eram demasiado diferentes noutras alturas mas isto é o que nós vivemos. Vou-lhe dar um exemplo, quando entramos num concurso para uma coisa qualquer, aquilo que se passa é que, muitas vezes, quando se trabalha com artistas plásticos não se sabe o que vai acontecer e portanto, não se consegue nem definir, nem materializar, nem custear essa parte do projecto. Mais tarde, já no meio do processo, as coisas já estão fechadas em termos contratuais e aí fechasse a porta e os artistas já não conseguem trabalhar. No nosso caso, a colaboração com artistas, poucas vezes ou raramente se concretiza e eu acho, que é mais por uma questão financeira. Acho que é essa a grande questão. Hoje em dia, ou há um programa de 147 arte pública que obriga a isso, ou então é muito difícil. No fundo, a parte mais interessante, que é a de, sensibilidades diferentes poderem participar num processo comum, é o que faz mais falta. Isto é o que faz mais sentido. Para mim, e repito o que já disse, temos que estar sempre a pôr em causa os nossos preconceitos e a nossa forma de trabalhar. As outras visões, nomeadamente, visões que estejam menos formatadas ou que estejam preparadas para constantemente sair dessa formatação, como é o caso dos artistas, é sempre uma boa parceria. Por fim, o que considera que sejam os pontos chaves para que uma colaboração seja bemsucedida? Existe a seu ver uma fórmula? Sim, para mim há uma fórmula muito simples, que é: acreditar. Tem que ir buscar alguém em quem se acredite e não pode ser alguém em que a postura é: vamos lá ver o que este vai fazer e depois se eu não gostar controlo ou faço diferente. Não dá para trabalhar de outra maneira em parceria, uma pessoa tem que acreditar em quem envolve, e isso é válido, não só em relação aos arquitectos e artistas plásticos, mas também entre arquitectos, arquitectos paisagistas, engenheiros e por aí fora. O acreditar, é aceitar algo que vai para além dos nossos caprichos, é acreditar no trabalho que a outra pessoa faz. Se não acredita no trabalho que a outra pessoa faz então tem que ir trabalhar com outra pessoa. Acho que isso é uma boa dica! 148
Download