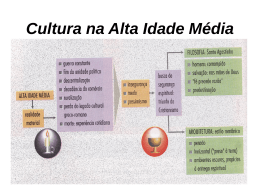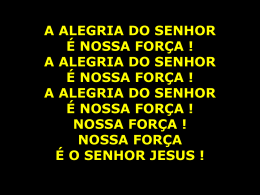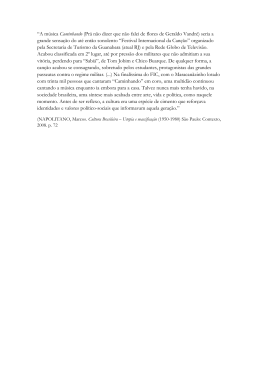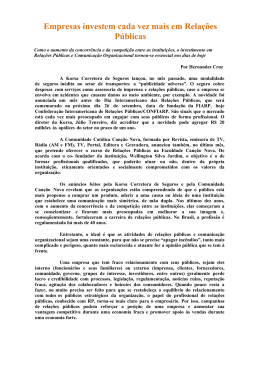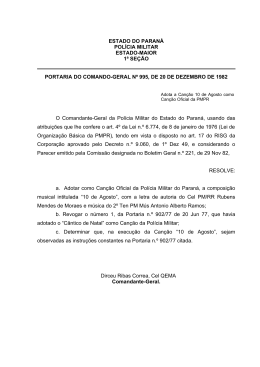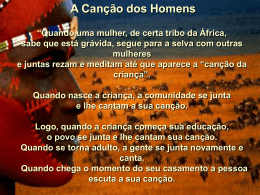“A construção da descanção de Tom Zé” Altaila Maria Alves Lemos Resumo Este trabalho pretende discutir os modos do compositor baiano Tom Zé se inserir no mundo através de suas canções1. A partir das maneiras do quê e do como se diz ou se deixa dizer sua canção. Focalizamos alguns pontos, como modos do compositor se posicionar diante da mídia fonográfica e do mundo, valores estéticos musicais. Utilizamos como referencias teóricos algumas categorias da Análise do Discurso, segundo Dominique Maingueneau (códigos de linguagem, ethos, cenografia, paratopia), aos conceitos de grotesco e carnavalização de Mikhail Bakhtin, além de outros autores. Discutimos, portanto, efeitos de sentidos gerados na canção, os quais nos levaram a pensar numa descanção. 1 Dos álbuns: Zé, Tom. Estudando o Pagode. 2005. Zé, Tom. Jogos de Armar- Faça você mesmo. Trama, 2002 Zé, Tom. Série dois Momentos Vol. 15 (Relançamento do Cd Estudando o Samba, 1975, e de O Correio da Estação do Brás, 1978). Continental, 2000. Zé, Tom. Série dois Momentos Vol. 14 (Relançamento em cd de Estudando o Samba, 1972, e de Todos os olhos, 1973). Continental, 2000. Zé, Tom. Com defeito de fabricação. Luaka Bop/WEA, 1998. Trama, 1999. Zé, Tom. No Jardim da Política (ao vivo em 1984 no Teatro Lira Paulistana) – Independente, 1998. Índice INTRODUÇÃO----------------------------------------------------------------------------------10 CAPÍTULO l O processo do trabalho --------------------------------------------------------------------17 Percurso teórico: trilhas e labirintos discursivos---------------------------------------21 Traços Constitutivos da Linguagem: do princípio dialógico ao Interdiscurso---23 A construção da Enunciação----------------------------------------------------------------25 Descanção e Deslinearização--------------------------------------------------------------30 A voz que alimenta a voz--------------------------------------------------------------------37 A performance na canção-------------------------------------------------------------------38 Movimento de Instabilidade na canção: uma condição paratópica---------------40 O ser grotesco e carnavalizante-----------------------------------------------------------42 O Caminho de chegar e não-chegar: percurso do como dialogar com as canções-------------------------------------------------------------------------------------------45 CAPÍTULO ll Apresentação e contextualização: Tom Zé----------------------------------------------48 CAPÍTULO III Ressonâncias e desformas da canção: Descancionando por entre rasuras e imagens grotescas-----------------------------------------------------------------------------54 Deslineariazação e defeitos verbais ------------------------------------------------------53 O defeito: problema e perfeição------------------------------------------------------------55 Ser estavelmente paratópico num lugar de entre lugares---------------------------64 A reinterpretação ou releitura: o inacabamento ou efeitos de descanção----66 Jogos para desmontar e armar------------------------------------------------------------68 Embates entre posicionamentos discursivos -----------------------------------------78 A construção de cenografias na canção, da cidade longínqua para uma grande cidade---------------------------------------------------------------------------------------------83 Apenas uma tentativa de conclusão------------------------------------------------------92 Referências Bibliográficas-------------------------------------------------------------------94 Anexos--------------------------------------------------------------------------------------------97 INTRODUÇÃO O que nos trouxe verdadeiramente aqui foram resquícios tocantes, desses tão recentes e tão distantes que transformavam corpo em música. Dos tão distantes, tratava-se de ondas inesperadas e oscilantes causadas por Jimmy Page, guitarrista do grupo musical de rock Led Zeppelin, o primeiro escutado por mim, por intermédio de um amigo chamado, guitarristicamente2, Beto. No momento da escuta, as distorções de timbres sonoros se expandiam. Isso foi o longo começo que me levou a um lugar, bateristicamente falando, de transtornadas e distintas ondas musicais (compositores e ritmos), ao lado de amigas (Ana Cláudia, Andréia e Denise). Reuníamo-nos semanalmente para tocar e ouvir, no formato do grupo musical intitulado Dress. A partir dele, nós nos movíamos em ondas, sendo cada uma delas de diferentes timbres, tocados em uma nota só. Juntas, seguindo estrada e estradas de palcos periféricos, chegamos num lugar comum, onde todos tocavam e se tocavam, ao ponto de destocarmos e desenlaçarmos nossas cordas. Foi nesse fim e chegada que se iniciou novo caminho, descortinado pelo outro: o caminho de nova vitalidade musical, de uma música com outros significantes e significados, sugerindo-nos, até então, a novidade de um olhar dedicado ao significar amplo. Não era só a descoberta do par instrumento e voz, era muito mais complexo e triplo. Foi quando escutei e vi com meus “próprios olhos” um corpo, uma voz estranha, arranhada e familiar em “língua nordestina”, um tanto bem humorada e irônica num palco pertencente a várias línguas que falavam simultaneamente. Foi nesse lugar que vi pela primeira vez Tom Zé cantando, no ano de 2004, no festival Vida e Arte. Tardiamente ou em circunstâncias ideais? Tomo as duas opções como verdadeiras. 2 Palavra incorporada por Rogério Duarte no livro Tropicaos. O qual é autor e artista múltiplo (design gráfico, compositor, poeta, professor, compositor e um dos membros experienciador do evento Tropicalista). Foi esse o momento de transição: a mudança de um antigo objeto de pesquisa de mestrado, a escrita de si no gênero textual virtual blog para uma escrita de si e de vários outros, na linguagem do gênero musical canção. Vi aí possibilidades de se ouvir música em outro lugar, além de ouvi-la no palco. Senti a canção, em seu sentido amplo: modos de habitar o mundo, através de uma língua e de línguas, de uma construção estética, contaminada de valores culturais; e em seu sentido restrito: a música no gênero específico, o cancional, letra e som, palavra e instrumentos em um só corpo. Percebi palpavelmente a inquietude que sua canção me proporciona, observando nela inquietações metamusicais e socioculturais. A palavra cantada já se tornava precária frente a gestos e expressões sem palavras verbais que deixavam pistas para construirmos teias de relações entre seu discurso e outros. Foi aí que vi o não dizer sendo dito, de algum modo, o verbo e in-verbo enlaçados. O interesse em estudar música no ambiente acadêmico também foi influenciado pela disciplina “Tópicos em Análise do Discurso”, cursada no Mestrado em Lingüística da Universidade Federal do Ceará, no período de 2004-2. Essa foi ministrada pelo professor e doutor Nelson Barros da Costa, amigo afetuoso, meu orientador. A partir desse período, discuti com ele possibilidades de se estudar música, o que resultou no seu apoio e dedicação, pacientemente, durante os processos de mudanças de ordens teórica, afetiva e psicológica, ocorridas ao longo do curso de mestrado. Foram esses aspectos que me levaram a investigar Tom Zé. Ao lado de um amigo musical, singularmente tão presente em aula e em fora de aula, e tão inquieto quanto Tom Zé, chamado um tom Talvanes. Assim, logo surgiu a idéia de dialogar com o discurso literomusical de Tom Zé, aliado às inquietações que percebi na sua música: o modo de se posicionar diante do público, quanto às questões referentes ao fazer cancional, ao diálogo com o outro, seu exterior; questões políticas, questões da linguagem verbo-musical, as quais nos suscitavam efeitos de sentido. A desconstrução musical, a problematização da vida, a apresentação e representação realistas de um mundo conflituoso são tomadas em suas canções, surgidas em experimentações rítmicas e verbais num corpo cancional. Foi através da percepção e da ruminação de tais elementos que apontamos e refletimos sobre investimentos discursivo e interdiscursivo, ou seja, maneiras de habitar e desenhar canção. Inspiramo-nos na idéia de descanção, que é um modo de se comportar e de se afirma a canção. Segundo Zé (2003), a canção é sentida como um acontecimento natural, no correr do tempo, num contratempo, é como um dia atravessando uma vida, numa improvisação. A canção é experimentada a partir de um corpo cancional, chamado de “útero cósmico”, de “montanha virgem” e “corpo de pedra” (ZÉ, 2003, p.24), sendo encontradas lá possibilidades de construção, a partir de pedaços de notas musicais gravadas, guardadas em gavetas. Aliadas ao corpo cancional, tem-se a problematização ou “doenças” da vida, compreendida por nós como as marcas que apontam para a condição instável do indivíduo, de ser e não ser, de estar e não-estar. Estudar e divagar um pouco, portanto, sobre a canção de Tom Zé é conversar com as entranhas, brechas e fissuras que a vida gera. Ao realizarmos um percurso sobre seu trabalho musical, encontramos relatos documentais e biográfico em Campos (1993), em Calado (1997), em Sanches (2002) e Zé (2003). Lemos o trabalho biográfico escrito pelo Tom Zé3, no qual são relatados histórias de vida do músico e sua participação na eclosão do movimento Tropicalista. O conteúdo do livro apresenta descrições biográficas, uma longa entrevista com Luís Tatit4, seção do livro que mais nos interessa, na qual nos detemos, e mais as letras de canções até então realizadas. Tom Zé relata os primeiros envolvimentos com a música, na sua cidade natal Irará, Bahia5. Tropicalista Lenta Luta. Lingüista e estudioso da semiótica musical. 5 Apresentamos detalhes sobre esse assunto mais adiante, no capítulo III: apresentação de Tom Zé. 3 4 Há também algumas críticas com relação à sua participação no movimento tropicalista, segundo Tatit (in Zé, 2003). Através desse relato, investigamos como se deu seu relacionamento com o tropicalismo, em que Tom Zé se torna um tropicalista e um não tropicalista ou um outro tropicalista. Campos (1993)6 realiza uma revisão da história da música popular brasileira referente aos movimentos Bossa Nova e Tropicalismo. Discute as origens e posturas política e musical de ambos os posicionamentos. Com relação aos músicos e compositores do primeiro, cita João Gilberto; e do segundo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto, dentre outros, e no posfácio cita Tom Zé. O autor atribui a ele o caráter de baiano esquecido ou o “menos conversado” no contexto do tropicalismo. A partir de uma breve observação sobre suas canções, compara o compositor a um “trovador que sabe fustigar um bom tom e fundir palavra e som” (CAMPOS, 1993, p. 335). Tal comentário pressupõe que Tom Zé, de certa forma, tem uma repercussão, mesmo que aparentemente discreta. Embora toquemos nessa relação, não desejamos, necessariamente, saber a intensidade de sua participação no tropicalismo, mas as implicações de sua canção influenciadas por esse movimento. Calado (1997) narra sobre a infância e adolescência de Tom Zé e suas influências musicais. Segundo o autor, o gênero baião de Luiz Gonzaga, os xaxados de Jackson do Pandeiro, aliados aos cantores de rádio nacional mais o folclore da região de Irará (BA) e as cantigas de violeiros e os sambas de rodas das lavadeiras constituíram as inspirações do baiano. Percebemos aí uma dada ausência de trabalho mais consistente com relação à música de Tom Zé, a preocupação de Calado, portanto, não passa de uma curiosidade biográfica e musical, um tanto discreta, talvez. Tal fato enfatizou a necessidade de nós adentrarmos na sua canção. Com relação à figura do compositor Tom Zé, não presenciamos um estudo específico. Apenas o trabalho autobiográfico a que já nos referimos acima (ZÉ, 2003). Nos primeiros sinais de composição, ao ser bloqueado pela presença da namorada, resolve se reconstruir como compositor, relendo seu processo 6 “Balanço da bossa e outras bossas” de criação, impondo-se as seguintes metas para reinvenção de seu trabalho: mudar o tempo do verbo (mudar o tempo das construções verbais da canção, do pretérito passado para o presente do indicativo); trocar o lugar no espaço-o lugar (mudar de lugar, sair da cidade natal, Irará, em busca do lugar que lhe beneficiasse musicalmente); achar um novo acordo tácito(usar “assuntoespelho” na canção cujo personagem construído fosse uma representação da vida e circunstância do ouvinte); limpar o campo(não usar um corpo–cancional, o canônico, mas plasmar a cantiga com outra matéria)( ZÉ, 2003, p. 24). Ao debruçarmos sobre a produção musical de Tom Zé, não podemos deixar de lado sua participação no contexto do movimento estético ideológico Tropicalista7. O movimento que questionou valores culturais, nacional brasileiros e internacionais, revelou-se num episódio de subversão de costumes, que pôs à mesa as contradições de uma sociedade burguesa e o caos do mundo pós-moderno (o homem e o aglomerado de veículo de informações). Expressou-se em vários âmbitos de manifestação artística, como na literatura, no cinema, nas artes plásticas e principalmente na música. Na música, por exemplo, a ideologia tropicalista é construída através da integração dos movimentos e gestos do corpo ao canto e à fala, através da multissemiose de elementos verbais, resultante da carnavalização ou da inversão de hierarquias (morfológica, sintática e semântica), bem como nãoverbais (gestos, performances, a relação do corpo com objetos). Com relação à inserção do corpo na música, Barthes (apud Favaretto 2000:37) observa: A inscrição do corpo na substância viva do som tenciona a língua cantada, levando ao ultrapassamento dos fenômenos decorrentes de sua estrutura, como estilos de interpretação, idioletos dos compositores, mudanças rítmicas, variações de timbres . A música de caráter tropicalista reconstruiu, desse modo, a noção de música, dialogando com as transformações cultural e industrial da época, Termo idealizado pelo artista plástico Hélio Oiticica para designar um ambiente Tropicália ou um penetrável, conjunto de cabines que o espectador explorava pisando em areia, pedra e água, cruzando plantas e araras, lendo frases inscritas em paredes, assistindo a uma tv ligada no fim do labirinto, caminho teleológico rumo ao pós-moderno. Depois, Gilberto e Caetano se apropriaram do termo para traduzir as subversões de valores na música, literatura, dentre outros ambientes. 7 relendo os costumes tradicionais, causando um curto-circuito na estrutura de canções até então construídas. Há outra visão relacionada ao seu envolvimento com o Tropicalismo, de acordo com Tatit (apud Zé, 2003, p. 223-225). Trata-se da idéia de que o projeto musical de Tom Zé, o da busca da imperfeição, da incompletude, da descanção (plasmar a canção com outros elementos) foi movido pelas angústias calcadas na necessidade de uma nova canção. Postura diferente dos idealistas centrais tropicalistas, que visavam a uma canção popular, nova, acabada, pronta para se tornar pop. Tatit (in ZÉ, 2003: p. 223-225) afirma que o aspecto em comum entre Tom Zé e o Tropicalismo era a busca de uma música nova, mas com viés oposto. Ao considerarmos tais posturas, não pretendíamos negá-las ou afirmálas, mas investigá-las, penetrando mais nas imagens, nas fendas que o som das palavras cantadas e faladas de Tom Zé produz, construindo assim, uma terceira visão do que venha ser ou não ser tropicalista. Portanto, levando em consideração sua relação com o posicionamento ideológico tropicalista e sua construção discursiva literomusical, partimos de duas visões diferentes, uma que insere Tom Zé integralmente e outra que o afasta desse posicionamento ideológico. A primeira refere-se à idéia de Sanches (2002) que o considera, de certa forma, um tropicalista puro, de esquerda, que se opõe à indústria cultural, deixando-se levar até as últimas conseqüências. Mas, o que seria “tropicalista de esquerda”? É estar isolado da mídia? Mesmo quando estava isolado (aproximadamente entre os anos 70-80), ele produzia e estudava música. E hoje, início da primeira década de 2000, podemos afirmar que ele é um tropicalista de esquerda? Dentre tantas irregularidades, onde e como ver uma possível ordem do caos na obra musical de Tom Zé, levando em consideração o posicionamento Tropicalista que o gerou? E hoje que posicionamento ele assume? Paralelamente ao nosso olhar contemplativo e de espanto diante da música de Tom Zé, integrou-se a ele a visão teórica da Análise do Discurso, de Dominique Maingueneau. Essa teoria observa no discurso o lugar de inúmeras relações entre um discurso e outro, nos quais pressupõem-se posicionamentos de caráter ideológico (como também estético, lingüístico e cultural) do enunciador. Um outro aspecto a se notar é como se dá a condição de existência, social, institucional do artista músico, escritor, cineasta, artista plástico? Como ele se encontra diante de normas e convenções impostas pelo campo artístico? Como o artista convive com outros em espaços públicos? Ao investigarmos tais questões, utilizamos do autor Dominique Maingueneau o conceito de paratopia, que designa a ocupação de um lugar instável do artista no campo artístico. E outros tais como ethos e cenografia. Trazer para o palco questões estéticas e sócio-culturais que colaboravam para uma incessante construção musical e para uma releitura do lugar no qual nós estávamos e desconhecíamos é a própria revitalização de si, da música e de nossas relações com as políticas cotidianas e com as mais burocráticas. Desse modo, tornou-se relevante pensar sobre tais questões no referido trabalho. O trabalho se inicia com um breve pensar sobre o processo do caminhar com a pesquisa acadêmica. Em seguida, há a apresentação de elementos teóricos centrais referentes à idéia do signo dialógico da linguagem verbal, aos conceitos grotesco e carnaval, na perspectiva de Bakhtin (1997,1999), à Teoria da Análise do Discurso segundo Maingueneau (2001, 2004), à idéia de código apriorístico da linguagem de acordo com Campos(1993), de descanção segundo Tom Zé, de inacabamento e performance vocal segundo Zumthor (1998, 2001), e deslinearização de acordo com Pingnatari (2004). Ainda nesse primeiro capítulo, relatamos o processo de desenvolvimento do trabalho ou o caminho de chegar e não chegar: percurso do como dialogar com as canções. No capítulo segundo, apresentamos um histórico sobre a vida e contexto do qual emerge o músico Tom Zé. No capítulo terceiro e último iniciamos a leitura e análise das canções, seguido o mesmo das conclusões e referências bibliográficas. CAPÍTULO 1 1. O PROCESSO DO TRABALHO Iniciar uma pesquisa acadêmica, ao nosso olhar, é se permitir descobrirse no percurso do trabalho, é surpreender-se no processo de descoberta ou de redescoberta, sentindo os objetos, espiritualmente e materialmente, para criar sempre um novo objeto. Mas difícil mesmo para nós foi estar em processo de alienação, como determinadas tendências científicas certamente desejam, no qual o ser humano se afasta de sua real natureza, que é exterior à sua dimensão espiritual, colocando-se como uma coisa, uma realidade material, objeto da natureza. Nesse sentido, alienar-se é isolar-se da própria vida ou ignorar o tumulto que a vida gera, cotidianamente, em nós. Apesar de admitirmos o caráter de alienação no trabalho científico, não atribuímos a este o mesmo. Interpretamos nesta pesquisa um trabalho que se move e cresce a partir de uma entrega de si num diálogo que se constrói com olhares de uma perspectiva teórica e o do pesquisador sobre o objeto. Portanto, acreditamos que o trabalho, o presente, que se deixa levar ou arejar-se por interferências cotidianas da vida, por formas disformes de viver, não se torna alienado, por vislumbrar a relação entre várias possibilidades de olhar. O cruzamento do olhar científico com o filosófico talvez seja o que se interessa pela vida? Talvez sim. Talvez não. Depende da posição epistemológica que se assume. Por que a pesquisa científica numa tendência positivista exige, ou tenta impor, de algum modo, um olhar que não se deixa interagir com outros, mesmo sabendo nós que num olhar há um outro e outros? Portanto, a nosso ver, produzir um trabalho de pesquisa acadêmica, tendo como eco a idéia de alienação, da submissão espiritual e vital em prioridade ao objeto, foi difícil e delicado. Mesmo assim, acreditamos e estamos construindo outros ecos. Em resistência a essa angústia e à crença num novo fazer, tentamos e insistimos em conversar, ouvir, ler e interpretar, sem deixar de apreciar, as canções do compositor Tom Zé. Pois, em nossa percepção, Tom Zé, ao assumir um lugar de compositor musical, revela-nos através de sua fala musicada angústias tristes e felizes da vida, ou seja, formas disformes e gelatinosas que, verdadeiramente, compõem-nos. Traço esse que muito nos instiga e nos move a estabelecer uma relação de proximidade entre o “interior” e o “exterior” de sua música. Vendo como se dão os significados dessa aproximação e relação. Isso é o que chamamos sem querer chamar, de análise discursiva de um texto, do verbal ao não-verbal. Mas como tentamos chegar até sua música? Existem inúmeras maneiras de olhar para ela e de falar com ela: através da Historiografia, Etnografia, Sociologia, Antropologia, Filosofia, Lingüística, Musicologia e de outras maneiras. Dentre esses possíveis olhares, optamos por um que, talvez, permita a integração de vários: o olhar discursivo da linguagem cancional. Olhar discursivamente é levar em consideração contextos interiores e exteriores a um texto, sendo esses lingüístico, histórico, social, filosófico, cultural, ou a integração de todos num “pancontexto”, diríamos. A idéia de discurso corresponde a várias acepções diferentes entre si, das mais elementares às mais complexas. Optamos pela concepção de discurso no sentido mais amplo, como uma dispersão de textos que se encontram e dialogam a partir de marcas textuais explícitas ou não. O olhar discursivo está em circunstâncias de comunicação verbal e não verbal, desde que se perceba a rede de ligações que há entre uma fala e outra, entre seu interior e seu exterior. Há na canção, como em outras linguagens, musical e não-musical, um entrelaçamento de teias de significados que se cruzam aleatoriamente, não sendo possível saber onde se inicia e termina esse cruzamento. O estudo da linguagem numa perspectiva discursiva diferencia-se da perspectiva unicamente lingüística na medida em que a primeira dialoga com seu exterior, permitindo aberturas à percepção de traços vertiginosamente históricos, filosóficos, sociais, ideológicos entre um discurso e outros, para além dos traços da materialidade da língua. Ou seja, uma análise discursiva textual de linha francesa não separa o seu exterior (o social, o cultural, histórico, dentre outros) do seu interior (o material lingüístico). Já na segunda perspectiva, uma análise essencialmente estruturalista efetua cortes, rupturas, preocupando-se primordialmente com a gramática da materialidade lingüística. A relação que se constrói nessa análise é interna, se dá entre seu interior e seu “outro” interior vizinho, num sistema ou arquitetura fechada, isolada da possibilidade de intervenções externas. Já a análise discursiva tenta arejar a estrutura fechada. Nesse sentindo, a Análise do Discurso de linha francesa visa concretamente, debruçar-se sobre a arquitetura de prédios habitados, que trazem à tona seus significados. Um olhar discursivo percebe a cidade em sua dinâmica, ou seja, a pulsação ecológica que ela constrói com seus habitantes em múltiplas cartografias. Tomando como referência o sentido de discurso na arquitetura de prédios, vemos na canção que o olhar discursivo se realiza através da interação e dinâmica de ritmos, melodia, arranjos, vozes, tons, timbres e silêncio. Onde aí também encontramos a pulsação ecológica e múltiplas cartografias que nos levam a diferentes lugares sócio-culturais, desenhando um corpo e corpos, que nos revelam maneiras da canção se fazer. As maneiras ou modos de se construir uma canção podem comportar-se ora como estratégias, ora como investimentos discursivos. Ao realizar investimentos, o sujeito enunciador não planeja rigorosamente seu discurso, ele se coloca sem necessariamente desejar “vencer” ou competir com outro, enquanto que ao falarmos de estratégias8, há um sentindo militar, conotativamente, há a idéia de uma ação voltada para um “ataque”. Mas o que queremos com isso? Nem sabemos exatamente. Temos certeza de que nos move aqui não é somente apontar investimentos discursivos e estratégias nas experimentações orais, poéticas e musicais construídas pelo compositor Tom Zé, mas significá-los, ou seja, discutir seus efeitos de sentidos. Ao iniciar o trabalho, foi possível, antecipadamente, relacionar nosso motivo de pesquisa, ou canonicamente, nosso objeto, as canções de Tom Zé, à teoria da Análise do Discurso de Maingueneau e elegê-la como apoio teórico. Percebemos adiante que o referido apoio não nos instigou a utilizar positivamente9 as categorias de análise discursivas, já que optamos por dialogar também com outros pensadores e conseqüentemente com outras categorias, que de certo modo se integram à perspectiva discursiva. Os pensadores referem-se a Bakhtin (1997,1999) que traz as idéias da refração, do dialogismo, do caráter grotesco e carnavalizante do signo lingüístico; a Paul Zumthor (1998, 2001), que nos apresenta um olhar antropológico sobre a poética e performance vocal e a idéia de inacabamento; a Décio Pignatari, que discute aspectos da não linearidade do signo, e Campos(1993) no que se trata do código apriorístico da linguagem. Arte militar de planejar e executar movimentos e operações de tropas, navios e/ou aviões, visando a alcançar ou manter posições relativas e potenciais bélicos favoráveis a futuras ações táticas sobre determinados objetivos. Definição transcrita do novo dicionário Aurélio de Língua Portuguesa Aurélio (versão eletrônica). 9 O uso de pronomes que se dirigem a pessoas do discurso no decorrer desse trabalho não é linear, ou seja, não conservamos do início ao fim uma única pessoa (1º pessoa, 3º pessoa). Ora assumimos nosso discurso em primeira pessoa quando nos mostramos mais sensivelmente envolvido por dado momento do trabalho (como se apresentou na Introdução), ora nos colocamos em terceira pessoa do plural. E noutro momento não assumimos pessoalidade. Esse uso “indisciplinado” da pessoa discursiva no nosso texto se deu de modo inconsciente e imperceptível, foi um gesto que se percebeu no fim do percurso e que atribuímos a ele um significado relevante: reflete espontaneidade e o não assujeitamento do autor sobre convenções de ordem formal, gramatical. A pessoa do discurso manifestada aqui é múltipla, heterogênea, é um eu que não se livra da interferência de outros eus. A multiplicidade pessoal não é mascarada e nem omitida em nenhum momento, dada a vontade indomável do eu se colocar diante da leitura do mundo: do percurso do trabalho científico, da interpretação da canção com base numa fundamentação teórica. 8 Dá-se mérito a Maingueneau por expor uma metodologia sistematizada sobre elementos discursivos voltada para a análise de textos como práticas discursivas. Para ele, as unidades que compõem o discurso compreendem sistemas de significantes, enunciados ligados a uma semiótica textual, relacionados à história e à sociedade. Uma análise discursiva, portanto, parte de uma análise simultânea, conjunta de textos provenientes de variados ambientes históricos e sociais. Partimos da idéia do signo lingüístico dialógico que fundou e influenciou diretamente o pensamento sobre a noção de interdiscurso, segundo Maingueneau. Em seguida, para uma discussão sobre a idéia de signo redundante ou código apriorístico de acordo com Campos, para dialogarmos com a idéia de descanção. 2. PERCURSO TEÓRICO: TRILHAS E LABIRINTOS DISCURSIVOS Toda imagem artística, assim como um corpo físico, produtos e instrumentos de uso funcional, podem ser revestidos de sentidos para além de seus significados primeiros, particulares. Trata-se do que Bakhtin/Volochinov (1997, p. 31) chama de sentido ideológico, um significado que remete a outro fora de si mesmo. Quando há o revestimento de outros significados, atribuídos a um objeto, que atravessem suas particularidades, deposita-se nele um produto ideológico, a representação de uma ideologia. De acordo com Bakhtin (1997), o signo tem caráter ideológico por revelar uma multiplicidade de significados e sentidos possíveis expressos numa interação social, de acordo com os interesses social, cultural, econômico. O caráter ideológico estende-se a variadas dimensões fenomenais, do signo verbal ao não-verbal: Todo fenômeno que funciona como signo ideológico tem uma encarnação material, seja como som, como massa física, como cor, como movimento do corpo ou como outra coisa qualquer. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 33). A encarnação material do signo traduz o mundo exterior, um significado que gera outro signo. O signo não corresponde apenas a duas partes: significante e significado, como expressa uma das dicotomias saussureanas, mas a inúmeros significados e significantes. A infinidade de significantes e significados do signo lingüístico e não lingüístico gera a refração do signo. Compreendemos, desse modo, que os signos refratam e refletem o mundo material, carregando diversos e inacabados feixes de pensamentos construídos na dinâmica da vida. O efeito da coexistência de distintos valores sociais, culturais e ideológicos confrontados e compartilhados entre os indivíduos ao longo de sucessivos ciclos vitais é a configuração da refração do signo lingüístico, ou seja, a multiplicidade de fendas semânticas que o signo constantemente gera, evitando uma única verdade. Significar, portanto, é refratar; não é possível significar sem refratar. A refração, assim, é o modo como se inscrevem nos signos a diversidade e as contradições das experiências históricas dos grupos humanos. Como nos mostra Faraco (2003), a partir da leitura do pensamento bakhtiniano sobre a refração do signo: Os signos são espaços de encontro e confronto de diferentes índices sociais de valor, plurivalência que lhes dá vida e movimento caracterizando o universo da criação ideológica como uma realidade infinitamente móvel (FARACO, 2003, p. 53). A refração sígnica é compreendida como um entrelaçamento de inúmeras linhas de consciências e verdades explicitadas ou não em diferentes discursos, no suporte de enunciação. Desse modo, o caráter refracionário do signo revela várias direções de significados valorativos e mostra a diversidade de percepções ideológicas de determinados grupos humanos, que foram e são, naturalmente construídas ao longo da experiência do convívio social. 2.1 TRAÇOS CONSTITUTIVOS DA LINGUAGEM: DO PRINCÍPIO DIALÓGICO AO INTERDISCURSIVO Ao pensarmos em esfera comunicativa humana na perspectiva de Bakhtin (1997), estamos nos referindo ao contexto, diríamos, da linguagem estratificada socialmente, de caráter predominantemente heteroglossêmico ou plurilingüístico, revelador de multiplicidade de línguas sociais. A estratificação da linguagem é representada em enunciados verbais, os quais denunciam a disposição paralela de estratos cristalizados ou camadas sociais, carregados de dimensões avaliativa e opinativa, que expressam posicionamentos sócioideológicos diversos. A comunicação verbal é marcada pela interação com o outro, pela relação do eu com o outro, idéia que fundamenta a metáfora do diálogo infinito de um discurso com o outro. A palavra ideologia aqui, em sentido amplo, significa o universo de produtos do espírito humano ou da cultura imaterial, cujas manifestações são de caráter filosófico, religioso, político, dentre outros. Levando em consideração a estratificação da linguagem e a refração do signo, qualquer enunciado é ideológico, já que toda palavra em uso está sempre sujeita a ser avaliada, está a serviço de julgamentos e opiniões. Para Bakhtin (2002), a linguagem é por natureza heterogênea e dialógica em oposição ao caráter homogêneo e fechado da língua, tal como sugeria Saussure. Mas o que chamamos de caráter dialógico da linguagem, atributo que remete a uma palavra tão habitual entre nós: ao diálogo? Compreendemos por dialogismo uma tensão entre diálogos constantes e infinitos. Trata-se de cruzamentos de fronteiras vocais, onde diferentes vozes sociais se entrecruzam continuamente e multiformemente. Ele é construído através de pressuposições de outros dizeres, sendo eles um diálogo com outros, nem sempre simétrico e harmonioso, entre os diferentes discursos que se configuram numa comunidade lingüística. Esse dizer é, portanto, de uma reposta ao já dito, ao não dito, e refuta, confirma, prevê reflexões, dentre outras ações. O diálogo entre discursos a que nos referimos não se trata de um consenso ou de um acordo entre interlocutores acerca de um pensamento, mas de uma infinidade de relações ideológicas, de um espaço de confronto entre vozes sociais. Desse modo, o dialogismo é concebido como o princípio constitutivo da linguagem e através desse princípio é gerado, de acordo com Mainguenau (2004) o primado do interdiscurso. Maingueneau (op. cit) defende que o discurso se firma a partir da inserção e cruzamentos de outros discursos, o discurso existe a partir de uma alteridade que sempre o atravessa. A construção interdiscursiva, por sua vez, perpassa pela tríade: universo discursivo, campo discursivo, espaço discursivo. O universo discursivo compreende a diversidade discursiva, ou seja, as possibilidades múltiplas de valores e de posturas ideológicas tomadas pelo homem ao longo de sua experiência social. E integra o conjunto de distintos grupos ideológicos ou campos discursivos que entram em atrito, em confronto, em afinidades. Tais grupos são denominados campos discursivos. Cada campo apresenta um conjunto de formações discursivas (que designa a construção histórica, social, cultural, econômica de determinado campo discursivo ou de um membro que pertença a esse campo). Há os campos político, filosófico, cinematográfico, dentre outros, sendo esses recortes de um universo discursivo. Isso não significa, portanto, que cada campo seja isolado um do outro, ao contrário disso, um perpassa o outro continuamente, gerando diálogos. Dessa maneira há a visualização panorâmica de diferentes campos, possibilitando a dinâmica de trocas e relações entre eles. E sua possível especificação, como nos referimos acima, ocorre em favor de uma escolha. A partir da delimitação de um campo discursivo constitui-se um discurso e nele se visualiza uma rede de operações consideradas regulares e que moveu sua formação. No campo discursivo há uma diversidade de espaços discursivos ou planos discursivos, coexistentes e concorrentes entre si. As diferentes formações social, política, ideológica, cultural, ou seja, as distintas formaçôes discursivas, movidas por posições e objetivos outros, podem conviver num mesmo campo discursivo. Tendo em vista esta breve apresentação dos conceitos dialogismo, universo discursivo, campo discursivo, formação discursiva e espaço discursivo, consideramo-los elementos que contribuíram de algum modo para discutirmos polêmicas em volta de posicionamentos problematizados10 na canção Tom Zé. 2.2 A CONSTRUÇÃO DA ENUNCIAÇÃO Agora, explanaremos alguns conceitos referentes aos elementos que constroem a enunciação, o evento que constitui o agente principal da inserção do homem no mundo: O pivô da relação entre língua e o mundo: por um lado, permite representar fatos no enunciado, mas por outro, constitui por si mesma um fato, um acontecimento único definido no tempo e no espaço (MAINGUENEAU, 2005, p. 193). Num dado enunciado, a realização de um produto verbal e não verbal, através da interação é legitimada a partir da integração de vários elementos, dos lingüísticos (código de linguagem) aos não lingüísticos (gestos, sons, Diálogo entre os posicionamentos Bossanovista e Tropicalista, apresentado no capítulo 4, pgs. 70-75 10 disposição de objetos). É através da interlíngua11, ou seja, das relações dadas numa determinada conjuntura entre as variedades de uma mesma língua, que se constitui um código de linguagem, atribuindo singularidade a uma obra. Maingueneau (2001: 104) define o termo código como um sistema de regras aliado a um conjunto de prescrições e de signos que geram uma comunicação. A interlíngua, relação entre línguas diferentes e as variações de uma mesma língua, dá-se através de uma pluralidade de línguas, externa e interna. Sabemos que a legitimação de um discurso não se dá necessariamente através de uma única língua. O autor empírico de uma obra pode, em dado contexto, por alguma razão, romper com a homogeneidade lingüística através do plurilingüismo externo, do uso de outras línguas externas à língua materna. O efeito do uso de outras línguas num enunciado sugere várias intenções, como a diluição de um conservadorismo lingüístico, do domínio ou de uma suposta superioridade de uma língua sobre outra. Um escritor, além de poder utilizar línguas externas no seu discurso, pode usufruir também da variação lingüística no âmbito de uma mesma língua. É o que chamamos de plurilingüismo interno. Essa variação se dá em função de distintos contextos: geográfico (dialetos, regionalismos), social (popular, aristocrática, etc.), situação de comunicação (médica, jurídica...), níveis de língua (formal, familiar...). O enunciado, ao se estabelecer através do código de linguagem, constrói cenas de enunciação, o contexto imediato da enunciaçâo. O termo “cena” refere-se à designação teatral por pressupor numa enunciação a existência de bastidores, cenários, participantes com papeis definidos. As cenas enunciativas tratam da cena englobante, cena genérica e da cenografia. A cena englobante implica o tipo de discurso que é praticado (político, religioso, publicitário etc.). Já a cena genérica se relaciona ao gênero do discurso, que prática discursiva é designada, se é um artigo jornalístico, uma propaganda televisiva. Essas duas cenas constituem o quadro cênico que é definido como o espaço estável no interior do qual o enunciado adquire A idéia de interlíngua se relaciona com a noção de heteroglossia ou de plurilingüismo, de acordo com Bakhtin (1993). 11 sentido - o espaço instável do tipo e gênero de discurso (Maingueneau, 2001:87). E por último, a cenografia designa a condição e o produto de uma enunciação, constituindo um articulador da obra e do mundo. Ela é o processo fundador de inscrição legitimada de um texto. Apresenta, canonicamente, um foco de coordenadas estabilizado que se refere direta ou indiretamente à enunciação construída a partir de protagonistas da interação da linguagem: enunciador, co-enunciador, assim como as circunstâncias espacial e temporal (eu e tu, aqui e agora). Ela define as condições de enunciador e co- enunciador. A cenografia ou situação de enunciação de uma obra é enunciada através de uma instituição verbal, de um gênero discursivo (não sendo ele o fator único e inteiramente condicionante da obra), que também traz suas próprias condições de produção como participantes: o lugar, o momento para sua manifestação, os circuitos por quais passa e a norma que presidem o seu consumo. De acordo com Maingueneau (2001), a cenografia de uma obra literária é dominada pelo cenário literário, que é o contexto pragmático da obra, que associa uma posição de autor e uma posição de público, cujas modalidades variam de acordo com as épocas e as sociedades. Os elementos que integram as condições de situação de um enunciado (posturas do enunciador, tempo, espaço), no entanto, nem sempre estão explícitos. Outro elemento que integra a cena enunciativa é o ethos no qual o enunciador expressa uma “voz”, uma voz que marca posturas, formas de habitação do sujeito interlocutor do enunciado e que são assimiladas pelo coenunciador frente a uma cena genérica. Estamos falando também de um conceito originado na Retórica antiga, o ethé ou ethos, que diz respeito ao modo como o enunciador orador fala seu discurso, que gestos, posturas política e ética, revelam ao ouvinte. De acordo com Aristóteles, a concepção de ethos, traduzida por Maingueneau, designa: as propriedades que os oradores se conferiam implicitamente, através de sua maneira de dizer: não o que diziam a propósito deles mesmos, mas o que revelavam pelo próprio modo de se expressarem. (ARISTÓTELES apud MAINGUENEAU, 1997, p. 45) O ethos que antes era observado apenas em gêneros de discursos recitados e orais (em textos literários, como na epopéia e em discursos políticos, judiciários, respectivamente), torna-se visível também em textos escritos. Sua manifestação pressupõe a veiculação de um gênero discursivo. Portanto, o ethos (o modo de se mostrar do enunciador ao coenunciador) é expresso pela palavra oral e escrita, pelo gesto, aspecto físico e entonação, constituindo num gênero discursivo, sendo tais elementos próprios do sujeito encenado e não do sujeito real. Maingueneau (1995, 1997, 2001) leva em conta três categorias para se analisar o etos: o tom, delineado numa vocalidade, o caráter e a corporalidade. Qualquer gênero do discurso carrega consigo uma vocalidade, ou seja, uma voz do sujeito que é expressa através de um tom e que é conferida pelo co-enunciador. Como coloca Maingueneau (1997, p. 45), “... a descrição dos aparelhos não deve levar a esquecer que o discurso é inseparável daquilo que poderíamos designar muito grosseiramente de uma ‘voz’”. O tom é construído a partir de uma voz numa dada cenografia, é empregado para todos os enunciados escritos. O tom está ligado ao caráter, que designa um conjunto de propriedades psicológicas, estereotípicas específicas de uma época e lugar, expressas pelo enunciador e sendo atribuídas pelo leitor-ouvinte. A corporalidade refere-se a uma representação do corpo que envolve a maneira de se vestir e de se movimentar do enunciador. O corpo não é só explicitado pelo enunciador, mas também induzido pelo co-enunciador. No gênero discursivo de modalidade escrita a corporalidade pode ser percebida em marcas lingüísticas, na iconografia do texto. Na verdade, o corpo ou corporalidade de um discurso está em diversas linguagens, podendo ser transmitido de várias maneiras, pois como explicita Maingueneau (2001, p. 140): Através da iconografia, dos tratados de moral ou de devoção, através da música, da estatuária, do cinema, da fotografia..., circulam esquematizações do corpo, valorizados, ou desvalorizados, que encarnam vários modos de presença no mundo. As categorias que denotam um tipo de etos (tom, caráter e corporalidade) são integradas num discurso formando um corpo que será incorporado por um co-enunciador. A incorporação é a ação que o etos exerce no seu co-enunciador, levando-o a conferir um etos ao seu fiador, é a leitura que nós fazemos do etos. De acordo com Maingueneau (2001, p. 140), a incorporação é um processo que pressupõe três registros interligados: - A enunciação da obra confere uma corporalidade ao fiador, dá-lhe corpo; - O co-enunciador incorpora, assimila desse modo um conjunto de esquemas que correspondem a uma maneira específica de se relacionar com o mundo habitando seu próprio corpo. - Essas duas primeiras incorporações permitem a constituição de um corpo, o da comunidade que comungam no amor de uma mesma obra. Diante da integração dos elementos que compõem uma enunciação: interlíngua, ethos, as cenas englobante e genérica, montando uma cenografia (o espaço definidor das condições contextuais ou pragmáticas do enunciador e co-enunciador), têm-se como efeito dela um posicionamento ou uma tomada de posição política, ideológica, assumida pelo sujeito enunciador. O posicionamento, num sentido amplo, segundo Maingueneau (2001), diz respeito às: ... doutrinas, escolas, movimentos estudados pelas escolas literárias... Ao fazê-lo, exploramos a polissemia de posição em dois eixos principais: o de uma tomada de posição, o de uma ancoragem num espaço conflitual (“fala-se de uma posição militar”) (MAINGUENEAU, 2001, p. 69). A canção, além de ser um diálogo entre a vida e as "técnicas" de composição, é também resultante de uma prática discursiva, por nela estarem atuando posturas e formações discursivas concorrentes, constituindo-se em uma situação de enunciação onde há um sujeito ou sujeitos enunciadores (cancionistas) que desvendam ao co-enunciador (ouvinte) uma certa atitude, um posicionamento político, explícita ou implicitamente. Diante da relação dos elementos: código de linguagem, cenografia, etos, apresenta-se como efeito dessa imbricação um posicionamento social. Portanto, discutimos efeitos de sentido gerados pelos investimentos discursivos, ou seja, pelos elementos textuais ou não, que legitimam um discurso, permitindo a inserção do homem no mundo, observados no discurso literomusical de Tom Zé. Chamamos a atenção para o termo investimento discursivo, o qual será utilizado ao longo desse trabalho. O referido termo foi designado por Costa (2001)12, ao se apropriar de umas das categorias discursivas sistematizada por Maingueneau (2001), a de investimento genérico. Essa define que o enunciador ao tomar uma posição ideológica ou posicionamento parte de um investimento, de uma aposta numa modalidade genérica ou num gênero textual em defesa e em legitimação de seu discurso. Costa (op. cit.) expande a noção desse investimento a todas as partes integrantes de uma enunciação, argumentando que o investimento se dá em todos os momentos de inserções enunciativas. Portanto, o enunciador ao se pronunciar investe não só num gênero discursivo, mas também num código de linguagem, num ethos, numa cenografia. 12 Na tese A PRODUÇÃO DO DISCURSO LÍTERO-MUSICAL BRASILEIRO. O estudo pioneiro em descrever a produção da Música Popular Brasileira com fundamentos da Teoria da Análise do Discurso de linha francesa(AD). 3. DESCANÇÃO E DESLINEARIZAÇÃO Apresentamos nesse ponto o que compreendemos sobre “descanção” (palavra recorrente no nosso trabalho) e algumas considerações sobre a idéia de deslinearização, partindo de reflexões de Wisnik (1989), Tom Zé (2003), Pignatari (2004) e de Campos (1997). A descanção como um modo de musicar. Um fazer errado ou um desfazer fazendo? Como esse modo de fazer canção se constrói? Quais percursos são trilhados? Que elementos se relacionam ao caráter tropicalista, ao não tropicalista ou, quem sabe, a um outro ser tropicalista? Tentaremos definir nesse momento algo quase indefinível, a descanção, que, para nós, torna-se um incômodo necessário. Descrever o sentido de descanção é dialogar com questões em torno de canção no sentido amplo. A descanção é um modo de construir uma canção, diz respeito à construção de arranjos musicais, a gestos enunciativos que envolvem as manifestações verbal e não-verbal, que transgridem certa linearidade sonora. A denominação descanção nega a palavra canção, não no seu sentido “genérico amplo”, dado como uma música breve acompanhada de canto e instrumento, mas no sentido canônico, apreendido pelo código apriorístico, expressão que designa um modo predeterminado de fazer canção voltada para fins comerciais. Antes de nos determos nesse assunto, voltemos um pouco a uma breve história e origem da canção brasileira. Foi através da interação entre as culturas indígena, africana (dos rituais religiosos, magia acompanhado de instrumentos rítmicos, percussivos e de sopros - gaitas, apitos) e a portuguesa (da manifestação musical mais melódica que rítmica, em hinos católicos e cantos gregorianos) que a música se expandiu em lugares maiores, aproximadamente no século XVII13. O canto como voz põe em prática a vontade de dizer, de contar. Aliado ao som e vozes de instrumentos musicais, materializa-se a canção. Num sentindo sublime e vital da palavra, a canção é um modo de compor a vida e seu cotidiano em ritmos e melodias, é o registro de práticas e gestos experienciados que traduzem vivências e histórias do indivíduo no mundo. A voz cantada é muito mais que cantar: é relatar. A característica formal que a designa é a união do canto a uma melodia. Partindo de uma reconstrução das raízes da canção brasileira, através de uma leitura não tão profunda de Tatit (2005), vimos na canção um modo de afirmação das misturas de representações vocais dos batuques africanos, mestiços e brancos europeus de classes inferiores. Tais dados históricos nos mostram uma visão da manifestação musical naquele período e nos leva a relacionar, de algum modo, à idéia de descanção, como um caminho de mistura de sons e culturas, sem se fixar numa hierarquia de valores sonoros. Como ouvir o som de uma descanção? Talvez seja necessário que entremos numa onda, que nos movimente para vários lados e perspectivas. Falo de ondas que nos tocam e tocam, de uma física e metafísica sonora. A onda como corpos vibrantes transmitidos na atmosfera, num tempo contínuo: impulso e repouso. A música é o som das ondas: “movimento em sua complementariedade, inscrito na sua forma oscilatória, é pausa e silêncio quando oscila em seu repouso. Há tantos ou mais silêncios quantos sons nos sons”(WISNIK, 2004, p. 19). A afirmação acima já nos diz um quase tudo sobre música, é uma descrição complexa que nos relata muito mais, instigando-nos a percebê-la intimamente. A oscilação sonora, ao mesmo instante que nos envolve num tempo e num contratempo, por outro lado, leva-nos a um impulso, lança-nos Para maiores esclarecimentos de fundamentação histórica da Música Popular Brasileira, consultar o trabalho de Luiz Tatit, O século da canção (2005). 13 fora de uma linha cancional prevista. A voz, portanto, na canção descanção pousa, arrisca outras vozes e palpita. Perceber que no silêncio há tanto som e que no som há tanto silêncio é, de algum modo, conceber a música como uma forma de descanção. Romper com o tempo previsto da canção, escutar ruídos gerados pela imprevisibilidade do cantar e de um dado arranjo é, de certa maneira, desfazerse de um código apriorístico musical, de um modelo linear de canção, que se presta unicamente à demanda comercial. Discutir o fazer musical, pensar outros discursos musicais (valores desconstrutores e reconstrutores musicais, políticos, cultural, econômico) na canção, significa se introduzir no campo de uma descanção. Ao lermos Tom Zé em narrativa do seu processo de composição, a canção parece ser apenas um meio para se chegar a uma outra canção, chamada descanção: Minha quimera de fazer descanção não aludia à canção em si, era só um artifício para eu poder cantar sem ser cantor (ZÉ, 2003, p.24). Com esse depoimento Tom Zé assume na sua fala um etos de ruptura com a canção no seu sentido canônico, música acompanhada de voz e instrumento. Essas informações parecem apontar para um modo de compor a descobrir, insento de predeterminações. Assim, antecipa-nos a construção do ethos de uma descanção. Mas não sabemos ainda qual seria essa canção que não é canção. Aos nossos ouvidos, essa canção sempre está por vir, parece que ela não se fecha nela mesma, e caso isso aconteça, dar-se-ia no desencontro com o modelo de canção determinado. Pensamos que a idéia de descanção significa romper com o tempo previsível na canção, digamos, uma ruptura no código apriorístico musical. Noção referente à redundância de conhecimento musical, ao conjunto de características de natureza prevista, unidas num código construído de elementos que independem da experiência do leitor ouvinte, sendo algo a priori, apriorístico, que leva o ouvinte à absorção global de uma mensagem musical condicionada sobre valores estéticos impostos arbitrariamente. Então, a audição possível de uma canção dar-se-ia pelo reconhecimento de elementos sonoros repetitivos, previsíveis, tornados convencionais pela mídia. Tal afirmação nega a concepção segundo a qual o artista oscilaria numa dialética banal-original, previsível-imprevisível, redundante-informativa, de acordo com A. Mole (apud CAMPOS, 1993, p.180). O reconhecimento dessa repetição retroalimenta a digestão de mais um produto industrial, em série, alimentando a máquina publicitária, comercial fonográfica. O ouvinte, portanto, é contaminado por valores estéticos musicais, arbitrariamente: como dadas melodias, arranjos e letras, retroalimentados pela mídia e indústria fonográficas. Percebemos uma ascensão quantitativa de um produto finalizado que se opõe ao valor qualitativo da música popular. A música que favorece o código apriorístico se faz numa redundância, na repetição em série, tida como produto acabado. Quanto maior a redundância e a previsibilidade, menor é o conhecimento, a informação e a aprendizagem, se não há conhecimento não há comunicação. Ao consultarmos Pignatari (1997), vimos que há dois casos extremos de nãocomunicação: o da imprevisibilidade total e o da total previsibilidade dos sinais. Se há um total estranhamento na canção que não leva à interação de um signo com outro, não é possível sua audição, podendo haver, que é o menos significativo, uma compreensão precária que não traduz sentidos da escuta. Possivelmente, como exemplo dessa “intradução” ou “incompreensão” seria, hipoteticamente, uma canção tocada numa língua inédita, totalmente nova, ao som de instrumentos também inusitados aos ouvidos de um público que, culturalmente não usufrui desse tipo de sonoridade. Caso haja uma total previsão do que se pronuncia, a informação tornase redundante, a compreensão é prolixa, uma prolixidade desnecessária, impotente. A redundância, nesse caso, trata-se de uma canção que segue praticamente um mesmo arranjo, uma mesma temática, “diferenciando-se” apenas uma da outra o timbre de voz, embora muitas vezes há uma repetição dela14. 14 Tais como as vozes das cantoras Ivete Zangalo, Daniela Mercury, dentre outras. Como um locutor, então, pode emancipar-se, musicalmente, e ocupar um lugar no mundo se não se comunica? Esse é um dos problemas presentes na canção vinculada ao código apriorístico, que mostra sempre uma mesma idéia de signo musical ou uma mesma configuração de arranjos verbal e não verbal, os quais tendem a migrar para um não lugar, sendo este o da repetição, o lugar fixo e pré-estabelecido. O efeito desse hábito reduz a qualidade de recepção musical do ouvinte. Ele, convivendo com esse modo de construção musical, em idade mais avançada, só reconhece e não conhece outro modo de canção. Tal evento ocorre devido a sua maior resistência em não aceitar a imprevisibilidade de arranjos em função de uma convenção, de um código apriorístico musical, de um conjunto de arranjos musicais cristalizados, imutáveis. Já a música numa condição qualitativa, da não redundância, trata-se de um processo em construção, que se propõe à abertura de reformulações e recriações, à interrupção da linearidade. A descanção, nesse sentido, atravessa o código apriorístico, abrindo possibilidades de outros códigos que constroem imprevisibilidades e descobertas. Ainda assim, a descanção pode gerar também uma previsibilidade, no entanto, diferente da outra, a significativa: a previsão da imprevisibilidade. Minuciosamente, a descanção ocorre no plano estético e não-verbal (melódico, instrumental e com relação à mistura de gêneros cancionais), no seu plano verbal, através de modos de desconstruções sintáticas, de recriação, montagem e remontagens lingüísticas. Ela não se realiza numa total imprevisão. A imprevisão não significa um fazer aleatoriamente. Paradoxalmente, há um planejamento da imprevisão, seria um acordo tácito, como Tom Zé apresenta no seu livro autobiográfico: ...era o que eu queria fazer com a canção tradicional: limpar o campo. Conclusão que me induziu a organizar as outras idéias que até então, vinha praticando intuitivamente e desorganizadamente (ZÉ, 2003, p. 21). As idéias desorientadas tomaram um corpo organizado e se revelaram num plano compreendido em quatro pontos: mudar o tempo do verbo, trocar o lugar no espaço - o lugar, achar um novo acordo tácito, limpar o campo. Mudar o tempo do verbo (ZÉ, 2003, p. 21), era sair do passado e praticar o presente. Acordo contrário ao das canções tradicionais que habitavam sempre um passado, o de contação de histórias. A troca do lugar (ZÉ, 2003, p. 22), onde vivia, em Irará, já atraía um passado de épocas. Então, mudar geograficamente era construir um novo presente, que se refletisse na sua canção. O intuito aparente era expandir a canção, arejá-la e desapegar-se do passado tão presente e arraigado. A mudança do lugar revelava a busca de novas fronteiras para a canção. O terceiro ponto seria um acordo tácito (ZÉ, 2003, p. 22): um diálogo entre cantor e ouvinte. Através do cantar o presente, Tom Zé introduziria um assunto espelho na canção, na qual o ouvinte fosse o próprio personagem. O último ponto, limpar o campo (ZÉ, 2003, p. 22), um novo passo para se desfazer de uma canção insatisfeita. Segundo o relato do compositor, ele se inspirou numa cena do curso de fotografia que havia realizado, descobriu mais uma maneira de se chegar à almejada “canção”. A cena referida era a do instante em que lhe foi sugerido a observação de duas fotografias de uma mesma pessoa. Uma contaminada por objetos desordenados e a outra apenas com a imagem da pessoa sem objetos. A fotografia mais preenchida de objetos, que embaraçavam a imagem inferia a limpeza desse campo. Encarregado de retirar os elementos que compunham a primeira foto, surpreende-se com o processo da retirada. Ação que o levou a relacioná-la com a canção, ao desejo de limpar seu campo cancional, livrar a canção da contaminação do passado e da temática padrão: o amor infeliz. No entanto, ao nos aproximarmos desse campo cancional, mais presente cronologicamente15, compreendido nos álbuns Com defeito de Fabricação, Jogos de Armar, Imprensa cantada torna-se mais coerente usar a expressão “sujar ou poluir o campo”, não limpá-lo. Como significa a expressão “épater la bourgeoisie”, ou seja, “desafinar o coro – monofônico – dos contentes” etc. A partir dessas inquietações foi se construindo o significado de descanção. Além de se opor ao código apriorístico de música, é uma maneira de se desapegar do passado cristalizado. Portanto, consideramos a descanção um modo de composição que gerou a canção de Tom Zé, desde o princípio de sua trajetória. Ao mesmo instante que ela o fez existir, levou-o a uma condição de isolamento16, por ele, talvez, não ter correspondido às expectativas de gravadoras e produtoras da época, diferentemente do que ocorreu na década de 1990. A partir daí, vem se lançando através de uma gravadora de porte “pequeno”, a Trama, mas com dada ascensão no mercado fonográfico. Ao nosso olhar, o sentido da descanção no processo de composição estende-se também aos mais recentes trabalhos de Tom Zé17. E é assumida como um posicionamento estético, ideológico e político. Um posicionamento descancional que gera uma política musical, um modo de se relacionar com a canção, sublinhando valores e incômodos de ordem estética e ética gerados no campo musical. E que são influenciados por fatores externos e internos ligados à canção, também no seu sentido formal. Nesse contexto, ao incorporar a figura de cantor e compositor, Tom Zé leva-nos a reconfigurar aspectos sobre música popular: quanto à distribuição canônica de gêneros cancionais, da cultura nordestina, da mídia e indústria fonográficas, de personagens e mitos. Aproximadamente entre o período 1999-2005. Estamos nos referindo ao período (1970-1980) de construção dos álbuns Estudando o Samba, Todos os olhos, Correio da Estação do Brás, Nave Maria, Se o caso é chorar. Instante em estado de ostracismo. 17 Jogos de Armar-Faça você mesmo (2000); Com defeito de Fabricação (1999); Imprensa Cantada (2003). 15 16 4. A VOZ QUE ALIMENTA A VOZ “A voz jaz no silêncio do corpo como o corpo em sua matriz” Zumthor Mudando de um lugar para outro e habitando o mesmo, ouvimos com mais ouvidos a construção de vozes que se cancionam e descancionam na música de Tom Zé. Não cabe à voz apenas um olhar fisiológico, lingüístico, fonético vocal. A sua emissão cantada, interpretada marca um lugar ou lugares na canção. Para além de um debruçar-se cientificamente sobre ela, a voz expressa sua materialidade no seu próprio ato de manifestação. Delimita uma vontade de dizer, de existir do indivíduo que nela perpassa: (...) a voz é querer dizer a vontade de existência, lugar de uma ausência que, nela, se transforma em presença; ela modula os influxos cósmicos que nos atravessam e capta sinais: ressonâncias infinitas que faz cantar toda matéria.... (ZUMTHOR, 1997 p. 11) A voz constrói, em volta da palavra enunciada, simbologias: ... a voz e suas vias, a garganta mais profunda... boca emblemática, passagem para além do corpo... (p. 15). Assim, traduz-se o intraduzível. A voz mostra um corpo na sua dinâmica cantada e não cantada. Ouvimos a música captando sua voz ou vozes, não só a voz do músico interpretador (que emite outras vozes, além da sua) como a voz do arranjo de instrumentos não verbais, reveladoras do que há em nós. E se direciona ao outro e a nós mesmos. Sentimos a música em seu sentido amplo, a música das músicas, assim, entre a variedade de vozes, humanas e trans-humanas, talvez. Apesar da concretude vocal na canção referente aos seus traços qualitativos palpáveis como o tom, timbre, alcance, altura, registro, há também traços talvez inomináveis, na sua escuta, que nos sugerem uma hibridação e dispersão de sons, tornando ainda mais viva sua materialidade. 4.1 A PERFORMANCE NA CANÇÃO A diversidade de linguagem humana para expressar inúmeras idéias e sensações é vasta e indomável. A música, assim como o teatro, dentre outras vivências e experiências transcendentais traz corpo, voz e vozes. Possibilita a desconstrução da linearidade da voz e do corpo previsivelmente modelado socialmente, dentro de valores comportamentais canônicos, estereotipados. A desconstrução, portanto, torna-se mais uma maneira de se posicionar no mundo, mais um modo de vivenciar o corpo sem seguir, necessariamente, valores pressupostos, institucionalizados. É através da desconstrução do corpo e voz que adentraremos também na idéia de uma performance na canção que, possivelmente, migra para uma descanção ou para a desconstrução de canção. Traz à tona rasuras vocal e instrumental. Compreendemos o sentido de rasura como ato ou efeito de risco, raspagem, feito na parte escrita de um texto ou documento etc. para tornar inválidas ou ilegíveis palavras ali contidas18. O risco ou raspagem ocorre no texto da canção, na voz e instrumento, mas que a possível invalidade ou ilegibilidade constrói outra validade textual, musical. Defendemos no contexto de nossa análise que o sentido do risco ou raspagem característico da rasura torna um texto ilegível para assumi-lo em sua legibilidade. É necessário encobrir, omitir ou errar o texto de uma canção, potencialmente estereotipada com certos valores pré-estabelecidos, como apresenta o código apriorístico19, para afirmar o seu contrário. 18 19 Definição apresentada no dicionário Houaiss, de Língua Portuguesa. Páginas 19-21. A rasura afirma a voz do corpo, dos instrumentos, dos arranjos instrumentais, criadora de outro tempo e encenação na canção. Levando-nos à dinâmica de uma descanção. A rasura é percebida como um investimento discursivo, um acréscimo de algo que perturba uma sonoridade canônica. Ela é desencadeada em arranjos vocal e instrumental, possibilitando gerar atos performáticos20 vocais e corporais (estereotipados ou não) que expressam outros modos de habitar a música. No contexto das artes plásticas, a performance pode ser um ato transgressor e de ruptura. Foi influenciada pelo pensamento oriundo do movimento de vanguarda - o futurismo, na Itália, século XX, que tinha como foco radicalizar os conceitos vigentes de arte. Enfocaremos a performance vocal na canção, lugar e manifestação musical de maior interesse nosso. A performance musical em sentindo amplo compositor Jonh Cage, que teve significativa interferência do incorporava nela silêncio, ruídos, pausas imprevisíveis, princípios zens, elementos influenciados pela cultura oriental. Rasurar e performatizar a canção é dialogar com outros campos discursivos da música. É possível através dela desfazer-se de “laços familiares” e reconstruir histórias. É criar uma nova música, um novo percurso sonoro, num sentido amplo, trilhar caminho que integra uma atmosfera sempre em fertilização. A rasurar a canção e assumir atos performáticos pode causar efeitos de carnavalização e grotesco, no sentido de Bakhtin (1999). 5. MOVIMENTO DE INSTABILIDADE NA CANÇÃO: UMA CONDIÇÃO PARATÓPICA 20 De acordo com Zumthor, ato performático é uma ação oral-auditiva complexa, pela qual uma mensagem poética é simultaneamente transmitida e percebida, aqui e agora. (ZUMTHOR, 2001, p.222). Nesse instante cabe a apresentação do conceito paratopia, que denomina uma condição instável do indivíduo. Em outros termos, a condição paratópica expressa o estado inconstante do indivíduo de estar e não estar em lugares institucionalizados ou não. Refere-se a uma negociação difícil entre o lugar e o não-lugar, uma localização parasitária, que vive da própria impossibilidade de se estabiliza (MAINGUENEAU, 2001, p 28). O termo paratopia designa para além do topos, do lugar, mas que lugar é esse? Os lugares socialmente cristalizados (classe, papéis, cargos, etc.) e, sobretudo, o da instituição, com a qual um indivíduo convive conservando normas ou regras impostas explicitamente e implicitamente, sendo socialmente reconhecidas e que lhe cobram fixação e permanência. Desse modo, um indivíduo escritor ocupa um lugar para além do lugar institucional, fato que torna conflituosa sua existência, pois, assim como um músico, um dançarino, um cineasta, dentre outros, (...) alimentam sua obra com o caráter radicalmente problemático de sua própria pertinência ao campo literário (digamos o artístico) e à sociedade (MAINGUENEAU, 2001, p. 27). A Literatura, assim como outras linguagens humanas e artísticas (Música, Cinema, Teatro, Artes Plásticas)21, são percebidas, de modo amplo, sociologicamente, mas antes, também, em seus micro lugares ou campos específicos: o literário, o musical, o cinematográfico, dentre outros. São nesses micros lugares que encontramos macro e rígidas regras que fazem o escritor ou músico, dentre outros, existirem socialmente num campo menor. Como produzir música sem corresponder às expectativas “contratuais” desse micro campo? Que “normas” regem o campo musical? Então, como é ser músico “sem ser músico”? Como essas questões se refletem na canção de Tom Zé? Maingueneau restringe-se em suas análises textuais ao campo literário: relação escritor, sociedade, instituição. Em algumas obras, ele analisa textos religiosos, teatrais, jornalísticos e publicitários. Estamos nesse contexto observando a relação músico, sociedade instituição. O músico como escritor musical. 21 A verdade é que há vários campos na Música, um campo maior (o dominante) e sub-campos (os marginalizados) em cada gênero cancional. O campo maior seria o campo apriorístico musical ou código apriorístico, que segundo Campos (1997), refere-se às leis sagradas e imutáveis de um código de linguagem musical condicionado pelo veículo de massa, retroalimentador de uma convenção de valores estéticos musicais, que cristaliza a música, conforme já vimos. O outro campo denominado subcampo se encontra em espaços sociais mais isolados, são campos sem pré-determinações que, movidos por um intenso desejo de existir, como os grupos nomeados “Rock de garagem”, sobrevivem de qualquer modo. A música que se inscreve nesse campo toca em lugares específicos, em estúdios anônimos, por opção própria ou em outras circunstâncias, raramente tocam em algum lugar, por não cumprir com dados arranjos e melodias “impostos” pela indústria fonográfica. De certo modo, assim se fez a canção de Tom Zé22 e de muitos dos quais nem sabemos pelas razões de optarem por se tornarem “inexistentes”, sendo possível também uma outra, a de não corresponder às expectativas fonográficas. E nesse subcampo, há ecos de canção sempre dispersos numa atmosfera musical desinteressada. 5.1 O SER GROTESCO E CARNAVALIZANTE A condição instável, parcialmente isolada ou paratópica do indivíduo ao romper com determinada hierarquia institucional pode também integrar-se ao estado de grotesco. Estado em que o indivíduo provoca e assume as necessidades viscerais e vitais do corpo, permitindo-se a vivência de mutações que desintegram uma dada ordem, almejando uma vida distante da normatividade pré-estabelecida. A seguir, apresentaremos algumas noções Embora Tom Zé seja visto como marginalizado no momento tropicalista (anos 60-70), recentemente, na década de 90 e início de 2000, é observado como um músico e cantor popular, freqüentando programas televisivos(Programa do Jô Soares, Roda-Viva, Provocação), dando entrevista em revistas de circulação nacional (Bravo). 22 referentes à idéia do carnaval, à derivação carnavalização, a qual nós relacionamos à condição paratópica e à idéia de descanção. O grotesco é a expressão da figura de linguagem hipérbole, da forma de comunicação (seja ela corporal, gestual-visual, verbal) que foge a uma convenção, apresentando alterações de formas, tamanhos, cores, fonéticas, morfológicas, sintáticas, comportamentais. O caráter grotesco traz à tona a abertura do corpo ao mundo, o corpo encarna o universo material, as instabilidades cosmológicas: o mundo físico, ambientes e animais. Tal característica foi revelada em rituais e eventos carnavalescos no período da Idade Média. A idéia de grotesco é refletida na obra de Bakhtin (1999) através da manifestação da cultura cômica popular na Idade Média e no Renascimento, no contexto da obra do escritor e pensador François Rabelais. Tal manifestação é caracterizada como um evento do carnaval. A idéia de carnaval, concebida por Bakhtin (1997:122), designa uma forma sincrética de espetáculo de caráter ritual, muito complexa, variada, que sobe base carnavalesca geral, apresenta diversos matizes e variações dependendo da diferença de épocas, povos e festejos particulares. Nesse sentido, o carnaval permite a fusão de elementos culturais diferentes e antagônicos, em um só elemento. Tal evento se corporifica numa linguagem de formas concretas-sensoriais e simbólicas. Bakhtin (1999) nos apresenta a vivência das formas do carnaval da cultura cômica popular omitida e marginalizada nos estudos literários e no contar oficial da história humana. Cuidadosamente, ele discute as modalidades de manifestação dessa cultura, subdividida em três categorias: as formas dos ritos e espetáculos (festejos carnavalescos, obras cômicas representadas na praça pública); Obras cômicas verbais (orais e escritas em Latim ou em língua vulgar); diversas formas e gêneros do vocabulário familiar e grosseiro (insultos, juramentos) (BAKHTIN, 1999, p. 4). Tais manifestações em si carregam sua singularidade marcada pela construção de um outro mundo, um mundo à margem do mundo já existente. O carnaval representava uma postura subversiva com relação a certos hábitos e rituais institucionalizados. Os eventos ritualísticos apresentavam uma visão do mundo, do homem e das relações humanas totalmente diferente, deliberadamente não-oficial, exterior à Igreja, e ao Estado, pareciam ter construído, ao lado do mundo oficial, um segundo mundo e uma segunda vida (...) (BAKHTIN, 1999, p. 4-5). Formas ou “desformas” de alterações corporais como faces do baixo ventre é a imagem de rebaixamento, da degradação que visa à comunhão da vida com a terra. Erguer o baixo revela o estado de transformação, de metamorfose ainda incompleta no estágio da morte e do renascimento, do crescimento e da evolução. Desse modo, a cultura carnavalesca constrói-se numa ambivalência. A vida também é experienciada num processo de ambivalência, numa contradição constante, a partir de dois pólos de mudança: a morte e o nascer; o princípio e o fim; o antigo e o novo. Isso mostra a influência cosmológica na vida, o fluxo de mudanças geradas no indivíduo que reflete a inconstância do mundo. O carnaval faz o mundo se apresentar de modo imperfeito, inacabado. A individualidade passa a ser um estágio de fusão. Bakhtin (1997) ao tomar como princípio a idéia do carnaval compreendida na linguagem dos rituais nomeou de carnavalização a transposição dessa idéia para as linguagens de imagens artísticas, literária. Com isso o autor delineia quatro categorias ou cosmovisões carnavalescas que apontam para maneiras de vivenciar o carnaval, sendo elas: o livre contato familiar entre os homens, a excentricidade; um modo de relações mútuas do homem com o homem; a familiarização ou mésallinaces e a profanação. A primeira ou o livre contato familiar entre os homens contesta a distribuição dos homens numa totalidade hierárquica, a qual dita leis, proibições e restrições. Opõe-se à concepção hierárquica e inaugura o livre contato familiar. Os diferentes planos nos quais o homem se encontra, ou seja, os das desigualdades sociais de classe econômica, de nível intelectual migram para outro lugar e fundem um só plano, o da praça pública. A segunda categoria revela a libertação do comportamento e gestos do homem das forças impostas ou do domínio hierárquico da vida extracarnavalesca. Os homens interagem e se comunicam não levando em consideração classe social, títulos, idade e fortuna. A terceira categoria trata da familiarização que designa a extensão da livre relação familiar a tudo: a valores, a idéias, fenômenos e coisas. Há a combinação do sagrado com o profano, do elevado com o baixo, do sábio com o tolo. A última, a profanação também vinculada à terceira é formada pelos sacrilégios carnavalescos que expressam ações iconoclastas, a inversão de valores bíblicos e dignos de respeito, através de paródias carnavalescas. Essas categorias firmam o caráter contraditório da vida humana através da inter-relação de todas as coisas. Elas são idéias concreto-sensoriais, espetacular-rituais vivenciáveis e representáveis na forma da própria vida, que se formaram e viveram ao longo de milênios entre as mais amplas massas populares da sociedade européia (Bakhtin, 1999, p. 124). Essas categorias exerceram intensas influências na Literatura no que se refere à construção de formas e gêneros literários. Partindo desse percurso, consideramos nesse trabalho que os traços grotescos e carnavalizantes apresentados também se estendem aos modos de se mostrar a canção, no seu corpo verbal, melódico, sonoro, instrumental. E funcionam como investimentos discursivos, apontando também para o que apresentamos sobre descanção. 6. O CAMINHO DE CHEGAR E NÃO CHEGAR: PERCURSO DO COMO DIALOGAR COM AS CANÇÕES Fomos guiados no percurso dessa viagem musical, esse verdadeiramente inacabado, pelo não saber, causa maior de nossa escuta. O desconhecido fez-nos ouvir e ver, no escuro, o colorido de canções. Falar sobre e com a música, de modo amplo, tentando traduzi-la verbalmente, em seus efeitos e distorções, é quase um ato inalcançável, uma vez que a linguagem musical não dá nomes a coisas visíveis e palpáveis, tal como faz a linguagem verbal. A linguagem musical expressa linhas sonoras e ruídos que se encontram e se desencontram. Por mais que haja uma dedicação em explicála verbalmente, a música aponta com uma força toda sua para o nãoverbalizável, através de certas redes defensivas que a consciência e a linguagem cristalizada opõem à sua ação e toca em pontos de ligação efetivas do mental e do corporal, do intelectual e do afetivo (WISNIK, 2004, p 28). A viagem foi movida por um olhar que apreciou a relação de existência da música com o seu mundo exterior e, em parte, com o seu mundo interior, levando em conta não a quantidade “x” e exata de canções, mas a intensidade com que ela ou elas se manifestaram discursivamente. Explicitamos, portanto, construções sígnicas de traços que perfuram e integram o discurso literomusical do compositor Tom Zé, sem necessariamente ou unicamente classificar, categoricamente, os modos de inserções discursivas. Analisamos uma parcela relevante de canções23 dos álbuns: “Jogos de Armar-Faça você mesmo”, “Com Defeito de Fabricação”, “Correio da Estação do Brás”. E mais uma quantidade mínima significativa de canções dos álbuns “Se o caso é chorar”, “The hips of Tradicion”, “Todos os olhos” e “Jardim da política”. Outros álbuns como “Estudando o Pagode” e “Estudando o Samba” Todas as canções dos álbuns a serem citados foram escutadas, sendo apenas algumas transcritas para análise. 23 foram citados com intuitos argumentativos voltados para a construção de sentido de posicionamentos musicais. Levamos em consideração melodia24 e letra. Noutro momento, a análise do álbum como um todo (encarte25, melodia e letra) de algumas canções necessárias para discursivos. E discutirmos outros dados elementos efeitos musicais: de alguns ritmo, investimentos harmonia, arranjo, instrumentação, ruídos, silêncios etc. A metodologia não seguiu um rigor canônico, quanto a métodos fixos ou pré-estabelecidos à análise. Uma vez que no nosso processo de construção do trabalho se fez refazendo-se continuamente. Buscamos uma arquitetura que nos ceda espaço a ocupá-la, a nos revelar o modo como o discurso literomusical da canção do músico baiano se desdobra, ou seja, como os arranjos discursivos são desenhados e que efeitos de significados gera a sua canção. 6.1 Discografia analisada Os cds que compreendem nosso corpus não abrangem todos os trabalhos de Tom Zé, pois a seleção realizada já aponta para uma marcante representatividade temática. Portanto, o critério de escolha foi com base em modos de construção e desconstrução da canção. Considerando também algumas idéias sugeridas numa quantidade relevante de canções: a relação de Tom Zé com o tropicalismo, sua condição de existência no campo musical. Segue a exposição dos CDs selecionados, em ordem cronológica decrescente: Zé, Tom. Estudando o Pagode. 2005. Zé, Tom. Jogos de Armar- Faça você mesmo. Trama, 2002 Zé, Tom. Série dois Momentos Vol. 15 (Relançamento do Cd Estudando o Samba, 1975, e de O Correio da Estação do Brás, 1978). Continental, 2000. 24 25 Canção “Brigitte Bardot”, “Jimi renda-se”, “Dor e Dor”, “Minha Carta”, Referente ao encarte do álbum Jogos de Armar, faça você mesmo. Zé, Tom. Série dois Momentos Vol. 14 (Relançamento em cd de Estudando o Samba, 1972, e de Todos os olhos, 1973). Continental, 2000. Zé, Tom. Com defeito de fabricação. Luaka Bop/WEA, 1998. Trama, 1999. Zé, Tom. No Jardim da Política (ao vivo em 1984 no Teatro Lira Paulistana) – Independente, 1998. Agora, diante dos cenários sonoro e teórico apresentados, seguiremos às paradas de nossa trilha. CAPÍTULO 2 APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO: TOM ZÉ Tom Zé pousa sobre as irregularidades do campo seco e iluminado por raios alaranjados do sol da cidade Irará, interior da Bahia. Foi nessa cidade que iniciou seus primeiros diálogos com a música, no sentido amplo, e com a canção, no sentido mais específico. Durante seus primeiros sinais de composição, ao tentar cantar uma canção para uma namorada, silencia26, é bloqueado por impulsos da timidez e insegurança ao concretizar sua voz na canção. Traumatizado por tal evento, desiste de cantar, por um instante. Passado algum tempo, resolve se reconstruir como cantor, relendo seu processo de criação musical e almejando viver na forma de som e palavra. 26 Evento relatado no seu livro “Tropicalista lenta luta”. Ao ingressar no ano de 1962, na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, no curso de nível superior, Tom Zé se aproxima de músicos e professores, dentre eles, Hans-Joachim Koellreutter27 e Walter Smetak. Autores representantes de uma tendência musical experimentalista e que exerceram um papel significativo na cultural musical brasileira. O primeiro foi um compositor, musicólogo, regente e flautista alemão que se mudou para o Brasil, em 1937 e naturalizou-se brasileiro anos depois, em 1948. Desenvolveu o modo de composição musical dodecafônico, técnica que utiliza doze notas da escala cromática, tratadas como equivalentes e sujeitas a uma relação ordenada, porém, não hierárquica. O músico viveu no país28 durante alguns anos, experiência que atribuiu um papel significativo e transformador na música brasileira. Koellreutter, na década de 1940, auxiliou na fundação da Orquestra Sinfônica Brasileira, participou também da fundação da Escola Livre de Música de São Paulo(1952) e da Escola de Música da Bahia em Salvador (1954). Em 1975, instala-se em São Paulo, exercendo as funções de diretor do Conservatório Dramático e Musical de Tatuí-SP e de professor visitante do Instituto de Estudos Avançados da USP. Em 1981 recebeu o título de cidadão carioca. O outro autor, Walter Smetak, foi um estudioso musical suíço, nascido em 1913, na cidade de Zurique. Apresentou múltiplas habilidades instrumentais e artísticas: violoncelista, criador de música e de instrumentosesculturas, artista plástico, teatrólogo. Sua relevância para a música brasileira está na participação como professor e pesquisador na Universidade Federal da Bahia, na criação e reinvenção de instrumentos musicais, “instrumentos- esculturas”, sonoplásticos. Em 1957, ao lado de Koellreuter instalou-se na Bahia e realizou pesquisas sonoras. Construiu oficina de criação de instrumentos musicais com tubos de PVC, cabaças, isopor e outros materiais 27 Nascido em 2 de setembro de 1915, Freiburg, Alemanha e falecido em 13 de setembro de 2005, São Paulo, Brasil. 28 Dentre outros países como Itália e Índia, onde viveu entre 1965 e 1969. Esteve também em Sri-Lanka, no Japão, Uruguai e Coréia do Sul. pouco usuais. Sendo tais instrumentos não de utilidade puramente musical, funcionando mais como esculturas. Ao longo de sua permanência na UFBa, o músico criou cerca de 150 instrumentos, os quais eram nomeados "plásticas sonoras" e lecionou a disciplina Som e Acústica. Além disso, atuou como violoncelista na Orquestra Sinfônica da universidade. A partir de um contato próximo com esses autores na escola de música da Bahia, acreditamos que eles representaram para Tom Zé coloridas imagens sonoras, influenciando, conseqüentemente na elaboração de suas canções. Dando continuidade a trajetória de Tom Zé, durante o curso de música na Universidade Federal da Bahia na década de 60, ele se torna membro fundador do Grupo de Compositores da Bahia de Música Erudita. No último ano cursado, em 1967, leciona algumas disciplinas relacionadas à teoria musical, como exercício do Magistério. A sua inserção no curso e na participação em estudos musicais demonstram notável dedicação na sua construção musical. É a partir de 1968 que se estende a um público de maior abrangência ao participar do Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, obtendo os prêmios “Viola de Ouro” e “Sabiá de Prata”, um deles referente à canção que venceu o festival, “São Paulo, Meu Amor”. No mesmo período se insere no LP Tropicália ou panis et circenses ao lado de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Mutantes, Torquato Neto, Rogério Duprat, Capinam e Nara Leão. A canção “Parque Industrial” desse lp é representante da música de caráter tropicalista com a qual Tom Zé se envolve, participando como cantor e compositor. Os membros integrantes do LP Tropicália assumiam na música um posicionamento estético e ideológico, movidos pelo ambiente social e político ditatorial vigente, como também por outras questões, principalmente estéticas e comportamentais, que extrapolam em muito a política estatal. Assumir-se tropicalista, no sentido amplo, era o ponto de partida para a ruptura da tradicional cultura brasileira e para a desmoralização da cultura moderna. Definir o que seja o Tropicalismo é perceber em seus seguidores a incorporação de propósitos desconstrutores e reconstrutores de valores nacionais, a partir de um corpo não estereotipado. O Tropicalismo foi tomado como um posicionamento ou uma identidade enunciativa que se inseria e dialogava com o mundo ao assumir valores a favor de uma ideologia: a da reinvenção da cultura tradicional brasileira, num ambiente conflitante. Ser tropicalista, portanto, é posicionar-se socialmente, é defender valores e crenças consciente e inconscientemente. Para isso, quem enuncia para o mundo, utiliza-se de vários investimentos discursivos (lingüísticos, não-lingüísticos, éticos, genéricos) e de estratégias discursivas para atingir metas conscientemente na busca de firmar uma postura. O movimento Tropicalista ocorre no fim da década de 60 e pontua acontecimentos da política brasileira: o ato institucional AI-5, a desilusão com o discurso de esquerda tradicional. Paralelamente a esses acontecimentos, questões referentes à postura musical vigente: a preocupação de um grupo anterior aos tropicalistas (seguidores do posicionamento Bossa Nova) em sintetizar um modo de tocar; e o temor ao domínio da estética do Rock exterior, que influenciava diretamente nos valores material, estético, comportamental de jovens brasileiros, aflorados em 1968. O caráter Tropicalista foi assumido por compositores musicais, artistas plásticos e de teatro, cineastas e por escritores brasileiros que incorporavam em suas criações pares de idéias opostas coexistentes: moderno x arcaico, épico x lírico, o passado x presente, nacional x estrangeiro. No campo musical, temos os idealizadores tropicalistas Gilberto Gil, Caetano Veloso, Mutantes, Torquato Neto, Nara Leão, Gal Costa, Júlio Medaglia, Rogério Duprat. Então, falar de Tropicalismo na música é levar em consideração seu contexto exterior, é olhar para elementos impulsionadores, como a crise da “alienação musical” devida à “singularidade” de se tocar “uma só nota”, como se comportavam os bossanovistas29; a repercussão e efeitos opressores do ato Embora os tropicalistas se posicionassem criticamente com relação a essa tendência, eles nutriam por ela profundo respeito e reverência, principalmente pelas inovações estéticas e éthicas do João Gilberto. Na verdade, a Bossa Nova foi o primeiro passo para o Tropicalismo. 29 Institucional AI-5, elementos condicionantes que moveram a produção da manifestação tropicalista. Partindo da exposição dessa cena musical, pensamos como a figura do cantor e compositor se relacionou com esse ambiente, o que o fez ser tropicalista ou não, a partir do olhar interdiscursivo sobre suas canções. Além da questão levantada, pretendemos falar sobre e com a música de Tom Zé: modo de análise textual que leva o pesquisador a observar e dialogar com o objeto, discurso literomusical de Tom Zé, vendo possíveis relações com o mundo. O olhar discursivo permitiu-nos a visualizarmos em Tom Zé uma voz que se posiciona e se faz presente, capaz de sugerir interpretações e leituras significativas ao campo musical. Tal olhar considerou o objeto não totalmente dominado pelo enfoque teórico e subjetivo do pesquisador. Tal maneira de ver o objeto contraria o modo estruturalista de análise. Que o aborda como algo paralisado, cristalizado, imóvel, caminho esse que não se permite vida ao objeto, e conseqüentemente, a não construção de um diálogo entre pesquisador e objeto, há o sufocamento da possibilidade de integração entre eles. Conceber idéias tropicalistas como elementos que também integram a formação discursiva de Tom Zé, ou seja, sua postura social, ideológica e histórica é falar com o objeto discurso. Partindo dessas referências como Tom Zé tem se relacionado no campo musical, uma vez que há críticos que o inserem e o excluem do posicionamento Tropicalista? E quanto a sua aparição, desaparição e reaparição30? Após sua participação na gravação do LP Tropicália, ele se afasta ou é afastado? O que sabemos, midiaticamente é que ele ressurge no exterior, através do músico americano David Byrne. 30 Embora seja sempre desconfiável essa idéia de aparição, reaparição ou ressurgimento. Talvez, porque Tom Zé esteve por aí fazendo suas descanções. O que o David Byrne fez com sua influência - foi tentar integrá-lo ao mercado e ao mundo da mídia. “Venha para o meio”, diria a Campanha da Fraternidade da CNBB). Ao investigarmos sua condição de existência no campo musical, foi necessário observarmos seu relacionamento com o tropicalismo e a possível congruência entre as idéias de ser paratópico31 (uma dada instabilidade do indivíduo ao estar no meio artístico), de “ser marginal” e de ser tropicalista de esquerda, como apresentaram a mídia, em especial, os jornalistas Calado (1997) e Sanches (2001), levando-nos a questionar o que é ser marginal na cultura musical: É estar isolado da mídia? É estar produzindo afastado de uma indústria fonográfica? E hoje, podemos dizer que Tom Zé é um tropicalista de esquerda num sentido marginal? Se a idéia de ser marginal está associada ao não reconhecimento de seu trabalho na mídia nacional, torna-se contraditória, pois ao mesmo instante que a mídia o cita como marginal, torna-o distante e próximo dela, simultaneamente, assim, é estar entre um lugar e um não-lugar. É possível pensar que essa idéia está associada à idéia de postura paratópica, de ser marginal? Entendemos sua canção como descanção ou canção ferida32, uma forma de desconstrução de modelo padrão de canção, uma forma de repensar ou ferir o tempo e arranjo da música, de negação da reprodução do código apriorístico musical33. Tal maneira não está só no plano rítmico, mas no plano verbal, assim como na hibridação dos dois planos. Essa possibilidade de composição musical34, referida no título do presente trabalho, leva-nos a questionar sobre a idéia de música, do ponto de vista estrutural, ético e político, que Tom Zé constrói, tendo em vista as condições que o geraram no campo musical. Partindo dessas indagações, moveu-nos pensar o lugar ou lugares de Tom Zé diante da cena artística musical a qual o gerou, a tropicalista. Assumimos a hipótese de que a condição paratópica do autor compositor se 31 Conceito explicitado anteriormente, no capítulo 1, no ponto “Movimento de instabilidade na canção: uma condição paratópica”, pgs. 40-42. 32 Ferida no sentido dessa canção ferir ou romper com o modo apriorístico de fazer canção. 33 Segundo Campos (1997), o código apriorístico musical refere-se à leis sagradas e imutáveis de um código de linguagem musical, condicionadas pelo veículo de massa que retroalimentam uma convenção de valores estéticos musicais. 34 A idéia de descanção é citada pelo compositor Tom Zé, no livro autobiográfico “Tropicalista Lenta Luta”, 2003. constrói a partir de uma retroalimentação descancional, ou seja, de um posicionamento estético de decomposição cancional. CAPÍTULO 3 - RESSONÂNCIAS E DESFORMAS DA CANÇÃO 1. DESCANCIONANDO POR ENTRE RASURAS E IMAGENS GROTESCAS A musical que envolve arranjos verbais e não verbais não só se escuta como se vê, sua execução nos faz construir uma imagem a partir de interferências performáticas de ritmos, vozes e gestos corporais. Tais gestos podem se vincular a dado posicionamento. O cantor ao interpretar a canção incorpora fala ou falas diferentes que ressoam em planos vocais, instrumentais e corporal físico. A performance vocal revela-nos a concretização de investimentos discursivos variados, sinalizando-nos posicionamentos ideológicos. A idéia de performance como expressão argumentativa está no corpo como na fala. A exacerbação de atividade performática vocal na canção chega a dar forma física, corpórea e visual à música através do som. Veremos, a seguir, um modo de voz e corpo se rasurar. Na canção Minha carta, por exemplo, o personagem enunciador incorpora a fala do indivíduo sofrido e saciado de saudade de um amor. O efeito de rasura na voz constrói uma das características de descanção. A voz representada e cantada imbrica-se no corpo físico e o corpo físico no corpo da música, levando-nos à visualização de imagens grotesca. Minha carta35 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Eu preciso mandar notícias Pro coração do meu amor me cunzinhar Pro coração do meu amor me refazer, me sonhar, me ninar, me comer, Me cunzinhar como um peru bem gordo Como um garrote arrepiado Um casal de pombas Que saiu da sombra. Me cunzinhar como um bezerro santo Canário preso Pra limpar o canto Luxa no alpiste Mas o trinado é triste Eu escrevo minha carta no papel decente Quem se sente com saudade não economiza Martiriza Martiriza o pensamento Eu digo no papel Que o anel No anel do pensamento Andei duzentas léguas Minha égua Minha égua esquipando O peito me sacode, Cada golpe. Nesse golpe do galope que o envelope engole Cada gole Cada gole da lembrança vale um tesouro É besouro É besouro que se bate Sempre na vidraça Quando passa em pensamento Volta na saudade Toda tarde. Eu preciso mandar Mandar notícia. Ai, ai, ai, ui, ui Ai,... , ai, ai... Diante de sua escuta, a canção se desdobra em um corpo que vai crescendo, tecendo inicialmente uma imagem colossal, a palavra vai tornando- 35 Versão do Cd Jardim da Política, 1984. se tão visceral quanto o sentimento expressado, sugerindo-nos a visualização de imagem e corpo grotescos: 4. Me cunzinhar como um peru bem gordo 5. Como um garrote arrepiado O sentido grotesco ao qual mencionamos aqui remete à idéia de grotesco da Idade Média, discutido por Bakhtin (1999)36, na obra sobre a cultura popular da Idade Média no contexto de escritor François Rabelais. A imagem grotesca na canção aqui é desenhada através de um investimento no código lingüístico de expressão comparativa como um peru bem gordo. O que enfatiza nessa circunstância não é necessariamente a idéia de peru, mas sua configuração engrandecida, o “bem gordo”. Assim como a outra expressão “como um garrote arrepiado”. O que dá corpo ao sentido desses versos cancionais são os atributos visuais gordo e arrepiado. Em outro momento constrói-se uma cenografia campestre, na qual o personagem, metaforicamente, insere-se num campo, no campo de turbilhão de pensamentos: 19. No anel do pensamento 20. Andei duzentas léguas (vs.38,39) Que exalta o etos grotesco e visceral expressado, alimentando um tom carnal. A voz aí traz a simbologia do diálogo inalcançável, a busca do impossível. Escutamos e visualizamos nessa canção um corpo em conflito com ele mesmo, que se fragmenta em vias sonoras. O corpo físico configurado na canção revela a voz e suas vias, a garganta mais profunda; aberta ao ventre e ao interior que é, ao mesmo tempo, expressão de idéia e descarga, em que e pela qual toda articulação se faz metafórica (ZUMTHOR, 1997, p. 15). 34. Eu preciso mandar 35. Mandar notícia. 36. Ai, ai, ai, ui, ui 37. Ai,... , ai, ai... 36 Para retomar o assunto consultar página 39-40 Percebemos o movimento acelerado crescente do arranjo cancional, gerando a velocidade e intensidade sonora, mostrando o entrelaçamento entre nota musical e voz: 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Minha égua esquipando O peito me sacode, Cada golpe. O peito me sacode, Cada golpe. Nesse golpe do galope que o envelope engole Cada gole 2. Deslinearização e defeitos verbais A construção dos enunciados falado e escrito segue, canonicamente, uma ordenação de sujeito, predicado e circunstantes. Essa configuração delimita uma estabilidade, impõe uma sistematização da ordenação de palavras, dando-as certa imobilidade, devido à disposição de idéias segmentadas, fragmentadas, ordenação que leva a uma especificação, a uma verticalização de conceitos. Essa rigidez sintática também configuração a lógica discursiva do pensamento ocidental, que caminha para uma especificidade formal, tentando omitir os desajustes ou deslinearidades significativas existentes. A lógica de pensar a linguagem assim ... leva a ver o mundo em pedacinhos separados, desligados uns dos outros (Pignatari, 2004: 47). Deslinearizar a língua é um dos aspectos que apontam para um modo de descanção das canções analisadas aqui. É através do investimento lingüístico numa sintaxe verbal, visualmente e semanticamente, desarranjada ou “quebrada” que se sai da linha ocidental e constrói-se uma outra sintaxe. O investimento numa deslinearização verbal no ambiente musical de Tom Zé, contribui também para a posição entre estar e não estar, digamos, para um lugar paratópico. Algumas canções trazem um aspecto desconstrutor ou deslinear na sintaxe verbal, rompendo, assim, com a linearidade na canção, causando a negação da ordem canônica e trazendo outra ordem: a dos efeitos de sentidos, a ordem do tato, do ouvir e ver a canção. 2.1 O defeito: problema e perfeição Diante de um momento que expressa o super monitoramento de máquinas sobre as diversas atividades humanas, a multifuncionalidade via computadores, refletida no cotidiano do homem século XXI, tenta-se ajustar ou operar homens e máquinas visando à ausência de erros em seu funcionamento. Dessa maneira, o trabalho impõe ao homem inúmeras restrições, exigindo dele maior eficiência, rapidez e auto-controle, tornando-se cada vez mais impensável sua possibilidade de falha. E o defeito ou falha para “os grandes homens” (os singularmente maquinados) seria o pensar nos efeitos desconstrutivos causados pela própria máquina. É inegável também que o homem se transforme em máquina, sendo favorável a ela por motivos de sobrevivência ou, contrariamente, moldese numa máquina que possa destruir aquela que o transformou. Dialogando com a alteridade: a representação do homem infalível ou o que não pensa nos efeitos das máquinas por já também estar maquinado, aparece no álbum “Com defeito de fabricação”37. São quatorze canções para pensar em defeitos inerentes ao homem e a criação de cada uma delas é considerada um defeito. 1. Defeito1: O GENE 2. Defeito2: CURIOSIDADE 3. Defeito3: POLITICAR 4. Defeito4: EMERÊ 5. Defeito5: O OLHO DO LAGO 37 Luaka Bop/ WEA , Setembro 1998) Edição Brasileira pela Gravadora TRAMA - 1999 6. Defeito6: ESTETICAR 7. Defeito7: DANÇAR 8. Defeito8: ONU, ARMA MORTAL 9. Defeito9: JUVENTUDE JAVALI 10. Defeito10: CEDOTARDAR 11. Defeito11: TANGOLOMANGO 12. Defeito12: VALSAR 13. Defeito13: BURRICE 14. Defeito14: XIQUEXIQUE Atentemos que a iniciativa de criação da canção já é considerada um defeito implícito em todas as canções. Lendo alguns títulos das canções, como: Curiosidade, Politicar, Cedo tardar, Dançar, ONU, arma mortal, percebe-se que eles apontam para uma afirmação de caráter humano que é omitido pelas forças maquinárias. O compositor, ao assumir a idéia de nomear as canções como “defeitos”, realiza um investimento estratégico, que torna a imagem do homem potente e criador em oposição ao domínio e ao comportamento do homem, homogeneamente técnico. Assim, desdobram-se as canções do álbum “Com Defeito de fabricação”, sendo elas, ironicamente, numeradas como um “problema de fabricação”38. O simples ato de nomear “os defeitos” curiosidade, de dançar ou cedo tardar, valsar demonstra o “descontrole” e o não ajustamento do homem. O “defeito 8”: Onu, arma mortal expressa uma reação à máquina de controle global. O sentido de curiosidade nesse álbum é concebido como um defeito que desestabiliza o homem funcional, operador de máquinas de várias modalidades que o fazem sobreviver. O homem no ápice de sua multifuncionalidade ainda pode transformar-se em ser curioso. E uma curiosidade pode levar a outra: As canções são numeradas de acordo com defeito nomeado. Defeito 1: O gene (Arrastão do Santo Agostinho); Defeito 2: Curiosidade (Arrastão do Alfred Nobel e de sua dinamite). 38 Defeito2:CURIOSIDADE (Tom Zé / Gilberto Assis) Quem é que tá botando dinamite Na cabeça do século ? Quem é que tá botando tanto piolho Na cabeça do século ? Quem é que tá botando tanto grilo Na cabeça do século ? Quem é que arranja um travesseiro Pra cabeça do século ? Pra cabeça do século ? Arrastão de Alfred Nobel e de sua dinamite. A cena construída com o enunciado botar dinamite na cabeça do século nos revela um ato de explosão, de atividade não operária, mas de revolução, movido por um desejo de alguém movimentar-se e agir já em estado de saturação. E essa seria uma natureza do homem cuja voz é omitida, silenciada pelo barulho de imposições multifuncionais. Lemos a pergunta recorrente Quem é que tá botando dinamite Na cabeça do século? como a voz de um outro curioso (a voz manipuladora, dominadora) que, contraditoriamente, quer omitir algo arraigado no homem, a curiosidade. A dinamite ali, como o piolho, o grilo em Quem é que tá botando tanto piolho Na cabeça do século?; Quem é que tá botando tanto grilo Na cabeça do século? são símbolos que representam a dissipação, o desconforto, o barulho que significam a expansão do homem, voltada para modificar um lugar e interromper uma rotina desumana. Olhando através de orifícios maiores, percebemos na idéia de defeito uma postura de desajuste salutar, que expõe a canção e seu problema, levando-nos a questionar que defeitos são esses. A não-linearidade está em revelar incômodos, ou seja, de refletir sobre o considerado defeito. O “defeito de fabricação” não está só na sintaxe verbal da canção, mas também na idéia de ser defeituoso o ser humano, geneticamente falando: Defeito 1: o Gene (arrastão do Santo agostinho): A gente já mente no gene A mente no gene da gente Faça suas orações uma vez por dia Depois mande a consciência Junto com lençóis Pra lavanderia O verso cancional A gente já mente no gene afirma a mentira como um caráter natural e vital do ser humano por compor a mente e o gene. A palavra mente, nos versos: “... já mente no gene (...), a mente no gene da gente”, parece significar-nos a mente e a mentira no gene da gente como o próprio defeito. E o que há para além da mente e da mentira no gene: “orações” ou “fazer orações uma vez por dia e lavar a consciência (...)”. A melodia da canção se dá no contra tempo, faz-se em arranjos quebrados, demonstrando saltos de uma linha constante, apontando-nos “defeitos de tocar”. Percebemos outros defeitos como o de si (de Tom Zé cantor), que remete ao auto-rebaixamento, mostrados através de índices lingüísticos como “um zero, um zé à esquerda”. Defeito 6: ESTETICAR (Estética do Plágio) (Tom Zé / Vicente Barreto / Carlos Rennó) Pense que eu sou um caboclo tolo boboca Um tipo de mico cabeça-oca Raquítico típico jeca-tatu, Um mero número zero um zé à esquerda Pateta patético lesma lerda Autômato pato panaca jacu Penso dispenso a mula da sua ótica Ora vá me lamber tradução inter-semiótica Se segura milord aí que o mulato baião (tá se blacktaiando) Smoka-se todo na estética do arrastão Ca esteti ca estetu Ca esteti ca estetu Ca esteti ca estetu Ca esteti ca estetu Ca estética do plágio-iê Help, Suassuna Help, Tinhorão Pensa que eu sou um andróide candango doido Algum mamulengo molenga mongo Mero mameluco da cuca lelé Trapo de tripa da tribo dos pele-e-osso Fiapo de carne farrapo grosso Da trupe da reles e rala ralé (Arrastão dos baiões da roça. Espinha dorsal) Através do investimento em expressões lingüísticas estereotipadas, de raízes da cultura tradicional nordestina, o autor personagem, enunciador, desenha um ethos que se aproxima do humano e desumano: “Raquítico típico jeca-tatu..., Pateta patético lesma lerda, Pensa que eu sou um andróide candango doido”, Algum mamulengo molenga mongo, dentre outras nomeações de caráter análogo, que remetem à imagem cômica e inferiorizada do nordestino. A ação de esteticar sugerida no título da canção nos parece um ato do enunciador se perceber inserido num mosaico de alteridades, uma absorvendo outra, gerando continuamente uma nova estética. Esse seria um instante de apropriação de várias linguagens, de possibilidades textuais pertencentes a vários autores, designando o momento antropofágico que caracteriza o homem do século XXI. Interpretamos essa canção como também um auto-rebaixamento, mostrando o rir de si mesmo. Aspecto que dialoga com os relatos que Bakhtin (1999) apresenta sobre a manifestação da cultura popular na Idade Média e no Renascimento. A manifestação do riso fora omitida no período da Idade Média: o riso pertencia às camadas de classe inferior e tinha uma avaliação negativa, o que é essencial na vida não poderia ser cômico. Bakhtin (op. cit.) explana sobre a literatura marginalizada no período da Idade Média, a do baixo ventre e do riso, defendendo que o próprio riso não se transforma ainda completamente em uma ridicularização pura e simples: seu caráter está ainda suficientemente íntegro, ele diz respeito à totalidade do processo vital, os dois pólos e as tonalidades triunfantes do nascimento e da renovação aí ressoam. (BAKHTIN, 1999, p. 55). Vemos, então que o riso aqui significa a afirmação da força vital do homem. Nesse caso, revela-nos uma estética que mostra o desarranjo de um indivíduo com raízes nordestinas. E que expressa um desfazimento de uma negação dele para se chegar à afirmação de que ele é “Um mero número zero, um zé à esquerda”. Visão essa que foi omitida e isolada no período Tropicalista, e representa uma ironia auto-afirmativa. A negação de si marca um lugar de origem, através de expressões lingüísticas estereotipadas pertencentes à cultura nordestina: um caboclo tolo boboca, Um tipo de mico cabeça-oca Raquítico típico jeca-tatu. Os atributos de sentido inferior: “cabeça-oca”, “lesma”, “lerda”, “boboca” sugerem um discurso que nos diz a indolência e a passividade do indivíduo nordestino. Essa seria afirmação de uma identidade nordestina, através da voz do não nordestino, mas da voz que incorpora a voz de auto-rebaixamento, do nordestino, nas primeiras duas estrofes: Pense que eu sou um caboclo tolo boboca Um tipo de mico cabeça-oca Raquítico típico jeca-tatu, Um mero número zero um zé à esquerda Pateta patético lesma lerda Autômato pato panaca jacu Mais adiante, nas estrofes terceira e quarta, pousa uma voz que se opõe à voz do cientista, acadêmico, soando uma provocação aos nomes Tinhorão e Suassuna. O enunciador reagindo, também em defesa aos valores e atributos de caráter inferior da representação nordestina, que se mostra em cabloco, tola, boboca, zé a esquerda: Penso dispenso a mula da sua ótica Ora vá me lamber tradução inter-semiótica. Atribuindo ao olhar da voz primeira, de caráter avaliativo, teórico, intelectualizado e que corrompe a imagem do indivíduo nordestino, uma indiferença e invalidez. Essa mesma voz volta a se pronunciar nas últimas duas estrofes, que reforça mais qualidades estereotipadas do nordestino: Pensa que eu sou um andróide candango doido Algum mamulengo molenga mongo Mero mameluco da cuca lelé Trapo de tripa da tribo dos pele-e-osso Fiapo de carne farrapo grosso Da trupe da reles e rala ralé Tais versos apresentam um ethos da identidade nordestina subestimada. E expressam o riso de si mesmo. Os chamados a Suassuna (help, Suassuna) e a Tinhorão (help, Tinhorão), vêm a ser uma provocação a representantes da cultura nordestina e de valores nacionalisatas. A presença desses dois nomes nesse contexto é significativa por representarem forças que se opuseram a determinados comportamentos tropicalistas: a permissão ao hibridismo cultural, a uma atitude antropofágica diante da música e cultura estrangeira. Ariano Suassuna, secretário de cultura de Recife (desde 1995), é vinculado a projetos de conservação da cultura nordestina. Foi mentor do movimento Armorial, que propunha práticas de incentivo e realizações da produção musical de raízes nordestinas, de cultura popular tradicional. Opõese radicalmente às influências culturais estrangeiras. E integra-se, de certo modo, à ideologia de José Ramos Tinhorão, paulista e estudioso da Música Popular Brasileira, que adota uma postura repulsiva em reação à contaminação de elementos estrangeiros na cultura brasileira. O primeiro tende a um regionalismo favorecido ao Nordeste e o segundo, a um nacionalismo. Tinhorão é contra o posicionamento Tropicalista no que se refere à prática de antropofagizar influências musicais estrangeiras (rock, jazz) e Ariano Suassuna é a favor da conservação da Música Popular Brasileira com base nas raízes unicamente ibéricas. 3. Ser estavelmente paratópico num lugar entre lugares Dialogamos nesse momento com fragmentos verbais e não-verbais que apontam para uma série de instabilidades (afetiva, espacial, rítmico-musical, dentre outras). Idéias que nos fazem pensar em outras duas, que de certo modo, são afins: a condição paratópica, condição que marca o lugar de isolamento parcial de um indivíduo, personagem ou autor; e a idéia de grotesco, a exteriorização de corpos. Ao nosso contaminado olhar é perceptível, em canções significativas, inserções de elementos lingüísticos arranjados que nos sugerem a idéia de instabilidade: um estar presente em movimento, entre um lugar e outro. Consideramos instabilidades os desajustes ou “feridas” que a canção toca. Esses são as fissuras geradas na dinâmica de realidades humanas, política, cultural, histórica e econômica, que guarda em si a força do pensamento patológico, como nos revela Lévi Strauss39: extravasamento de interpretações e de ressonâncias afetivas, com as quais está sempre pronto a sobrecarregar a realidade, que serve de outro modo deficitária (STRAUSS apud WISNIK, 1980, p. 173). O pensamento patológico está para além do pensamento “normal”, da realidade convencionalmente estável que quer negar a instabilidade da vida: os assistemáticos, as influências afetivas sobre as ações, o caos, aspectos que transcendem os universos institucionalizados. 39 Claude Lévi-Strauss, “o feiticeiro e sua magia” in Antropologia estrutural, Rio, Tempo brasiliense, 1970, p. 199. A canção ferida pode ser considerada também como um modo de descanção, por descancionar a vida na canção, sendo incorporada nela doenças ou enfermidades da vida com as quais o homem convive. Designamos “feridas” às doenças, às enfermidades, paradoxalmente, presentes na canção, o caráter de vitalidade por gerarem sempre uma nova canção, e, conseqüentemente vidas nela, mesmo que seja uma vida parasitária, uma condição de vida instável de um indivíduo. Apegamo-nos à idéia de que as feridas, geradoras de instabilidades na canção, constroem a imagem de um compositor que está entre um lugar e um não lugar, diríamos, numa condição paratópica. Ser paratópico diz respeito à própria condição de existência do autor enquanto artista; o seu modo de pertinência no campo artístico é marcado por uma negociação difícil entre o lugar e o não-lugar; de uma localização parasitária, que vive da própria impossibilidade de se estabilizar. (MAINGUENEAU, 2001, p.28) Apresentamos, então, adiante, uma maneira da condição paratópica se realizar na canção, o que caracterizamos também por movimento de instabilidade. Aqui apontamos traços que integram o discurso literomusical do compositor e experienciador, sem necessariamente ou unicamente classificar categoricamente os modos de inserções discursivas: os traços, estratégias ou investimentos discursivos e interdiscursivos, que pressupõem as inserções ética, cenográfica, genérica que estão configuradas na canção. Percebemos que o movimento de instabilidade pode ser integrado à dinâmica do corpo cancional, através do uso de investimentos discursivos na entonação baixa da voz, na performance vocal, na sintaxe lingüística auto afirmativa, no uso de antítese, que apresenta a justaposição de idéias e vozes contrárias, coexistentes na canção. Tais investimentos geram um movimento errante, causando uma impressão de instabilidade. “Tô” 40 Tô bem de baixo pra poder subir Tô bem de cima pra poder cair Tô dividindo pra poder sobrar Desperdiçando pra poder faltar Devagarinho pra poder caber Bem de leve pra não perdoar Tô estudando pra poder ignorar Eu tô aqui comendo pra vomitar Tô te explicando Pra te confundir Tõ te confundindo pra te esclarecer Tô iluminando Pra poder cegar Tô ficando cego, pra poder guiar Devagarinho pra poder rasgar Olho fechado pra te ver melhor Com alegria pra poder chorar Desesperado pra ter paciência Carinhoso pra poder ferir Lentamente pra não atrasar Atrás da vida pra poder morrer Eu tô me despedindo pra poder voltar Diante de sua sonoridade, sentimos uma constância do movimento oscilante, digamos, instável, entre um estar e não estar, um ficar e sair, como se o personagem representado na canção estivesse numa corda bamba, na qual o equilíbrio está na conscientização do desequilíbrio que essa corda gera. A corda de que falamos acreditamos ser ela a dinâmica da vida. A visualização da “corda bamba” oscilante se dá a partir da oposição de idéias coexistentes nesta canção. Imagem que demonstra o modo do indivíduo se posicionar paratopicamente, diante da vida: Tô bem de baixo pra poder subir, To bem de cima pra poder cair Tô dividindo pra poder sobrar, Disperdiçando pra poder faltar Tô te explicando, Pra te confundir, To te confundindo pra te esclarecer, Tô iluminando, Pra poder cegar, To ficando cego, pra poder guiar. A instabilidade de vida de que falamos é representada, desse modo, como um percurso repleto de movimentos “de altos e baixos”, que sugerem tremor, escorrego, levando o personagem incorporado a caminhar para escorregar, a cair e se erguer, prestes a outro escorrego assim e sempre. 40 Zé, Tom. Estudando o samba. 1976. O título da canção nos diz algo significativo, tô, abreviação do verbo estar, conjugado em primeira pessoa do singular, que expressa o sentido de “Eu estou”, no equilíbrio do desequilíbrio. Nessa circunstância, esse verbo denota um estado, um momento da condição do indivíduo. 4. A REINTERPRETAÇÃO OU RELEITURA: O INACABAMENTO OU EFEITOS DE DESCANÇÃO A canção aqui se faz do início ao seu finito inacabamento. Queremos dizer que a música se inicia e não se finaliza, desfaz-se, refaz-se, relê a si mesma. Utilizamos o termo “finito” não como o significado de finalização, de conclusão da música, mas como uma afirmação dela mesma em não expressar um fim. Esse é um dos modos de criação musical recorrente observado em Tom Zé. As músicas são criadas e recriadas, apresentando uma inesgotável produção ou reprodução de si, que nos revela um caráter incessante de reinvenção cancional. Em termos mais precisos, a reinvenção ou re-interpretação na canção se dá quando o cantor utiliza uma mesma melodia em várias canções com arranjos e letras diferentes (ora sim, ora não). Os aspectos que explicitam a retomada de uma única melodia em “diferentes” canções podem localizar-se em todos ou em alguns dos planos: do tratamento vocal, da projeção de timbres, do ritmo, do andamento, da harmonia e da construção verbal. Ouvindo assimilando mais essa maneira de musicar e de se inserir no mundo, dialogamos com Zumthor (1998) sobre o mito da Torre de Babel e o seu inacabamento. O fazer inacabado na música dialoga com a linguagem de um tempo em desordem, de excessos e de uma dada incompreensão. Relacionamos a tal incompreensão ao mito Torre de Babel, que perpassa por várias significações: bíblica, histórica, lingüística e antropológica e por outras que nem sabemos. São inumeráveis as significações em torno do signo Babel. A primeira e fonte, digamos assim, surge da interpretação bíblica, a qual designa a construção de uma torre em Babilônia, lugar onde há confusão infindável de línguas, onde o povo se fala sem se ouvir. Ètiemble (apud Zumthor, 1998, p 21), um dos estudiosos sobre a significação do atributo babel ou babeliano, fala de uma mistura anárquica, de uma colonização lingüística. Abordar esse assunto, segundo o autor, seria refletir sobre as relações entre poder e a língua, os discursos e as mentiras, a comunicação e a opressão, a palavra e a recusa do outro. Num sentido mais literal, Chateaubriand (apud Zumthor, 1998, p 22) define babel como uma construção de dimensões desmedidas na qual se previa vaidade e nocividade. Conforme se percebe pelas afirmações acima, Zumthor (op.cit.) concebe o sentido do lugar “Torre de Babel” como uma idéia de desordem, de uma impossibilidade de uma língua encontrar a si mesma. De outro modo, apresenta duas definições: uma incoerência ou mescla inorgânica, desordem de objetos, de palavras, de idéias, ruídos; e, um edifício alto ou uma ambição excessiva de projeto e de um plano” (ZUMTHOR, 1998, p.22). Tomando uma dessas afirmações e configurando-a ao ambiente sonoro e musical, vemos que se constrói um babelismo na canção de Tom Zé. A canção vista como uma impossibilidade de se finalizar, por afirmar, em outras palavras, a confusão da linguagem musical: arranjos infindáveis de uma canção que gera várias. A desconstrução de uma música em inúmeras versões se multiplica em timbres e vozes. O babelismo é compreendido aqui como uma confusão lingüística, traduzida em um texto inacabado que se refaz ao longo de sua existência. Qual a relação que podemos construir entre a confusão linguageira em torno do mito Torre de Babel e a criação cancional, considerando a produção musical uma obra? Que relação pode haver com o posicionamento Tropicalista, no qual Tom Zé é incluído e excluído? Antes de uma resposta, compartilhamos com Maingueneau (2001, p.101) uma idéia sobre a relação do escritor com a língua e literatura para apreendermos significados da(s) língua(s). Com ele vimos que o escritor41 não é um ourives solitário que se confronta com uma língua compacta. Esclarecenos, desse modo, que a produção de uma obra literária, musical..., dentre outras, não se constrói através de uma língua pura, intacta, ela se faz na interação de múltiplos caminhos lingüísticos, exteriores à língua materna que a integra. Nesse sentindo, o escritor interage no caos de línguas ao escrever sua obra, alimenta-se no plano da interlíngua, entre línguas: passadas, contemporânea ou outra (s), num determinado espaço: Quer se escreva numa única língua ou numa língua estrangeira, o trabalho de escrita sempre consiste em transformar sua língua em língua estrangeira, em convocar uma outra língua. Maneja-se sempre o hiato, a não-coincidência, a clivagem (MAINGUENEAU, 2001, p. 105). Escreve-se no hiato, numa abertura, que permite cruzamentos e encontros de planos fragmentados. A língua na sua fragmentação assume um caráter constitutivo. E no campo musical, dentre tantas linguagens musicais, o escritor cancionista constrói uma língua sobre os cruzamentos de muitas existentes. Tenta ajustar-se num real desajuste lingüístico, construindo, mesmo assim, um código de linguagem peculiar a ele. Percebemos, então, certa afinidade entre Zumthor e Maingueneau, no que diz respeito à natureza das interações entre as línguas. A confusão ou anarquia lingüística injustificável, a mistura entre várias camadas de uma língua e de línguas traduz uma das manifestações musicais de Tom Zé: a do inacabamento da canção. O efeito de inacabamento cancional contradiz uma das finalidades da canção produzida na estética do posicionamento Tropicalista. Ao incorporar influências estrangeiras da música experimental e pop, de gêneros estrangeiros (gêneros derivados do Rock´n´roll a partir dos anos 1960) e 41 O sentido de escritor que apresentamos aqui, refere-se àquele que produz uma obra literária, musical, teatral, cinematográfica, dentre outras. nacionais, servindo-se de elementos eletrônicos e movidos pela filosofia antropofágica de Oswald de Andrade, os tropicalistas pretendiam tornar a canção popular acabada, pronta para ser consumida. Nas canções de Tom Zé, é inegável a afinidade com o Tropicalismo, no modo de compor, que, no entanto, não omite a desafinação ou a relevante diferença do seu trabalho em si: a da construção de um posicionamento paralelo a esse, a canção como descanção ou a canção movida mais por uma vontade de fazer do que por uma vontade de apresentar em moldes canônicos, comercial e publicamente: não era música, era vida. Era a vida na música e não a música na vida. O que faz a canção ser inacabada é o desejo de compôla, de criá-la, de unir vida e música numa só canção que se multiplica: Toda canção quer se multiplicar. Na multidão única se tornar. Simples prazer de ressoar no ar O som da voz canta por nós: cordas vocais, sem cais, cordas ou nós42 A idéia da canção ser interminável sugere um desenho de muitos quadros em um só plano, expressando o caráter de uma multiplicidade singular. Característica comum e contrária à tendência tropicalista Comum porque a canção de caráter tropicalista almeja uma multiplicidade de gêneros musicais, coerente com a idéia de multiplicar uma canção numa mesma melodia em diferentes gêneros. Contrária por que a canção de Tom Zé não tinha metas de atingir ampla popularidade e sim de fazer, de compor, mergulhar no campo da canção ainda por construir. Como já apresentamos antes, Tom Zé utiliza vários recursos ao fazer reinterpretação de si mesmo e de outros43, uma criação de outro arranjo a partir de uma mesma melodia. Mas que efeitos, que sentidos uma reinterpretação pode gerar, além da afirmação do desejo vital na canção que se torna inacabada? Canção Multiplicar-se única do álbum The hips of Tradicion (1992). A canção Felicidade de Tom Jobim – Vinícius de Moraes do álbum Estudando o Samba (1976)”. Aqui há uma reinterpretação dupla: da canção e do gênero musical Samba. 42 43 A reinterpretação pode levar à desconstrução, à deslinearização de um corpo cancional que integra elementos lingüísticos e extralingüísticos, inaugurando novos gêneros. Veremos que modos e que tipos de desconstrução são esses e quais efeitos geram na canção, observando como eles apontam para uma afinação e/ou desafinação em relação ao posicionamento tropicalista. Ao admitirmos a noção de reinterpretação nas canções, partiremos mais adiante para a análise discursiva dos álbuns Jogos de Armar- Faça você mesmo e Com defeito de Fabricação, permitindo a fruição de efeitos de sentidos que a interpretação e a reinterpretação geram. 5. JOGOS PARA DESMONTAR E ARMAR Em detalhes, cabe nesse momento uma breve leitura do encarte do álbum Jogos de Armar, para que seja possível reconstruir um sentido da idéia do fazer sem delimitações. Lembramos que uma leitura discursiva não se restringe à materialidade lingüística verbal. Engloba também outro universo, o da materialidade visual, o da imagem não-verbal que traz seu tema, cores, formas e desenhos referenciando sentidos, atrelados a uma história, a uma sociedade. É a partir de um olhar intersemiótico, o da integração de elementos verbais e não verbais que também construimos sentidos, sendo possível levantarmos pressuposições de valores históricos, culturais, filosóficos e sociológicos. Elementos que integram uma prática discursiva: Assim como o enunciado, também um quadro, o trecho de música... estão submetidos por sua prática discursiva a um certo número de condições que definem sua legitimidade (MAINGUENEAU, 2005, 148). Em diálogo com tais considerações, lemos o encarte do álbum Jogos de armar, faça você mesmo como elemento constitutivo de sentido. Como tal materialidade significa o discurso do fazer sem delimitações ou do “faça você mesmo”, que efeitos geram a configuração da capa do encarte do álbum, a seguir? (capa álbum Jogos de Armar- Faça você mesmo, 1999) O título do álbum Jogos de armar-Faça você mesmo sugere-nos um jogo e um convite ao ouvinte a participar de várias possibilidades de jogos. A partir dos índices explicitados na capa do álbum, como a frase imperativa “Faça você mesmo”, a figura do objeto “dado”, dentre outros elementos que configuram a capa, veremos possíveis relações que se constroem com a idéia de inacabamento e com outras que surgem no decorrer da análise. Diante da imagem apresentada, iniciamos nossa análise pelo título. Inferimos a idéia de música como uma montagem musical em aberto, um jogo que sugere ao hipotético ouvinte formar o seu, criar seu próprio jogo, que é sua música, dando-lhe, assim, uma parcial autonomia de escolha. Essa possibilidade de montagem musical sugerida através da expressão Faça você mesmo traça uma relação interdiscursiva com o discurso do movimento PunK “Do it yourself”, no período da década de 1970. Só que a idéia de jogo pressupõe regras, mas nessa circunstância, não existe uma regra universal a obedecer. Há várias possibilidades de construção de regras, elas aqui se multiplicam, de acordo com a montagem de cada ouvinte-jogador em potência. Observando a capa em seu conjunto, uma simulação de jogo de damas (ou de xadrez, que exige uma atitude lúdica altamente racional e cujos lances são mais imprevisíveis), há em alguns espaços quadrados as imagens de Tom Zé (compositor) e de alguns objetos, que funcionam como instrumentos musicais. Isso nos leva a pensar que ao mesmo instante que se implicita a capacidade de um (ouvinte) fazer seu jogo, sua música (por ele mesmo), há uma retomada ou auto-afirmação da figura de Tom Zé como compositor e criador. A frase em um dos quadrados inferiores, não é um cd duplo44 , leva-nos a perguntar o que se quer dizer com tal negação. Ao escutarmos, vimos que sua inserção não significa integrar um álbum duplo, mas uma continuidade do primeiro, um cd auxiliar que nos revela a desconstrução do cd primeiro (discomãe): o embrião de células musicais que podem ser manejadas, remontadas: um tipo de canção-módulo, aberta a inúmeras versões, receptiva à interferência de amadores ou profissionais, proporcionando jogos de armar nos quais qualquer interessado possa fazer si mesmo: Uma nova versão da música, pela remontagem de suas unidades constituintes, aproveitamenteo de partes do arranjo que foram abandonadas;(...) 45 O cd nos mostra trechos incompletos de músicas, trechos de letra e arranjos aleatórios, ao ponto de tornar visível nuances do processo de Não sabemos exatamente se a negação “não é um cd duplo” é uma mensagem da gravadora ou da própria ideologia do álbum. No entanto, independente do que seja, a frase nos faz questionar tal negação, sendo até um incentivo a instigar o ouvinte a se perguntar que tipo de cd é esse. Desse modo, refletimos sobre a outra possibilidade de álbum composto por dois cds. 45 Relatos de Tom Zé ao contextualizar o álbum Jogos de armar-Faça você mesmo, no próprio encarte. 44 composição e gravação da canção. Esse comportamento não é comum nas gravadoras. O cd auxiliar e sua confirmação no relato exposto acima demonstram aos nossos olhos certa idealização cultivada por Tom Zé: a de romper com o sigilo do processo de gravação de músicos, que as gravadoras mantêm para não haver vazamento ou plágio do “produto” de certos cantores. Acreditamos que isso ocorra em função de um acordo entre empresários da indústria fonográfica que visam apenas a fins lucrativos, sufocando possibilidades de criação do próprio consumidor, seja ele qual for, ou de um músico em potencial. Retomando a idéia de jogo de armar, vimos, paradoxalmente, que o jogo se faz a partir do cd auxiliar, trazendo outras versões das músicas do primeiro, só que “em pedaços”, sugerindo a possibilidade de cada canção ser um refazimento, um “jogo” para se montar, desmontar e remontar. Essas e outras seriam as possibilidades de “armar o jogo”, a canção com fins lúdicos, uma bricadeira do criar interminável. Dialogando ainda com Jogos de armar- Faça você mesmo, vimos dentre outros elementos, que ele traz canções de canções pré-existentes, canções já tocadas em outros álbuns, conservadas nelas a mesma melodia com a inserção de outros arranjos: outras canções abaixo. nuances e tonalidades. Vejamos as Jimi renda-se46 (Tom Zé/ Valdez) Gênero: maracapoeira ARRASTÃO DO FALAR SOFISTICADO Ed. Sonata (Fermata) 70274620 Guta me look mi look love me Tac sutaque destaque tac she Tique butique que tique te gamou Toque-se rock se rock rock me Bob Dica, diga, Jimi renda-se! Cai cigano, cai, camóni bói Jarrangil century fox Galve me a cigarrete Billy Halley Roleiflex Jâni chope chope chope chope Ô Jâni chope chope Ie relê reiê relê Dor e Dor47 Tom Zé Composição: (Tom Zé) Te quero te quero querendo quero bem quero te quero querendo quero bem. Chiclete chiclete, mastigo dor e dor clete chiclete, mastigo dor e dor. Te choro te choro, chuvinha chuviscou. Choro te choro, chuvinha chuviscou. Chamego chamego, me deixa me deixou. Mego chamego, me deixa me deixou. A dor a dor, a dor a dor ... ... ... Mas eu te espero porque o grito dos teus olhos é mais longo que o braço da floresta e aparece atrás dos montes, dos ventos e dos edifícios e o brilho do teu riso é mais quente que o sol do meio-dia e mais e mais e oh oh oh oh oh Mas eu te espero na porta das manhãs porque o grito dos teus olhos é mais e mais e mais e depois que você partiu o mel da vida apodreceu na minha boca apodreceu na minha boca Oh, oh, oh, oh, oh As canções acima têm uma mesma construção melódica, no entanto, um arranjo verbal diferente. Consideramos a primeira, Jimi renda-se um caso de imitação, uma auto-imitação com intuitos subversivos, da canção segunda, dor e dor . Apesar de estarmos considerando a primeira e a segunda numa ordem cronológica (2000 e 1972), isso não significa exatamente dizer que uma surgiu primeiro que a outra, pois não é possível sabermos qual a ordem de surgimento de ambas canções. Talvez nem mesmo o autor saiba, devido às misturas de arranjos e letras que tumultuam seu universo literomusical. 46 47 Do álbum Jogo de Armar, faça você mesmo (2000) Do álbum Se o caso é chorar (1972) Visualmente, um dos índices que nos mostra a desconstrução do arranjo de uma na outra, de dor e dor em Jimi renda-se, é a encenação de um outro código de linguagem estranho ao outro, um outro investimento lingüístico, o qual apela para uma mistura de línguas: ora inglês, ora português, ora a fusão das duas, ora uma ou outra língua a qual nem conhecemos. Iniciando pelo nome da música, “Jimi renda-se” (gênero maracapoeiraarrastão do falar sofisticado), lemos como sendo um convite direcionado à figura do cantor Jimi Hendrix, não à pessoa em si, mas à notável representação e relevância que ele tem para o Rock and Roll na década de 70, além de outros aos quais ele cita: Bob Dylan (Bob Dica), Janis Joplin (Jâni chope), Bill Halley (Billy Halley Roleiflex). Parece tratar, na verdade, de um convite ao afastamento e, paradoxalmente, a uma aproximação: Toque-se rock se rock rock me, Bob Dica, diga, Jimi renda-se! Direcionado a figuras canônicas, a membros representantes do universo do Rock Norte Americano, une, desse modo, uma mistura de ritmos e estilos. Inferimos que as condições de produção da referida canção, momento histórico, circunstância política e musical, referem-se ao período da década de 60-70 (por fazer referência a cantores que tiveram ascensão entre essas décadas). Com relação à postura musical, compreendia o momento recém tropicalista, o qual trilhara uma reconfiguração de gêneros e modos de compor a música brasileira. A voz nos timbres arrastado e humorístico dá à canção um tom irônico e brincante, e a melodia, emprestada de outra canção, dor e dor, expressa bem o ritmo e tom de Rock and Roll. O arranjo em acompanhamento instrumental sugere um arrastão, nomeado maracapoeira, nome que designa uma mistura dos gêneros musicais (maracatu e capoeira) de origem africana. Essa mistura contraria a formação genérica do Rock, que geralmente não usufrui de uma mescla, sendo fiel a suas características rítmica, harmônica e melódica predominantes, e conservando o conjunto básico de instrumentos (guitarra e baixo elétricos, bateria e eventualmente piano, orgão ou teclado elétrônico) . Interpretamos essa canção como um modo de deslinearizar a linguagem do gênero rock, de desconstruir a língua mãe do rock, a Inglesa, e trazer também, a portuguesa ou a distorção das duas (o que gera outras línguas): “Tac sutaque destaque tac she”; ferindo uma convenção lingüística do Rock Norte Americano. O código de língua usado sugere a carnavalização, ou seja, a quebra de uma hierarquia, no caso, a de ordenação e valores lingüísticos, por trazer, libertariamente, a manifestação de várias línguas. A canção “Jimi, Renda-se” incorpora também um caráter carnavalizante por provocar uma quebra de hierarquia sintática e semântica da Língua Portuguesa. E aponta para uma caractérista do posicionamento tropicalista, problematizando o gênero musical Rock. Na outra canção, a “dor e dor,” conserva-se parte de arranjo e melodia enfocando o investimento num discurso amoroso. Observando-a, percebemos o predomínio do investimento no plano lingüístico, o da repetição sonora de várias palavras (te quero, chiclete, chuva) e fonemas: Te quero te quero querendo quero bem quero te quero querendo quero bem. A repetição dos fonemas torna o desejo de querer, expresso pelo enunciador, mais intenso, o desejo atinge a exaustão. O uso em série da palavra chiclete nos faz inferir a ação de mastigar, a de degustar a “dor” do querer, a de usufruir e sentir a dor vivenciada pelo eu que se constrói na canção: Chiclete chiclete, mastigo dor e dor, clete chiclete, mastigo dor e dor. Escutando a melodia, ritmo e batida, ouvimos um diálogo que se cria entre a palavra, seu significado e melodia. Notamos uma imagem que se constrói a partir da ação de “mastigar” um chiclete na canção: o ritmo se fazendo em movimentos contínuos de subidas e descidas, de sim e de não, relacionado analogicamente ao mastigar de chiclete. Consideramos a redundânica dos fragmentos sonoros e fônicos um investimento discursivo que leva à legitimação do discurso amoroso na canção: a exaustão da palavra “querer”, que leva à exaltação e afirmação do afeto. A redundância, dessa maneira, na canção é necessária e significativa, ela amarra e intensifica a mensagem de dor e afeto. Tendo em vista as duas canções paralelas, vemos que cada uma delas é uma outra canção, apesar de partirem de um mesmo ponto melódico. Enquanto “Jimi, Renda-se” se faz através do investimento em um discurso carnavalizante, que dialoga com lugares e posicionamentos (tropicalismo, reinvenção de um código de linguagem), a versão “dor e dor” dedica-se ao plano fônico, à materialidade lingüística que ajuda a construir e a intensificar o sentido da canção, problematizando e reconstruindo traços fônicos sonoros, que de certo modo, também dialogam com o posicionamento tropicalista. Visualizando “Jimi, Renda-se” em outro lugar, integrando o cd auxiliar de “Jogos de armar”, tem-se nele uma outra versão, uma terceira, numa roupagem que traz a quebra de arranjos, podendo ser usados numa nova remontagem ou quarta versão. Com isso e através de outros índices, como o próprio encarte, nomes e “sobrenomes” das canções, esse álbum nos sinaliza uma fonte, a abertura do fazer sem delimitações. Além disso, pontuamos aqui um dos efeitos das releituras de uma mesma melodia em várias canções, que diz respetiro à idéia do inacabado, por ser mais uma remontagem de uma outra, que está se repetindo diferenciadamente. Daremos continuidade, a seguir, no investimento da reinterpretação de si. Há, além dessas duas canções discutidas acima (Jimi renda-se, Dor e Dor), canção que ao contrário dessas, é conservada em parte a materialidade verbal e é recriada a melodia, como: 2. Defeito2: CURIOSIDADE (Álbum Com defeito de fabricação-1998) Tom Zé / Gilberto Assis Quem é que tá botando dinamite Na cabeça do século ? Quem é que tá botando tanto piolho Na cabeça do século ? Quem é que tá botando tanto grilo Na cabeça do século ? Quem é que arranja um travesseiro Pra cabeça do século ? Pra cabeça do século ? Apesar A Babá (Se o caso é chorar - 1972) composição Tom Zé O Rockefeller acusou Branca de Neve, os anões se dividiram, três de sim e três de não, mas um morreu de susto e perguntava, perguntava, perguntava: Mas quem é, quem é, quem é? quem é que agora está cantando um acalanto pra cabeça do século? Ô de marré, de-marré-de-ci Quem é que está fazendo pesadelos na cabeça do século? Ô de marré, de-marré-de-ci Quem é que está passando dinamite na cabeça do século? Ô de marré, de-marré-de-ci Quem é, quem é, quem é? me diga você que sabe datilografia quem é, quem é, quem é? me diga você que estudou filosofia Quem é que agora está fazendo tanto medo na cabeça do século? Ô de marré, de-marré-de-ci E quem é que tá botando piolho na cabeça do século? Ô de marré, de-marré-de-ci Quem é que está passando pimenta na cabeça do século? Ô de marré, de marré de si Quem é, quem é, quem é? Me diga você que sabe datilografia quem é, quem é, quem é me diga você que estudou filosofia Quem é que agora está botando tanto grilo na cabeça do século? Ô de marré, de-marré-de-ci Quem é que empresta um travesseiro pra cabeça do século? Ô de marré, de-marré-de-ci. da extensão verbal de uma ser diferente doutra, as duas conservam um mesmo ponto sensível, com relação à temática: a da curiosidade. As melodias são bem distintas, a auto-reinterpretação aqui marca e constrói um ethos do indivíduo curioso. Uma característica inerente ao homem e, ao mesmo instante, sufocada por certas imposições sociais. Para as perguntas recorrentes “Quem é que tá botando dinamite Na cabeça do século?48”; Quem é que está passando49 dinamite na cabeça do século?”, não há respostas, permanece o incômodo em se saber quem está movendo o século, quem está criando, quem está pensando ou “curiando” numa sociedade que tende a gerar múltiplas circunstâncias que imobilizam o homem, levando-o ao abismo e a abismos banais. O traço da curiosidade se relaciona, em outra instância, à própria imagem e carreira de Tom Zé, representada nas década de 70, 80, 90 e no início do ano 2000, em virtude de sua incessante e explícita vontade de criar uma música, movida por inquietações que visavam traduzir uma verdadeira canção, mesmo sendo esta uma descanção. Nota-se a curiosidade, essa em recriar e discutir a partir de uma desconstrução de valores estéticos e culturais, expressa nos álbuns Estudando o Samba (1976) e Estudando o Pagode (2005). O primeiro trata do pensar no gênero musical Samba e o segundo, no pagode, nesse último há o enfoque no discurso feminino, enfocando como a sociedade ocidental, do ponto de vista masculino, atribui à mulher posturas e valores que se refletem no gênero pagode50. Os dois álbuns, além do segundo ser uma reapropriação do primeiro quanto à idéia de estudar um gênero cancional, há a problematização e reconstrução dos gêneros samba e pagode. Podemos inferir que uma característica predominante no seu trabalho é a de criar e recriar incessantemente. O efeito da reinterpretação de uma canção não mostra, unicamente um novo verso, uma nova melodia, propicia uma recriação que desordena o ouvido, reinventando ritmos, no intuito de Canção “curiosidade” Canção “A Babá” 50 À respeito desses álbuns seria pertinente estender-se mais e mais em discussões quanto à História da Música Brasileira (sobre a formação dos gêneros Samba e Pagode). Mas aqui, infelizmente não foi possível esse debruçar, devido à escolha do corpus. Mas fica uma pendência e algumas sugestões de trabalhos sobre o assunto: A produção do Discurso líteromusical brasileiro de Nelon Barro da Costa(2001); Manguebit: uma dicurividade literomuical guerrilheira, de Francico Talvane Rocha(2006). 48 49 ordenar uma desordem de pensamento sonoro, inaugurando posicionamentos estéticos na canção, tornando-a mais significativa e emancipadora. 6. EMBATES ENTRE POSICIONAMENTOS DISCURSIVOS Partiremos nesse momento para o campo discursivo musical, no qual visualizamos um espaço discursivo ou um ponto de embate entre dois posicionamentos: Bossa Novista e Tropicalista. No campo discursivo há possibilidades de captar espaços discursivos, pontos que podem sinalizar uma relação de confronto, proximidade, neutralidade entre no mínimo dois discursos. As diferentes formações social, política, ideológica e cultural, ou seja, as diferentes formaçôes discursivas do enunciador são movidas por objetivos específicos e podem conviver num mesmo campo discursivo, embora assumam posicionamentos divergentes já que um discurso existe em oposição a outro. A especificação desse espaço ocorreu em virtude de um caminho, de hipóteses que propiciaram nosso mergulho. A hipótese, nesse caso, é a de que o sujeito Tom Zé no lugar de compositor configura uma cenografia que subverte o posicionamento Bossanovista. Conforme a percepção desse espaço revelado através de uma construção musical de uma canção que se aproxima do modo de composição do posicionamento bossanovista, notamos uma semelhança sonora que tende a problematizar a própria concepção desse posicionamento, e simultaneamente, um dos seus ideais, por exemplo, a contemplação da imagem feminina. Antes de analisarmos a canção, cabe, nesse instante, um breve relato sobre o surgimento da Bossa Nova como movimento musical e, em seguida, a exposição das letras das canções que se conectam, para que visualizemos determinadas e significativas relações. Diante de uma multiplicidade e mistura de ritmos e gêneros cancionais como bolero, tango, samba–canção, o movimento musical Bossa Nova surge no fim da década de 50, visando uma estética do mínimo e do detalhe de arranjo. Uma das características é a redução da batida percussiva de marcação do samba, uma batida de violão mais silenciosa e sutil, retratando a delicadeza e intimidade sonora. Esses traços dialogam com o sentido da palavra “bossa”, quer dizer, onda, voga, jeito. Liderada pelos músicos Tom Jobim, João Gilberto e pelo letrista Vinícius de Moraes a Bossa Nova é um movimento intenso para a época do seu surgimento e que teve forte influência do gênero cool Jazz norte americano. É considerado um gênero elitista emergido da classe média carioca. De modo amplo, a composição bossanovista almejou amenizar a polifonia sonora e musical existente naquele período, priorizando o caráter mais intimista e metamusical. Buscando também clarear o ambiente que, até então, convivia com uma mistura de gêneros e ritmos cancionais. Ela propôs uma nova relação éthica com o samba. Lançando o paradoxo bastante interessante: o mínimo na interpretação e o máximo na harmonia. O culto à contemplação da beleza feminina integrava um dos temas bossanovistas. Tomando essa característica temática da Bossa Nova e uma das características do Tropicalismo, a da desconstrução de mitos e imagens consideradas pops, apontamos uma relação entre eles em duas canções, uma de Tom Zé (Brigitte Bardot) e outra, bossanovista, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes (Garota de Ipanema). Garota De Ipanema Brigitte Bardort (álbum Todos os olhos) Tom Jobim Composição: Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes-1962 A Brigitte Bardot está ficando velha, envelheceu antes dos nossos sonhos. Coitada da Brigitte Bardot, que era uma moça bonita, mas ela mesma não podia ser um sonho para nunca envelhecer. A Brigitte Bardot está se desmanchando e os nossos sonhos querem pedir divórcio. Pelo mundo inteiro milhões e milhões de sonhos querem também pedir divórcio e a Brigitte Bardot agora está ficando triste e sozinha. Será que algum rapaz de vinte anos vai telefonar na hora exata em que ela estiver com vontade de se suicidar? Quando a gente era pequeno, pensava que quando crescesse ia ser namorado da Brigitte Bardot, mas a Brigitte Bardot está ficando triste e sozinha A Brigitte Bardot está ficando velha, triste, sozinha, velha e sozinha, ... sozinha, só............ zinha..... ah Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela menina Que vem e que passa Num doce balanço, a caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindoPor causa do amor Através de apropriação de um símbolo pop feminino, a atriz francesa Brigitte Bardot, que representou na década de 60 a exuberância da beleza cinematográfica feminina, sendo considerada pela mídia a mulher mais sedutora para a época, Tom Zé, delicadamente, desmistifica sua imagem intocável, questionando sobre a idealização de sua imagem. Os índices referentes ao plano não-verbal quanto ao modo de arranjo e ritmo explicitam a aproximação existente entre as canções Brigitte Bardot51 e Garota de Ipanema, informação que funda uma relação interdiscursiva entre essas canções. A estética bossanovista revela o tom baixo de voz contemplativa que soa algo intimista, ocasionado pela batida de violão contida. A relação divergente quanto à temática beleza feminina pontuada entre essas canções está na diferença que há no modo de conceber o gênero feminino. Em Brigitte Bardot há o “culto” ao que não é considerado, 51 Tom Zé, Álbum “Todos os olhos”, 1973. classicamente, belo, a velhice: A Brigitte Bardot está ficando velha, envelheceu antes dos nossos sonhos. Coitada da Brigitte Bardot, que era uma moça bonita. Esse aspecto contradiz a imagem que Tom Jobim idealiza em Olha que coisa mais linda, Mais cheia de graça... . Há na canção Brigitte Bardot a subversão de valores, que também remete ao caráter carnavalizante profano: a desconsagração da imagem da atriz Brigitte Bardot. Aí, ela não é mais o símbolo de mulher intocável e dotada de beleza singular como a mídia mostrara na época de sua eclosão. O símbolo feminino aí é desconstruído ou descristalizado. Passa a se contemplar através de ritmo, melodia e harmonia sutis e delicadas a imagem de uma pessoa que passa, naturalmente, por um processo de envelhecimento. Constrói-se nesse espaço a imagem do rebaixamento, da apresentação do “baixo”, o aspecto que, geralmente é omitido pela mídia, a beleza do não belo, do “velho”, do desfazer-se: A Brigitte Bardot está ficando velha, envelheceu antes dos nossos sonhos(...) A Brigitte Bardot está se desmanchando... Essa cena estabelecida pelo enunciador opõe-se à cena veiculada pela mídia e publicidade, a da beleza jovial feminina, através de mecanismos que cristalizam ou retardam o envelhecimento da mulher (produtos cosméticos, cirurgias plásticas). Contrariamente à Brigitte Bardot, em Garota de Ipanema há o olhar de observador e contemplador sobre uma mulher sempre em idade nova e jovial, que representa o símbolo da beleza carioca da praia de Ipanema: Moça do corpo dourado, Do sol de Ipanema, O seu balançado é mais que um poema, É a coisa mais linda que eu já vi passar. Embora haja a oposição entre as canções no que se refere à idealização da mulher, há um certo grau de semelhança, como vimos, entre a batida de instrumentos e gênero musical nas duas canções. Essa semelhança instaura uma diferença: a da iconoclastia do arranjo de Brigitte Bardort (enganosamente bossanovista) não em oposição ao arranjo da outra, Garota de Ipanema, mas uma iconoclastia em confronto com o posicionamento Bossa Nova. Esse momento se dá com o rompimento do arranjo num instante da canção Brigitte Bardot, no qual é perceptível um crescimento da massa sonora com relação ao plano melódico: o aumento de volume, intensidade na harmonia e mais a chegada de outros instrumentos que dão mais corpo à canção: Será que algum rapaz de vinte anos vai telefonar na hora exata em que ela estiver com vontade de se suicidar? //////////52 A inclusão desses instrumentos e a intensificação de alguns timbres e volumes nessa passagem rompem com a estética bossanovista, a da canção canônica: a canção no seu “silêncio” sonoro de voz, corda e de percussão, a decantação ou depuração de voz e cordas que visava a consisão e economia estética. O efeito da “imprevisão” na passagem dos versos acima é a reverberação e a exaltação de uma descanção. A canção na sua economia de oscilações vocais, rítmica, melódica e harmônica torna a audição “pura” com ampliação emotiva e lírica. A eliminação de execessos de instrumentos e volumes vocais era uma ação básicas para a composição cancional, no intuito de se ouvir minuciosamente uma essência musical. A maneira “bossanovista” cantada por Tom Zé em Brigitte Bardot provoca, de certo modo, o rompimento com o formato canônico bossanovista. A “Garota de Ipanema” torna-se o ápice da canção por obedecer ao cânone do posicionamento Bossanovista, enquanto que a canção “Brigitte Bardot” torna-se a ascensão da descanção por subverter esse cânone. A cenografia configurada na canção “Briggite Bardot” é validada pela retomada do posicionamento bossanovista, sendo, simultaneamente o mesmo desqualificado. Essa cenografia se legitima através do seu antiespelho, do seu contraste, ou seja, da incorporação do seu opositor para afirmar sua oposição a ele. 52 Esses traços significam o aumento do volume de massa sonora ocorrido na canção. Então, nota-se que o modo do compositor discordar de uma linha de pensamento cancional, reveladora de um posicionamento, é perfurando-a, desfazendo-se de uma estética através da apropriação dela mesma. Nessas condições é necessário afirmar-se bossanosvista para também negar-se bossanovista ou, quem sabe, refazer-se bossanovista. 7. A CONSTRUÇÃO DE CENOGRAFIAS NA CANÇÃO: DA CIDADE LONGÍNQUA PARA UMA GRANDE CIDADE Movimentos de ida e vinda: do campo para a cidade, da cidade para o campo. Vamos nos ocupar nesse momento em discutir configurações cenográficas características em uma quantidade significativa de canções. Introduziremos a idéia de cidade, para discutirmos a cenografia do caminhar em e entre espaços citadinos traçados nas canções. O caminhar insere-se na cidade, como a cidade no caminhar. A ação e o espaço se interpenetram ao olhar do homem viajante. Mas qual ou quais cidade (s) se configura (m) na canção? Que relação pode haver entre a cidade, a vida e posições literodiscursivas? Que referências traz o sujeito ou o personagem construído na canção ao lê e caminhar pela (s) cidade (s), que sentidos traz a cidade? São essas e possíveis outras indagações aqui presentes. A inscrição da letra num dado suporte desenha uma topografia e uma cronografia. Ou seja, a palavra no espaço e no tempo se integra na enunciação. Assim como alguém lê um livro, um filme e constrói determinados sentidos a respeito, também se pode ler a cidade, que traz, mostra possibilidades de sentir, de dizer e de não dizer. As vias são inúmeras e seguem caminhos singulares. A cidade em transe é o constante movimento. A cidade incorpora corpos, o corpo incorpora a cidade. A cidade e o corpo num só corpo. Ela se define por suas porções diferenciadas com relação às pessoas, lugares, atividades de trabalho, de cultura, história e economia. Olhar para a cidade é habitar várias possibilidades de lugares nela existentes. É estar em contínua alteração de natureza geográfica, física e humana. É se permitir a entrar em vias desconhecidas. Essa cidade tende a uma diluição de uma tradição já esquecida, vive da tradição da não tradição. Um dos fatores que levam à não tradição é a tecnologia, a modernização geográfica, dentre outros aspectos que omitem e apagam lugares pré-existentes. Mas que efeitos e sentidos a cidade traz, além de sua visão arquitetônica em constante transformação? Como a cenografia da cidade se constrói na canção de Tom Zé? Como o sujeito enunciador, personagem desenha a idéia de cidade na canção? As formas da cidade são as topografias, nas quais diversos grupos se divergem e se convergem nelas, considerando as heterogeneidades econômica e cultural, referenciadas em diversas linguagens (televisiva, cinematográfica, literária e literomusical). Retratar a cidade no ambiente literomusical de Tom Zé é voltar ao lugar da não cidade, ao campo, é observar modos de migração do campo para a cidade. Os sentimentos de dor, sacrifício e emancipação convivem juntos quando se busca a cidade. O sujeito da canção une angústia e alegria ao migrar do campo para a cidade. É o que se percebe na canção abaixo: Menina Jesus53 Valei-me minha menina Jesus, minha menina Jesus, minha menina Jesus, valei-me. Só volto lá a passeio, no gozo do meu recreio 53 Álbum Estação do Brás (1978) tocar. renda, Só volto lá quando puder comprar uns óculos escuros. Com um relógio de pulso Que marque hora e segundo, um rádio de pilha novo, cantando coisas do mundo - pra Lá no jardim da cidade, zombando dos acanhados, dando inveja nos barbados e suspiros nas mocinhas.... Porque pra plantar feijão, eu não volto mais pra lá, eu quero é ser Cinderela, cantar na televisão.... Botar filho no colégio, dar picolé na merenda, viver bem civilizado, pagar imposto de Ser eleitor registrado, ter geladeira e TV, carteira do Ministério, ter cic, ter rg. Bença, mãe. Deus te faça feliz, minha menina Jesus e te leve pra casa em paz. Eu fico aqui carregando o peso da minha cruz no meio dos automóveis, mas Vai, viaja, foge daqui que a felicidade vai atacar pela televisão E vai felicitar, felicitar, felicitar, felicitar até ninguém mais respirar. Acode minha menina Jesus, minha menina Jesus, minha menina Jesus, acode. Nessa canção o compositor se apropria de uma representação bíblica ao nomear a canção de “Menina Jesus”, opção que vai desenhando o caráter de sacrifício revelado ao longo dos primeiros versos, através da expressão “valei-me”: Valei-me minha menina Jesus, minha menina Jesus, minha menina Jesus, valei-me. O uso do código lingüístico “valei-me” mostra-nos a invocação, um pedido de proteção divina a um acontecimento, a alguém que está prestes a sofrer. Esse pedido é explicitamente direcionado à menina que migra de sua cidade natal (possivelmente do nordeste por ser mostrar um código lingüístico que apresenta expressões como valei-me, acode, bença, plantar feijão) para uma cidade, economicamente mais desenvolvida. Vários elementos compõem uma cenografia ou situação de enunciação e apontam para cenários diversos, validados (já afirmados no universo de saber e de valores concebidos social e culturalmente): índices de códigos lingüísticos, indicativos paratextuais (um título, um comentário)54, que apontam para espaços e lugares. Tateando o álbum ao qual pertence à canção em análise, vimos um índice que nos revela um lugar através do título: “Correio da Estação do Brás”. Sendo Brás um bairro situado na região central de São Paulo, considerado o No caso de canções os índices paratextuais podem ser: o nome da canção, o título do álbum ao qual pertence à canção, comentários que antecedem alguma canção. 54 lugar de imigrantes italianos e migrantes nordestinos. Lá é o lugar de operários e comerciantes, ditos “sacoleiros”. Lugar onde se instaura o comércio diário. Através desses índices, é pertinente haver uma relação entre São Paulo interior do Nordeste. Observando a representação dos objetos de consumo enunciados: “óculos escuros”, “relógio de pulso”, “rádio de pilha novo”, nos os consideramos elementos que inferem o lugar de movimento e urbanidade, de modernidade, característicos da cidade que usufruem do comércio, informações que, hipoteticamente, retomam o lugar “Estação do Brás” que é explicitado já no título do álbum. Só volto lá a passeio, no gozo do meu recreio Só volto lá quando puder comprar uns óculos escuros. Com um relógio de pulso Que marque hora e segundo, um rádio de pilha novo, cantando coisas do mundo - pra tocar. Lá no jardim da cidade, zombando dos acanhados, dando inveja nos barbados e suspiros nas mocinhas (...) A cenografia constituída denota o lugar da cidade grande, de comércio. A personagem “menina Jesus” representa o indivíduo nordestino e revela-nos seu desejo de sair do campo: em busca da cidade: Porque pra plantar feijão, eu não volto mais pra lá, eu quero é ser Cinderela, cantar na televisão (...). A cidade como promessa de vida, de encontro com a civilização, na conquista de ser um cidadão: Botar filho no colégio, dar picolé na merenda, viver bem civilizado, pagar imposto de renda’..... Ser eleitor registrado, ter geladeira e TV, carteira do Ministério, ter cic, ter rg. O movimento se faz do campo para a cidade, realizando-se numa viagem que promete mudança de vida em vários sentidos: material, geográfico, cultural. Em circunstâncias outras é possível também pensarmos o porquê do protagonista gênero feminino, informação que nos remete à condição da criança desamparada e prostituída que, ao fugir de casa, vislumbra melhores condições ambientes para viver, submetendo-se à anulação de sua infância e à comercialização do próprio corpo. Essa atitude é tomada devido às condições insuficientes oferecidas pelos governos. Há mais cenografias de cidade constituída em outras canções, ainda compartilhadas no álbum Correio da Estação do Brás, índice que mostra o quanto a cidade São Paulo assume uma centralidade para o nordestino. Como observaremos, a seguir, nas canções intituladas “Correio da Estação do Brás”, “Amor de estrada”, “Carta” e “Augusta, Angélica e Consolação”: I. CORREIO DA ESTAÇÃO DO BRÁS (TomZé) (Revisada como "Feira de Santana") Eu viajo segunda-feira, Feira de Santana, quem quiser mandar recado remeter pacote , uma carta cativante, a rua numerada, o nome maiusculoso, pra evitar engano ou então que o destino, se destrave longe.Meticuloso, meu prazer não tem medida, chegue aqui na quinta-feira antes da partida.Me dê seu nome pra no caso de o destinatário ter morrido ou se mudado, eu não ficar avexado, e possa trazer de volta o que lá fica sem dono. nem chegando nem voltando ficando sem ter pousada como uma alma penada. De forma que não achando o seu prezado parente eu volto em cima do rastro na semana reticente, devolvo seu envelope intacto, certo e fechado. odeio disse-me-disse condeno a bisbilhotice. Se se der o sucedido me aguarde aqui no piso, pois voltando com a resposta, notícia, carta ou pacote , -- ou até lhe devolvendo o desencontro choroso da missão desincumprida estarei aqui na certa sete domingos seguidos a partir do mês em frente. Palavra de homem racha mas não volta diferente. A canção “Correio da Estação do Brás” nos apresenta uma marca que explicita a topografia, o espaço ao qual remete a canção, mais uma vez ao bairro comercial paulistano, o Brás, onde se instaura grande parcela de migrantes nordestinos. Aqui há o diálogo entre a feira que ocorre na cidade “Feira de Santana”55, região norte da Bahia, e entre outra, provavelmente a que se destina alguns baianos, ao centro comercial Estação do Brás. O sujeito enunciador representado na canção é um viajante comerciante que envia encomendas e recados a parentes que estão fora da cidade baiana e parti de uma feira para outra: Eu viajo segunda-feira, Feira de Santana, quem quiser mandar recado. remeter pacote , uma carta cativante, a rua numerada (...) 7.1 A CENOGRAFIA DA CIDADE INTERIOR: A ESTRADA DA LONGA IDA A idéia de cidade que concebemos aqui não é a cidade no seu sentido urbano, econômico e habitacional, tal como apresentamos no item anterior. Notamos que cenografia aqui configura a cidade de interiores. Os interiores de que falamos representam através do enunciador e das possibilidades semânticas embutidas na materialidade lingüística a cidade das sensações, das perturbações e do caos. Como nos suscitam as canções Amor de estrada. Essa cidade concentra fronteiras que facilitam o acesso de quem vem do sul, Centro-oeste. De acordo com dados históricos ela se encontra num dos principais entroncamentos de rodovias do Nordeste brasileiro, funcionando como ponto de passagem para o tráfego que vem do Sul e do Centro Oeste e se dirige para Salvador (Bahia) e outras cidades nordestinas, sendo considerada a "porta de entrada" para o Sertão do estado. 55 II. AMOR DE ESTRADA (Tom Zé - Washington Oliveto) Vou dirigindo solitário pela estrada mas te levo na lembrança meu amor o caminhão amigo chora na subida fiel a minha dor coro - Voy dirigiendo solitario pur la ruta pero llevando mio recuerdo a mi amor mi camion amigo llora en la subida fiel a mi dolor solo - Encontrar-te foi bom o teu corpo é tão perfeito que para descrevê-lo um poema não daria coro - Então é uma carroceria solo - Com outras não te trairei e na estrada não darei carona pra mulher vadia , coro -Isto até ao meio-dia solo - Seu guarda me desculpe ultrapassei oitenta beijos se multar os lábios dela vai multar os meus desejos coro - Ela te quebrou dois eixos solo - Vou pra perto de ti se de noite estou cansado clareando minha estrada teu olhar iluminado coro - É um farol desregulado solo - Vou dirigindo... coro - Voy dirigiendo... solo - Vou caminhando meu caminho, meu longo caminho: meu caminhão. coro - Voy caminando, mi camino mi gran camino, III. CARTA (Tom Zé) Eu preciso mandar notícia pro coração de meu amor me cozinhar pro coração de meu amor me refazer me sonhar me ninar me comer me cozinhar como um peru bem gordo me cozinhar como um anum-tesoura um bezerro santo uma nota triste. Me cozinhar como um canário morto me cozinhar como um garrote arrepiado um pato den´d´água um saqué polaca. Eu escrevo minha carta num papel decente quem se sente quem se sente com saudade não economiza nem à guisa nem dor nem sentimento que dirá papel o anel o anel do pensamento vale um tesouro é besouro é besouro renitente cuja serventia já batia já batia na gaiola e no envelope e no golpe e no golpe da distância andei 200 léguas minha égua minha égua esquipava, o peito me doía quando ia quando ia na lembrança vinha na saudade. A canção “Amor de estrada” constrói a cenografia do deserto habitado por vários eus, no percurso do ir. Visualiza-se a topografia de estrada, do caminhar em passos longos, usando pés de caminhão. Percebemos a construção de uma cenografia campestre, um lugar de deserto: Vou dirigindo solitário pela estrada (...); o caminhão amigo chora na subida. O enunciador parece trilhar um caminho desconhecido, priorizando vivenciar o processo de viagem, atribuindo relevância ao movimento de ida, da subida e de, simplesmente, ir, livremente, para um lugar não identificado, em direção da cidade desconhecida: Vou caminhando meu caminho, meu longo caminho: meu caminhão. É através do caminhar sem a previsão de um caminho, a não ser do caminho meu caminho, que há possibilidades quase infinitas de experiências que podem ocorrer durante o percurso dessa viagem. Aí é desenhada a cenografia da cidade da solidão que, ao mesmo instante é habitada pelas impressões que a estrada causa. O apego ao signo caminho leva a exaustão do caminho, que sustenta outros sentidos: o do caminho longo, do caminhão automóvel. A outra canção ao lado direito da Amor de estrada, a carta56 constrói a cidade da saudade e solidão, a relação afetuosa entre duas pessoas e cujo contato próximo foi interrompido por uma hipotética viagem. Quem enuncia, fala de um lugar longínquo, há uma distância entre os interlocutores, que é explicitada pelos versos: Eu preciso mandar notícia pro coração de meu amor me cozinhar. Notamos a configuração da cenografia de solidão e da auto-tortura amorosa gerada por uma saída, um afastamento entre os personagens. Há a construção da cidade solidão tumultuada pela urbanização do caos interior, das lembranças, do desejo, do sentir e não ter. Essa canção foi analisada em momento anterior numa outra versão com ênfase em traços de performance vocal e grotesca, nas páginas 46-48 56 7.2 A CIDADE DA GRANDE CIDADE: CENOGRAFIA SÃO PAULO Ao analisarmos a próxima canção “Augusta, Angélica e Consolação”, utilizamos referências de dados históricos e geográficos para uma significativa construção cenográfica. Através dos dados biográficos, da história de sua carreira musical apresentados ao longo desse trabalho e dos índices lingüísticos da canção, interpretamos os três nomes próprios dessa canção como cada um sendo uma via da cidade de São Paulo. IV. AUGUSTA, ANGÉLICA E CONSOLAÇÃO Augusta, graças a Deus, graças a Deus, entre você e a Angélica eu encontrei a Consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Augusta, que saudade, você era vaidosa, que saudade, e gastava o meu dinheiro, que saudade, com roupas importadas e outras bobagens. Angélica, que maldade, você sempre me deu bolo, que maldade, e até andava com a roupa, que maldade, cheirando a consultório médico, Angélica. Quando eu vi que o Largo dos Aflitos não era bastante largo ora caber minha aflição, eu fui morar na Estação da Luz, porque estava tudo escuro dentro do meu coração A Rua Augusta retrata o ambiente de glamour e de diversão no período da década de 60, ápice da ditadura militar. Mas já na década de 70 aos pouco foi decaindo a harmonia festiva desse lugar, em virtude do intenso tráfego de automóveis, ônibus e do surgimento de galerias comerciais. Agora restou a saudade e o silêncio frente aos ruídos comerciais e automobilísticos que existem. Recordação e saudade desse tempo são o que há em versos cantados: Augusta, que saudade, você era vaidosa, que saudade, e gastava o meu dinheiro, que saudade, com roupas importadas e outras bobagens. Entre as vias Angélica e Augusta, há a Rua Consolação. Mais uma via paulistana que ligava a cidade à estrada do Interior de Sorocaba, uma das estradas mais transitadas, a partir do séc. XVI, havia sido um dos caminhos do sertão, por onde passavam viajantes, sertanejos e colonizadores. Lá se concentrava a grande feira de Sorocaba e onde foi construída a Igreja Nossa Senhora da Consolação, no séc. XIX. Na igreja havia uma capela que abrigava e acolhia viajantes, sertanejos. Esse breve relato histórico nos faz observar o valor humano que possui a Rua Consolação, um lugar de acolhimento, que confortava pessoas humildes do sertão e viajantes em busca do trabalho e da sobrevivência. Tais informações nos levam a reafirmar São Paulo, em especial a Rua Consolação, como o lugar no qual Tom Zé encontra a si mesmo, os versos a seguir nos infere esse encontro: Augusta, graças a Deus, graças a Deus, entre você e a Angélica eu encontrei a Consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. 8. APENAS UMA TENTATIVA DE CONCLUSÃO Nosso trabalho teve o intuito de caracterizar uma parcela significativa da produção literomusical do compositor baiano Tom Zé. Apropriamos-nos de alguns fundamentos da Análise do Discurso de linha francesa de Maingueneau e de idéias de outros pensadores (Bakhtin, Wisnik, Pignatari, Zumthor), que de certo modo, contribuíram para a expansão de significados literodiscursivos. Enfocamos como seu discurso é construído, que investimentos discursivos se fazem na canção, ou seja, que gestos, códigos de linguagem, etos (maneiras de habitar o mundo) e cenas geradas, posicionamentos. Apontamos efeitos de sentidos propiciados por esses investimentos. Ao longo do trabalho podemos concluir que a canção de Tom Zé se constitui de extremos, parte de ações iconoclasta, desconstrutora, subversiva à ação construtiva, paradoxalmente, falando. Parte significativa de sua produção musical realiza-se através da desconstrução de gêneros musicais (bossa nova, samba, pagode, dentre outros), ação que cria outras versões de construção e uma re-construção genérica cancional de si e do outro. Questionando, dessa maneira e implicitamente, valores e convenções introduzidos e retroalimentados pela indústria fonográfica, referente a um código apriorístico da linguagem musical. Tom Zé, ocupando o lugar de compositor, assume um ethos de “militante” musical. Um ethos subversivo, descancional por promover o desfazimento de imagens consagradas pela mídia e pela sociedade: o estereótipo do homem “maquinado” e de indivíduos moldados, midiaticamente, numa falsa beleza inatingível. Investimento que nos demonstra ainda intensa ligação com o posicionamento tropicalista, e para além disso, mantém vivo o pensar no indivíduo como um ser que está sujeito aos acidentes e irregularidade necessárias. Visão essa que se refere à irregularidade ou à instabilidade comportamental humana discutida na canção “Tô” e que traduz e afirma o caráter heterogêneo, não-linear e flexível de se criar uma canção, insenta de imposições promovidas pela indústria fonográfica. O traço do modo de fazer “descanção” nos revela uma dicotomia: de um lado, a aliança entre distintos posicionamentos estéticos musicais (Rock, Samba, Pagode, Bossa Nova) e de outro, a uma idiossincrasia dos mesmos, conforme percebemos na canção Jime renda-se. O investimento no código lingüístico que aponta para a tradição e cultura nordestinas marca o lugar da individualidade e coletividade dessa cultura, como uma resposta às vozes que a submestimam. Outros investimentos, tais como o uso da “deformação”, a ruptura de hierarquia lingüística (sintática, morfológica e semântica) e genérica cancional contribuem para a condição paratópica e instável do compositor. Os investimentos discursivos observados geraram significados como a idéia de canção inacabada, a canção como um processo infinito de releituras construtoras, a partir da autotextualidade e de heterogeneidades. Ao contrário do que nos impõe a indústria fonográfica, a da canção como um produto intacto, cristalizado. A cenografia desenhada remete em vários momentos à cidade São Paulo, à migração do nordestino do campo para a cidade como um lugar de vivência, de sobrevivência e de táticas de composição. Sugerindo-nos questões em torno da condição da mulher e da cultura nordestina em contraste com a cultura sulista. A outra cenografia percebida remete à cidade do interior de si, que leva a construção de vários lugares interior ao homem, gerando a saída do homem para dentro de si. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BAKHTIN, M. “Os gêneros do discurso”. In. ______ Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 227-326. ______. Mikhail. (VOLOCHÍNOV). Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Anablume, 1997. ______. Mikhail. Questões de Literatura e de Estética. A teoria do Romance. São Paulo: Editora UNESP, 1993. ______. Mikhail. Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento. O Contexto de François Rabelais. São Paulo: Hucitec, 4ed, 1999. ______. Mikhail. Problemas da Poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2 ed, 1997. BRAIT, Beth. Bakhtin, dialogismo e construção do sentido. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1997. CALADO, Carlos. Tropicália, a história de uma revolução musical. São Paulo: Editora 34, 4. ed,1997 . CAMPOS, Augusto de. Balanço da Bossa e outras bossas. São Paulo: Perspectiva, 1993. CHARAUDEAU, Patrick e MAINGUENEAU, Dominique. Dicionário de análise do Discurso. São Paulo: Contexto, 2004. COHEN, R. Performance como Linguagem. São Paulo: Perspectiva, 2004. COSTA, Nelson Barros da. A Produção do Discurso Lítero-Musical Brasileiro. São Paulo: Tese de doutorado, 2001. DOURADO, Autran Henrique. Dicionário de termos e expressões da música. São Paulo: Editora 34, 2004. FARACO,Carlos Alberto. Linguagem & Diálogo. As idéias lingüísticas do círculo de Bakhtin.Curitiba:Criar,2003. FAVARETTO, Celso. Tropicália - alegoria, alegria. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000. MAINGUENEAU, Dominique. Gênese dos Discursos. Curitiba: Criar, 2005 ______. Análise de Textos de Comunicação. São Paulo: Cortez, 2001. ______. O contexto da obra literária. São Paulo: Martins Fontes, 2001. ______. Novas Tendências em Análise do Discurso. Campinas: Pontes, 1997. ORLANDI, P. Eni. Cidade dos Sentidos. Campinas: Pontes, 2004. PIGNATARI, Décio. O que é comunicação poética. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004. _____. Informação, Linguagem, Comunicação. São Paulo: Cultrix, 1997. Rocha, Frâncico Talvanes. Manguebit: uma discursividade literomusical guerrilheira. Fortaleza: Programa de Pó-graduação em Lingüística da UFC, Dissertação de Mestrado, 2006. SANCHES, Pedro Alexandre. Tropicalismo: decadência bonita do samba. São Paulo: Boitempo Editora, 2000. WISNIK, José Miguel. Dança dramática (poesia/música brasileira). São Paulo: Tese de doutorado, 1980. WISNIK, José Miguel. O som e o sentido. Uma outra história das músicas. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. ZÉ, Tom. Tropicalista Lenta Luta. São Paulo: Publifolha, 2003. ZUMTHOR, Paul. A Letra e a Voz. A “Literatura Medieval”. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. ______. Babel ou Inacabamento. Uma reflexão sobre o mito de Babel. Lisboa: Bizâncio, 1998. REFERÊNCIA DOS ÁLBUNS ESCUTADOS: Zé, Tom. Estudando o Pagode. 2005. Zé, Tom. Imprensa Cantada. Trama, 2003. Zé, Tom . Jogos de Armar- Faça você mesmo. Trama, 2002 Zé, Tom. Série dois Momentos Vol. 15 (Relançamento do Cd Estudando o Samba, 1975, e de O Correio da Estação do Brás, 1978). Continental, 2000. Zé, Tom. Série dois Momentos Vol. 14 (Relançamento em cd de Estudando o Samba, 1972, e de Todos os olhos, 1973). Continental, 2000. Zé, Tom. Com defeito de fabricação. Luaka Bop/WEA, 1998. Trama, 1999. Zé, Tom. No Jardim da Política(ao vivo em 1984 no Teatro Lira Paulistana) – Independente, 1998. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS PESQUISADOS: www.tomze.com.br http://anarquiapunk.br.tripod.com/anarquiapunk/id1.html http://pedroalexandresanches.blogspot.com/2005/05/t www.tramamusic.com.br www.academia.org.br http://www.estacoesferroviarias.com.br/b/brazcubas.htm www.sampa.art.br/saopaulo/estacaobraz. www.feiradesantana.ba.gov.br http://pt.wikipedia.org/wiki/Feira_de_Santana http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u53419.shtml sobre koellrroutter, em 10 09 de 2006. http://pt.wikipedia.org/wiki/Hans-Joachim_Koellreutter em 10 do 9, 2 006 http://old.gilbertogil.com.br/smetak/takaug.htm http://pt.wikipedia.org/wiki/Anton_Walter_Smetak
Download