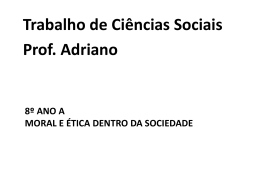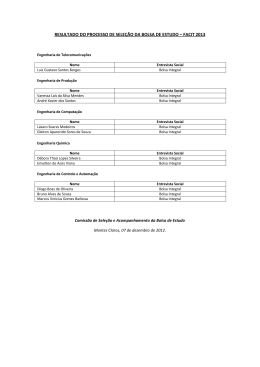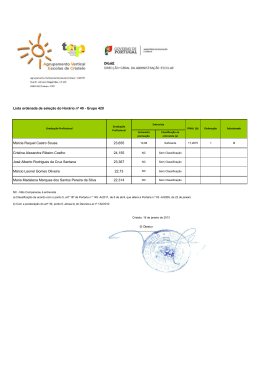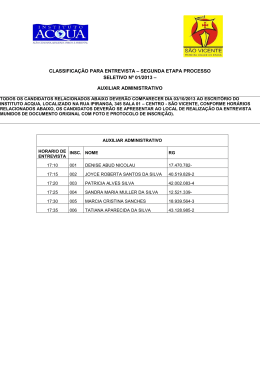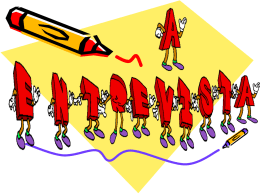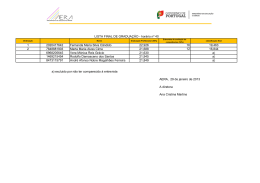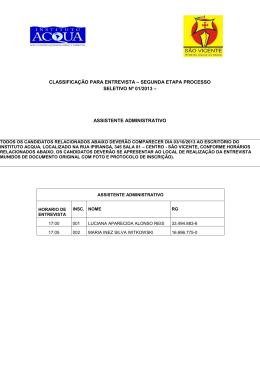9 1. ADOÇÃO E FAMÍLIA A palavra adoção vem do latim adoptione, que significa “considerar, olhar para, escolher” (Weber, 1999, p.100). A literatura indica que a adoção vem sendo praticada desde os tempos mais remotos, não sendo, portanto, um traço característico das modernas estruturas sociais. Apesar de pais e filhos adotivos existirem há muito tempo, o tema “adoção” foi sempre um pouco obscuro, visto geralmente como uma questão da intimidade da família (Weber, 1999). Segundo Gomide (1999) a adoção foi tratada tradicionalmente no bojo da filantropia e da assistência social, e até pouco tempo raros eram os estudos sistemáticos sobre o assunto, o que, de acordo com Weber (1999), trouxe como conseqüência a generalização de casos dramáticos e a formação de preconceitos e estereótipos. A literatura internacional sobre adoção começou a se expandir principalmente na década de 1980, quando houve a divulgação de uma série de obras sobre o tema nas áreas de psicologia e psicanálise. A partir da década de 1990 começou a ser produzida também uma literatura nacional sobre adoção, tendo sido discutida e debatida entre técnicos, assistentes sociais, psicólogos e pais adotivos (Abreu, 2002). Atualmente percebe-se uma crescente produção nacional e internacional sobre o tema, com a sistematização de dados obtidos através de pesquisas e experiências profissionais, tendo como foco diferentes aspectos do processo adotivo. 1.1. Adoção: um pouco de história A adoção vem tendo diferentes significados, características e objetivos ao longo da história e em diferentes culturas. O mais antigo conjunto de leis sobre a adoção conhecido está registrado no Código de Hammurabi (1728-1686 a.C.), e reflete a sociedade mesopotâmica do II milênio a.C. Esse Código autorizava uma mulher estéril a cuidar dos filhos nascidos de seu marido com outra mulher escolhida por ela (Cole e Donley, 1990, citados por Weber, 2001). Na Grécia e na Roma antigas a adoção era um instrumento de poder familiar. Como a herança só podia ser deixada para um descendente direto, aqueles que não tivessem filhos poderiam adotar, de modo que o adotado tornava-se um filho legítimo. Assim, a adoção era uma forma de dar ao chefe de família a possibilidade de escolher um sucessor, sendo um último recurso para a família escapar da extinção e perpetuar sua linhagem (Abreu, 2002). 10 Nessa época a adoção também tinha como objetivo atender a um princípio religioso. Gregos e romanos acreditavam que os mortos exerciam uma grande influência sobre os vivos, e para que as relações entre mortos e vivos pudessem ocorrer de maneira conveniente, era realizado pelo chefe de família um culto aos ancestrais. E como apenas os homens podiam realizar esse culto, a adoção permitia que a família de um homem sem descendência masculina pudesse perpetuar as homenagens aos que haviam partido (Abreu, 2002). Por meio da adoção era possível ainda criar um laço de parentesco entre um pai e seus filhos ilegítimos, e também possibilitar a ascensão de um indivíduo a uma posição social superior, como, por exemplo, um plebeu tornar-se patrício (Robert, 1989, citado por Weber, 2001). A adoção realizada com objetivos políticos também era muito comum na antigüidade. A adoção permitia que um homem adquirisse a condição de pai de família, exigida por lei, para ocupação de cargos públicos, e era também uma forma de continuar a tradição política de uma família. Na história de Roma a adoção teve um papel importante na formação de dinastias governantes, pois muitos imperadores e governantes romanos foram adotados ou adotaram (Veyne, 1990; Fulchiron e Murat, 1988; citados por Weber, 2001). No direito romano, base inspiradora do direito ocidental, havia três tipos de adoção: a adrogatio, a adoptio, e a adoção por testamento. Através da adrogatio um chefe de família podia adotar uma família inteira, de modo que o adotado (adrogado) entrava com toda a sua família para a família do adotante (ad-rogante). Essa forma de adoção era um ato de direito público, e mexia com a estrutura da sociedade, pois além de extinguir famílias, ela permitia um ganho de poder dentro da comunidade por parte de quem adotava. Para que a adrogatio acontecesse o adrogante não podia ter filhos, e nem ser capaz de gerá-los, e era realizada uma audiência pública, sendo necessário haver o consentimento do ad-rogante, do adrogado e do povo (Abreu, 2002). A adoptio era um ato de direito privado, e tinha bem menos importância política, econômica e religiosa que a adrogatio, pois apenas o adotado era submetido ao pátrio poder do adotante, ficando a família do adotado desvinculada do ato. Através da adoptio um homem podia adotar meninos ou meninas, de mesma nacionalidade ou estrangeiros, por meio de escritura em tabelionato, sendo a transação realizada entre o pai biológico e o adotante, sem necessidade de 11 participação e concordância popular. A única condição era que o adotante tinha que ser pelo menos 18 anos mais velho que o adotado. Essa forma de adoção objetivava encontrar pessoas capazes de continuar o nome da família, perpetuar o culto aos ancestrais, ou então dar uma criança a um casal sem filhos (Abreu, 2002). Segundo Abreu (2002) não se sabe ao certo como funcionava a adoção por testamento, mas um exemplo desse tipo de adoção é o fato de Júlio César ter adotado Otávio através de seu testamento, conferindo-lhe o uso do nome e o privilégio de ser filho de César. Abreu (2002) afirma que nas sociedades muçulmanas não era (e em algumas ainda não é) permitida a adoção, pois esta prática social teria sido proibida por Alá. De acordo com o Corão, “... Dos filhos adotivos de vocês, Ele (Alá) não os fez filhos” (citado por Abreu, 2002, p.142). Assim, apesar de a lei ter recebido diversas interpretações nas sociedades muçulmanas, a adoção adquiriu prioritariamente uma imagem ofensiva e negativa, tanto para quem adota como para quem é adotado. A literatura indica que durante a Idade Média a adoção entrou em declínio. A cristianização da Europa gradativamente acabou com o culto aos mortos, e a necessidade de adotar alguém para que essa função fosse desempenhada perdeu o sentido. Além disso, os filhos adotivos eram desinteressantes para a Igreja, pois a sua existência não lhe permitia exercer o direito sobre a herança. A Igreja, que exerceu grande influência religiosa e política na época, entendia a adoção como uma forma de legitimar filhos bastardos, e também como um meio de as pessoas terem filhos para ampará-las na velhice sem ter que recorrer ao matrimônio (Weber, 1999; Abreu, 2002). Na Idade Média a linhagem passou a estar estreitamente vinculada aos laços sangüíneos, e a nobreza, que era o fundamento da ordem política e social, era considerada hereditária. A adoção era contrária ao sistema de feudos presente na época, no qual eram seguidos de forma estrita os termos de consangüinidade, com o direito feudal considerando imprópria a convivência entre senhores e rústicos ou plebeus em uma mesma família. Assim, a ideologia consangüínea da Europa medieval acomodava muito mal a adoção, de modo que entre 800 e 1800 há um verdadeiro eclipse das diversas legislações referentes à adoção (Abreu, 2002; Weber, 1999). Apesar de não existirem registros precisos sobre adoção na Idade Média, Ariès (1981) ressalta que nessa época era comum famílias de algumas regiões 12 européias enviarem seus filhos para casas de outras famílias. As crianças permaneciam em suas próprias casas até cerca de 7 anos, depois iam morar na casa de outras pessoas, onde desempenhavam funções domésticas. Isso tinha como objetivo a educação e socialização das crianças, pois se entedia que a criança deveria ser misturada aos adultos para aprender a vida diretamente, através do contato com eles. Essa era a forma de transmissão dos valores e do conhecimento. Segundo Ariès (1981), durante a Idade Média a família era uma realidade moral e social, mais do que sentimental, e somente a partir do século XVII houve uma mudança considerável em relação ao tratamento da criança. A partir do século XVII houve uma maior aproximação das crianças com suas famílias, e a família acabou modificando-se na medida em que começou a se organizar em tono da criança e a lhe dar uma grande importância. Porém, apesar dessa transformação nas relações familiares no que se refere à criança ocorrida a partir do século XVII, a prática de entregar os bebês para serem criados por amas de leite se manteve até o fim do século XIX, ou seja, até quando o leite animal passou a ser utilizado sem restrições na alimentação das crianças. A adoção reapareceu de forma discreta na Europa no final do período medieval, e em 1804 a adoção como prática prevista pelo direito volta aos códigos europeus, primeiramente ao Código de Napoleão, no direito francês. Como Napoleão não tinha filhos, ele fez pressão pessoal para que a adoção entrasse no Código Civil, pois queria deixar descendência (Abreu, 2002). Porém, nesse período a adoção apresentava uma regulamentação bastante rígida, sendo utilizada principalmente para fins de sucessão e de garantia de patrimônio: era permitida apenas a adoção de maiores (a maioridade ocorria aos 23 anos); o adotado não pertencia à família do adotante e somente garantia os efeitos de sucessão; o adotante deveria ter mais de 50 anos, ser estéril e ser pelo menos 15 anos mais velho que o adotado; uma pessoa com menos de 23 anos poderia ser adotada por testamento por alguém que a tivesse criado por pelo menos 6 anos antes de morrer; e a adoção era permitida sem a condição da idade para alguém que tivesse salvado a vida do adotante (Hauser e Weiller, 1989, citados por Weber, 1999). Segundo Weber (2001), a partir do Código de Napoleão a adoção começou a caminhar para um novo rumo, visando não apenas atender os interesses dos adotantes, mas também os dos adotados, por ocasião da morte dos pais. 13 A maioria dos países europeus construiu suas leis baseadas no código Romano e, posteriormente, no Napoleônico, seguindo os princípios acima descritos. Isso não aconteceu com a Inglaterra, de modo que a adoção não existiu juridicamente neste país entre os séculos XVIII e XIX. Apesar disso, existia na Inglaterra a prática de enviar crianças a famílias substitutas como aprendizes e trabalhadores domésticos, e nessas famílias as crianças poderiam criar laços afetivos e definir sua posição social. A maior barreira à introdução da adoção na lei comum estava em conflito com o princípio da herança, pois as terras só podiam ser transmitidas a pessoas ligadas por laços de sangue, não podendo ser dadas por simples vontade do proprietário (Weber, 1999). Devido a isso, somente em 1926 a adoção foi criada no sistema legal inglês através de um estatuto, e apenas em 1969 um outro estatuto removeu todas as restrições à herança por parte de pessoas adotadas (Cole e Donley, 1990, citados por Weber, 1999). A lei norte americana foi derivada das leis inglesas que não previam a adoção, e as primeiras regulamentações relacionadas às crianças e famílias substitutas nos Estados Unidos surgiram após a utilização indiscriminada da mão de obra barata de crianças órfãs e abandonadas. Massachusetts, em 1851, foi o primeiro estado a criar uma lei destinada a proteger essas crianças, e em 1917 o estado de Minessota aprovou um código de menores que contemplava a criança adotada (Pilloti, s/d, citado por Weber, 1999). Weber (2001) informa que a adoção começou realmente a adquirir um sentido mais social, voltando-se aos interesses do adotando, após a Primeira Guerra Mundial, com o grande número de crianças órfãs e abandonadas. Após a Segunda Guerra Mundial esse interesse público pela adoção foi limitado a crianças pequenas, e tornou-se evidente uma maior objeção do público em relação à “ilegitimidade” e ao “sangue mau” trazido pela criança. Segundo Cole e Donley (1990, citados por Weber, 1999), essas objeções têm relação com o desenvolvimento, na época, de teorias psicológicas que falavam sobre inteligência hereditária e sobre a irreversibilidade dos efeitos causados por um desenvolvimento inicial pobre. Com o início da Segunda Guerra Mundial a legislação francesa, por exemplo, criou juridicamente a Legitimação Adotiva, por meio da qual a criança abandonada, órfã ou filha de pais desconhecidos, menores de 5 anos, deixava de pertencer à sua família de origem e adquiria de modo irrevogável a condição de filho legítimo dos 14 adotantes. Em 1966 o sistema legal foi aperfeiçoado e a legitimação adotiva foi substituída pela adoção plena (Weber, 2001). A partir do que foi exposto é possível perceber que, em vários países, muitas das conquistas legislativas em relação à adoção são recentes, tendo ocorrido com maior ênfase apenas nos séculos XIX e XX. Além disso, muitos desses avanços foram conquistados tendo como foco o interesse dos adotantes, visando principalmente dar um descendente àqueles que não tinham condições de tê-lo, seja para perpetuar a família, por questões de herança, por objetivos políticos, entre outros. Nota-se que o interesse do adotado só começou a ganhar ênfase a partir do momento em que as precárias condições de existência de muitas crianças e adolescentes, provenientes de países em guerra, ou vítimas de abandono, maus tratos, exploração, entre outros, se tornaram um problema para vários países, e começaram a ganhar visibilidade em âmbito mundial. A partir daí a adoção começou a ser vista também como um meio de dar uma família a uma criança ou adolescente que não a possuía. 1.2. Abandono Quando se fala em adoção, muitas vezes deve-se levar em conta uma história precedente de abandono (Rizzini, 1999; Albornoz, 2001). Freire (1991a) afirma que, embora seja certo que o fenômeno do abandono de crianças sempre é mais intenso e acentuado na eclosão de grandes catástrofes e crises sociais, é possível perceber a sua presença constante, em todas as épocas e em praticamente todas as sociedades, mesmo em momentos sociais de maior estabilidade. Assim, através da história, verifica-se que o abandono de crianças constitui uma constante preocupação dos poderes instituídos, que procuraram através de inúmeras medidas, dar uma resposta adequada à situação aflitiva das crianças. Desde a antigüidade existem casos de pais que abandonam ou doam seus filhos, e de pessoas que se interessam em acolher essas crianças. Assim, a organização social de diferentes culturas buscou maneiras de implementar outros tipos de relações familiares que não as biológicas, muitas vezes com atos jurídicos para a criação de laços de parentesco (Weber, 2001). Alguns povos, como os Bárbaros, os Hebreus e os Egípcios, recolhiam as crianças sem pais e cuidavam delas como se fossem filhos legítimos. Outros, dentre eles os Persas, os Assírios, os Gregos e os Romanos, faziam um rígido controle 15 demográfico, ficando a cargo do pai ou do Estado o poder de decidir se o recém nascido viveria, seria jogado à rua ou seria morto. Das crianças que eram jogadas à rua, algumas eram recolhidas e adotadas por outras pessoas, algumas eram vendidas e outras morriam (Soulé e col., 1962, citados por Weber, 2001). Na Roma antiga o direito paterno sobre os filhos era ilimitado, e o pai decidia se queria ficar com o filho ou se este seria abandonado. As crianças que eram abandonadas eram deixadas em vias públicas, e aquelas que sobreviviam quase sempre eram recolhidas por alguém. Porém, esse acolhimento não servia para que uma família desse um lar a um desamparado, pois as crianças eram recolhidas por sua força de trabalho eventual, ou ainda para serem vendidas como escravas ou prostitutas (Abreu, 2002; Weber, 1999). No tempo do imperador romano Justiniano foram criadas leis de proteção direta às crianças abandonadas, e criadas instituições para acolhimento e proteção dos menores sem amparo (Freire, 1991a). Com a chegada do cristianismo passou a haver uma maior proteção dos fracos por parte dos cristãos, e as autoridades se viram na obrigação de mudar suas atitudes e leis em relação às crianças. Constantino, ao final do Império Romano, reconheceu a religião católica e escreveu a primeira lei contra o infanticídio (Roig e Ochotorena, 1993, citados por Weber, 1999). No entanto, Weber (1999) afirma que essa mudança demorou a acontecer na prática, e segundo Ariès (1981), ainda na Idade Média a criança era reconhecida como uma espécie de adulto em miniatura, não havendo uma consciência da particularidade infantil. Segundo o autor, o sentimento de infância tal como o conhecemos na atualidade, ou seja, a consciência da particularidade infantil que distingue a criança do adulto, não existia na Idade Média, tendo surgido apenas nos séculos XV, XVI, e com força definitiva no século XVII. Freire (1991a) afirma que na Idade Média os grandes senhores davam auxílio às crianças abandonadas no território sob a sua autoridade mediante proteção e apoio dado às instituições destinadas a cuidar dos desamparados. No entanto, foi no seio da Igreja que sempre foram suscitadas e se desenvolveram as iniciativas de maior destaque a favor das crianças abandonadas. As ordens religiosas femininas, principalmente, dedicavam-se com freqüência a acolher crianças abandonadas, a protegê-las e a ensiná-las nas primeiras idades. 16 Ao longo da história várias razões de natureza moral ou material acabavam acarretando inúmeros abortos, infanticídios e nascimentos clandestinos com posterior abandono do bebê. Durante a Idade Média foi criado um mecanismo social que buscava solucionar esse problema. Tal mecanismo, denominado Roda dos Expostos ou Enjeitados, possibilitava a qualquer pessoa abandonar uma criança sem ser identificada. A Roda, fixada no muro de determinadas instituições, tinha forma cilíndrica, e em sua abertura externa depositava-se o bebê que seria abandonado. Girava-se a Roda de modo que a criança fosse parar dentro da instituição que a acolheria, sem que a pessoa que abandonou pudesse ser vista. Essa era uma maneira de estimular o expositor a não abandonar o bebê indesejado nas ruas ou florestas, na tentativa de aumentar as chances de vida da criança. A Roda dos Expostos existiu em vários países até os séculos XIX e XX, tendo sido ostensivamente utilizada no século XIX, quando o abandono de crianças atingiu seu ápice (Weber, 1999). No século XIX, o advento das idéias liberais trouxe consigo uma nova concepção de Estado, imprimindo maior responsabilização deste nos problemas da assistência. A partir daí passou-se a observar um empenho direto dos poderes públicos na criação de instituições e na organização de sistemas de proteção às crianças (Freire, 1991a). Apesar de terem sido criadas medidas contra o abandono de crianças e em prol do seu bem estar ao longo da história, a criança só adquiriu status de sujeito de direitos, segundo Weber (1999), no século XX. A Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou nos Estados Unidos, em 1959, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, e 1979 foi considerado o Ano Internacional da Criança, ano no qual ocorreu um intenso processo de compreensão dos direitos da infância a partir da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Em 1989, a Convenção dos Direitos da Criança, que estabelece padrões mínimos legais e morais para a proteção dos direitos infantis, foi adotada unanimemente pela Assembléia Geral da ONU. Freire (1991a) afirma que atualmente são desenvolvidas em diversos países políticas de combate ao abandono de crianças, através de medidas jurídico-penais e de programas de proteção e apoio às mães, em especial às mães solteiras, alvo particular de atenção. 17 1.2.1. Abandono no Brasil Marcílio (1997) registra que o fenômeno de abandonar os filhos é tão antigo como a história da colonização brasileira. Desde os tempos coloniais são registrados casos de bebês expostos nas ruas, freqüentemente devorados por animais (Rizzini, 1999, Venâncio, 2004). Venâncio (2004) afirma que nos dois primeiros séculos de colonização a regra era a “circulação de crianças”, ou seja, o envio das crianças desamparadas para domicílios de famílias com mais recursos, ou que pelo menos não vivessem na pobreza extrema. A situação começou a mudar no fim do século XVII e início do XVIII, pois a descoberta de áreas produtoras de ouro nos sertões levou ao crescimento de cidades e vilas, e fez aumentar os registros de casos de bebês deixados nas calçadas, terrenos baldios ou depósitos de lixo. O crescimento urbano colonial fez com que a prática da “circulação de crianças” ficasse saturada, e as leis portuguesas mandavam as Câmaras e Santas Casas de Misericórdia acolher os abandonados. Assim, em 1726 em Salvador foi copiado o modelo europeu da Roda dos Expostos ou Enjeitados, o dispositivo rotatório que permitia o abandono anônimo de bebês, sendo expandido esse mecanismo por várias regiões do país. A Roda dos Expostos existiu até 1950 no Brasil, último país do mundo a aboli-la (Weber, 2001). Apesar de ser uma alternativa ao infanticídio, esse tipo de sistema não garantia bons resultados, pois a grande maioria dos bebês falecia nos primeiros meses de vida. A mortalidade dos expostos da Misericórdia era tão assustadora que foi alvo de atenção da medicina higienista da época (Lobo, 2003). Os que tinham a sorte de sobreviver, algumas vezes retornavam à família de origem, por solicitação dos pais, ou eram apadrinhados, tendo a chance de dispor de uma moradia permanente, ou ainda se tornavam, na idade adulta, braços para o trabalho forçado nas milícias e nos navios (Lobo, 2003; Venâncio, 2004). Assinala Venâncio (2004) que o abandono era uma prática essencialmente urbana, apesar de a maioria da população brasileira do período colonial ser do meio rural. Durante o século XVIII o abandono chegou a atingir 25% dos bebês nascidos em alguns centros urbanos. O ato de abandonar as crianças era raro entre os escravos, pois todos os filhos de escravos podiam ser vendidos assim que nasciam. Entre a população livre e pobre rural, o abandono de crianças também era incomum, pois eles contavam com uma agricultura de subsistência, e os filhos eram mão de obra valiosa para os que não possuíam escravos. 18 No Brasil colonial, a criança algumas vezes era abandonada em função da morte repentina dos pais, pois não havia na época orfanatos para recém nascidos. A morte de mulheres no parto era tão comum que se tornou norma que as mulheres que fossem dar à luz recebessem a extrema unção. Outro motivo para se enjeitar uma criança era a questão moral, pois quando uma mulher branca solteira ficava grávida, ela e o filho poderiam ser mortos pelos pais ou irmãos, de modo que a gravidez e o parto clandestinos, com posterior abandono da criança, era uma alternativa à condenação amparada na moral patriarcal. A opção de ter o filho e abandoná-lo muitas vezes se mostrava mais viável que práticas abortivas, pois apesar de estas existirem no período colonial, elas traziam conseqüências devastadoras para a saúde feminina – mulheres grávidas tentavam abortar pulando de lugares elevados ou ingerindo plantas tóxicas –, práticas estas que podiam ser equiparadas a tentativas de suicídio. A falta de recursos financeiros também levava ao abandono da criança, ainda mais se esta apresentasse problemas físicos ou mentais, pois isso significava perigo à sobrevivência econômica familiar (Venâncio, 2004). Venâncio (2004) afirma que o que provocava inquietação no abandono de bebês nas calçadas e ruas das cidades não era tanto a violência implícita no gesto, mas o risco de a criança morrer antes de ser batizada. O batismo era a segurança de que a criança seria “mais um anjinho no céu” (p.43). Segundo Rizzini (1999), ao longo dos séculos diversos segmentos ligados à Igreja, aos grupos filantrópicos e ao Estado manifestaram preocupação em relação às crianças abandonadas, pois o abandono, particularmente o abandono moral, era visto como uma das principais causas que conduziriam ao vício e à criminalidade. Percebia-se a importância de se investir nas crianças enquanto ainda eram facilmente moldáveis, para transformá-las em indivíduos trabalhadores e úteis para o progresso do país. Weber (1999) afirma que quando se trata do abandono de crianças no Brasil não é possível analisar somente as variáveis psicológicas ou emocionais da pessoa que abandona, pois existe um conjunto de determinantes históricos, culturais, sociais e econômicos que devem ser considerados. É preciso referir-se aos contextos macroeconômicos e às políticas governamentais insuficientes que não conseguem proteger os amplos setores da população que estão na pobreza extrema. 19 No Brasil há pelo menos um século a criança tornou-se objeto de ações que visavam sua proteção, surgindo leis, medidas e instituições destinadas à sua assistência (Weber, 1999). Segundo Rizzini (1999) a adoção não constitui uma solução, mas uma das possibilidades indicadas para aqueles que foram abandonados. Weber (1999) afirma que a adoção não tem o objetivo de resolver o problema do abandono, e que o principal combate deve ser contra as condições históricas, culturais, sociais e econômicas que levam a ele. No entanto essas medidas não são excludentes e podem ser pensadas simultaneamente. 1.3. Institucionalização Quando se fala em institucionalização de crianças e adolescentes, de um modo geral estamos falando de um procedimento que engloba todos os casos em que crianças e jovens se encontram fora da família e recebendo atendimento institucional. Assim, podem ser incluídas aí situações de internamento: visando a privação de liberdade, voltadas para adolescentes em conflito com a lei; destinadas a tratamentos de casos específicos, de condições físicas ou mentais (por exemplo, crianças e jovens com patologias ou portadores de deficiências); ou voltadas para crianças e adolescentes que se encontram em situações consideradas de risco pessoal e social (abandono, violência doméstica, entre outros), que por algum motivo não tem condições de permanecer com sua família de origem (Rizzini e Rizzini, 2004). No presente trabalho será abordada mais especificamente essa última modalidade de institucionalização. De acordo com Weber (1999), a institucionalização de crianças e adolescentes é um dispositivo jurídico-técnico-policial criado com base na justificativa de abrigar e proteger a criança e o jovem abandonado. Porém a maior finalidade do internamento tem sido o afastamento dessas crianças e adolescentes marginalizados do convívio social, servindo mais aos interesses da sociedade. Trindade (1984) ressalta que, com um regime disciplinar e autoritário, a instituição surge para atender a criança que tem problema, tendo, dentre outras funções, a de domesticar a criança, não apenas estabelecendo padrões definidos de conduta, mas também procurando impedir a ocorrência de qualquer desvio de comportamento que pudesse afetar a ordem estabelecida. Também Rizzini e Rizzini (2004) ressaltam que as iniciativas de internamento estiveram prioritariamente entrelaçadas a objetivos de assistência e controle social de uma população representada 20 socialmente como perigosa, e ainda hoje a reclusão continua vigente para as categorias consideradas ameaçadoras à sociedade. Weber (2001) afirma que, a partir do século XVII, quando se pensava em proteção à infância pensava-se em instituições. A partir de meados do século XIX esse modelo institucional começou a ser questionado, e outras soluções alternativas começaram a ser pensadas como forma de proteção à infância, com a redução dos grandes complexos e a construção de unidades de abrigos menores, que mais se assemelhassem às condições de um ambiente familiar (Arpini, 2003). A institucionalização de crianças e adolescentes ainda é uma prática presente na atualidade, e apesar de menos fechado e ameaçador que o modelo tradicional, Arpini (2003) afirma que o ambiente institucional se manteve sempre denso, carregado de tristezas e mágoas. Segundo Rizzini e Rizzini (2004), é possível perceber algumas modificações no processo histórico das instituições no Brasil. No século XVIII a institucionalização era do tipo “internato de menores”, e visava principalmente a “educação de crianças pobres, fossem elas abandonadas, órfãs, indígenas ou negras” (p.15). No século XIX e XX predominou a idéia de reabilitação dos “menores abandonados e delinqüentes” (p.15), ou seja, daqueles que representavam um risco para a sociedade. Rizzini (1999) afirma que durante o século XX as políticas sociais em relação à infância e juventude pensadas e praticadas no Brasil priorizaram a internação em instituições fechadas, segregando crianças e jovens e impossibilitando o convívio familiar e comunitário. Com isso promoveu-se ainda mais o abandono de crianças, pois apesar de bem nutridas e abrigadas, elas não encontraram na vida institucional os cuidados pessoais de que necessitavam. Rizzini e Rizzini (2004) afirmam que a década de 1980 foi marcada por calorosos debates e articulações em todo o Brasil, e a cultura institucional vigente por tanto tempo começou a ser questionada. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado em 1990, o atendimento institucional sofreu mudanças significativas, e o abrigo ficou definido como uma medida de caráter provisório e excepcional de proteção para crianças em situações consideradas de risco pessoal e social. A mudança da terminologia empregada no ECA, que passou a denominar as instituições como unidades de abrigo, teve como objetivo rever e recriar diretrizes e posturas no atendimento à criança e ao adolescente, ou seja, provocar uma ruptura com práticas de internação anteriormente instauradas e profundamente 21 enraizadas. Mas apesar disso, segundo as autoras, a cultura de internamento ainda hoje resiste em ser alterada, pois não foram criadas alternativas que efetivamente evitassem a separação de crianças de suas famílias e comunidades. Rizzini e Rizzini (2004) argumentam que a origem das crianças e adolescentes abrigados e as causas que os conduzem aos abrigos são semelhantes as do passado. Atualmente a população atendida pelos abrigos compõe-se de crianças e adolescentes: órfãos ou em situação de abandono familiar, ou seja, que não possuem mais qualquer vínculo com sua família de origem ou com parentes que possam se responsabilizar por seus cuidados; em situação de risco, ou seja, de adversidade e vulnerabilidade, como em casos de violência, crises familiares ou catástrofes, e que por esses motivos encontram-se impedidos de retornar ao seu local de moradia, necessitando permanecer provisoriamente abrigados em outros locais; ou em situação de pobreza, ou seja, ainda hoje famílias recorrem ao Juizado e aos abrigos na tentativa de internarem seus filhos, alegando não terem condições para mantê-los. Apesar das semelhanças com o passado, as autoras afirmam que é possível observar algumas diferenças no que se refere à população atendida pelos abrigos hoje em dia, como por exemplo, o fato de predominarem internações de crianças e adolescentes que se caracterizam por um alto grau de mobilidade, ou seja, que transitam continuamente entre a casa, as ruas e os abrigos. Essa alta mobilidade que caracteriza a trajetória dessas crianças e adolescentes, segundo Rizzini e Rizzini (2004), parece ser provocada por fatores ligados ao contexto de violência urbana no país, em particular relacionados ao narcotráfico. De acordo com Arpini (2003), a qualidade do serviço prestado pelas instituições sempre foi objeto de crítica, e a proposta institucional de abrigo, proteção, amparo e formação nunca chegou a obter êxito. A instituição criou uma imagem negativa de seu próprio mundo, pois serviu de cenário para que muitas repressões, humilhações e violências acontecessem com a população interna, reproduzindo a mesma relação que a sociedade estabeleceu com essa população ao abandoná-la e isolá-la. Arpini (2003) ressalta que a imagem das instituições é semelhante à que se tem da própria população que as freqüenta, ou seja, uma imagem carente, abandonada, fracassada, desqualificada. A passagem por uma instituição marca negativamente a vida de crianças e adolescentes aos olhos da sociedade, e eles passam a ser vítimas de preconceitos. É como se o simples fato de terem vivenciado 22 a situação de abrigo denunciasse que essas crianças e adolescentes não tiveram uma vida como era esperado, como se estivessem no limite de romper e transgredir. Não se considera que o fato de estarem em uma instituição muitas vezes não é resultado de uma ação cometida por eles, mas sim de uma violência social estrutural ou de abandono e violência praticados por suas famílias. Arpini (2003) sugere que o fato de a própria instituição estar contagiada pela ideologia do modelo familiar contribui para que as crianças e adolescentes internados sejam vítimas de preconceitos. Como a maioria das teorias em Psicologia aponta para a determinação da família na formação dos indivíduos, isso leva a pensar que, para as crianças abandonadas ou violentadas, não existiria uma perspectiva ou uma saída desejável, restando-lhes apenas uma instituição que não acredita, ela própria, em outra forma satisfatória de uma criança desenvolver-se saudável e integradamente. Costa e Caldana (2004) realizaram um estudo sobre a situação de abrigamento em instituição a partir da perspectiva de uma criança, e afirmaram que é como se o processo de institucionalização fosse um período caracterizado pela ausência de uma família, pois não haveria outra família a se pertencer além da de origem (geralmente localizada antes da institucionalização), ou da família que venha a adotá-lo (localizada depois da institucionalização). No abrigo esse sentimento de família parece não prevalecer, talvez pelo caráter de provisoriedade do mesmo e das poucas possibilidades de um contato mais personalizado com os educadores, ou seja, com as figuras que poderiam servir de modelo e propiciar um base segura de desenvolvimento. Vários autores afirmam que a criança institucionalizada é o protótipo dos resultados devastadores da ausência de uma vinculação afetiva estável e constante, e dos prejuízos causados por um ambiente empobrecido e opressivo ao desenvolvimento infantil (Weber, 1999, Kumamoto, 2001). Kumamoto (2001) ressalta que a criança abrigada em uma instituição muitas vezes enfrenta a angústia de uma separação com a família biológica, perdendo as “figuras de apego” e os referenciais de identificação, e o ambiente institucional não lhe permite a construção de vínculos substitutos devido à instabilidade das relações interpessoais construídas ali, comprometendo a socialização da criança. Segundo Albornoz (2001), a troca constante de cuidadores ou de instituições faz com que a criança viva intensas sensações de desamparo, abandono e insegurança, o que pode comprometer o seu 23 desenvolvimento. Kumamoto (2001) acrescenta que quanto maior o tempo de privação socioafetiva, maiores serão as dificuldades da criança em adquirir as regras de comportamento que lhe permitam se adequar a uma família e à sociedade. Pesquisa realizada por Ebrahim (2001a), comparando grupos que realizaram adoções de bebês com grupos que realizaram adoções de crianças maiores, evidenciou que aqueles que optaram pela adoção de bebês apresentaram receios em adotar crianças provenientes de instituições. Entre os adotantes tardios, 88,9% não tinham receio em adotar crianças institucionalizadas, 29,3% sentiam-se preparados para lidar com quaisquer situações e 25% julgavam que o amor supera todos os obstáculos. O fato de a criança viver em instituições foi definido por 20,8% da amostra como um elemento de proteção e amparo, e não como um agravante para a adoção. Apesar de todas as críticas feitas ao modelo institucional de abrigo para crianças e adolescentes, Arpini (2003), a partir de uma reflexão sobre a realidade institucional desses abrigos no Rio Grande do Sul, com base no discurso dos próprios adolescentes internos, ressalta que esses adolescentes disseram que foi nas instituições que se sentiram protegidos da violência que viviam em suas famílias, de modo que mesmo a instituição não sendo desejada, quando ocorreu em suas vidas não teve a força negativa e destrutiva que se esperava. A autora ressalta que o período vivido em instituições muitas vezes foi menos traumático e doloroso para os adolescentes que aquele relativo à vivência familiar, e que, apesar de ser um lugar de passagem, a instituição pôde ser um local de tranqüilidade e apoio para os internos, até que suas vidas fossem reestruturadas. É importante ressaltar que a autora se referiu às instituições remodeladas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que não apresentavam as características mais penosas das tradicionais casas de abrigo de menores. Mas isso não é garantia de que alguns dos vícios, abusos e violências característicos das instituições totais não se reproduzissem no novo modelo. Com esse estudo Arpini (2003) ressalta a importância de repensar, recuperar e investir no universo institucional, para que ele possa deixar de ser visto apenas como um lugar de fracasso, passando a ser visto também como um local de acolhimento, de afeto e proteção, pois muitas vezes esse universo se apresenta como uma alternativa para um grande grupo de crianças e adolescentes que vivem situações de violência em suas famílias. Segundo a autora, a instituição não é 24 sempre vivida como um mau lugar, assim como a família não é sempre um lugar privilegiado e protetor. Segundo Weber (1999), apesar de o internamento de crianças e adolescentes ser uma medida que deveria ser tomada como recurso extremo e por curto período, muitas vezes o que ocorre é o abandono dessas crianças e adolescentes nas instituições, onde acabam passando boa parte de suas vidas. Embora, nos termos jurídicos, o abandono seja caracterizado pela falta de assistência ou omissão dos pais, ou quando é destituído dos pais o seu poder familiar1 em virtude de uma sentença judicial, Weber (1999) considera que quando crianças ou adolescentes são colocados em um estabelecimento em regime de internato e não são assistidos pela família, são abandonados, ainda que não o sejam em termos jurídicos. Weber (1999) afirma que a maioria absoluta das crianças institucionalizadas são internadas pela própria família, e que a maioria dessas crianças deixadas nas instituições nunca recebem visitas de seus familiares. Ainda segundo Weber (1999), apesar de essas crianças estarem esquecidas nas instituições e de não receberem visitas, somente uma pequena parcela dos pais delas foi destituída do poder familiar, e apenas as crianças cujos pais foram alvo de tal decisão estão liberadas para adoção. A maioria das crianças, apesar de estarem abandonadas de fato, não estão abandonadas de direito, e por isso não estão liberadas para serem adotadas. Um exemplo disso é o fato de que, em São Paulo, uma mãe que abandona o filho recém nascido só perde o poder familiar depois de, no mínimo, três meses sem reclamar a criança (Mendonça e Fernandes, 2004, em reportagem da revista Época de 23/08/04). Segundo Weber (1999), há um descaso das autoridades competentes (Instituições de Abrigo, Poder Judiciário e Promotoria Pública) em relação à tutela dessas crianças que estão em instituições, pois elas continuam internadas e abandonadas por seus familiares, e sem a possibilidade de serem adotadas. Daí resulta que muitas crianças e adolescentes ficam internados em instituições por um longo período de tempo, às vezes cerca de 18 anos, enquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que, mesmo para adolescentes infratores, o período máximo de internamento deve ser de três anos (Weber, 1999). 1 O termo “poder familiar” passou a ser usado no lugar de “pátrio poder” a partir do novo Código Civil, que começou a vigorar em janeiro de 2003. Na época do antigo Código Civil, de 1916, quem exercia o poder sobre os filhos era o pai (por isso o uso do termo “pátrio poder”), e não se falava no poder dos pais (do pai e da mãe). Mas esta situação mudou, e hoje a responsabilidade sobre os filhos é de ambos os pais (Santos, 2005). O termo 25 Com base em dados do IBGE, estima-se que 200 mil crianças e adolescentes brasileiros não tenham família, estando muitas delas internadas em abrigos (Mendonça e Fernandes, 2004, em reportagem da revista Época de 23/08/04). No entanto, apenas 5% das crianças nos abrigos estão disponíveis para adoção. Em declaração à revista Época (23/08/04), numa reportagem de autoria de Mendonça e Fernandes (2004), Gabriela Schreiner, diretora executiva do Centro de Capacitação e Incentivo à Formação de Profissionais (Cecif), afirmou que os abrigos são uma espécie de colégios internos de crianças carentes. Algumas crianças recebem visitas regulares de pais ou mães, que os mantém ali por falta de condição financeira. Outras, que não têm pais, são visitadas por tios ou avós, que não as tiram de lá nem as disponibilizam para adoção. Há ainda casos de crianças que são abandonadas e permanecem nos abrigos durante anos, e acabam se deparando com algum parente justamente quando estão para serem adotadas. 1.4. Adoção no Brasil Gomide (1999) afirma que a adoção no Brasil foi tratada tradicionalmente como uma via de mão única, ou seja, buscava-se apenas atender aos anseios de adotantes. Essa forma de adoção, conhecida na literatura como “Adoção Clássica”, é geralmente motivada por infertilidade ou por esterilidade2, e elege como adotado o recém nascido com as mesmas características físicas dos adotantes (a imitar uma família biológica), visando solucionar a crise desses casamentos sem filhos. A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente passou-se a privilegiar também o adotado, sendo priorizada a busca de famílias para as crianças e adolescentes que se encontravam em estado de abandono. Assim, passou a ser enfatizada a “Adoção Moderna”, que abrange a adoção tardia, inter-racial, de grupos de irmãos, entre outros, buscando resolver a crise da criança sem família. De acordo com Becker (2000), o desejo de exercer a parentalidade por parte de pessoas ou casais sem filhos biológicos muitas vezes é visto como uma necessidade, ficando de alguma forma implícito um “direito” dessas pessoas de “pátrio poder” só será usado no decorrer desse trabalho quando o texto se referir períodos em que vigorava o poder paterno sobre os filhos. 2 No texto “Infertilidade X Esterilidade” (sem autoria), no site http://www.ism.med.br/infertil/infxest.htm, encontra-se uma diferenciação entre os termos infertilidade e esterilidade. A infertilidade é a incapacidade de um ou de ambos os cônjuges de gerar gravidez por um período conjugal de no mínimo dois anos, por causas funcionais ou orgânicas, sem o uso de contraceptivos e com vida sexual normal. A esterilidade refere-se aos casos em que os recursos terapêuticos não proporcionam cura. 26 adotarem uma criança. Desse modo, chega-se a colocar na mesma ordem de valor o direito da criança a ser criada e educada numa família e o “direito” dos adultos de “possuírem” os filhos que lhes teriam sido negados pela natureza. Essa percepção tem sido responsável, segundo Becker (2000), por uma inversão nos procedimentos da adoção, pois muitas vezes deixou-se de considerar as necessidades das crianças e passou-se a procurar crianças para satisfazer necessidades de adultos. Ebrahim (2001) assinala que, atualmente, tem sido bastante difundida uma “cultura da adoção”, com o objetivo de proporcionar um lar para crianças que não o tem, sem valorizar demasiadamente características como condições de saúde, cor, gênero e idade da criança ou adolescente a ser adotado. Porém o maior interesse no Brasil continua sendo pela adoção de bebês, e enquanto grande quantidade de crianças maiores continua sem família, os cadastros de candidatos à adoção pleiteiam crianças pequenas, ficando as crianças maiores à espera de pais, e os pais a espera de bebês. No Brasil, a adoção legal, que segundo A. Robert (1989, citada por Weber, 1999) “é a criação jurídica de um laço de filiação entre duas pessoas”, é regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e tem como principal objetivo encontrar uma família para crianças e adolescentes abandonados, tentando adequar a esse objetivo o interesse de pessoas que querem adotar. Além da adoção legal, é bastante conhecido também o sistema de adoção que foge à esfera jurídica, a chamada “adoção à brasileira”, que ocorre quando uma pessoa encontra uma criança e a registra como seu filho sem passar pelos trâmites legais da adoção. De acordo com Diniz (1991), a adoção pode ser definida como “... a inserção num ambiente familiar, de forma definitiva e com aquisição de vínculo jurídico próprio da filiação, segundo as normas legais em vigor, de uma criança cujos pais morreram ou são desconhecidos, ou não sendo esse o caso, não podem ou não querem assumir o desempenho das suas funções parentais, ou são pela autoridade competente, considerados indignos para tal” (p.67). Reppold e Hutz (2003) conceituam a adoção como a criação de um relacionamento afiliativo que envolve aspectos jurídicos, sociais e afetivos que a diferenciam da filiação biológica. Fu I e Matarazzo (2001) consideraram a adoção mais uma condição social e psicológica do que judicial, muitas vezes referindo-se à criança que não vive com os pais biológicos e que é criada por outras pessoas, por meio ou não de adoção legal, de tutela ou de guarda. Mas essa concepção ampliada 27 de adoção deve ser usada com cautela, pois não corresponde ao uso mais comum do conceito, tanto no contexto jurídico como em outros contextos sociais. Gagno e Weber (2002) afirmam que muitas vezes se usa o termo “filho de criação” para se referir a filhos adotivos, mas apesar de os termos “filho de criação” e “filho adotivo” serem usados indistintamente no senso comum, as autoras afirmam que a literatura sugere uma distinção entre eles. Na adoção – tanto legal como informal – a relação de filiação estabelecida é substitutiva à relação dada biologicamente, ou seja, a mãe biológica é substituída pela adotiva, enquanto nas famílias de criação a relação de filiação é geralmente aditiva, ou seja, os filhos “somam mães”, ao invés de uma substituir a outra. O filho de criação dispensa a preocupação com a evitação de relações com a família de origem, enquanto na adoção, via de regra, a família adotiva e a família biológica não se conhecem. A relação de criação, segundo Fonseca (2002a, 2002b) é uma alternativa de organização de parentesco que não é vista pelos pais biológicos como abandono, e nem vivida como tal pelas próprias crianças. A autora afirma que os etnólogos chamam a prática da criação de “circulação de crianças”, por causa do vai e vem de crianças entre as casas de diversas mães (madrinha, vizinha, etc.), e afirma que essa prática não deveria ser ignorada nas análises de organização de famílias de baixa renda no Brasil. Paralela a pouca distinção no senso comum entre adoção e criação, segundo Fu I e Matarazzo (2001) existem também outras variações no processo de adoção, como a distinção entre adoção extrafamiliar, quando a criança é adotada por pessoas que não têm relação de parentesco com nenhum de seus pais biológicos, e intrafamiliar, quando a criança está sob cuidados de pessoas que têm relação de parentesco com pelo menos um dos pais biológicos. Essas autoras afirmam que a distinção entre os vários tipos de adoção em relação aos adotantes é freqüentemente citada nos estudos, mas raramente foi investigada a influência dessas variações no desenvolvimento psicológico dos filhos adotivos. Conforme Mendonça e Fernandes (2004), em reportagem da revista Época de 23/08/04, o número de adoções realizadas por brasileiros vem crescendo. Na cidade do Rio de Janeiro, o volume cresce desde 2000, em especial as adoções de crianças com mais de 4 anos, que são justamente as mais rejeitadas. De acordo com a reportagem, a classe média já não vê a adoção apenas como um plano 28 secundário, e sim como mais uma das possíveis configurações familiares da atualidade. 1.4.1. Aspectos legais De acordo com Abreu (2002), o conhecimento da legislação brasileira, desde seus primórdios, pode esclarecer como a adoção vem sendo vista entre nós, quais as funções atribuídas a ela ao longo da história, seu papel social, e o lugar ocupado por ela nas relações de parentesco. Segundo o autor, esse estudo pode indicar o que foi progressivamente sacralizado pela visão dominante nas diferentes épocas, e permitir analisar como aspectos que eram apenas uma das possibilidades de lidar com a adoção tornaram-se a única maneira de estar conforme a lei. Costa (1988, citado por Weber, 2001) registra que a adoção introduziu-se no Brasil a partir das Ordenações Filipinas, e o primeiro dispositivo legal a respeito da adoção foi a Lei de 22 de setembro de 1828. O autor afirma que eram raras as referências à adoção nos textos jurídicos até a elaboração do Código Civil de 1916, e a inclusão da adoção nesse código foi motivo de acirrada polêmica. De acordo com a Lei 3.071 de 01/01/1916 só os maiores de 50 anos, sem prole legítima, poderiam adotar; o adotante deveria ser pelo menos 18 anos mais velho que o adotado; a adoção não poderia ser realizada por duas pessoas, a não ser que fossem marido e mulher; não poderia ocorrer a adoção sem o consentimento da pessoa responsável pelo adotando caso ele fosse menor de idade ou interdito; o adotado, se fosse menor de idade ou interdito, poderia desligar-se da adoção no ano imediato ao fim da menoridade ou interdição; a adoção poderia ser desfeita quando conviesse a ambas as partes, ou quando o adotado cometesse ingratidão com o adotante; o parentesco resultante da adoção era limitado a adotante e adotado; a adoção continuaria a vigorar mesmo se o adotante viesse a ter filhos naturais, salvo se ficasse provado que no momento da adoção o filho natural já estivesse concebido; e com a adoção não seriam extintos os direitos e deveres resultantes do parentesco natural, com exceção do pátrio poder, que seria transferido do pai natural para o pai adotivo (Lacerda, 1922, citado por Weber, 2001). Durante a vigência do Código Civil, quando alguém desejava adotar legalmente uma criança, o procedimento era ir a um tabelionato e registrar a adoção através de escritura, diante de testemunhas e do tabelião, de modo que o adotante poderia estar presente ou mesmo ser representado por um procurador. Esse tipo de adoção ficou conhecido 29 pela expressão “dar de papel passado” (Abreu, 2002, p.24). Segundo Weber (2001), as possibilidades de adoção incluídas no Código Civil de 1916 assemelhavam-se às do Código Napoleônico, sendo excessivamente rígidas, o que dificultava o seu uso social. Além disso, Abreu (2002) afirma que, até este momento, a adoção no Brasil estava situada dentro da esfera das relações privadas e familiares. Em 1927 foi promulgado o primeiro Código de Menores brasileiro, uma legislação especialmente voltada para crianças e adolescentes. Weber (2001) afirma que este Código não trouxe qualquer contribuição para a questão da adoção. Segundo Santos (2004), o Código de Menores de 1927 elegia como objeto de sua ação a infância e adolescência abandonada, delinqüente, ou carente, objetivando o seu controle, e enfatizava a institucionalização como forma de proteção. Em 1957 foi promulgada uma lei que trouxe importantes contribuições para a adoção, mas apesar de ter simplificado algumas exigências feitas pelo Código Civil de 1916, continuou sendo uma lei de difícil uso social (Weber, 2001). As principais modificações introduzidas pela Lei 3.133 de 08/05/1957 foram: a idade mínima do adotante foi reduzida de 50 para 30 anos; a diferença de idade exigida entre adotante e adotado passou de 18 para 16 anos; as pessoas casadas só poderiam adotar depois de decorridos 5 anos de casamento; e a adoção poderia ocorrer mesmo se o adotante tivesse filhos legítimos. Em relação à sucessão hereditária, se o adotado fosse filho único, receberia integralmente a herança; se os adotantes tivessem filhos naturais após a adoção, o adotado teria direito à metade do que coubesse a cada filho natural; se os adotantes já tivessem filhos antes da adoção, o filho adotivo não teria direito à herança (Weber, 2001). Com a Lei 4.655, de 1965, foi criada no Brasil a Legitimação Adotiva, ou seja, o filho adotivo passou a ter quase os mesmos direitos e deveres que o filho legítimo, exceto nos casos de sucessão hereditária em que concorresse com filho legítimo gerado posteriormente à adoção. A Legitimação Adotiva trouxe como principal inovação a preocupação com a criança adotiva, visto que essa criança poderia se tornar filha legítima de quem a adotasse (Weber, 2001). A partir daí passaram a coexistir duas modalidades de adoção, uma regida pelo Código Civil e a outra regida pela nova lei. De acordo com a nova legislação o limite máximo de idade da criança para que pudesse ocorrer a legitimação seria 7 anos, e poderiam ser legitimadas: a criança abandonada cujos pais fossem desconhecidos, tivessem declarado por escrito sua intenção de colocá-la para adoção ou tivessem sido destituídos do pátrio 30 poder; a criança órfã não reclamada por qualquer parente há mais de um ano; o filho natural reconhecido apenas pela mãe, impossibilitada de prover sozinha sua criação; a criança abandonada que estivesse sob os cuidados de uma instituição de assistência social; e a criança maior de 7 anos que ao completar essa idade estivesse sob a guarda dos legitimantes, mesmo que estes não preenchessem as condições exigidas por lei. Poderiam ser legitimantes: os casais com mais de 5 anos de matrimônio, sem filhos, e com pelo menos um dos cônjuges com idade superior a 30 anos; pessoas viúvas com mais de 35 anos que já estivessem com a criança e comprovassem integração dessa criança ao lar; e pessoas desquitadas, desde que a guarda da criança houvesse começado durante o matrimônio, e que houvesse um acordo quanto à guarda após o término da sociedade conjugal (Chaves, 1966, citado por Weber, 2001). Em 1979 foi instituído um novo Código de Menores (Lei 6.697 de 10/10/1979), que trouxe mais progressos para a questão da adoção. Segundo Weber (2001), com esse Código passou a haver três procedimentos para a adoção: A Adoção Simples, regida pelo Código de Menores, que dependeria de autorização judicial. Era voltada para os então chamados “menores em situação irregular”, lhes conferindo direitos restritos, e assumindo mais um caráter de controle social e proteção contra o risco representado por esses “menores”. Essa adoção deveria ser precedida de estágio de convivência pelo prazo fixado pela autoridade judiciária (em função da idade do adotando e das peculiaridades do caso), podendo ser dispensado o estágio de convivência se o adotando tivesse menos de um ano de idade; A Adoção Plena, também regida pelo Código de Menores, que veio substituir a Legitimação Adotiva, criada em 1965, visando especialmente os interesses dos adotados. Por meio da Adoção Plena era atribuída ao adotado a situação de filho, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Só poderia ser adotada a criança até 7 anos que se encontrasse em situação irregular, e a criança acima de 7 anos se há época em que completou essa idade já estivesse sob a guarda dos adotantes. De acordo com a legislação, a Adoção Plena só seria deferida após período mínimo de um ano de estágio de convivência, e poderiam adotar: casais, com ao menos um dos cônjuges com idade superior a 30 anos, e que tivessem mais de 5 anos de matrimônio – esse prazo seria dispensável se fosse provada a esterilidade de 31 pelo menos um dos cônjuges – ; pessoas viúvas se provada integração da criança em seu lar com estágio de convivência de três anos ainda em vida do outro cônjuge; e pessoas separadas judicialmente, desde que tivesse havido um estágio de convivência de três anos na constância da sociedade conjugal, e que ambos acordassem sobre a guarda da criança. Ainda segundo a legislação, a sentença concessiva da adoção seria inscrita no Registro Civil, no qual constaria o nome dos pais adotivos como pais, bem como o nome de seus ascendentes; o registro original seria cancelado, e nas certidões de registro não poderia constar observação sobre a origem do ato; a sentença conferiria à criança o nome do adotante, e a pedido desde o prenome poderia ser modificado; e a adoção plena era irrevogável, e caso o adotante viesse ter outros filhos, o filho adotivo estaria equiparado a eles em seus direitos e deveres; A Adoção do Código Civil, denominada também “adoção tradicional” ou “adoção civil”, que era feita através de escritura em cartório através de um contrato entre as partes. Esse novo Código, contrariamente às leis anteriores, traz algumas especificações quanto à adoção de crianças brasileiras por estrangeiros. Fica definido que os estrangeiros só podem realizar a Adoção Simples, ou seja, só podem adotar crianças em situação irregular, ou então a Adoção do Código Civil (Abreu, 2002). A década de 80 foi foco de um novo cenário político e social no país, e foi um período de calorosos debates e articulações, cujos frutos se materializaram em importantes avanços, tais como a Constituição Federal de 1988, que passou a incluir o artigo 227, sobre os direitos da criança. Nesse período ocorreram movimentos significativos de lutas pelos direitos humanos e de proteção à infância, e logo após a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, realizada em 1989, o Brasil criou uma nova lei específica para crianças e adolescentes, com base no artigo 227 da Constituição, com importantes inovações no que se refere aos direitos e deveres de crianças e adolescentes, e também em relação à regulamentação para a adoção (Weber, 1999). Em substituição ao Código de Menores de 1979, em 1990 foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), fruto de uma grande mobilização da sociedade civil. De acordo com Gomide (1999), quando o ECA foi aprovado, era notável a carência de textos acadêmicos que pudessem orientar os técnicos da área social na elaboração das diretrizes políticas e técnicas para o 32 atendimento das crianças e adolescentes brasileiros, e isso era motivo de preocupação. Mas o ECA se mostrou um dos mecanismos legais mais avançados do mundo de proteção à infância e juventude, apesar de, na prática, suas diretrizes ainda não terem se efetivado satisfatoriamente, mesmo hoje, após 15 anos de promulgação. Desde 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente é a lei que regulamenta as adoções legais no Brasil. A partir do ECA passaram a existir apenas dois procedimentos para a adoção: a Adoção Plena, para os menores de 18 anos, que torna a criança ou adolescente adotado um filho com todos os direitos e deveres, e a Adoção do Código Civil , que continua a subsistir para os maiores de 18 anos. A Adoção Simples deixou de existir, pois o ECA passou a enfatizar a teoria da proteção integral à infância, em lugar da mera proteção ao menor em situação irregular. Assim, para as crianças e adolescentes toda adoção tornou-se plena e irrevogável. Com a implantação do ECA o termo menor caiu em desuso, pois ficou entendido que ele era utilizado para designar de modo preconceituoso as crianças e adolescentes procedentes de classes sociais mais baixas, desprovidas de cidadania (Weber, 2001). Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (2001), a adoção atribui a condição de filho ao adotado, com todos os direitos e deveres, inclusive sucessórios, sendo proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. O filho adotivo fica desligado de qualquer vínculo anterior com pais e parentes. O adotante deve contar com no máximo 18 anos à data do pedido da adoção, a não ser que já esteja sob a guarda ou tutela dos adotantes. Podem adotar os maiores de 21 anos, independentemente do estado civil – pessoas solteiras, viúvas, concubinadas e divorciadas –,e a adoção por ambos os cônjuges poderá ser formalizada desde que pelo menos um deles tenha completado 21 anos de idade, comprovada a estabilidade da família. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando, e é necessário haver no mínimo 16 anos de diferença entre o adotante e o adotado. Ainda de acordo com o ECA é permitida a realização de adoção póstuma, caso o pretendente à adoção venha a falecer no curso do processo, e a adoção unilateral, que ocorre quando um dos cônjuges adota o filho do companheiro. É interessante ressaltar que a adoção unilateral se inicia com um tipo de relação parental semelhante a de padrasto/madrasta, pois são casos de cônjuges que adotam filhos da primeira união do outro. Cabe salientar que na literatura (Oliveira, 33 2002) se faz uma distinção entre pais adotivos e padrasto ou madrasta. Consideram pai/mãe adotivo (a) um indivíduo que provê cuidados paternos/maternos a uma criança que não pertence à sua prole genética, enquanto o padrasto ou a madrasta é aquele (a) que se ligou a um (a) companheiro (a) com prole dependente já existente. Ou seja, nos pais adotivos o interesse inicial é um desejo de serem pais, enquanto o padrasto ou madrasta tem como interesse inicial o cônjuge. O ECA afirma que a adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando, sendo este consentimento dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a suspensão ou perda do poder familiar nos casos em que os pais, injustificadamente, deixarem de cumprir seus deveres de sustentar, ter sob guarda e educar os filhos, submeterem-nos a abusos e maus tratos, ou, ainda, deixarem de cumprir determinações judiciais no seu interesse (Becker, 2000). Assim, segundo Becker (2000), pode-se dizer que a perda do poder familiar será decretada sempre que a manutenção da criança ou do adolescente junto aos pais representar sério risco ao seu desenvolvimento, à sua saúde ou até mesmo à sua vida. É importante ressaltar que, de acordo com o ECA, a falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar, e não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou o adolescente deve ser mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio. Segundo Becker (2000) é comum ocorrer uma confusão conceitual entre abandono e pobreza. Costuma-se dizer que existem milhões de crianças abandonadas no Brasil, devido ao fato de existirem muitas crianças nas ruas ou em abrigos, às vezes passando fome e sem os cuidados básicos. Porém, a imensa maioria dessas crianças, mesmo as que estão nas ruas ou recolhidas em abrigos, possuem vínculos familiares, e estão nessas condições mais por uma questão de pobreza que de abandono. Muitas vezes o que as leva a essa situação de risco não é a rejeição ou a negligência por parte dos pais, e sim alternativas, às vezes desesperadas, de sobrevivência. Assim, não é adequado ver a colocação em família substituta como uma solução para a pobreza dessa população, visto que o que deveria ser feito, segundo a lei, seria uma inclusão dessas famílias pobres em programas oficiais de auxílio. Mas essa inserção em programas oficiais de auxílio, com o objetivo de possibilitar que a família 34 biológica tenha condições de ficar com a criança, muitas vezes não acontece. De acordo com Mariano e Rossetti-Ferreira (2004), em uma pesquisa que objetivou caracterizar as famílias biológicas envolvidas em processos de adoção de crianças na Comarca de Ribeirão Preto – SP, muitas famílias biológicas foram destituídas ou delegaram o poder familiar por motivos associados à pobreza, e não foram observados, no entanto, registros de inserção dessas famílias em programas de auxílio (de reinserção no mercado de trabalho, de acesso a melhores condições de moradia, de profissionalização, entre outros), para que pudessem ficar com os seus filhos, de acordo com o que é estabelecido pelo ECA. Assim, fica evidente que a inserção em programas oficiais de auxílio, que muitas vezes não acontece, deve ser acompanhada por uma luta maior, por melhores condições de vida para toda a população, com a criação de políticas governamentais que visem garantir condições de vida adequadas aos amplos setores populacionais que estão na pobreza extrema. O ECA determina que, quando a adoção for uma solução viável, ela deve ser precedida de estágio de convivência, sendo o prazo estabelecido ao arbítrio do magistrado, de acordo com a necessidade de cada caso. O estágio de convivência pode ser dispensado se o adotando estiver com menos de um ano de idade, ou se já estiver sob a companhia do adotante por tempo suficiente para se poder avaliar a conveniência da constituição do vínculo. Conforme o Estatuto, sempre que possível a criança ou adolescente deverá ser previamente ouvido sobre a adoção, e a sua opinião devidamente considerada. Quando o adotando for maior de 12 anos, é necessário haver o seu consentimento para que a adoção seja efetivada. Quanto ao registro relativo ao processo, o ECA estabelece que o vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial e será inscrito no registro civil, constando o nome dos adotantes como pais. O registro original do adotando será cancelado, e será feito um novo registro conferindo ao adotado o nome do adotante e, a pedido deste, poderá ser modificado o prenome. Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões de registro. A partir do ECA fica proibida a adoção por procuração, antes prevista pelo Código Civil, não sendo mais possível que um advogado represente os adotantes no momento da adoção. O ECA determina que a autoridade judiciária deverá manter em cada juizado ou foro regional um registro de crianças e adolescentes em condições de serem 35 adotados, e outro de pessoas interessadas na adoção. O deferimento da inscrição será dado após prévia consulta aos órgãos técnicos do Juizado, ouvido o Ministério Público, e não será deferida a inscrição se o interessado não satisfizer os requisitos legais, se revelar, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida, ou não oferecer ambiente familiar adequado. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Na apreciação do pedido de adoção, e também nos demais casos de colocação em família substituta, será levado em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou afetividade entre os envolvidos, a fim de evitar ou minorar as conseqüências decorrentes da medida. Nos termos do ECA, a colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admitida na modalidade de adoção. O candidato estrangeiro deverá comprovar, mediante documento expedido pela autoridade competente do respectivo domicílio, estar devidamente habilitado à adoção, de acordo com as leis do seu país, bem como apresentar estudo psicossocial elaborado por agência especializada no país de origem. A adoção internacional poderá estar condicionada a estudo prévio e análise de uma Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA), à qual competirá a função de manter um registro centralizado de interessados estrangeiros na adoção. Antes de consumada a adoção não será permitida a saída do adotando do território nacional, e em caso de adoção por estrangeiro residente ou domiciliado fora do país, o estágio de convivência deve ser cumprido em território nacional, e será de no mínimo 15 dias para crianças menores de 2 anos, e de no mínimo 30 dias para maiores de 2 anos. Isso, segundo Abreu (2002), obriga o estrangeiro a passar alguns dias no Brasil sob a observação dos técnicos do judiciário, onde sua relação com a criança será observada. Atualmente há um projeto de lei apresentado pelo deputado federal catarinense João Matos (PMDB) que trata da Lei Nacional da Adoção. Esse projeto, que está sendo debatido no Congresso Nacional, tem como objetivo acelerar o processo de adoção nos juizados, que segundo o deputado pode demorar até 10 anos. Entre os pontos mais polêmicos do documento está a determinação de um prazo para que seja julgada a destituição do poder familiar sobre uma criança mantida em abrigo, para que ela possa ser declarada apta para adoção. A crítica que se faz a esse ponto do projeto é que a adoção parece estar sendo apresentada como uma solução para o abandono de crianças em abrigos, porém muitas dessas 36 crianças estão lá não por abandono, e sim por falta de condição financeira das famílias. Os que defendem o projeto chamam a atenção para a existência de uma geração de crianças que estão nos abrigos e não podem ser adotadas pois têm vínculos familiares (Neves, 2005, em reportagem do jornal A Tribuna de 16/01/05). A partir do que foi exposto nota-se que, assim como em vários outros países do mundo, a legislação sobre a adoção no Brasil tem um desenvolvimento muito recente, tendo obtido maiores avanços apenas no século XX. Somente em 1990, ou seja, há apenas cerca de 15 anos, o ECA equiparou definitivamente os direitos e deveres dos filhos adotivos aos dos filhos biológicos, tornando a adoção plena e irrevogável para todas as crianças e adolescentes, e proibindo quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Fazendo uma reflexão acerca desse desenvolvimento legislativo relativamente tardio, percebe-se que no Brasil há um conjunto de condições que não favorecem que a adoção seja alvo de atenções. A população de crianças e jovens a ser adotada no país geralmente é proveniente de classes populacionais economicamente desfavorecidas, e sabe-se que as políticas governamentais geralmente não são direcionadas a essa parcela da população, e quando o são, se mostram insuficientes para atender sua demanda. Além disso, se há tantas crianças e adolescentes desprovidos de famílias e necessitando serem adotados, isso é indício de que as políticas governamentais não conseguem proteger os amplos setores da população que estão na pobreza extrema. Assim, falar de adoção é de certa forma colocar em evidência a insuficiência de políticas governamentais de amparo e assistência às camadas populares, que não dão subsídios para que essas pessoas possam ter condições de criar e educar seus filhos. 1.4.2. Atuação no judiciário O Estatuto da Criança e do Adolescente aperfeiçoou o tratamento dado à adoção no Brasil, e trouxe novas diretrizes ao Juiz da Infância e Juventude, criando demandas inéditas aos profissionais que atuam no Judiciário, dentre eles o psicólogo (Cassin e Jacquemin, 2001). De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança ou adolescente tem direito a ser criado no seio de uma família e, excepcionalmente, em família substituta, e só pode haver integração em família substituta quando 37 esgotados os recursos de manutenção na família natural3. Desse modo, com o objetivo de garantir os direitos de crianças e adolescentes, quando estes tiverem por algum motivo sua convivência familiar abalada, são necessárias em primeiro lugar medidas visando à manutenção dos vínculos com a família natural, e apenas na impossibilidade de assim proceder, deve-se partir para a colocação em família substituta, tendo em vista os interesses e direitos das crianças e dos adolescentes em foco (Becker, 2000). Conforme o ECA, a colocação em família substituta é uma medida excepcional, que tem como função assegurar a convivência familiar de crianças e adolescentes que tiveram esse direito violado, isto é, que foram separadas de seus pais por motivos judicialmente conhecidos (Becker, 2000). Em geral destacam-se quatro motivos básicos que podem levar à colocação em família substituta: a morte dos progenitores, sendo que a criança ficará preferencialmente com membros da família ampliada (avós, irmãos, tios, entre outros), e apenas na ausência ou impossibilidade de tais parentes assumirem a criança, torna-se necessária a escolha de uma família substituta alheia ao círculo consangüíneo; quando mães sozinhas não desejam ou reconhecem não possuir condições para assumir a criação do filho, decidindo entregar a criança; quando há perda do poder familiar por parte dos pais; e quando os pais da criança são desconhecidos, ou se encontram em lugar ignorado, depois de empreendidos todos os esforços para localizá-los, sem êxito, ou ainda depois de localizados, ficar comprovado que tinham real e definitiva intenção de abandonar os filhos, havendo nesses casos a perda do poder familiar (Becker, 2000). Assim, mais uma vez segundo o ECA, quando os pais biológicos forem desconhecidos, devem ser esgotados os recursos para que estes sejam encontrados, antes de se decretar a perda do poder familiar, e de se liberar a criança para ser colocada em família substituta. Mas, segundo Mariano e Rossetti-Ferreira (2004), a partir de uma pesquisa que objetivou caracterizar as famílias biológicas envolvidas em processos de adoção de crianças na Comarca de Ribeirão Preto – SP, ficou evidenciado que nos processos avaliados, não foram esgotados os recursos para que os pais biológicos fossem encontrados antes de perderem o poder familiar. Segundo as autoras, a busca pelos pais biológicos geralmente é 3 O termo “família natural” é usado, no Estatuto da Criança e do Adolescente, para diferenciá-lo do termo “família substituta” (Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, 2001). 38 inadequada, pois a intimação é feita pelo Diário Oficial, não levando em conta que grande porcentagem dessa população é analfabeta, e que uma mínima porcentagem tem acesso a essa publicação. Assim, segundo as autoras, não se busca a reinserção da criança nas famílias biológicas, nem o desenvolvimento de recursos familiares próprios para a manutenção dos filhos. Essa questão nos remete a outra discussão, feita anteriormente, de que muitas crianças estão esquecidas nas instituições, não sendo acompanhadas por seus familiares, e não podendo ser adotadas pois seus pais não foram destituídos do poder familiar. Para que esses pais possam ser destituídos do poder familiar, é necessário que sejam esgotados os recursos para que estes sejam encontrados, pois a prioridade, segundo o ECA, é a manutenção da criança na família de origem. Assim, ou não são empreendidos esforços na busca da família de origem da criança, e esta permanece na instituição sem poder ser adotada, ou quando são feitas buscas pelos pais biológicos, muitas vezes estas se mostram inadequadas, havendo a possibilidade de os pais biológicos da criança serem destituídos de seu poder familiar sem ficarem sabendo, mesmo tendo a possibilidade de serem encontrados e, quem sabe, de ficarem com a criança. O ECA destaca três modalidades de colocação em família substituta: a guarda, a tutela e a adoção. A guarda tem o caráter de provisoriedade, e obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, dando ao seu detentor o direito de se opor a terceiros, inclusive aos pais. Becker (2000) afirma que, de um modo geral, a guarda é concedida nos casos em que os requerentes aguardam decisão judicial sobre concessão de tutela e adoção, em casos de suspensão do poder familiar, enquanto se procede ao atendimento dos pais biológicos visando à restauração dos vínculos ou à decisão definitiva sobre a perda do poder familiar, nos casos em que a adoção não se aplica ou é inviável, entre outros. A tutela é aplicada geralmente no sentido de encarregar aqueles que sucedem os pais no exercício do poder familiar, quando este é retirado dos pais por determinação judicial ou em casos de orfandade, e implica a administração dos bens e o dever de guarda. A tutela é preferencialmente cedida a pessoas do grupo familiar (avós, irmãos maiores, tios, entre outros), podendo ser conferida a outros na ausência ou impossibilidade dos familiares. Diferentemente da guarda, a tutela tem 39 caráter definitivo, podendo ser destituída apenas nos casos em que se prevê a destituição do poder familiar (Becker, 2000). A adoção, de acordo com Becker (2000), é a forma mais definitiva e radical de colocação em família substituta, pois a criança se torna um filho com todas as conseqüências jurídicas e psicossociais que tal situação acarreta. A adoção é indicada quando a criança é separada definitivamente de seus pais biológicos, e quando não existem parentes com condições de assumir sua tutela. Uma pessoa ou casal que tem interesse em adotar uma criança deve se inscrever no Juizado da Infância e da Juventude da comarca4 de sua residência, e entregar a documentação necessária, (isso inclui, em geral, documentos pessoais, além de comprovante de renda e residência, atestado de sanidade física e mental e “Declaração Nada Consta”, retirada no Fórum, referente aos antecedentes da pessoa5). É importante ressaltar que o Estatuto da Criança e do Adolescente não determina a documentação necessária para adoção, podendo esta ficar a critério do Juizado. De acordo com o art. 167 do ECA, “a autoridade judiciária, de ofício ou requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a realização de estudo social ou se possível, perícia por equipe interprofissional, decidindo sobre a concessão de guarda provisória, bem como, no caso de adoção, sobre o estágio de convivência”. Assim sendo, será feito um estudo psicossocial dos requerentes por uma equipe técnica formada por psicólogo6 e assistente social (geralmente por meio de entrevistas, mas o procedimento pode variar dependendo do Juizado), estudo este que tem como objetivo dar ao Juiz e ao Ministério Público um parecer técnico sobre as condições encontradas. Os psicólogos e assistentes sociais fazem um estudo sobre os requerentes, seus interesses, e sobre as especificidades de seu caso, além de fornecer orientação sobre o procedimento legal e os significados da adoção. Será preenchido um cadastro, com informações sobre a pessoa ou casal, assim como sobre as características da criança que se deseja adotar (como sexo, cor de pele, idade e aspectos de saúde). Após feita a avaliação psicológica e social é emitido um parecer técnico, em forma de laudo, que será anexado ao Processo, o qual será avaliado pelo Ministério Público e pelo Juiz da Vara da Infância e 4 Divisão judicial de um Estado sob a jurisdição de um juiz de direito (Dicionário Silveira Bueno, 1990, p.159). Informações obtidas no Juizado da Infância e Juventude de Vila Velha – ES. 6 Há comarcas em que não existe o cargo de psicólogo, e nesses casos ou não há psicólogos fazendo parte da equipe técnica, ou os psicólogos que lá trabalham o fazem em desvio de função ou atuando voluntariamente. 5 40 Juventude, que dará a decisão final sobre o cadastramento ou não dos interessados. Estando entendido por todos que a pessoa ou casal está apto para adotar uma criança ou adolescente, esta pessoa ou casal vai entrar numa fila de Cadastro de Pretendentes à Adoção, e aguardará até que chegue a sua vez de adotar. Quando a equipe técnica entende que o requerente está inapto para adotar uma criança ou adolescente, esta não é, necessariamente, uma decisão definitiva, pois o interessado pode passar por um período de reflexão e orientação, e ser reavaliado posteriormente. Já os candidatos considerados inidôneos (aqueles que cometeram faltas ou delitos graves, representando um risco à integridade da criança) têm sua inscrição indeferida definitivamente (Oliveira, 2002). Aqueles que entram no Cadastro de Pretendentes à Adoção ficam aguardando numa fila, em ordem de inscrição, até que chegue sua vez de adotar e até que haja a disponibilização de uma criança ou adolescente adequada ao seu interesse. O Juizado deve ter um cadastro de crianças e adolescentes em condições de serem adotadas, geralmente localizadas em abrigos sociais. Em geral o tempo de espera pela adoção é longo (às vezes de alguns anos), e isso se deve, principalmente, ao fato de que as pessoas em geral preferem recém nascidos brancos, e a maioria das crianças que são disponibilizadas para adoção não são mais recém nascidas, e geralmente têm a pele identificada como parda ou negra. Quando houver alguma criança com as características apontadas pelo(s) interessado(s), estes serão contactados e receberão informações sobre a criança, sendo convidados a conhecê-la. Se houver um interesse na adoção daquela criança (o que não é obrigatório, e caso não haja interesse a pessoa continua na fila de cadastro), será iniciado um estágio de convivência (em alguns casos desnecessário), e será dado início ao procedimento legal de adoção, que é finalizado com a sentença do juiz e com o mandado de cancelamento (quando a criança já foi registrada) e confecção de novo registro civil. Um outro procedimento para adoção realizado nos Juizados denomina-se intuitu personae (que no vocabulário jurídico significa “em consideração à pessoa”, ou “obrigação contraída” 7), também conhecido como “adoção pronta”, e acontece quando os pais biológicos escolhem a família para a qual desejam entregar seu filho. Assim, a pessoa ou o casal adotante vai até o juiz, juntamente com os pais 7 Site do acadêmico de Direito, http://www.sadireito.com/web/dicionario/i.asp. 41 biológicos e com a criança que lhe foi entregue por estes, e pede que seja iniciado o processo de adoção dessa criança. Isso acontece porque o ECA, no artigo 166, garante aos pais a possibilidade de indicar seu desejo de abdicar do poder familiar em direção a outrem (Abreu, 2002). Nesse tipo de adoção ocorre um contato entre pais de origem e adotivos, na medida em que são os pais de origem de escolhem quem irá adotar a criança, mas esse contato não é necessariamente mantido posteriormente, o que fica a critério dos pais adotivos. Existem também casos de pessoas que comparecem às Varas da Infância e da Juventude para legalizarem adoções de crianças ou adolescentes que estão sob sua responsabilidade há muito tempo, mas não do ponto de vista legal. Muitas vezes essas crianças ou adolescentes foram entregues pela própria mãe para que “tomassem conta” de seus filhos, com posterior perda de contato (Oliveira, 2002). Os casos mais complexos são aqueles em que o bebê é deixado na porta de uma casa, ou em lugares públicos, e aqueles que o encontram resolvem adotá-lo. Nesses casos não há um mesmo parâmetro que norteie o trabalho nas diferentes Varas da Infância e Juventude, mas em geral os juizes dão prioridade aos interesse das pessoas que já se encontram cadastradas no Juizado, não permitindo que a criança fique com quem a encontrou, principalmente quando ela é ainda um bebê. Essa decisão, geralmente, só é repensada quando a criança convive com a pessoa que a encontrou a tempo suficiente para o estabelecimento de um vínculo afetivo, principalmente se essa criança não é mais um bebê, e aí esse vínculo deve ser levado em conta para decidir se a criança fica com quem a encontrou ou vai ser adotada por uma pessoa ou casal cadastrados. É importante ressaltar que, qualquer que seja o caso em que há interesse pela adoção legal, é necessário que seja feito o estudo psicossocial, por equipe técnica composta por psicólogo e assistente social, tanto do caso como das pessoas que pretendem adotar. De acordo com Ebrahim (2000) a colocação de uma criança em um lar adotivo é uma decisão que deve ser cuidadosamente considerada pelas pessoas envolvidas com o processo de adoção, dentre eles juízes, assistentes sociais e psicólogos, e a resolução final da justiça deve ser pautada na probabilidade da família adotiva satisfazer as necessidades da criança. Segundo Diniz (1991), devido à complexidade da decisão a favor ou não da adoção, torna-se indispensável três 42 tipos de considerações: de ordem jurídica, social e psicológica, sendo às vezes necessárias considerações de ordem médica. Todos os casos são decididos em última instância pela autoridade judiciária. Técnicos e juízes devem avaliar cuidadosamente cada caso, e a solução mais adequada dependerá da perícia dos atores institucionais envolvidos (Becker, 2000). Campos e Costa (2004) realizaram investigação acerca da subjetividade presente nos estudos psicossociais da adoção, e afirmaram que o processo de estudo psicossocial muitas vezes gera desconforto, temor e ansiedade não só para as famílias adotantes, mas também para os psicólogos e assistentes sociais que realizam os estudos e acompanham os casos, pois a responsabilidade pelo “acerto” da adoção e de ser alguém “juridicamente instituído” para fazer tais avaliações gera sofrimento para o técnico. As autoras perceberam que há, durante o processo de avaliação para adoção, uma reflexão dos técnicos a respeito de suas próprias experiências em família, a partir de determinada classe social e cultural. Ainda segundo as autoras, os próprios técnicos (psicólogos e assistentes sociais) reconhecem que há a presença de um aspecto subjetivo da avaliação psicossocial, e que essa subjetividade no processo pode dar margem a abusos de poder. Henderson (2000) discute o fato de que muitas pessoas pensam que o processo adotivo termina quando a criança vai de modo definitivo para a casa dos pais adotivos, ou com a finalização do procedimento legal. O autor ressalta, no entanto, que é a partir do início da convivência entre pais e filhos adotivos que emerge uma série de dúvidas e dificuldades relacionadas à adoção, e que é nesse momento que um acompanhamento de profissionais que trabalham com adoção se mostra mais necessário. De acordo com Henderson (2000), muitas agências de adoção norte americanas têm oferecido um serviço de acompanhamento após a adoção, com o objetivo de atender às necessidades que vão surgindo relacionadas ao processo adotivo. Tal acompanhamento após a adoção não é realizado com freqüência pelos técnicos dos Juizados da Infância e Juventude, em função do número reduzido de profissionais para atender a toda a demanda judicial. Geralmente, no Brasil, quem realiza esse trabalho são os Grupos de Apoio à Adoção, que costumam ser grupos sem fins lucrativos, cujos membros, em grande maioria pais adotivos, trabalham voluntariamente para divulgar a adoção, prevenir o abandono, preparar adotantes e acompanhar pais adotivos. 43 Algumas críticas são feitas ao sistema oficial de adoção, principalmente em relação à lentidão do procedimento. De acordo com Weber (1999), tanto as pessoas que passaram pelo processo como aquelas que nunca entraram num Juizado, acham que as adoções realizadas através dos Juizados são demoradas e burocráticas. Oliveira (2002), ressalta que essas críticas não ocorrem sem fundamento, e ao analisar o trabalho do psicólogo, afirma que na maioria das vezes a demanda dos casos que ele atende, os prazos estabelecidos institucionalmente, e a burocracia existente para a marcação dos atendimentos, que é feita através de intimação, freqüentemente por via postal, impedem a agilização e a conclusão do caso. Além disso, os psicólogos em geral atendem, além dos casos de adoção, outros casos como o de crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco, como vitimização física, psicológica e/ou sexual, negligência, abandono, abrigamento e desabrigamento em instituições sociais, entre outros, o que impede que este profissional se dedique exclusivamente à agilização dos processos de adoção. Diante dessas questões, é fato que um número maior de psicólogos atuando na área jurídica pode contribuir para a agilização dos casos que demandam o atendimento desses profissionais. Apesar da reconhecida importância do trabalho do psicólogo na área da Infância e Juventude, seja nos casos de adoção ou em outros envolvendo crianças e adolescentes que chegam a essas Varas, percebe-se um número bastante reduzido de profissionais trabalhando na área, de modo que o número de psicólogos, geralmente, é bem inferior ao número de profissionais de outras áreas que compõem a equipe técnica, como por exemplo o de assistentes sociais. O poder judiciário, apesar de reconhecer publicamente a importância da atuação do profissional de psicologia na área jurídica, realiza poucos concursos para o cargo de psicólogo, e quando estes são realizados o número de vagas é claramente insuficiente. Além disso, em muitas comarcas (como por exemplo em todas do ES) ainda não existe o cargo de psicólogo, e nessas comarcas ou não há psicólogos fazendo parte da equipe técnica, ou, quando há psicólogos, estes trabalham em desvio de função (por exemplo, estão no cargo de comissários mas trabalham como psicólogos), ou então atuam voluntariamente. Pode-se dizer que a demanda existente nas áreas jurídicas prova o quanto é necessária a atuação do profissional de psicologia, mas a inexistência do cargo de psicólogo em muitas comarcas contribui para que o número desses profissionais em atuação seja 44 reduzido, além de desestimular o ingresso de novos profissionais e de acarretar um sentimento de não reconhecimento profissional nos psicólogos que estão atuando. Essas questões colocam um dilema para os psicólogos que atuam voluntariamente ou em desvio de função na área jurídica, pois enquanto houver profissionais trabalhando nessas condições, dificilmente haverá iniciativas concretas para a criação do cargo de psicólogo e para a realização de concursos. Mas ao mesmo tempo, é a partir do momento em que há profissionais atuando diretamente no judiciário, mesmo que voluntariamente ou em desvio de função, que se evidencia a necessidade da atuação desse profissional para dar conta das demandas do judiciário. Um outro aspecto que deve ser levado em consideração ao se analisar o número reduzido de psicólogos atuando nas áreas jurídicas é o fato de que a Psicologia Jurídica, como área de atuação profissional, permite falar em caracterização muito recente, contando com limitado material bibliográfico, o que faz com que muitos profissionais não tenham conhecimento das diversas possibilidades de atuação nesse campo. Para exemplificar o quanto é recente o trabalho do psicólogo judiciário, Bernardi (2002) afirma que a inserção do psicólogo como profissional do Poder Judiciário no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se deu em 1979, quando dois psicólogos iniciaram atuação voluntária na Vara da Infância e Juventude, no trato das questões de crianças e adolescentes. Esses profissionais foram contratados pelo Tribunal em 1981, e só em 1985 ocorreu o primeiro concurso público para a capital de São Paulo, com a criação de 65 cargos efetivos, fato que refletiu a busca de uma implementação definitiva da profissão na área judiciária. Apenas com o ECA as equipes interprofissionais foram consideradas obrigatórias nas Varas da Infância e Juventude, e a partir daí ocupação desse lugar de psicólogo judiciário ocorreu como uma experiência nova, de criação de campo de trabalho. Já no Juizado da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, segundo Teixeira e Belém (2002), o Núcleo de Psicologia foi criado apenas em 1992, sendo que à época não havia o cargo de Psicólogo no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, e foi necessário que se desviasse de função algumas funcionárias com formação em Psicologia que ocupavam os cargos de Técnica Judiciária e Comissária da Infância e Juventude para desenvolverem o trabalho. 45 1.4.3. Adoções ilegais As adoções ilegais, ou “adoções à brasileira”, são aquelas que não passam pela esfera jurídica, ou seja, ocorrem quando uma pessoa encontra uma criança e a registra num cartório como seu filho biológico, sem passar pelos trâmites legais da adoção. Para fazer um registro de nascimento num cartório é necessária a apresentação do documento de identidade do responsável (pai ou mãe) que for registrar a criança, certidão de casamento (se os pais forem casados), e um documento da maternidade onde a criança nasceu, denominado “Declaração de Nascidos Vivos”, indicando o nome da criança e dos pais biológicos. Se o parto foi feito em casa, deve-se levar duas testemunhas que atestem o parto domiciliar, as quais assinarão a documentação de registro. Esse procedimento é realizado para crianças de até 11 anos, e para crianças acima desta idade o registro só é feito mediante autorização judicial8. Assim, para uma pessoa registrar ilegalmente uma criança de até 11 anos, ou seja, registrá-la como seu filho biológico, mesmo a criança não o sendo, é necessário apenas levar duas testemunhas que declarem falsamente a ocorrência de parto domiciliar. A realização de registro civil falso, por exemplo, o de uma criança, pode fazer com que a pessoa seja objeto de ação civil pública que vise à anulação do ato jurídico (Abreu, 2002). Além disso, de acordo com o artigo 242 do Código Penal Brasileiro, é crime “dar parto alheio como próprio, registrar como seu o filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao estado civil”, tendo por pena “reclusão, de dois a seis anos”. Porém, de acordo com o Código Penal, “se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza”, a pena é a “detenção, de um a dois anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena”. Caso seja concedido o perdão judicial, o ato jurídico nem fica registrado, de modo que o autor não perderia o direito de ser considerado réu primário em um eventual crime futuro. Ou seja, a adoção ilegal é considerada crime de acordo com a legislação brasileira, mas a própria lei é permissiva com quem o comete, podendo a pessoa não sofrer qualquer tipo de penalização. Segundo Abreu (2002), é um crime privilegiado, pois conta com uma condição atenuante, e acaba sendo incentivado na ausência da aplicação da lei, pois quem o comete será perdoado. O fato é que 8 Informações obtidas no Cartório Sarlo, com endereço na Avenida Nossa Senhora da Penha, n.º 595, Praia do Canto, Vitória-ES, em 11/01/2005. 46 muitos não conseguem perceber essa prática como um crime, e sim como uma ação para apressar a adoção, como um ato nobre, caridoso, motivado pelo desejo de salvar a criança. Assim, as punições do Código Penal acabam não tendo força social nem jurídica no que se refere às adoções ilegais, e isso tudo parece revelador dos esquemas de percepção e ação postos em prática pela sociedade brasileira no que diz respeito ao assunto. Em uma declaração feita à revista Época (23/08/04) sobre adoções ilegais, numa reportagem de autoria de Mendonça e Fernandes (2004), o próprio juiz da Primeira Vara da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro afirmou: “... quem vier aqui (ao Juizado) e confessar esse crime tem a situação regularizada e o perdão da Justiça” (p.99). Por outro lado, a legislação é extremamente rígida no que se refere à prescrição do crime de falsificação de registro civil, pois, segundo o Código Penal, a prescrição se dá após um período de 10 anos, mas só começa a correr a partir da data em que o fato se tornou conhecido (artigo 111). Ou seja, o crime não começa a prescrever antes que uma autoridade tome ciência do caso, o que garante, ao menos temporalmente, a possibilidade de punição do autor pela justiça. Abreu (2002) afirma que muitos operadores do direito não conhecem com exatidão a lei que rege e pune a adoção à brasileira. Juizes e técnicos do juizado desconhecem este crime e sua tipificação, seus efeitos e mesmo seus detalhes, como, por exemplo, a particularidade da lei no que se refere à prescrição. Segundo Fu I e Matarazzo (2001), a prática de adoção sem registro judicial é um procedimento comum no Brasil. Não se sabe ao certo o número real de adotantes ilegais no país, talvez devido à característica cultural do povo brasileiro em diferenciar pouco os procedimentos legal e ilegal da adoção, e também à despreocupação dos governantes em investir num cadastro que inclua as adoções ilegais. De acordo com alguns juízes, estima-se que a proporção varia de 80 a 90% do total das adoções realizadas no Brasil, o que foi confirmado em alguns debates entre membros do Judiciário, técnicos e militantes de grupos de apoio à adoção (Abreu, 2002). Apesar das incertezas dos números, tudo indica que essa proporção era maior ainda no passado. Segundo Abreu (2002), antigamente os cartórios não eram obrigados a exigir um documento da maternidade indicando o nome da criança e da mãe biológica para que o bebê pudesse ser registrado. As adoções à brasileira se 47 realizavam muitas vezes com a cumplicidade dos responsáveis pela execução das adoções legais, e com a cumplicidade da sociedade. As ilegalidades ocorriam dentro dos próprios juizados (destruição de documentos, entrega de guarda a pais não cadastrados, entre outros), com o apoio, a cumplicidade, e mesmo a participação ativa dos juízes e técnicos do juizado. Além disso, algumas adoções legais (a Adoção Simples e a regida pelo Código Civil) não garantiam ao filho adotivo os mesmos direitos do filho legítimo, e após uma adoção legal, no registro de filiação constava o termo “adotado”, o que era visto com maus olhos pelos pais adotivos pois era motivo de discriminação. Essas distinções foram abolidas em 1990 com a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que tenderia a facilitar o uso da adoção legal e a diminuir as adoções à brasileira. Porém, outros fenômenos continuam servindo de barreira à adoção legal, como a morosidade da Justiça, e o fato de esta parecer, tanto para quem doa como para quem adota uma criança, um poder ineficaz (Abreu, 2002). Weber (1999) aponta alguns dos motivos que podem levar as pessoas que querem adotar a romper com o sistema oficial de adoção: as pessoas em geral acham que as adoções realizadas através dos Juizados são demoradas, discriminatórias e burocráticas; alguns não confiam nos sistemas legais de adoção, são imediatistas e não se conformam em ficar na lista de espera no momento em que decidem adotar; o fato de a adoção ser controlada pelos técnicos do Juizado às vezes é visto como uma invasão de privacidade; e o tempo estabelecido para a guarda da criança antes da adoção muitas vezes é visto pelos adotantes como traumático, porque eles não sabem se ficarão ou não com a criança. Para as pessoas que resolvem romper com o sistema oficial de adoção existem os intermediários, que são geralmente mulheres “caridosas” que indicam ou arranjam bebês para pessoas que querem adotar, profissionais de saúde como médicos e enfermeiras, e às vezes os próprios serviços assistenciais e judiciais e as maternidades, que oferecem dinheiro para a mãe biológica para que seu filho seja inscrito como filho legítimo da pessoa ou casal adotante (Weber, 1999). De acordo com Abreu (2002), as próprias mães biológicas preferem agir pessoalmente quando querem entregar um filho para adoção, sem a interferência da justiça. Parece que o fato de ter um contato pessoal com o mediador ou com os pais adotivos é mais reconfortante para essas mães do que entregar a criança para o anonimato e a impessoalidade estatal, dando a sensação de que não entregou o 48 filho para qualquer um, de que sabe quem vai criá-lo e de que vão cuidar bem dele. O Estado, como mediador de adoções, não parece a essas mães uma entidade suficientemente consistente e confiável para a qual a criança pudesse ser entregue. 1.5. Motivações para a adoção Reppold e Hutz (2003) argumentam que os fatores que determinam as motivações para a adoção são um tema bastante polêmico entre pesquisadores da área, especialmente após a promulgação do artigo 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que “a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos” (2002, p.41). Desde então são freqüentemente discutidos os critérios referentes à legitimidade das intenções de pais adotivos. Reppold e Hutz (2003) afirmam que, em geral, a percepção social sobre o que leva as pessoas a adotar centra-se em dois pólos antagônicos: o altruísmo (comportamento pró-social que visa atender as necessidades alheias em detrimento de benefícios ou interesses particulares) ou o hedonismo (busca da satisfação dos próprios desejos). Frente à crença de que a adoção implica maior risco pessoal e social de desajustamento, observa-se que muitas pessoas interpretam a adoção como um ato de altruísmo e abnegação, sendo muito associada no imaginário social à caridade e à filantropia. Porém, o fato de as famílias adotantes, em sua maioria, imporem alguns requisitos sobre os atributos pessoais da criança ou adolescente a ser adotado evidencia que a aceitação não é incondicional, nem regida pela lógica de alcançar o interesse do outro em detrimento de seus próprios interesses. Dentre as motivações consideradas hedonistas estão a busca, na adoção, de uma forma de suprir o desejo de parentalidade, de atender ao anseio pessoal de ser um cuidador, de perpetuar algumas tradições familiares através do legado dos filhos, ou de responder à pressão social que impõe a necessidade de ter filhos. Além disso, podese apontar ainda aquelas motivações hedonistas que centram suas intenções em uma relação de submissão, gratidão e reconhecimento a ser estabelecida com o adotado, algumas vezes tendo a adoção o propósito de o filho ajudar nos afazeres domésticos, na criação dos irmãos menores ou no cuidado e atendimento às necessidades do adotante no futuro. Reppold e Hutz (2003), a partir de um estudo com mães adotivas e biológicas que objetivou investigar algumas características psicossociais de mães adotivas, 49 dentre elas motivações à adoção, o nível de julgamento moral e as crenças de locus de controle (crenças que os sujeitos estabelecem sobre as fontes de controle dos seus comportamentos), revelaram que as análises não indicaram diferenças significativas entre o tipo de maternidade (biológica ou por adoção) e as variáveis investigadas, o que aponta, segundo os autores, para a necessidade de desmistificar as afirmações do senso comum que indicam uma expectativa de maior filantropia ou maior hedonismo (extremos considerados importantes fatores motivacionais para adoção) entre os adotantes. As pesquisas mostram, segundo Weber (1999), que as pessoas, em sua maioria, adotam exatamente pelas mesmas razões que levam as pessoas a terem filhos biológicos: querer uma criança, querer dar e receber amor, querer ter uma família. Pesquisa realizada por Weber (2003) sobre conceitos e preconceitos acerca da adoção aponta algumas motivações mais freqüentes para a adoção, dentre elas: “ajudar a criança”, “satisfazer seu desejo de ser pai/mãe”, “poder escolher o sexo da criança”, “por gostar de criança”, e “para a criança ajudar nos serviços domésticos”. Weber (1999) aponta ainda outras motivações, como “não poder ter filhos”, “ajudar um parente com dificuldades”, “por acaso, quando a criança aparece em suas vidas”, e ainda “simplesmente por querer adotar”. Essa última motivação sugere que, embora muitas pessoas que realizam uma adoção passem por um período de reflexão antes da efetivação do ato, algumas vezes essas pessoas não conseguem explicitar ou explicar os motivos de seu interesse pela adoção. Isso pode estar relacionado ao fato de que, numa concepção social, a escolha por ter filhos é vista como algo “natural”, e muitas vezes não requer qualquer explicação. Reppold e Hutz (2003) relataram que 60% das participantes de sua pesquisa, na qual foram investigadas características psicossociais de mães adotivas, relacionaram adoção a problemas de fertilidade. Os demais motivos citados para a adoção foram o desejo de maternidade de mulheres solteiras (10%), a importância social (10%), a perda de um filho (5%) e o acolhimento de um parente (5%). Cassin e Jacquemin (2001), em pesquisa realizada junto ao Setor de Serviço Social e Psicologia do Fórum da Comarca de Ribeirão Preto, apontaram algumas das motivações para adoção consideradas ilegítimas ou inadequadas, dentre elas: preencher um vazio, satisfazer outra pessoa, salvar o casamento, promessa, caridade, ter companhia, e substituir afetivamente um filho morto ou uma gravidez interrompida. De acordo com Reppold e Hutz (2003), alguns pesquisadores afirmam 50 que as adoções motivadas pela perda recente de um filho ou parente próximo implicam potenciais dificuldades de adaptação decorrentes da fragilidade em que os pais se encontram naquele momento, e o luto a ser elaborado pode ser um obstáculo para a criação de uma rede de apoio que ajude o filho adotivo a construir um autoconceito positivo. Reppold e Hutz (2003) apontam ainda outra motivação considerada inadequada para a adoção, que é a crença de que a inclusão de uma criança na família aumentaria a probabilidade de fecundação de casais com problemas de fertilidade. Desse modo a criança ou o adolescente adotivo estaria sendo visto como um meio e não como um fim, sendo utilizado para diminuir a ansiedade frente às dificuldades de reprodução e aumentar as chances de concepção. Weber (2003), a partir de uma pesquisa realizada com pais e filhos adotivos, afirma não haver correlações significativas entre motivações para o exercício da parentalidade adotiva e o sucesso da adoção, pois apesar de muitas das adoções pesquisadas terem se fundado em motivações consideradas ilegítimas, elas foram bem sucedidas. Segundo Weber (2003) a maioria absoluta dos pais entrevistados consideraram muito bom o desempenho escolar do(s) seu(s) filho(s), falaram deles com características positivas, consideraram ótimo o relacionamento com seu(s) filho(s), não encontraram dificuldades em sua educação, relataram acreditar que é possível gostar da mesma maneira de filhos biológicos e adotivos, e aconselhariam outros casais a adotar. Segundo Reppold e Hutz (2003), alguns autores afirmam que muitos técnicos subestimam a capacidade de adaptação dos adotados, contra indicando a adoção em alguns casos sem oferecer aos postulantes à adoção um espaço para reflexão e preparação para mudanças. Reppold e Hutz (2003) afirmam que não há consenso entre os profissionais sobre a associação entre motivações para a adoção e a qualidade da relação estabelecida entre pais e filhos, o que provavelmente se deve ao fato de a avaliação de um aspecto isolado da adoção ser pouco efetiva frente à diversidade de variáveis envolvidas na saúde emocional dos membros de famílias adotivas. 1.6. Revelação da adoção no âmbito familiar De acordo com Schettini Filho (1999), a decisão de adotar implica outras decisões que não poderão ser evitadas ou ignoradas, dentre elas a revelação ou 51 não da adoção para o filho. Segundo esse autor há três alternativas possíveis: revelar oportunamente a origem ao filho; negá-la, construindo uma nova e falsa história; ou sempre adiar a decisão sobre o assunto. O autor afirma que muitos aspectos importantes da relação interpessoal entre pais e filhos são influenciados pela atitude assumida a respeito da origem do filho, e que após a decisão de adotar, revelar a adoção talvez seja a iniciativa de maior importância e repercussão na família adotiva. Vários autores (Piccini, 1986; Schettini Filho, 1999; Weber, 1999; Cassin e Jacquemin, 2001; Kumamoto, 2001) afirmam que a revelação da adoção para o filho é fundamental, pois está ligada à formação de sua identidade e de sua história pessoal, e consequentemente à construção de sua relação com o mundo e com a vida: “ignorar a questão, a guisa de proteção, é uma atitude que parece ligar, aproximar e preservar, porém leva ao distanciamento e à deterioração, pois se fundamenta na negação e no silêncio, propiciando insegurança, desconfiança e desilusão” (Schettini Filho, 1999 p.15). De acordo com Marin (1991) a criança tem direito a conhecer e discutir sua história, a participar ativamente do processo histórico que a determinou e do qual faz parte, sendo um agente nesse processo. Piccini (1986) ressalta que quando é escolhida a opção de guardar segredos ou de relatar inverdades sobre a adoção, na tentativa de escamotear eventuais problemas, outros bem mais graves poderão surgir para os pais e, sobretudo, para a própria criança. Segundo Oliveira (2002), o segredo pode ser considerado como um fator estruturante de conflitos psicológicos e desvios, dando à adoção uma condição apriorística de dificuldade e risco. A partir do relato de três casos verídicos retirados de prontuários clínicos, Piccini (1986) descreveu algumas conseqüências negativas, psicológicas e sociais, decorrentes principalmente da insegurança dos pais adotivos em assumirem-se serenamente como tais, dentre elas dificuldade de relacionamento entre pais e filhos, falta de confiança nas relações interpessoais, instabilidade emocional, desenvolvimento de problemas de saúde com fundo emocional, queda no rendimento escolar do filho, entre outras. Cassin e Jacquemin (2001) apontam que, apesar de a literatura ser unanimemente favorável à revelação da adoção para o filho, parece haver contradições, inclusive legais, no que se refere a essa questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente resulta de uma preocupação pela inclusão e pela igualdade de direitos a todas as crianças, mas determina que nada conste no 52 registro da criança adotada sobre sua verdadeira história. Quando uma criança é adotada, ela é registrada legalmente pelos pais adotivos, não havendo nenhuma informação nesse registro que evidencie a adoção. Quando a criança já tem algum registro antes de ser adotada, com a adoção este registro é anulado com todas as informações nele contidas, inclusive sobre os pais biológicos dessa criança. Esses procedimentos se mostram questionáveis, pois se a lei garante iguais direitos aos filhos adotivos e biológicos, não faz sentido a adoção permanecer oculta, na clandestinidade, em obediência à lei. Além do mais, isso se mostra contrário às orientações sugeridas pela literatura no sentido da revelação para o filho de que ele é adotivo, pois a própria lei se encarrega de apagar todas as informações que evidenciam a adoção. Mas essa aparente contradição, certamente polêmica, merece ser relativizada, pois se deve levar em conta que numa sociedade em que há ainda tantos preconceitos em relação à criança adotiva, talvez o fato de constar no registro da criança informações que evidenciem a adoção possa ser um fator que desestimule a procura pela realização de adoções legais, na tentativa de minimizar os preconceitos e discriminações em relação à criança. Vários autores (Piccini, 1986; Schettini Filho, 1999; Kumamoto, 2001) analisaram a atitude de pais adotivos que, de forma completa ou parcial, tentam manter segredo sobre a origem biológica de seus filhos, e ressaltaram alguns motivos que podem levar a isso. Uma das finalidades do segredo seria tentar preservar a vida do filho, diante da estigmatização e da discriminação social ainda vigentes na sociedade em relação à criança adotada (Piccini, 1986; Schettini Filho, 1999; Kumamoto, 2001). O segredo também pode ser mantido com base na idéia de que a criança adotada pode ter tido um “passado vergonhoso”, e tocar em épocas passadas dolorosas poderia magoá-la (Schettini Filho, 1999; Piccini, 1986). O segredo sobre a adoção serve ainda para proteger pais inférteis das cobranças da sociedade, a qual impõe às pessoas a obrigatoriedade de gerar filhos para que sejam consideradas “normais”. A infertilidade pode acarretar um sentimento de incompletude que se confunde com a idéia de inferioridade, o que pode levar a mecanismos de fuga como a negação e o segredo (Schettini Filho, 1999). Além disso, a supervalorização da biologia em nossa sociedade pode levar a crer que o relacionamento de pais adotivos com seu filho será de segunda categoria, o que explica o sentimento de inferioridade e até de culpa de certos pais diante da hipótese de terem que revelar a adoção (Schettini Filho, 1999; Piccini, 1986; 53 Kumamoto, 2001). Esse fato, segundo Piccini (1986), pode provocar na criança sentimentos de insegurança e até de desvalorização dos pais adotivos, pela ambigüidade e auto-desvalorização nas quais eles próprios se colocam. Segundo Piccini (1986), outras razões que tornam difícil aos pais adotivos revelarem a adoção para o filho são: a angústia de serem menos amados por ele e de terem contra si sua revolta após a revelação; a preocupação de incentivar nele, involuntariamente, aspirações de reencontrar a família originária; e, quando o filho foi registrado como sendo legítimo, acrescenta-se o medo de punições legais, ao se tornar patente a anterior falsa declaração em ato público. Um outro motivo que pode contribuir para a manutenção do segredo sobre a adoção foi o que Schettini Filho (1999) denominou como rejeição à diferença: o fato de o filho adotivo ser diferente dos outros filhos do ponto de vista da formação de sua história de vida pode ser visto como uma inferioridade ou deficiência, e por isso a adoção é negada a todo custo. Schettini Filho (1999) afirma que não se pode negar que o filho adotivo é diferente dos outros filhos do ponto de vista da formação de sua história de vida, mas isso não deve ser visto como uma inferioridade. Weber (2004) afirma que a parentalidade biológica e a adotiva tem a mesma importância, mas a contingência de uma família adotiva traz características especiais que não devem ser negadas, mas sim assumidas totalmente. Na tentativa de negar as diferenças, às vezes pais adotivos tentam camuflar a relação adotiva e imitar uma família biológica. Segundo Ebrahim (2000) a situação da adoção não é necessariamente um elemento complicador, se as diferenças forem percebidas como pertinentes a todos os indivíduos. O diferente pode tornar-se fator de crescimento, mobilizando as pessoas e tirando-as da estagnação que a facilidade da semelhança pode trazer. De acordo com Piccini (1986), apesar de a revelação da adoção para a criança ser geralmente o melhor caminho, não se deve forçar os pais adotivos a fazer revelações que eles sentem que são impossíveis de serem feitas, pois se achando obrigados a falar sem estarem convencidos, dificilmente conseguirão favorecer no filho a elaboração daquilo que eles próprios não elaboraram. Quanto ao momento em que a revelação sobre a adoção deve ser feita ao filho, Schettini Filho (1999) afirma que não é possível oferecer uma resposta padronizada, pois dependerá de fatores ambientais no grupo familiar, da preparação dos pais para tomarem a iniciativa, e do momento de desenvolvimento de cada 54 criança. Mas, apesar de não haver uma resposta padrão, alguns direcionamentos são importantes. É quase unânime entre os autores a idéia de que é importante que a adoção seja contada “o mais cedo possível”, o que, tendo em vista a situação individual de cada criança, segundo Schettini Filho (1999), significa contar entre os 2 ou 3 anos. O autor afirma que essa é uma boa época para se contar a história da adoção pois a criança não exigirá detalhes, nem questionará a informação, o que deixará os pais mais à vontade para estabelecerem até que ponto devem falar, ao mesmo tempo em que se sentirão mais liberados das tensões e do medo da revelação. Porém esse é um processo que irá se prolongar, e as questões irão tomando novas formas de acordo com o desenvolvimento da criança, com a finalidade de preencher os vazios deixados pelas informações resumidas do início. Segundo Schettini Filho (1999), na medida em que for adiada a decisão de revelar a adoção para a criança, maiores cuidados deverão ser tomados ao abordar o assunto, pois a revelação tardia tende a acrescentar dificuldades para pais e filhos. Em situações em que a revelação ocorre após 5 ou 6 anos de idade, os benefícios do conhecimento da história podem vir juntos com os prejuízos decorrentes da forma pela qual ela é interpretada pela criança. Piccini (1986) afirma que, quando a revelação se dá tardiamente, fica imediatamente evidente que até então os pais não foram sinceros, e em decorrência disso a confiança do filho neles poderia diminuir, de modo que a decepção por ter sido enganado durante tanto tempo pode dificultar a justa avaliação pelo filho de todo o convívio com os pais adotivos. Além disso, pelo fato de os pais esconderem o ato da adoção, será fácil para a criança concluir que se trata de algo vergonhoso, condenável ou indigno, pois se não, não se justificaria o silêncio a respeito da questão. De acordo com Piccini (1986), quando o filho adotivo traz as primeiras dúvidas sobre sua vinda, se lhe forem fornecidas imediatamente respostas esclarecedoras, na medida certa de suas perguntas, ele irá se acostumando a encarar a sua verdade. Schettini Filho (1999) discorda que os pais devam aguardar as perguntas dos filhos, pois não parece provável que uma criança bem pequena tomasse essa iniciativa de fazer esse tipo de questionamento, e se o fizesse, seria indício de alguma informação ou percepção anterior, o que estaria indicando que os pais demoraram a falar no assunto. Mas ambos os autores concordam que se os pais passarem as informações com segurança, empatia e afeto, possibilitarão que a criança se sinta seguramente aceita e inserida na família. 55 Weber (2003), a partir de pesquisa realizada com pais e filhos adotivos, afirma que a maioria dos filhos adotivos soube de sua condição desde pequenos, e isso não passou a ser um evento traumático para eles. Isso parece mostrar, segundo a autora, que uma boa forma de revelar ao filho que ele é adotivo é aos poucos, com naturalidade, e quando ele ainda é pequeno, pois a pesquisa indica que aqueles que souberam após os 6 anos de idade foram mais propícios a ter algum tipo de problema. A maioria absoluta dos filhos adotivos revelou que não conhecia seus pais biológicos, não tinha informações sobre eles e não tinha desejo de conhecê-los. Aqueles que conheciam os pais biológicos ou tinham informações sobre eles afirmaram gostar dessa situação. Além disso, a maioria dos filhos adotivos achava importante que os pais adotivos soubessem da história da criança adotada para que pudessem contá-la quando solicitados. 1.7. Entrega do filho para adoção Mello e Dias (2003) afirmam que existem ainda poucos estudos que se referem à entrega de um filho para adoção. Segundo Mariano e Rossetti-Ferreira (2004), em estudos sobre adoções de crianças e adolescentes, as famílias biológicas raramente são abordadas, e quando é possível obter informação sobre a família biológica, sabe-se menos sobre os pais do que sobre as mães. Mello e Dias (2003) ressaltam que a entrega da criança é geralmente feita pela mãe, ficando o pai omisso nesse processo, muitas vezes por nem saber da gravidez ou por ter abandonado a companheira e o filho. Costa e Campos (2003) afirmam que, apesar de em muitos casos realmente não ser possível obter informações sobre o pai biológico da criança, deve-se levar em conta também que as diferenças culturais em relação à vivência parental de cada gênero podem levar os profissionais que trabalham com adoção a priorizarem a obtenção de mais informações sobre as genitoras do que sobre os genitores. Weber (1999) aponta que a oferta em relação à adoção em geral constitui-se numa tríade integrada por pobreza, mãe sem um companheiro estável e baixo nível sócio-educacional. Em uma pesquisa que objetivou caracterizar as famílias biológicas envolvidas em processos de adoção de crianças na Comarca de Ribeirão Preto – SP, Mariano e Rossetti-Ferreira (2004) encontraram que a maioria das mães biológicas tinha entre 17 e 30 anos, apresentava baixa escolaridade, morava em bairros populares, e exercia profissões de baixa qualificação (vendedoras 56 ambulantes, domésticas, diaristas e/ou faxineiras, donas de casa), ou estava desempregada. Ficou evidente que a entrega do filho em adoção esteve fortemente marcada por questões econômicas, surgindo de forma muito clara a associação entre condição sócio-econômica desfavorável e a doação de filhos. Segundo Mariano e Rossetti-Ferreira (2004), as famílias biológicas geralmente fazem uso da rede de apoio social para compartilharem o cuidado dos filhos, e apenas quando essa rede se esgota, ou seja, quando não é mais possível contar com a colaboração de outras pessoas, é que encontram a adoção com “alternativa”. De acordo com a pesquisa, os principais motivos relatados pelos pais (principalmente pelas mães) para a entrega do filho para adoção foram: não reunir condições materiais para manter a criança, falta de apoio familiar, falta de apoio do pai da criança, e problemas de saúde física ou mental com a mãe. Freundlich (2002) afirma que nos Estado Unidos as pesquisas indicam que muitas mães que entregam os filhos para adoção são adolescentes solteiras, e que alguns fatores estão relacionados à decisão dessa mãe de entregar o filho para adoção, dentre eles a ausência de participação da mãe da adolescente grávida e do pai biológico da criança na vida da adolescente, e o contato com os possíveis futuros pais adotivos da criança. De acordo com Diniz (1991), a decisão de renunciar à criança raramente é tomada pela mãe antes ou logo após o parto, e por isso são poucos os casos de doação de bebês recém nascidos para adoção. Segundo o autor isso ocorre devido a alguns aspectos, dentre eles a ignorância, por parte da mãe, sobre a possibilidade da adoção, a existência de dificuldades pessoais, e as pressões sociais, pois dependendo do seu meio ambiente, uma solução desse gênero é vista como altamente condenável. Mello e Dias (2003) realizaram um trabalho que procurou investigar como os indivíduos percebem a pessoa que entrega um filho para adoção e as circunstâncias que envolvem esse ato. Segundo as autoras, os sujeitos percebem as pessoas doadoras como incapazes de criar o filho devido à situação financeira, à imaturidade e à irresponsabilidade, como se para essas pessoas a doação fosse a última alternativa para o desenvolvimento da criança. Quanto aos motivos que levam à doação de um filho, percebe-se uma ambivalência entre as respostas, pois enquanto alguns acham que o motivo seria achar que outra pessoa cuidaria melhor do seu filho, outros acreditam que é por falta de preocupação com o filho e por excesso de 57 egoísmo. Além disso, as pessoas acreditam que a falta de condições financeiras, a ignorância e a imaturidade dos doadores são aspectos motivadores da doação de um filho. As pessoas acreditam ainda que as repercussões da doação na vida do doador são sentimentos de perda, vazio, culpa, remorso, desespero, amargura, preocupação com o futuro do filho, arrependimento e dúvidas sobre seu ato. De acordo com Mello e Dias (2003), algumas pessoas não acham que a doação seja justificável, outras acreditam que a doação só é justificável em casos extremos, como prostituição, uso de drogas, violência, falta de condições financeiras e risco de vida por parte dos pais biológicos, e outras ainda acreditam que a doação é justificável no caso de imaturidade dos pais. Costa e Campos (2003) afirmam que, muitas vezes, a alegação de falta de condições financeiras e materiais por parte das genitoras que entregam a criança para adoção parece ser de mais fácil aceitação por parte das outras pessoas e acarretar uma menor sanção social. Segundo Mello e Dias (2003), as pessoas vêem alguns pontos positivos na doação de uma criança, dentre eles a continuidade da vida da criança, a oferta de cuidados e condições de sobrevivência a ela, e o fato de não ter sido praticado um aborto. Todos esses aspectos nos remetem ao histórico da adoção, que enfatiza a prática do infanticídio como forma de os pais se livrarem de crianças indesejáveis. Além disso, outro ponto positivo destacado foi a possibilidade de fazer outras pessoas felizes, uma vez que a doação possibilita que as pessoas que não podem gerar tenham filhos. 1.8. Reencontro com pais biológicos Hartman (1994, citado por Oliveira, 2002) afirma que o assunto do reencontro entre filho adotivo e pais biológicos na maioria das vezes é um tabu para os pais adotivos, os quais temem perder o amor do filho caso o reencontro venha a se efetivar. Mas estudos têm indicado que se os pais adotivos encararem com naturalidade o desejo dos filhos de irem em busca de sua origem, e até os auxiliarem nesta busca, isso pode se tornar um fator de proximidade entre eles. Hartman (1994, citado por Oliveira, 2002) afirma ainda que em geral os pais biológicos também desejam ser encontrados, e um exemplo disso é que no estado de Michigan foi facultado o direito de as mães biológicas deixarem informações para os filhos entregues por elas para adoção, para se algum dia eles quisessem procurá- 58 las, e a partir daí cerca de 98% das mães que doam seus filhos passaram a deixar informações. Mello e Dias (2003), no já citado trabalho que investigou como os indivíduos percebem a pessoa que entrega um filho para adoção e as circunstâncias que envolvem esse ato, pesquisaram como as pessoas percebem o direito ao reencontro do doador com o filho. A maioria dos participantes acredita que é um direito da criança conhecer seus pais biológicos, e outras acreditam que depende do contexto. Uma minoria acredita que o reencontro deve atender ao interesse dos pais adotivos, e que só deveria ocorrer em casos extremos, e há pessoas que acreditam que o reencontro entre pais doadores e filho não deve ser permitido. Miall e March (2005), a partir de uma pesquisa realizada no Canadá que objetivou analisar mudanças nas práticas de adoção a partir da opinião da comunidade, tendo em vista que a opinião popular tem afetado as políticas e práticas acerca da implementação de novos tipos de famílias adotivas, examinaram o nível de aprovação da comunidade acerca do encontro entre adultos adotados e seus pais biológicos (“birth reunions”). Segundo as autoras, a grande maioria dos participantes (91%) aprovam o encontro entre filhos adotivos adultos e seus pais biológicos. Foi perguntado ainda se as pessoas eram favoráveis à revelação de informações de identificação dos pais biológicos aos adultos adotivos, e a grande maioria afirmou que sim, de modo que 84% acham que essas informações devem ser reveladas aos adultos adotivos mesmo se for contra a vontade dos pais adotivos, e 77% acham que essa revelação deve ser feita mesmo se for contra a vontade dos pais biológicos. Quando foi perguntado se deveriam ser dadas informações de identificação sobre os filhos adotivos aos pais biológicos, a maioria dos participantes foi favorável, mesmo que isso ocorresse sem a permissão dos pais adotivos (55%). Porém, apesar de a maioria ser favorável à liberação de informações sobre os filhos adotivos aos pais biológicos, a maioria (55%) discorda que isso seja feito sem a permissão do adulto adotivo envolvido. Oliveira (2002) afirma que, na tentativa de se igualar a uma família biológica, a família adotiva muitas vezes tenta negar ou minimizar qualquer situação que demonstre suas diferenças. Uma das maiores evidências dessa diferença entre ambas as famílias, segundo a autora, é a existência da família biológica, e por isso uma ligação entre estas deve ser totalmente inexistente na visão de muitas pessoas. Essa ausência de ligação entre as famílias biológica e adotiva é uma característica 59 da maioria das adoções realizadas no Brasil, as quais são denominadas adoções fechadas. As adoções fechadas são aquelas em que não há contato entre as famílias biológica e adotiva da criança, e esta tem sua história de origem “apagada”. Já as adoções denominadas abertas, praticadas em algumas sociedades ocidentais, as relações entre as famílias por adoção e de origem permanecem após a entrega do adotado, seja por meio de um mínimo contato com a presença de um mediador, até a possibilidade de continuar os contatos mediante correspondência ou visitas. Nesse caso o adotado tem conhecimento de sua história de vida. De acordo com Freundlich (2002), as pesquisas que analisam os efeitos das adoções abertas para a tríade envolvida no processo adotivo (pais biológicos, criança adotada e pais adotivos) ainda são limitadas, pois a prática desse tipo de adoção tem um desenvolvimento recente. Os adeptos da adoção aberta enfatizam os fundamentos éticos dessa modalidade. Oliveira (2002) aponta alguns benefícios da adoção aberta para a mãe adotiva, para a família adotiva, e para a criança adotada. Para a mãe adotiva haveria vantagens como a participação ativa na escolha da família adotante, a possibilidade de apoio financeiro para sua manutenção e despesas médicas, a manutenção do vínculo com a família adotante e com a criança, entre outras. Para a família adotiva, as vantagens seriam a obtenção de informação sobre o entorno biológico e social de seu filho, o alívio do possível sentimento de culpa que os pais podem experimentar por crerem que estão se apoderando de alguém que não lhes pertence, o conhecimento das circunstâncias pelas quais seu filho foi entregue para adoção, ter informações para poder responder às questões que a criança provavelmente fará, ter uma imagem concreta da família biológica da criança, o que evitará a formação de fantasias e imagens distorcidas, entre outras. Para a criança os benefícios são o conhecimento de sua história de vida, a possibilidade de continuar ligado às suas origens, a possibilidade de decidir que tipo de contato quer com seus pais de origem, entre outros. Algumas críticas feitas à adoção aberta devem ser consideradas, como o fato de que esse tipo de adoção poderia fazer com que a mãe biológica não encarasse a entrega da criança para adoção como uma perda, de modo que ela poderia continuar sentindo a criança como sua, não realizando a doação do ponto de vista emocional, apesar de tê-lo feito de forma legal. Isso poderia permitir que ela se sentisse no direito de interferir na criação da criança, e um possível 60 descontentamento a respeito dessa criação poderia gerar confusão. A adoção aberta poderia possibilitar o surgimento de rivalidades entre os pais biológicos e adotivos, e poderia também dificultar a formação de um apego seguro entre pais adotivos e a criança, devido à presença dos pais biológicos. Para a criança, a existência de duas categorias de pais pode ser confusa, principalmente se os pais adotivos não assumirem claramente o papel de pais psicológicos da criança (Oliveira, 2002). Miall e March (2005) afirmam que, apesar de as famílias adotivas e biológicas envolvidas em uma adoção tradicionalmente não se conhecerem e nem manterem contato, nas últimas duas décadas a adoção aberta tem ocorrido com mais freqüência e tem se mostrado viável. Ao analisarem as mudanças nas práticas de adoção a partir da opinião da comunidade canadense, as autoras investigaram a aceitação da comunidade em relação a três níveis de contato entre as famílias biológicas e adotivas: a) a troca de cartões e cartas após a adoção; b) as famílias se encontrarem antes da adoção e trocarem cartões de cartas após a adoção; e c) adoção completamente aberta, com um relacionamento face-a-face entre as famílias adotivas e biológicas após a adoção. Segundo Miall e March (2005), 69% dos homens e 83% das mulheres aprovaram a troca de cartões e cartas após a adoção; 72% dos homens e 84% das mulheres aprovaram o encontro das famílias antes da adoção e a posterior troca de cartões e cartas, tendo sido este tipo de contato o que obteve maior índice de aprovação; e o nível menos aprovado de adoção aberta, apesar de ainda sim contar com a aprovação da maioria dos participantes, foi aquele do contato completamente aberto entre pais adotivos e biológicos antes e após a adoção, tendo sido aprovado por 58% dos homens e 65% das mulheres. Apesar da grande aceitação percebida em relação aos diversos níveis de contato possíveis em uma adoção aberta, quando foi perguntado aos participantes se eles aprovavam a ausência de troca de informações e de contato entre pais adotivos e biológicos quando os pais adotivos não desejassem manter contato com os pais biológicos da criança, a grande maioria do participantes (87% dos homens e 83% das mulheres) afirmou que sim. 1.9. Supervalorização da biologia Segundo Kumamoto (2001), muitos dos preconceitos em torno da adoção, como os mitos em torno da herança genética desconhecida da criança adotada, vêm 61 de uma supervalorização da contribuição biológica da parentalidade, muito presente em nossa sociedade. Kumamoto (2001) afirma que o genético e o hereditário fazem parte da ambição humana de perpetuação, por meio da propagação e da sobrevivência dos genes através da descendência. Por contrariar a lógica da biologia, se faz uma associação entre adoção e “transgressão”, visto que a adoção estaria em oposição aos padrões culturais preestabelecidos. De acordo com Costa (1991) a adoção muitas vezes é fonte de inquietação e tensões, pois numa evidente confusão entre sociologia e genética, ela é concebida como um violar a lógica que preside às representações de parentesco, nas quais arbitrariamente se associam herança e hereditariedade, isto é, se confundem atributos sociais com traços biologicamente transmitidos. Segundo Kumamoto (2001) o relacionamento é o cerne da socialização, e por isso não basta gerar a criança. O essencial é estabelecer um compromisso afetivo com ela, para que a relação filial se desenvolva. O estabelecimento e o fortalecimento dos laços afetivos na família resultam de uma conquista gradual e de um aprendizado recíproco. Segundo Diniz (1991), a parentalidade e a filiação são uma função, ou seja, é preciso que tanto os pais como a criança possam viver e reconhecer essa relação antes de poder designá-la. Costa e Rossetti Ferreira (2004) afirmam que as vivências de parentalidade e filiação são relacionais e situadas, ou seja, se definem mutuamente a partir de interações sociais que se dão no cotidiano, articuladas a contextos dinâmicos, que por vezes exigem reformulações, reposicionamentos e transformações constantes dos sujeitos envolvidos. Santos (1988) afirma que a consangüinidade entre pais e filhos pode não coincidir com uma plena aceitação, assim como a ausência de ligação de sangue não impede a possibilidade de uma plena aceitação. Segundo a autora, a culminância da paternidade estará na satisfação que ambas as partes, pais e filhos, possam experimentar nessa interação, pois para a criança, mais importante do que ser filha será sentir-se filha. Segundo Oliveira (2002), para que uma mulher exerça a função materna, vários pontos devem ser considerados. As condições relacionadas à gestação e ao parto podem funcionar como facilitadoras ou preparatórias para a formação do vínculo entre a mãe e o bebê, mas tais condições não são nem necessárias nem suficientes para a formação de um laço afetivo. A ocorrência desse envolvimento dependerá de variáveis como o estado psicológico da mãe, seu estado físico, as 62 circunstâncias sociais, e também da participação ativa que o bebê apresenta nesse processo, contribuindo para o estabelecimento do vínculo. Quando as condições são favoráveis, uma mulher pode aprender a amar qualquer bebê, ao passo que uma mãe biológica, em condições desfavoráveis, não será capaz de se vincular aos próprios filhos. Com base nessas afirmações de Oliveira (2002), podemos afirmar que na verdade todo filho é adotivo, pois como conceber, gestar e dar à luz não garantem que uma mulher se dedique a cuidar do seu bebê, para que uma pessoa assuma essa função materna, mesmo a mãe biológica, ela tem que adotar a criança como seu filho. Segundo Oliveira (2002), os termos biológico e genético são muito empregados quando se discute a adoção. Em função dos laços de sangue, a filiação adotiva é diferenciada da biológica, denominando-se a mulher que gerou de “mãe biológica” e quem adotou de “mãe adotiva”. Porém, há uma clara confusão, segundo a autora, entre biologia e genética, sendo incorreto equiparar genético com biológico, visto que o termo biológico abrange muito mais do que apenas processos genéticos. Assim, a autora afirma haver um equívoco quando se refere à mulher que gestou a criança e entregou-a para adoção como sendo a “mãe biológica”, pois “... os sistemas de cuidados como a alimentação, sono, contatos físicos, enfim, o ambiente físico e relacional no qual a criança se desenvolve também fazem parte da biologia, e estes são prestados à criança pela figura do cuidador, independentemente das ligações genéticas” (p.11). Mas apesar de Oliveira (2002) enfatizar a inadequação da expressão “mãe biológica” para referir-se à pessoa que gerou a criança, sendo mais adequada a utilização da expressão “mãe genética”, o termo “mãe biológica” continuará sendo usado neste trabalho, tendo em vista o seu amplo reconhecimento social. 1.10. Semelhanças e diferenças entre ter um filho adotivo e ter um filho biológico De acordo com Piccini (1986), a supervalorização do aspecto biológico, que tanto inferioriza as mães adotivas, não raro impossibilitadas de engravidar apesar de muito quererem, não considera um aspecto da questão: a mãe biológica pode ter ficado grávida sem o desejar, enquanto a adotante quase sempre é movida pelo desejo de ficar com a criança. 63 Santos (1988) afirma que, talvez, em diferentes culturas e em diferentes épocas, ter filhos tenha tido diferentes significados para homens e mulheres, mas em qualquer época e lugar isso sempre demandou cuidados por parte dos pais ou substitutos. Quanto à decisão de ter um filho, Santos (1988) sugere que os pais biológicos podem tornar-se pais sem terem tido tal pretensão e sem terem refletido sobre essa escolha, e desse modo a paternidade poderá criar desde uma situação de plena aceitação a uma de plena rejeição, algumas vezes evidenciada em casos de aborto. Já os pais adotivos têm que tomar uma decisão num nível em que não precisam chegar os pais biológicos, e para adotarem têm que se mostrar muito desejosos em fazê-lo. Mas isso não quer dizer que os pais adotivos possuam sempre as melhores motivações e que a plena aceitação do filho adotivo esteja sempre garantida. Segundo Alvarenga (1999), é possível perceber algumas especificidades na filiação adotiva. Quando os pais adotivos são chamados a conhecer uma criança para adotá-la, as reações são as mais variadas, e vão desde um exame minucioso do corpo da criança, como se observassem a qualidade de uma mercadoria, até uma emoção intensa, como se acabassem de sair da sala de parto. Essas reações, segundo a autora, são difíceis de serem previstas, e vêm confirmar que os pais adotivos muitas vezes precisam de um tempo maior para reconhecer aquela criança como seu filho. Reppold e Hutz (2003) afirmam que as principais diferenças da filiação adotiva se comparada à biológica são a exposição a um processo avaliativo realizado para fins de habilitação à adoção (quando a adoção é legal), a indeterminação temporal da “gestação” adotiva, o possível desconhecimento da história pregressa do adotado e a excessiva valorização social dos laços consangüíneos. 1.11. Preconceitos A adoção no Brasil sempre esteve ligada à clandestinidade, ao segredo e à falta de informação (Weber, 1999). Apesar das transformações observadas nos aspectos jurídicos e nas concepções acerca da finalidade social da adoção, Weber (1999) afirma que há vários preconceitos, mitos e estereótipos cultivados pelo senso comum em torno da adoção, os quais resultam de um processo histórico. Segundo pesquisa realizada por Weber (2003) sobre conceitos e preconceitos acerca da 64 adoção, boa parte da população acredita que um filho adotivo sempre dá problemas; que haverá menos problemas se a criança nunca souber que foi adotada; que uma criança adotada sempre vai sofrer preconceitos e ser tratada de forma diferente pelos outros; que crianças adotadas com mais de 6 meses de idade seriam mais difíceis de serem educadas; que crianças adotadas devem ser devolvidas ao Juizado, ao orfanato ou aos pais biológicos se surgirem problemas; que os pais biológicos podem requerer a criança assim que desejarem; que é interessante adotar crianças maiores de 10 anos para ajudarem nos serviços domésticos; e que o governo deveria realizar um controle de natalidade, pois isso resolveria o problema das crianças abandonadas nas ruas. Em relação à consangüinidade, Weber (2003) afirma que em geral as pessoas consideram que somente os laços de sangue são “fortes e verdadeiros”, e têm medo de adotar crianças sem saber a origem dos seus pais biológicos, pois a “marginalidade dos pais poderia ser transmitida geneticamente”. Abreu (2002), ao falar dos preconceitos oriundos da origem “moral” da criança, afirma que um dos fantasmas recorrentes é a associação da criança abandonada a uma procedência imoral, como prostituição, “sexo livre” e irresponsável (praticado por pessoas que não são capazes de assumir seus filhos), e alcoolismo ou drogadição (estes últimos, apesar de serem reconhecidos como doenças pela Organização Mundial de Saúde, muitas vezes ainda são concebidos socialmente como vinculados à imoralidade). Segundo o autor, para muitas pessoas os aspectos morais são genéticos, e podem “contaminar” a criança adotada. Os dados de Weber (2003) mostram ainda que boa parte dos sujeitos acredita que a adoção existe apenas para satisfazer os desejos e expectativas de casais que não podem ter filhos, e portanto, quem já possui filhos biológicos não precisa adotar uma criança; que a morte de um filho natural é motivo suficiente para se adotar uma criança; e que algumas mulheres só conseguem engravidar depois de terem adotado, e portanto, a adoção é um bom motivo para se tentar ter filhos biológicos. É interessante ressaltar que o preconceito em relação à adoção pode ser visto claramente nas leis, que em geral tentaram proteger os filhos biológicos, deixando os filhos adotivos como coadjuvantes da família. Em praticamente todos os tratados jurídicos sobre o assunto, desde o Código Napoleônico, aparece a adoção como uma “imitação da natureza”, uma relação “fictícia” de paternidade e filiação. No Brasil foi com a instituição do Código de Menores que houve um certo progresso na 65 questão da adoção, mas somente com a Constituição de 1988, e posteriormente, em 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, os direitos dos filhos adotivos foram equiparados aos dos filhos biológicos, tendo sido proibidas quaisquer discriminações a respeito da filiação (Weber, 1999). Reppold e Hutz (2003), num estudo com mães adotivas e biológicas objetivando investigar algumas características psicossociais de mães adotivas, analisaram a percepção das mães acerca do apoio social recebido (qualquer forma de assistência, conforto ou informação provida). Segundo os autores observou-se uma percepção significativamente menor de apoio recebido por parte das mães adotivas em relação às biológicas, e nesse mesmo estudo 70% das mães relataram já ter vivenciado episódios de discriminação em razão da situação adotiva de seus filhos. Reppold e Hutz (2003) ressaltam que a grande freqüência das situações de preconceito a que as famílias adotivas são expostas pode justificar o menor apoio social percebido pelas mães adotantes, e como o apoio recebido é um importante fator protetivo à adaptação psicológica, pode justificar inclusive alguns casos de dificuldades de adaptação dos adotados. Mello e Dias (2003), no trabalho sobre a percepção dos indivíduos acerca da pessoa que entrega um filho para adoção, investigaram como as pessoas percebem as repercussões da doação na vida da criança adotada, e a maioria dos participantes assinalou que elas vão depender da idade da criança. Porém, em menor freqüência apareceram respostas como sentimentos de vazio e rejeição, tristeza e baixa auto-estima, o que geraria desajustes emocionais. Embora em minoria, houve ainda quem afirmasse que a criança entregue para adoção fica impossibilitada de ser uma pessoa ajustada e feliz, o que revela uma idéia estereotipada e preconceituosa da criança entregue para adoção. Weber (1999) afirma que muitas vezes profissionais como psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais, contribuem para reforçar os preconceitos a respeito da adoção. Segundo Weber (1999), “geralmente quando os profissionais da área ‘psi’ falam de adoção, inevitavelmente anexam ao seu pensamento a questão do ‘luto’. Dizem que junto com a adoção vem o luto pela infertilidade ou esterilidade para os pais; se apenas um dos membros do casal for estéril, vem o luto pela renúncia da fertilidade do outro; para a criança vem sempre o luto pela rejeição e abandono” (p.133). Assim, percebe-se que muitas vezes a adoção é associada a uma falta, a uma ausência ou incapacidade, como se tivesse a função de preencher 66 um vazio. Isso pode ser observado na afirmação de Schettini Filho (1999): “a adoção está inscrita em um cenário de impossibilidades. É a tentativa de modificar contingências nas quais as incapacidades interferem na trajetória do desenvolvimento pessoal” (p.11). Segundo Weber (1999) é comum ouvir em congressos profissionais que lidam com a adoção afirmarem que “bebês adotivos são sempre bebês de risco”, ou que “a perda da mãe natural é sempre insubstituível” (p.76), formando-se desta maneira uma representação limitada e errônea sobre a associação genérica entre adoção e fracasso. Di Loreto (1997, citado por Weber, 1999), que trabalha na área da psiquiatria infantil, afirma que muitas vezes a adoção é caracterizada como doença, tanto por profissionais como por pais adotivos, como se qualquer dificuldade ou distúrbio de uma criança adotiva fosse determinada pela adoção. Fu I e Matarazzo (2001) afirmam que a crença popular de que filhos adotivos são sinônimos de problemas pode conduzir profissionais da área de saúde mental à tentativa de encontrar neles uma psicopatologia específica que confirme tal crença, o que seria absolutamente incorreto. De acordo com Henderson (2000), o fato é que os terapeutas muitas vezes não estão preparados para lidar com a adoção ou não têm conhecimentos sobre o assunto. Sass e Henderson (2000) realizaram um estudo nos Estados Unidos que investigou o nível de preparação de psicólogos para lidar com a adoção e o nível de formação profissional relacionada ao tema. A maioria dos entrevistados (51%) se considerou “razoavelmente preparado” para lidar com adoção, 23% se consideraram “não muito preparados”, 22% se descreveram como estando “bem preparados” ou “muito bem preparados”, e 4% relataram não ter qualquer conhecimento sobre adoção. Dentre os entrevistados, 90% relataram que precisam de mais formação profissional relacionada à adoção, e 81% informaram ter interesse em aprimorar seu conhecimento sobre o assunto por meio de cursos no futuro. A maioria dos psicólogos relatou não ter tido qualquer tipo de curso sobre adoção nem na graduação (65%), nem na pós graduação (86%). De acordo com a pesquisa, percebe-se que pouco se aborda o tema adoção durante a formação profissional do psicólogo nos Estados Unidos, e essa afirmação também é válida para o Brasil. O estudo sugere que os psicólogos em geral necessitam de maior formação e conhecimento profissional acerca da adoção e dos efeitos do processo adotivo. 67 1.12. Adaptação social e psicológica dos adotados De acordo com Reppold e Hutz (2002), estudos de diferentes áreas têm se preocupado em descrever os processos de adaptação psicológica dos indivíduos perante situações adversas ao desenvolvimento socioafetivo, e alguns pesquisadores têm considerado a condição de ser adotado como um risco ao desenvolvimento salutar. Reppold e Hutz (2002) afirmam que algumas pesquisas indicam que crianças e adolescentes adotados apresentam maior risco de desenvolver problemas emocionais e comportamentais do que aqueles criados por sua família biológica, enquanto outras não apontam diferenças de adaptação entre filhos adotivos e biológicos. Porém, segundo os autores, a maioria dessas investigações que demonstram uma prevalência de dificuldades de adaptação entre os adotivos evidencia sérias limitações metodológicas, dentre elas a intencionalidade e não representatividade das amostras. Assim, a diversidade de resultados sobre a adaptação psicológica dos adotivos tem dificultado a compreensão do tema. Estudos realizados em diferentes países demonstram que a proporção de crianças e adolescentes adotivos atendidos em clínicas psiquiátricas é maior em relação à verificada nas demais clínicas e na população em geral, o que sugere que, mesmo sendo benéfica à maioria das crianças e adolescentes adotivos, a condição de viver num lar substituto parece de alguma forma aumentar a possibilidade de desenvolvimento de conflitos psicológicos (Fu I e Matarazzo, 2001; Reppold e Hutz, 2002). A partir de um estudo realizado em São Paulo sobre a prevalência de adoção intra e extrafamiliar em amostras clínica e não-clínica de crianças e adolescentes, Fu I e Matarazzo (2001) afirmam que a prevalência de adoção na amostra clínica mostrou-se significativamente superior à encontrada na amostra não-clínica, o que sugere que crianças e adolescentes vivendo na condição de adotivos comparecem com maior freqüência aos serviços de saúde mental. Algumas hipóteses podem ser levantadas para explicar esse resultado, dentre elas a hipersensibilidade dos pais adotivos em relação às dificuldades de seus filhos, ou seja, os pais adotivos tendem a ser menos tolerantes ou negligentes, contaminados pela ansiedade de se mostrarem capazes de criar seus filhos adotivos de forma satisfatória, devido à forte pressão social que sofrem no papel de adotantes e à vinculação linear que o senso comum estabelece entre adoção e problemas de adaptação. Assim, os pais adotivos apresentariam maior preocupação ou mais queixas sobre seus filhos, procurando 68 com maior freqüência atendimentos nos serviços de psicologia ou psiquiatria (Fu I e Matarazzo, 2001; Reppold e Hutz, 2002) Fu I e Matarazzo (2001) analisaram também as possíveis associações entre os tipos de adoção – intra e extrafamiliar – e a procura de serviço psiquiátrico na infância e adolescência, e constataram que a adoção intrafamiliar é mais comum na população em geral, mas são as crianças adotivas extrafamiliares que mais procuram as clínicas psiquiátricas. Dentre as hipóteses explicativas para esse fato, Fu I e Matarazzo (2001) ressaltam que os adotivos intrafamiliares, por serem criados por parentes, encontrariam no lar um ambiente mais propício ao seu desenvolvimento emocional, e teriam menor incidência de problemas de comportamento; além de mencionarem que, devido ao grau de parentesco, a família adotiva teria maior tolerância em relação aos eventuais distúrbios psíquicos apresentados pelo filho e, portanto, procuraria ajuda profissional com menos freqüência. Apesar de o estudo de Fu I e Matarazzo (2001) ter indicado as adoções extrafamiliares como possivelmente mais problemáticas, segundo as autoras é a adoção intrafamiliar que é considerada por diversos autores como sendo mais problemática, por geralmente envolver situações familiares mais complexas e motivações para adoção diferentes das observadas nas adoções extrafamiliares. Em alguns casos a adoção intrafamiliar é determinada por processos judiciais, e os familiares são obrigados a assumir os cuidados com a criança mesmo que não estejam motivados. Em outros casos os familiares assumem a responsabilidade sobre o filho de um parente por motivos religiosos, morais ou sentimentos de culpa inapropriados, podendo estar semeando assim um campo para futuros conflitos. Estudos demonstram que a ocorrência de experiências estressantes, como o acúmulo de perdas, a exposição a julgamentos preconceituosos e os conflitos familiares, pode promover a diminuição da auto-estima e a emergência de sentimentos de desamparo e rejeição (Kumamoto, 2001; Reppold e Hutz, 2002). Reppold e Hutz (2002) ressaltam que algumas situações passíveis de ocorrer na adoção podem de fato ser estressantes, dentre elas a vivência pré-natal dos adotados, o rompimento dos vínculos familiares na infância, a história pregressa à adoção em instituições, o desconhecimento da origem genealógica, as dificuldades relativas ao processo de revelação da adoção e o estigma social que envolve o processo adotivo. Porém, os autores afirmam que a falta de apoio percebido para 69 superar as perdas e a escassez de oportunidade para formar novos vínculos podem representar maior risco aos sujeitos. Reppold e Hutz (2002) afirmam que há alguns fatores que podem dificultar a adaptação dos adotados, dentre eles as crianças ou adolescentes pensarem que não serão compreendidas por seus pares não adotivos. Além disso, há a possibilidade de uma dificuldade de elaboração do luto, devido ao fato de algumas vezes a perda da família biológica não ser definitiva, como é nos casos de morte parental. Assim, a possibilidade de aproximação dos pais biológicos poderia aumentar a ansiedade dos adotados e dificultar seu relacionamento familiar e a definição de sua identidade. Segundo Reppold e Hutz (2002), alguns autores afirmam que um outro fator que pode dificultar o desenvolvimento da auto-imagem e da auto-estima dos adotados é uma eventual troca do prenome na ocasião da adoção, e que este procedimento não deveria ser legitimado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo esses autores essa atitude impõe aos adotados, especialmente àqueles colocados com mais idade em famílias substitutas, a tentativa de anulação da sua história pregressa e a necessidade de reconhecer-se numa nova identidade, o que pode acarretar uma perda de referências para a criança ou adolescente. Para Reppold e Hutz (2002), muitas vezes as avaliações psicodiagnósticas supervalorizam a condição adotiva, e desconsideram a influência de outras variáveis socioculturais da história do indivíduo, dentre elas a interação familiar, as estratégias de socialização utilizadas pelos pais, o histórico da adoção, as experiências prévias e o apoio social. É interessante ressaltar que, em geral, as dificuldades que surgem em relação ao filho adotivo são atribuídas a causas externas (herança genética), enquanto os aspectos bem sucedidos do processo adotivo são atribuídos aos méritos dos próprios pais (Kumamoto 2001). Reppold e Hutz (2002) ressaltam que os estilos parentais são um fator moderador da adaptação psicológica de crianças e adolescentes. Os autores afirmam que os pais adotivos tendem a ser mais indulgentes (ter baixo nível de controle parental e alto nível de responsividade) e autoritativos (ter alto grau de monitoramento e aquiescência), o que pode ser compreendido pelo grande investimento afetivo que em geral caracteriza o processo de adoção. Durante o processo de habilitação legal dos pais à adoção, muitas famílias são levadas a refletir sobre suas motivações e expectativas quanto à parentalidade, quanto às 70 diferenças entre afiliação adotiva e biológica, e quanto à história precedente da criança. Assim, pode-se afirmar que a adoção raramente acontece ao acaso, alheia aos interesses dos membros da família, o que diminui as chances de negligências dessas famílias. Além disso, o maior índice de indulgência entre famílias adotivas pode ser decorrente de uma tentativa de compensação das situações adversas vividas pelos filhos ou fantasiadas pelos pais, dentre elas a exposição a cuidados inadequados, ambientes hostis, eventuais abusos físicos ou emocionais, e o próprio afastamento da família biológica. Essa permissividade parental pode ser uma estratégia, não muito assertiva, de superproteção dos pais, visando a demonstração de apoio e aceitação do filho no círculo familiar. Kumamoto (2001) afirma que uma atitude comum do filho durante o período de adaptação à família adotiva, principalmente em adoções tardias, é a manifestação de uma oposição desafiante em relação aos pais. Segundo a autora, a realidade do abandono e a renúncia dos pais biológicos pode gerar na criança o medo de ser abandonada novamente, e esse medo pode expressar-se através de atitudes de oposição e desafio em relação aos pais, como forma de testar sua tolerância. Uma pesquisa realizada por Ebrahim (2001a), comparando grupos que realizaram adoções de bebês com grupos que realizaram adoções de crianças maiores, evidenciou que, quanto à adaptação dos filhos adotivos, 53,3% dos adotantes tardios afirmaram ter se adaptado à criança entre dias e semanas, 26,7% admitiram a adaptação dentro de meses, 6,7% levaram anos para concluir a adaptação, e 13,3% afirmaram que não se adaptaram. Entre os adotantes de bebês, 90% afirmaram a ocorrência da adaptação entre dias e semanas, e 5% consideraram a adaptação concluída após anos. Esses resultados, segundo a autora, estão de acordo com a literatura existente, que indica uma maior dificuldade nas adoções tardias, devido à história de abandono e perdas destas crianças. Porém, alguns fatores podem auxiliar a família no processo de adaptação e integração da criança e favorecer um desenrolar positivo da adoção, como a atitude dos pais adotivos e o apoio de amigos e familiares. O fato é que as conseqüências da adoção baseiam-se num complexo número de fatores, e não há característica isolada que possa predizer o resultado do processo adotivo. Contrariando os mitos e estereótipos ligados à adoção, uma pesquisa realizada por Santos (1988) sobre a possibilidade de satisfação na adoção, 71 avaliando comparativamente alguns aspectos da interação pais-filhos adotivos e pais-filhos biológicos, indica que se a adoção for adequadamente gestada, as possibilidades que terão os pais e filhos adotivos de serem felizes serão as mesmas que têm os pais e filhos biológicos. Esse estudo indicou que as famílias adotivas são tão cooperativas quanto as famílias biológicas, o que quer dizer também que as possibilidades de que haja conflitos nas relações dentro dessas famílias são as mesmas. Oliveira (2002) afirma que são vários os fatores que podem determinar o sucesso da adoção, ou seja, a integração da criança adotiva num novo meio familiar, e que não é fácil isolar esses fatores, visto que eles se tornam interdependentes na dinâmica do processo de adoção. Dentre esses fatores, a autora cita: as variáveis referentes aos adotantes, como motivação para adoção, dinâmica familiar, idade, representação que têm da adoção, como lidam com o fator revelação da adoção para o filho adotivo, entre outros; variáveis referentes aos pais biológicos, como estado de saúde, cuidados tomados na gestação e no parto, como pré natal, convicção ou não para a entrega do filho, entre outros; e variáveis do adotado, como idade, estado de saúde, etnia, e história pregressa, como por exemplo se foi institucionalizado e por quanto tempo, se tem histórico de negligência, vitimização, entre outros. 1.13. Adoções tardias, de crianças pardas e negras, e de crianças com necessidades especiais Weber (1999) registra que as ocorrências de adoções tardias, de adoções de crianças pardas e negras, e de adoções de crianças portadoras de necessidades especiais não são muito freqüentes no Brasil. A autora afirma que estas são adoções consideradas necessárias no país, pois envolvem crianças e adolescentes que carregam o estigma de “crianças inadotáveis”. Em uma adoção tardia o filho adotado não é mais um bebê, mas uma criança que já tem uma história de vida. Segundo Ebrahim (2001a), considera-se uma adoção tardia quando a criança tem idade acima de dois anos. Ebrahim (2000) afirma que as adoções de crianças maiores são perfeitamente viáveis, e sua concretização e manutenção dependem, entre outros aspectos, da história da criança, do fato de a criança desejar ou não a adoção, e das atitudes dos pais adotivos e daqueles que os cercam. Alvarenga (1999) ressalta que, por já ter 72 passado por uma experiência de abandono da qual muitas vezes se lembra, a criança mais velha será mais ativa no processo adotivo, podendo “adotar” ou não os pais adotivos como pais. Ebrahim (2001b) afirma que em geral somente as crianças até três anos conseguem colocação em famílias brasileiras, e que as crianças consideradas mais velhas são adotadas por estrangeiros ou permanecem nas instituições. Segundo dados coletados em São Paulo pelo Centro de Capacitação e Incentivo à Formação de Profissionais (Cecif), há 36 pretendentes à adoção para cada criança de 0 a 2 anos; 5 pretendentes para cada criança de 2 a 5 anos; 2 crianças de 5 a 7 anos para cada pretendente; 13 crianças de 7 a 10 anos para cada pretendente; e 66 crianças com mais de 10 anos para cada pretendente à adoção (Mendonça e Fernandes, 2004, em reportagem da revista Época de 23/08/04). Segundo Ebrahim (2001b), as pesquisas revelam que a maior parte da população brasileira apresenta preconceitos quanto à adoção tardia, como o medo pela dificuldade na educação, apoiado na alegação de que, provavelmente, teriam dificuldades na educação de uma criança maior, pois estas não aceitariam os padrões estabelecidos pelos pais por estarem com sua formação social iniciada, o receio de adotar crianças institucionalizadas pelos maus hábitos que trariam, e a crença de que crianças que não sabem que são adotivas têm menos problemas, e por isso deve-se adotar bebês para que se possa esconder delas a adoção. Segundo Alvarenga (1999), algumas pessoas interessadas na adoção se sentem ameaçadas com a possibilidade de adotar uma criança marcada por privações e pela institucionalização, ou com fortes lembranças dos pais biológicos. De acordo com Ebrahim (2000), alguns autores afirmam que a adoção deve acontecer o mais cedo possível, pois crianças que sofrem severas privações afetivas nos primeiros anos de vida são mais passíveis de desenvolverem problemas sociais e emocionais, e as carências afetivas da primeira infância dificilmente poderiam ser eliminadas. Costa e Rossetti-Ferreira (2004) ressaltam que o próprio discurso da Psicologia reforça essa idéia de que os rompimentos de vínculos iniciais deixariam traumas nas crianças que levariam a conseqüências nefastas em seu desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo. Mas, segundo Ebrahim (2000), esses discursos são questionáveis, pois há reais possibilidades de adoções tardias serem bem sucedidas, principalmente se as famílias substitutas proporcionarem um ambiente adequado para o desenvolvimento ajustado da criança, havendo aceitação 73 dessa criança pelos pais. Ainda segundo Ebrahim (2000), vários autores afirmam não haver relações significativas entre a idade da criança e o sucesso da adoção. Alvarenga (1999) afirma que, em termos gerais, espera-se daqueles que acolhem uma criança mais velha maior sensibilidade, maior segurança, e uma motivação capaz de sustentar as dificuldades que possam vir a surgir. Um estudo realizado por Ebrahim (2001b) sobre adoção tardia, comparando pais que realizaram adoções de crianças maiores de dois anos com pais que adotaram bebês, evidenciou que os adotantes tardios apresentaram idade média mais elevada, níveis mais elevados de maturidade, de estabilidade emocional e de altruísmo. Os adotantes tardios apresentaram também nível sócio-econômico superior ao dos adotantes convencionais (de bebês), o que contrariou os dados obtidos por Weber (1999), segundo os quais as pessoas de nível sócio-econômico mais baixos fazem menor número de exigências em relação à criança, adotando com mais freqüência crianças maiores. De acordo com Ebrahim (2001b), os adotantes tardios apresentaram ainda maior variação no estado civil (casados, solteiros, viúvos ou divorciados) e maior presença de filhos biológicos, enquanto os adotantes convencionais eram casados em quase sua totalidade e sem filhos biológicos. A partir da pesquisa realizada, Ebrahim (2001b) afirma que os adotantes tardios adotaram mais por se sensibilizar com a situação de abandono da criança, enquanto as pessoas que adotaram bebês o fizeram na maior parte das vezes por não ter os próprios filhos. Segundo a autora, o altruísmo, mais elevado entre os adotantes tardios, traz uma justificativa para a motivação apresentada por eles, de uma preocupação em atender as necessidades do outro como mobilizadora das adoções. Ebrahim (2001b) encontrou ainda relações entre a motivação para a adoção tardia, o estado civil e a presença ou ausência de filhos biológicos. Os adotantes tardios foram casais que em sua maioria já tiveram filhos biológicos, e portanto já vivenciaram a experiência de criar uma criança, não tendo mais necessidade ou disponibilidade de começar com um bebê; ou pessoas sozinhas, como solteiros, divorciados e viúvos, que não têm tempo e condições de cuidar de um recém-nascido, mas querem constituir uma família. Enquanto isso, os adotantes convencionais eram, em sua maioria, casados e sem filhos biológicos. De acordo com Ebrahim (2001b), as motivações para as adoções tardias são beneficiadas pelas características de personalidade dos adotantes, mas esse fato não impede que outras pessoas com características diferentes adotem crianças 74 maiores. Não há a intenção, segundo a autora, de achar que somente pessoas com níveis elevados de maturidade, estabilidade emocional e altruísmo seriam capazes de realizar uma adoção tardia com sucesso. O importante, afirma Ebrahim (2001b), é procurar formas de impulsionar novas adoções, mesmo com pessoas que dispõem de características diferenciadas, e o desenvolvimento de programas de educação social poderia contribuir com esse objetivo, visando desenvolver ou aumentar comportamentos pró-sociais na população. Segundo Weber (1999), pesquisas sobre adoção realizadas no Brasil mostram que adoções de crianças pardas e negras são minoria no país. Um estudo realizado por Weber (2003) sobre desejos e expectativas de pessoas cadastradas para adoção no Juizado da Infância e da Juventude de Curitiba evidenciou que 67% dos adotantes colocam como condição principal uma criança branca (nesse estudo, 95% dos adotantes eram brancos), 19% dizem aceitar uma criança “até morena”, ou seja, preferem uma criança branca mas aceitam uma “morena clara”, e 7% dizem não ter preferência quanto a cor da criança. Em outra pesquisa realizada com pais adotivos de todo o Brasil, foi encontrado 31% de pais brancos com filhos adotivos pardos, e somente 4,5% com filhos negros (Weber, 1999). Apesar de uma adoção inter-racial ser qualquer uma em que o conjunto das características físicas da criança adotada é diferente das características dos pais adotivos, o termo é usado quase que só para as adoções de crianças pardas e negras, visto que as pessoas interessadas em adotar pela via legal, em maioria absoluta, são brancas. Weber (1999) afirma que somente 5% dos brasileiros realizam adoções inter-raciais, sendo essas em sua grande maioria de crianças pardas, enquanto 44% dos estrangeiros realizam adoções inter-raciais com crianças pardas e 12% com crianças negras. De acordo com Freire (1991b), quando a adoção é inter-racial é preciso prever a incompreensão do meio (família, vizinhos, amigos), pois as diferenças entre pais e filho são evidentes. Segundo o autor, além dos elementos necessários para favorecer o desenvolvimento de qualquer criança, a adoção inter-racial deve permitir o reforço positivo da identidade da criança e de seus atributos culturais. De acordo com Mendonça e Fernandes (2004), em uma reportagem da revista Época de 23/08/04, a fixação dos brasileiros em adotar uma criança loura dos olhos azuis é tanta que isso provoca uma corrida para tentar adotar nos estados do sul do país, onde há maior número de pessoas com essas características físicas 75 devido à nacionalidade dos imigrantes. Em Santa Catarina, no ano de 2000, 80% dos candidatos eram de outros estados do Brasil. Em Goiânia, as famílias que insistem em adotar apenas crianças brancas precisam esperar uma fila que durará cerca de oito anos. Em São Paulo, cerca de 2000 candidatos aguardavam uma menina branca, de olhos claros, com até um ano de idade. Na tentativa de combater o preconceito, o juiz da Primeira Vara da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro, Siro Darlan, tomou uma medida polêmica. Desde junho de 2004 as pessoas que querem adotar pelo Juizado do Rio de Janeiro não podem mais escolher cor, sexo e idade da criança, medida esta que objetiva estimular as adoções de crianças pardas e negras, e de crianças mais velhas, que são justamente a maioria das crianças que estão nos abrigos esperando para serem adotadas. De acordo com Siro Darlan, “uma criança não é objeto. A situação ideal seria a criança poder escolher, porque é ela que tem direito a uma família” (Mendonça e Fernandes, 2004, em reportagem da revista Época de 23/08/04, p.98). Ebrahim (2000) afirma que não existem pessoas sem desejos, sem preferências, mas que é possível desmistificar certas idéias errôneas acerca da adoção, sem impor aos adotantes crianças que eles não são capazes de aceitar e acolher. Quando os pais adotivos não estão preparados para lidar com o filho, há uma probabilidade maior de a criança por eles adotada ser rejeitada, particularmente se a adoção for tardia, de crianças doentes ou deficientes. E para uma criança que já vivenciou uma história de abandono, correr o risco de ser novamente rejeitada é uma situação muito grave. Além disso, Diniz (1991) afirma que colocar uma pessoa que deseja adotar perante um caso que ele provavelmente recusará é uma ato agressivo por parte do técnico judiciário que o faz, pois essa recusa raramente será sem conseqüências negativas para a pessoa, ainda mais estando ela numa situação de dependência do Serviço para poder realizar o desejo de ter um filho. Egbert e LaMont (2004) investigaram a percepção acerca da preparação dos pais para a realização da adoção de uma criança considerada de difícil colocação em família substituta, seja por motivos de idade, cor de pele, pertencimento a grupo de irmãos, história pregressa (existência de abuso físico ou sexual, negligência, ou de adoções anteriores mal sucedidas), problemas emocionais ou comportamentais, ou outros fatores, a partir da perspectiva dos próprios pais que realizaram esse tipo de adoção. De acordo com as autoras, puderam ser percebidos alguns fatores que contribuíram para que os pais se sentissem mais preparados para a adoção que 76 realizaram, dentre eles o conhecimento da história pregressa da criança, estar ciente da existência na criança de problemas emocionais ou comportamentais, a existência de experiência anterior com crianças com características similares à que foi adotada (ter adotado previamente ou ter contato com outras crianças adotivas, ou com crianças próximas, como familiares, com as mesmas necessidades), ter mais experiência de vida e maior potencial de maturidade (aspecto associado pelas autoras à idade, de modo que quanto mais velhos os pais adotivos, mais preparados eles se sentiram para a adoção), e ter uma boa relação com a agência de adoção e receber treinamento e informação adequados, tanto antes como após a adoção. A partir de pesquisa realizada com pais e filhos adotivos de todo o Brasil, Weber (2003) constatou que não houve problemas no processo adotivo em função da cor da pele ou da idade da criança adotada, o que vem questionar a concepção social mais comum que associa a diferença de cor de pele entre pais e filhos adotivos ou a idade avançada da criança no momento da adoção como possíveis fontes de problemas. De acordo com a autora, os casos em que foram relatados problemas no processo adotiva estavam mais relacionados à revelação tardia da adoção para a criança adotiva que a outros fatores. No Brasil, o trabalho de preparação e apoio aos adotantes e famílias adotivas, especialmente em casos de adoção inter-racial, tardia, e de crianças com necessidades especiais, tem sido feito pelas Associações e Grupos de Apoio à Adoção que existem no país, que são em geral grupos sem fins lucrativos, cujos membros, em grande maioria pais adotivos, trabalham voluntariamente para divulgar a adoção, prevenir o abandono, preparar adotantes e acompanhar pais adotivos, encaminhar crianças para adoção e, de um modo geral, conscientizar a população sobre a adoção. De acordo com Mendonça e Fernandes (2004), em uma reportagem da revista Época de 23/08/04, o trabalho nos grupos de apoio contribui também para uma mudança de opinião quanto às características da criança que se deseja adotar. Um exemplo disso é que, em geral, apenas 4% dos pretendentes entram nos grupos dispostos a levar para casa uma criança maior de 4 anos, e ao fim dos encontros, cerca de 20% dos pretendentes já concordam com essa idéia. Segundo Neves (2005), em reportagem do jornal A Tribuna de 16/01/05, o aumento do número de artistas brasileiros famosos que optaram por adotar crianças abandonadas, dentre eles Zeca Pagodinho, Elba Ramalho e Marcello Antony, está 77 incentivando a adoção tardia e inter-racial no Brasil, e contribuindo para que haja mais discussões sobre o assunto, tanto na mídia como na sociedade em geral. 1.14. Adoções internacionais A maior parte das adoções inter-raciais, tardias e de crianças portadoras de algum problema de saúde no Brasil são feitas por estrangeiros (Weber, 1999; Abreu, 2002). De acordo com Abreu (2002), percebe-se uma grande disponibilidade dos estrangeiros para acolher crianças que, entre os brasileiros, dificilmente receberiam um lar substituto. Segundo o autor, isso pode se dar devido a uma “cultura da adoção”, pouco desenvolvida no Brasil, mas existente em outros países, que divulgaria a idéia de encontrar uma família substituta para a criança abandonada, independentemente da cor, idade, ou da enfermidade trazida pela criança. Uma outra explicação seria o fato de que os adotantes estrangeiros teriam mais contato com casais de sua nacionalidade que adotaram crianças consideradas diferentes (por sua nacionalidade, cor, ou um comprometimento de saúde), e teriam a possibilidade de perceber que, apesar das diferenças, é possível viver uma história feliz e bem sucedida. Outros afirmam ainda que, no caso de casais estrangeiros que adotam no Brasil, estes simplesmente se adaptam às probabilidades existentes nos abrigos brasileiros, ou seja, na verdade eles têm os mesmos interesses que os brasileiros, mas como, segundo o ECA, os postulantes estrangeiros seriam a última opção para uma criança ser adotada, eles acabam não tendo acesso às crianças mais desejadas. E como a adoção em seus países de origem é muito difícil, devido a pouca disponibilidade de crianças, os adotantes estrangeiros acabam se adaptando às possibilidades dos abrigos brasileiros (e de outros países do Terceiro Mundo), para conseguirem realizar o desejo de serem pais (Abreu, 2002). Abreu (2002) afirma que o fato de os estrangeiros de Primeiro Mundo adotarem mais crianças com necessidades especiais que os brasileiros pode ser explicado pela maior possibilidade de acesso às diferentes especialidades da área de saúde. Muitas vezes esses países dispõem de um sistema de saúde muito mais atuante e democrático que o Brasil, e assim, pequenas enfermidades podem sofrer intervenções cirúrgicas e plásticas muito mais facilmente, sem ônus financeiro para a família e com probabilidades maiores de sucesso. Há uma certa divergência entre autores quanto ao período de início das adoções internacionais. De acordo com Weber (1999), o início das adoções 78 internacionais se deu após a Segunda Guerra Mundial, quando crianças órfãs e abandonadas, provenientes da Europa Central, Itália, Grécia e Japão foram adotadas nos EUA e Canadá. A adoção internacional teria continuado nos anos 50 com crianças coreanas e nos anos 60 com crianças vietnamitas e de outras regiões da Ásia. Já Abreu (2002) afirma que a adoção internacional teve seu início nos anos de 1970. Ela teria aparecido primeiramente na Europa, estando ligada a duas tragédias humanas do final do Milênio: a de Biafra e a do Vietnã. Nessas circunstâncias, casais europeus incapacitados de procriar teriam adotado crianças que escaparam desses eventos e estavam privadas de um lar. O fato é que, de acordo com ambos os autores, foi um período de eclosão de catástrofes e crises sociais, quando o fenômeno do abandono de crianças é sempre mais intenso e acentuado, que propiciou o início das adoções internacionais. Em 1980, o Vietnã e a Coréia modificaram suas leis limitando a saída de crianças, e a partir daí as agências internacionais voltaram seus interesses para a América Latina. Não eram mais crianças de países em conflitos de guerra que deveriam ser adotadas por casais estrangeiros, mas crianças provenientes de países onde a miséria, a pobreza e o subdesenvolvimento estavam presentes (Weber, 1999). Segundo Weber (1999), existe uma demanda importante nos países desenvolvidos, que possuem uma população que não cresce, e uma oferta nos países pobres, que têm uma grande quantidade de crianças abandonadas que vivem em situação de miséria. De acordo com Abreu (2002), muitos pais adotivos associaram a adoção de crianças órfãs de países com dificuldades a um gesto humanitário, e a partir daí o mundo social começou a classificar a adoção internacional como boa (salvação da criança da fome, da miséria e da guerra). Porém, o tráfico de crianças de países pobres para potências mundiais também se tornou uma possibilidade, o que acrescentou um rótulo negativo às adoções internacionais. Quando começaram a ser realizadas adoções internacionais no Brasil, por volta dos anos 1970, e até o início dos anos 1990, a mediação entre as crianças a serem adotadas e os pais adotivos de outros países eram realizadas principalmente por donas de creches particulares, conhecidas como “cegonhas”, que em geral eram damas da sociedade, ou pessoas ligadas a grupos religiosos. Essas pessoas tinham a função de conseguir crianças para serem adotadas por casais estrangeiros, por meio de contatos pessoais com mães que gostariam de doar seus filhos, ou com 79 parentes e amigos dessas mães. As “cegonhas” acabavam se tornando referências em suas comunidades, sendo procuradas quando alguém queria dar uma criança, e elas abrigavam as crianças em suas creches particulares até que a adoção fosse efetivada. Essas adoções não envolviam transações financeiras, e eram imbuídas de um caráter salvacionista, ou seja, de uma idéia de que a criança adotada estava sendo retirada da pobreza e da marginalidade para ter uma vida melhor em país estrangeiro (Abreu, 2002). A partir da segunda metade da década de 1980 os advogados começam a se envolver efetivamente com a adoção internacional, atuando principalmente junto às creches particulares, como parceiros das “cegonhas” na legalização da adoção, ou às vezes realizando sozinhos todo o processo, desde encontrar a criança para um casal estrangeiro. Nesse momento a adoção começa a ser vista não só em seu caráter salvacionista, mas também como um negócio, pois passou a envolver transações financeiras. Isso contribuiu para a construção de uma visão negativa sobre a adoção internacional no Brasil, pois a sociedade condenava o envolvimento de dinheiro em transações que envolviam crianças, pois isso podia ser entendido como venda. Nesse período intensificam-se as suspeitas de tráfico de crianças para o exterior, principalmente para a venda de órgãos, o que, segundo Abreu (2002), na verdade nunca ficou comprovado. Os honorários pagos a um advogado para realizar uma adoção internacional – que não se sabia ao certo se eram honorários ou pagamentos pela criança – eram altíssimos, o que fez com que houvesse uma corrida desses profissionais em busca desse tipo de traballho (Abreu, 2002). O princípio das adoções internacionais no Brasil, assim como das adoções realizadas por brasileiros, ocorreu dentro de um espaço social onde a ilegalidade era a regra, a informalidade era a tônica, e as relações pessoais imperavam. Assim, os juízes favoráveis à adoção internacional realizavam a transferência de crianças pobres na direção de famílias mais favorecidas, dando primazia ao interesse dos adotantes. Quando o juiz não era favorável às adoções internacionais, praticamente inexistia essa modalidade de adoção em sua comarca. Apesar de tanto as adoções nacionais como as internacionais serem extremamente marcadas por irregularidades, as adoções internacionais necessitavam de um caráter de legalidade que as obrigava a serem transitadas e julgadas diante de um poder público, produzindo documentação, o que aumentava o risco de que tal produção denunciasse as irregularidades cometidas. Por outro lado, as adoções realizadas por 80 brasileiros suscitavam menos produção de documentos legais, o que propiciava que suas irregularidades fossem menos evidenciadas. Assim, o grande número de irregularidades evidenciadas nas adoções internacionais também contribuiu para que elas passassem a ser mal vistas por brasileiros, aumentando as suspeitas em relação ao tráfico de crianças (Abreu, 2002). Com o advento do ECA ficou cada vez mais difícil intermediar a relação entre mães que doavam seus filhos e os pais estrangeiros que queriam adotar, pois o Estado se tornou o único mediador responsável pela união de crianças abandonadas e candidatos a pais adotivos de outros países. Os juízes envolvidos com adoções internacionais passaram cada vez mais a se guiar pelo ECA, incorporando-o como parâmetro para suas decisões (Abreu, 2002). Abreu (2002) afirma que, apesar do grande temor relativo ao tráfico de crianças e à venda de bebês suscitado pelas adoções internacionais, os adotantes estrangeiros foram os primeiros a fazer uso recorrente da Justiça no que se refere aos serviços de adoção no Brasil. Isso porque, para deixar o Brasil, a criança precisa de um passaporte, e a Polícia Federal só atribui passaportes para a saída de crianças e adolescentes brasileiros quando a adoção está concluída. Além disso, a legislação dos países europeus e dos Estados Unidos, que é para onde vão a maioria das crianças brasileiras, é muito rigorosa no que se refere à adoção de crianças estrangeiras. Nesses países e em muitos outros, é exigido que os casais que saem de suas fronteiras para adotar o façam somente depois de receber uma autorização específica para tal, e para que as crianças entrem no país de origem dos pais adotivos, elas necessitam sair de seu país de origem com a documentação de adoção formalmente correta. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente a adoção internacional tornouse uma exceção, de modo que uma criança só pode ser adotada por um estrangeiro se não conseguir ser adotada no Brasil. Segundo Abreu (2002), essa discriminação em relação à adoção internacional está muito mais associada ao seu caráter considerado ofensivo para a imagem do Estado brasileiro – uma confirmação de que o Brasil é incapaz de cuidar de suas crianças – do que ao desrespeito dos interesses da criança ou à ilegalidade dos trâmites adotivos. Assim, para manter essa visão negativa da adoção internacional, cria-se uma imagem do fenômeno como uma prática “perigosa” para as crianças, e uma imagem dos estrangeiros (do Primeiro Mundo) como aqueles que vêm de fora para nos controlar e explorar. Para 81 alguns autores o interesse maior da criança não é permanecer no país de origem, e sim ser adotada, e sua maior necessidade é de amor e de ter uma família (Abreu, 2002). De acordo com Victor (2004), em reportagem do jornal A Gazeta de 26/02/04, havia no estado do Espírito Santo, na época da reportagem, cerca de 60 crianças e adolescentes que poderiam ser adotados por casais internacionais, sendo que este número representava mais de 50% das crianças e adolescentes listados para adoção na Grande Vitória. Nos anos de 2002 e 2003, cerca de 40 crianças e adolescentes do estado foram doados a casais estrangeiros, sendo estes em sua maioria da França e da Itália. Segundo Abreu (2002), em vários países do Primeiro Mundo podem ser observados grupos de pais adotivos de crianças oriundas do Terceiro Mundo. Esses grupos geralmente estão direcionados para o país de onde saiu a criança adotada ou para a sua cidade, e sua função é servir de ajuda aos pais adotivos, apoiar casais que querem realizar adoções estrangeiras, muitas vezes lhes fornecendo informações necessárias, e ajudar crianças abandonadas do país de origem dos filhos adotivos, mandando regularmente dinheiro para projetos de desenvolvimento no local, arrecadando fundos para serem enviados, ou ainda pagando salários de funcionários de obras filantrópicas do país de origem das crianças. Alguns desses grupos recebem inclusive uma autorização de seu país de origem permitindo-lhes agir como intermediários entre os candidatos a adotantes e as autoridades dos países de origem das crianças a serem adotadas. 1.15. Adoções especiais Weber (1999) relata que a procura pela adoção compõe-se geralmente de casais de classe média e média alta que não podem ter filhos biológicos. Ebrahim (2001b) afirma que a adoção no Brasil ainda é comumente vista como uma solução para a infertilidade, o que constitui uma das razões para a adoção maciça de bebês. Apesar de a procura mais comum pela adoção ocorrer por parte de casais que não podem ter filhos, Weber (2003) aponta a existência de adoções “especiais”, ou adoções “fora da média”, no sentido estatístico, que são aquelas feitas por famílias diferentes do padrão de família tradicional, composto por pai, mãe e filhos. 82 São famílias inter-raciais9, famílias reconstituídas, famílias compostas por pais solteiros, por pais homossexuais, entre outras, as quais, segundo Weber (2003), devem fazer parte de qualquer análise compreensiva atual que envolva os papéis parentais em nossa sociedade moderna. As diversas possibilidades de composições familiares da atualidade levam a novas situações sociais, inclusive no que diz respeito à adoção, e o desafio é lidar com essa diversidade confrontando mitos e estereótipos cultivados por longo tempo sobre o que é considerado “normal” ou não. De acordo com Mendonça e Fernandes (2004), em uma reportagem da revista Época de 23/08/04, a mentalidade do brasileiro tem se modificado quando se pensa em adoção, visto que a antiga estrutura familiar do tipo “papai, mamãe e dois filhos à sua imagem e semelhança” não é mais a regra na sociedade. Segundo a reportagem, os números do IBGE mostravam que 49% das famílias já não seguiam esse padrão familiar. Weber (2003) afirma que pesquisas sobre famílias adotivas não tradicionais no Brasil são praticamente inexistentes, assim como são poucos os estudos encontrados na literatura internacional. Miall e March (2005), no Canadá, realizaram pesquisa que objetivou analisar mudanças nas práticas de adoção a partir da opinião da comunidade, tendo em vista que a opinião popular tem afetado as políticas e práticas acerca da implementação de novos tipos de famílias adotivas. Ao investigarem quais seriam, na opinião da população, as pessoas mais aceitáveis como potenciais pais adotivos, o casal heterossexual com união legalizada foi o mais mencionado, com 90% dos homens e 93% das mulheres relatando que uma adoção realizada por eles seria muito aceitável. Apenas 41% dos homens e 41% das mulheres mencionaram o casal heterossexual sem união legalizada como sendo muito aceitável para realizar uma adoção, o que sugere a importância que os participantes dão a um casamento legal como característica desejável para potenciais pais adotivos. Apesar de o casal heterossexual tradicional ter sido a categoria de pais adotivos mencionada como mais aceitável pelos participantes, a partir dessa pesquisa ficou evidenciado que, de um modo geral, os participantes canadenses se mostraram relativamente abertos a diferentes tipos de pais adotivos, tendo se mostrado dispostos a considerar como viáveis formas alternativas de famílias adotivas, como por exemplo as compostas 9 No contexto desse trabalho o termo inter-racial se refere a famílias que combinam cônjuges brancos e pardos, brancos e negros ou pardos e negros. 83 por pais solteiros ou por pares homossexuais. De acordo com as autoras, a idade e o nível de escolaridade dos participantes estiveram diretamente associados ao grau de aceitação de formas alternativas de famílias adotivas, de modo que quanto mais jovens os participantes e quanto maior o seu nível de escolaridade, maior o nível de aceitação de formas alternativas de famílias adotivas. Outras informações obtidas nessa pesquisa serão mais bem detalhadas nos dois tópicos a seguir. 1.15.1. Adoção por famílias monoparentais Sendo uma família monoparental aquela composta por um pai ou uma mãe, cuidando sozinho (a) de seus filhos, podem ser consideradas famílias monoparentais aquelas formadas por pessoas solteiras, viúvas ou divorciadas e seus filhos (Levy, 2005). Segundo Levy (2005), até recentemente a ausência paterna costumava ser apontada como uma das principais causas de desestruturação familiar, de modo que a figura paterna praticamente inexistente era com freqüência a explicação encontrada para justificar a problemática emocional de crianças e adolescentes. Porém, diante da realidade de uma população na qual cada vez mais a mulher é provedora do lar, arcando sozinha com a educação dos filhos, essa concepção passou a ser questionada. No Brasil, a idéia de que uma família monoparental, seja composta pelo pai ou pela mãe, pode propiciar referências estáveis tanto quanto uma família tradicional, ganhou força e encontrou apoio no Estatuto da Criança e do Adolescente, que reconhece o direito à adoção por pessoas solteiras, viúvas ou divorciadas. A partir de uma pesquisa realizada com famílias monoparentais adotivas, Levy (2005) afirma que não houve qualquer prejuízo para as crianças por terem sido adotadas por uma única pessoa. Mas a autora evidenciou a grande importância de uma rede de apoio social nos casos de adoção monoparentais, ou seja, de sistemas e pessoas significativas com as quais a criança possa manter relações afetivas. De acordo com Levy (2005), esse apoio, dado por familiares, amigos, vizinhos, ou pela comunidade em geral, é fundamental tanto para a inserção da criança em sua nova família, como para acolher o adotante e ajudá-lo a elaborar suas incertezas. Os sistemas de apoio em torno da pessoa que exerce a função materna (que, de acordo com a autora, não é exclusiva do sexo feminino), impedem o isolamento da díade cuidador(a)-filho e exercem uma função de socialização. Para Levy (2005), enquanto 84 no caso de casais com filhos as funções socializante e interditora podem e devem ser realizadas por ambos os pais, no caso de famílias monoparentais as redes de apoio podem funcionar suprindo em parte as funções de socialização e interdição da figura parental ausente. Além disso, ao contar com a rede social, o adotante oferece a possibilidade de crescimento e outros modelos de identificação a seu filho. Owen (1994, citado por Weber, 2003) afirma que existem pesquisas que trazem tanto argumentos favoráveis quanto desfavoráveis à adoção de crianças por pais solteiros, mas as evidências de ajustamento de crianças em lares adotivos monoparentais mostram que essas adoções são viáveis. O autor sugere que existe um reconhecimento de que a adoção é um processo que não necessariamente mimetiza uma família na qual existem pai e mãe. Groze (1991, citado por Weber, 2003) fez uma revisão de literatura sobre adoções realizadas por pais e mães solteiros, e evidenciou que estas são geralmente realizadas por mulheres, e que nesses casos são adotadas freqüentemente crianças mais velhas. Esse autor ressalta que famílias monoparentais são tão afetivas e viáveis quanto as tradicionais, e que um adulto solteiro que não está envolvido com as demandas de um relacionamento marital pode ter maior disponibilidade para um envolvimento mais intenso, necessário para crianças que tiveram sérios prejuízos em sua história de vida. Por isso o autor sugere esta forma de família como uma fonte para adoção de crianças com necessidades especiais, visto que essas crianças teriam maior necessidade de comprometimento para seus cuidados. Essa sugestão feita pelo autor se mostra questionável, pois parece relacionar a disponibilidade ou não de uma pessoa para cuidar de uma criança apenas à existência ou não de um relacionamento marital, desconsiderando vários outros aspectos da vida dessa pessoa, como, por exemplo, o envolvimento com o trabalho. Miall e March (2005), na já citada pesquisa realizada no Canadá que objetivou analisar mudanças nas práticas de adoção a partir da opinião da comunidade, investigaram o nível de aceitação da comunidade em geral em relação à realização de adoções por mulheres e homens solteiros. Apenas 22% dos homens e 27% das mulheres consideraram muito aceitável a realização de uma adoção por uma mulher solteira, enquanto 35% dos homens e 32% das mulheres afirmaram que esse tipo de adoção não seria muito aceitável ou seria inaceitável. Similarmente, apenas 18% dos homens e 19% das mulheres afirmaram que a adoção por um homem solteiro 85 seria muito aceitável, enquanto 45% dos homens e 44% das mulheres afirmaram que esse tipo de adoção não seria muito aceitável ou seria inaceitável. Assim, a partir dessa pesquisa é possível perceber que, em relação à realização de uma adoção por pessoas solteiras, há em geral um maior nível de aceitação quando esta é realizada por uma mulher solteira, e um maior nível de rejeição quando é realizada por um homem solteiro. 1.15.2. Adoção por homossexuais Segundo Weber (2003) deve levar algum tempo para que a adoção por homossexuais seja discutida de forma sistemática no Brasil, mas essa é uma questão que não pode mais ser ignorada. Santos e Bruns (2004) afirmam que há uma escassez de trabalhos sobre as famílias homossexuais, e percebe-se em relação a elas a existência de preconceito e discriminação nos mais diversos segmentos e contextos sociais. De acordo com Santos e Bruns (2004), existem vários mitos acerca da homossexualidade, dentre eles a associação entre homossexualidade e promiscuidade, e a crença na incapacidade de pessoas homossexuais criarem filhos saudáveis, e na possibilidade de elas influenciarem a orientação afetivo-sexual dos filhos. Segundo as autoras, essas posturas preconceituosas diante da possibilidade de existência de gays e lésbicas com filhos desvelam marcas da repressão sexual e da construção bio-psico-sócio-cultural e espiritual da sexualidade que permeiam as relações sociais. Para os “casais” homossexuais10 que desejam exercer a parentalidade, devido à impossibilidade biológica de duas pessoas do mesmo sexo terem um filho (embora hoje exista grande desenvolvimento de técnicas de fertilização artificiais, criando algumas alternativas, tal impossibilidade biológica permanece válida), um dos caminhos seguidos é a adoção (Santos e Bruns, 2004). Como já foi ressaltado, o Estatuto da Criança e do Adolescente descreve uma série de características necessárias para que uma pessoa adote uma criança ou adolescente no Brasil, mas não faz qualquer referência ou restrição à orientação sexual do candidato à adoção. Assim, uma pessoa solteira, divorciada ou viúva pode 10 Em alguns casos será mantida a expressão “casal” para se referir ao par homossexual, embora não se trate de um casal stricto sensu. 86 adotar, independentemente da orientação sexual, desde que preencha os requisitos estabelecidos na Lei. Mas, conforme o ECA, “a adoção por ambos os cônjuges ou concubinos poderá ser formalizada, desde que um deles tenha completado vinte e um anos de idade, comprovada a estabilidade da família” (art. 42, §2º). Ou seja, de acordo com a legislação, duas pessoas só podem adotar conjuntamente se forem casadas ou viverem em união estável, ou se forem divorciadas ou judicialmente separadas, desde que o estágio de convivência com a criança tenha se iniciado na constância da sociedade conjugal (art. 42, §4º). E como legislação brasileira só reconhece a união estável entre um homem e uma mulher (Constituição Federal, artigo 226, § 3º), fica inviabilizada a adoção de uma criança ou adolescente por duas pessoas do mesmo sexo, como por exemplo um “casal” homossexual. Ainda de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção não será deferida se o candidato revelar, de qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida, ou não oferecer ambiente familiar adequado à criança ou ao adolescente. Além disso, a adoção só será deferida se apresentar reais vantagens para o adotando. Com base nesses aspectos da legislação, muitos argumentam que a adoção por pessoas homossexuais não deveria ser permitida, pois acreditam que não haveria um ambiente familiar adequado à criança ou adolescente. Assim, percebe-se que o que está em questão não é apenas a restrição legal, mas principalmente o fato de a adoção por homossexuais ser motivo de grande preconceito social. Apesar de a orientação sexual do adotante solteiro, de acordo com a lei, não interferir no processo de adoção, percebe-se muitas vezes a existência de preconceitos, por parte dos próprios técnicos do judiciário, em relação à sexualidade do postulante à adoção. Um exemplo disso é o fato de que, quando um homem solteiro se interessa em adotar uma criança ou adolescente, o fato de ele declarar não ter uma companheira muitas vezes faz recair sobre ele uma série de suposições a respeito de sua sexualidade, levantando-se a hipótese de homossexualismo. A partir daí o postulante está sujeito a sofrer uma série de preconceitos, que podem inclusive impossibilitar a conclusão do seu cadastro para adoção. Atualmente é possível observar muitos preconceito sociais em relação à adoção por homossexuais, mas alguns acontecimentos vêm mostrar que esses preconceitos estão sendo questionados. Em 1999 um homem solteiro interessado 87 em adotar uma criança pela 1ª Vara da Infância e da Juventude do RJ declarou-se homossexual e, tendo passado por todo o processo de avaliação psicossocial, teve aprovado o pedido de inclusão no cadastro de interessados em fazer uma adoção. Porém, o Ministério Público recorreu argumentando que a união de pessoas do mesmo sexo poderia prejudicar a criança. Mas o Tribunal de Justiça, em decisão unânime, manteve a decisão do juiz, permitindo a realização do cadastro do interessado em adotar (Zero Hora, 05/02/99). No mesmo ano, um professor, homossexual assumido, conseguiu o direito de adotar uma criança de 9 anos, também na 1ª Vara da Infância e da Juventude do RJ. O Ministério Público mais uma vez recorreu, alegando que o convívio com homossexuais poderia prejudicar a formação da personalidade e do caráter da criança. Mas o Tribunal de Justiça novamente manteve a decisão do juiz, permitindo a adoção da criança (Bittencourt, 1999, em reportagem do Jornal do Brasil de 07/07/99). Há alguns anos vem ocorrendo no Brasil uma discussão acerca da aprovação do projeto da parceria civil para pessoas do mesmo sexo (Projeto de Lei no 1151/95, de autoria de Marta Suplicy – PT-SP). Atualmente os pares homossexuais não podem ser beneficiados por herança, não podem declarar renda em conjunto para comprar imóveis, e estão impedidos de colocar o parceiro como dependente em planos de saúde ou previdência. Com a aprovação da Parceria Civil Registrada, todos esses aspectos serão garantidos por meio de contrato lavrado em cartório. Mas, de acordo com Marta Suplicy (PT-SP), em entrevista a Velloso (1999) numa reportagem da revista Época de 18/01/99, é preciso deixar claro que a parceria civil não é um casamento, e sim um contrato que não muda o estado civil da pessoa, tendo apenas a função de organizar os aspectos legais da vida de homossexuais que moram juntos. Esse contrato, que beneficiaria também pessoas do mesmo sexo que não são homossexuais, como por exemplo uma avó e uma neta ou dois irmãos, dá aos envolvidos direitos semelhantes aos que têm os pares heterossexuais que não são casados no civil. Apesar de a aprovação do projeto de parceria civil entre pessoas do mesmo sexo garantir alguns direitos aos “casais” homossexuais, ele não aborda a questão da adoção de crianças e adolescentes, não trazendo qualquer alteração no que se refere à questão. De acordo com Velloso (1999) numa reportagem da revista Época de 18/01/99, quando foram discutir com Marta Suplicy os itens que gostariam de ver incluídos no Projeto de Lei, os grupos de homossexuais chegaram a pensar na 88 admissão do direito de adoção por pares do mesmo sexo, mas logo que perceberam que a polêmica seria grande e poderia comprometer a aprovação do projeto, desistiram da idéia. Em alguns países existem legislações que regulamentam a união de homossexuais, e abordam o tema da filiação. Por exemplo, na Dinamarca, na Noruega e na Suécia a união civil entre pessoas do mesmo sexo é permitida, e os “casais” homossexuais têm os mesmos direitos dos heterossexuais. Mas nesses países as leis impedem as cerimônias em igrejas, a adoção de crianças e a inseminação artificial em “casais” registrados de lésbicas. Na Islândia a união civil entre homossexuais é legalizada, assim como a custódia conjunta de filhos biológicos de um dos parceiros. No ano de 2000, a Holanda, que já reconhecia o registro de associação para pessoas do mesmo sexo desde 1998, se tornou o país mais liberal do mundo em direitos para homossexuais, ao aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a adoção de crianças por pares homossexuais, desde que residam no país, e que as crianças adotadas sejam de nacionalidade holandesa, para evitar conflitos jurídicos com outros países (O Globo, 19/12/00). No Brasil, a polêmica sobre a adoção por homossexuais teve destaque na mídia numa novela de grande audiência, iniciada em 2004, na qual uma médica, que era homossexual, achou um bebê negro no lixo do hospital, e resolveu tentar adotálo, visto que ela e sua namorada se apaixonaram pelo bebê. De acordo com Pereira (2003), em reportagem da revista Época de 29/12/03, as restrições à paternidade dos homossexuais estão começando a ser revistas pela sociedade brasileira, pois, graças à adoção e à fertilização in vitro, os homossexuais estão trazendo para a cena moderna mais um modelo de família, denominado “homoparental”. Santos e Bruns (2004) realizaram investigação objetivando compreender como homossexuais vivenciam a parentalidade e que significados lhe atribuem, a partir de entrevistas com pessoas homossexuais com filhos biológicos e/ou adotivos. Os resultados apontaram a existência de um grande preparo psíquico e socioeconômico por parte dos homossexuais para a chegada de uma criança. Segundo as autoras, a divisão de papéis sexuais em famílias homossexuais não segue o modelo de casal heterossexual tradicional, nas funções de pai e mãe (atribuídas ao homem e à mulher, respectivamente), sendo as funções parentais exercidas por ambos. Mas percebe-se a existência de relatos de situações de preconceito quanto aos papéis sexuais desempenhados. Santos e Bruns (2004) 89 ressaltam que parece difícil para a sociedade aceitar, por exemplo, que duas mulheres que constituem um “casal” e uma família nuclear possam ter suas identidades de gênero femininas, e que possam exercer efetivamente a parentalidade. Mas ainda se acredita que, pelo fato de serem mulheres, ainda possam ser mais bem sucedidas do que um “casal” de homens homossexuais, devido à idéia de que as mulheres seriam “naturalmente” boas cuidadoras e boas mães. Segundo as autoras, a crença de que a criança ficaria confusa com o fato de ter duas mães ou dois pais não foi confirmada na pesquisa, visto que as crianças formaram vínculos afetivos saudáveis e estáveis com as pessoas que exerceram as funções parentais. McIntyre (1994, citado por Weber, 2003), através de análise acerca de pais e mães homossexuais e o sistema legal de custódia, afirma que pais do mesmo sexo são tão efetivos quanto casais tradicionais. Ricketts e Achtenberg (1989, citado por Weber, 2003) realizaram um estudo com casos individuais de adoções por homossexuais de ambos os sexos e afirmam que a saúde mental e a felicidade individual dependem da dinâmica de determinada família, e não da maneira como a família é definida. Patterson (1997, citado por Weber, 2003), avaliando as relações de pais e mães homossexuais com seus filhos e as evidências da influência dos pais na identidade sexual, desenvolvimento pessoal e relacionamento social dos filhos (crianças de 4 a 9 anos), afirma que os níveis de ajustamento maternal, auto-estima, e desenvolvimento social e pessoal das crianças são compatíveis com os de crianças criadas por casais tradicionais. Miall e March (2005), no Canadá, investigaram o nível de aceitação da comunidade em geral a respeito da realização de uma adoção por “casais” homossexuais masculinos ou femininos. Os dados dessa pesquisa mostram que a aprovação social da realização de uma adoção por pares homossexuais em geral é muito menor que a realização de uma adoção por casais heterossexuais ou por pessoas solteiras. De acordo com a autoras, 23% das mulheres e 17% dos homens (significativamente mais mulheres) afirmaram que uma adoção por um “casal” de lésbicas seria plenamente aceitável, enquanto 58% dos homens e 47% das mulheres (significativamente mais homens) afirmaram que a realização de uma adoção por um “casal” de lésbicas não seria muito aceitável ou seria inaceitável. Em relação à realização de uma adoção por um “casal” de gays, 21% das mulheres e 15% dos homens (significativamente mais mulheres) afirmaram que seria muito 90 aceitável, enquanto 61% dos homens e 51% das mulheres (significativamente mais homens) afirmaram que não seria muito aceitável ou seria inaceitável a realização de adoção por um “casal” de gays. Percebe-se que em geral as mulheres aceitam mais a possibilidade de pares homossexuais serem pais adotivos, enquanto os homens reprovam mais tal situação. 1.16. Algumas questões adicionais sobre família Becker (2000) afirma que é abundante a literatura contemporânea a respeito da importância da família para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. É fato que a socialização da criança não acontece apenas na família, sendo realizada simultaneamente pela escola, pela igreja, pela mídia, além da imensa influência exercida pelos grupos de pares, constituído por iguais (Romanelli, 2002). Mas, segundo Kumamoto (2001), não se pode negar que, através de suas práticas educativas e socializadoras, nas quais a afetividade é o seu elemento constituinte básico, a família desempenha um importante papel na transmissão dos valores essenciais à formação do indivíduo. Kumamoto (2001) afirma que a família, apesar das mudanças observadas nos últimos anos, ainda continua exercendo notável influência sobre a criança, podendo suprir as necessidades afetivas e materiais do indivíduo. Ebrahim (2001a) afirma que as relações entre pais e filhos são essenciais para a formação da personalidade e a adaptação social do indivíduo, e embora o fato de pertencer a uma família não assegure um desenvolvimento necessariamente mais adequado, promove condições que o favorecem. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança ou adolescente tem direito a ser criado no seio de uma família e, excepcionalmente, em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem. Desse modo a adoção, que é a forma mais extrema de colocação em família substituta, tem como objetivo garantir os direitos de crianças e adolescentes, quando estes tiverem por algum motivo sua convivência familiar abalada. Mas apesar de afirmar a necessidade da criança de crescer em uma família, a lei não prioriza nenhum modelo familiar como sendo mais adequado, fazendo restrições apenas quanto à adoção realizada por duas pessoas do mesmo sexo. Sabe-se que na nossa sociedade atual coexistem configurações familiares muito diversas, o que tem levado a novas situações sociais. Apesar da existência 91 dessa diversidade, ainda predomina, segundo Berquó (1998), um modelo familiar, cuja condição de ideal foi construída na modernidade, que é aquele da família nuclear conjugal composta por pai, mãe e filhos. A forte influência desse modelo familiar pode ser claramente percebida no trabalho com adoção, visto que a grande maioria das pessoas que procuram os serviços de adoção são casais que não podem ter filhos biológicos. Ou seja, a adoção é muitas vezes vista como uma forma alternativa de construir aquele modelo familiar conjugal e nuclear. 1.16.1. Breve exposição de aspectos históricos O modelo de família nuclear conjugal desenvolveu-se como ideologia hegemônica na modernidade. Ao fazer uma análise do desenvolvimento das relações familiares nas sociedades ocidentais, Ponciano e Féres-Carneiro (2003) afirmam que antigamente essas relações perdiam-se em meio a uma ampla comunidade, e incluíam pai, mãe, filhos, parentes, agregados, vizinhos, amigos, entre outros. As relações familiares eram permeadas por relações comunitárias, de modo que a família e a sociedade confundiam-se. O indivíduo perdia sua visibilidade em meio às relações, e a hierarquia ditava as regras familiares. Todos os membros do grupo familiar deviam obediência e respeito ao pai, que os deveria proteger, vigiar e corrigir. A concepção de família predominante era a de linhagem, compreendida como solidariedade estendida a todos os descendentes de um mesmo ancestral, não levando em conta os valores da coabitação e da intimidade. No fim do século XVII e início do XVIII ocorreu na Europa uma mudança social marcante nas características da criança e da família e em sua interação. A família tornou-se um lugar de afeição necessária entre os cônjuges e entre pais e filhos, e passou a se organizar em torno da criança, em função da importância que passou a ser atribuída à sua educação. A família recolheu-se da rua, da praça, da vida coletiva em que antes se encontrava, para a intimidade, fazendo desaparecer a antiga sociabilidade. Assim, paulatinamente através dos séculos, o valor social da linhagem foi transferindo-se para a família conjugal (Ariès, 1981). Dessa forma, de acordo com Ponciano e Féres-Carneiro (2003), percebe-se na modernidade uma mudança na relação entre a família e a comunidade circundante, de modo que os laços entre os membros da família reforçaram-se. A família, afastando-se cada vez mais da noção ampla de linhagem, foi se firmando num modelo nuclear, fundado no biológico, na união heterossexual e na procriação. 92 Esse modelo, vinculado ao aburguesamento e à industrialização das grandes cidades, é pautado ainda na intimidade, na privacidade e no isolamento, tornando-se fechado à sociabilidade pública. A partir do século XVIII os jovens começaram a considerar os sentimentos para a escolha do cônjuge, desvalorizando aspectos exteriores como propriedade e desejo dos pais. As transformações econômicas, advindas da Revolução Industrial, permitiram as condições materiais necessárias para uma liberação da escolha conjugal, que não ameaçava mais o patrimônio familiar. Mas, apenas no século XIX o casamento por amor foi defendido abertamente (Ponciano e Féres-Carneiro, 2003). Segundo Vaitsman (1994), o desenvolvimento da família conjugal moderna, fundada no casamento por livre escolha, ocorreu simultaneamente a uma reformulação dos papéis de homens e mulheres no casamento, criando novos modelos de comportamentos masculinos e femininos. Na família nuclear o casal assume maior centralidade, e tem a função de constituir um núcleo em torno dos filhos. A família assumiu uma função moral e espiritual, e passou a ser o agente ao qual a sociedade confiou a tarefa de transmissão da cultura. As crianças, que passaram a ocupar o lugar central nessa família, são de responsabilidade dos pais, e à mulher coube a tarefa de criar seus filhos, de ser companheira do seu marido e de executar as tarefas domésticas (Ponciano e Féres-Carneiro, 2003). Nos primórdios da industrialização, segundo Vaitsman (1994), muitas mulheres integraram-se às atividades industriais, mas posteriormente, muitas empresas que utilizavam a produção doméstica das mulheres foram suplantadas pela produção fabril, o que significou paulatinamente a substituição do trabalho feminino pelo masculino. Assim, a industrialização provocou uma queda da participação feminina na força de trabalho, acarretando um processo de privatização da mulher no mundo da família. Ao ser privatizado na família, o trabalho doméstico não remunerado da dona de casa tornou-se invisível, e essa privatização, que segundo Vaitsman (1994) foi política, cultural e legal, trouxe implicações para o modo como as mulheres foram se definindo e sendo definidas na ordem moderna patriarcal. Passou a ser difundido um discurso que se tornou dominante sobre as características próprias da natureza de cada sexo, de modo que os papéis familiares eram atribuídos e normalizados segundo o gênero: era da natureza feminina 93 realizar-se como mãe e esposa devotada, e da masculina realizar-se como pai, responsável pela provisão material e moral da família. As relações familiares, antes reguladas pela hierarquia, passaram a sofrer intervenção do Estado, em aliança com especialistas da área de saúde. O saber médico-psicológico passou a prescrever as normas de comportamento de todos os membros da família, de modo que sua liberdade tornou-se restrita (Ponciano e Féres-Carneiro, 2003). De acordo com Vaitsman (1994), o relacionamento familiar começou a modificar-se mediante a difusão de normas da disciplina médicohigiênica, pois a partir de então o discurso médico passou a exigir a superação da separação entre sexo e amor, e a integração desses dois elementos dentro do casamento. A sexualidade e o amor entre homem e mulher no casamento transformaram-se em normas de saúde. É interessante ressaltar que, segundo Vaitsman (1994), o padrão de família conjugal patriarcal na verdade jamais se generalizou no conjunto da sociedade ocidental, mas se difundiu como ideal de comportamento e papéis sexuais. Segundo Romanelli (2002), apesar da família nuclear conjugal ter se firmado como modelo hegemônico na modernidade, as formas de sociabilidade familiar nem sempre se adequaram inteiramente a esse modelo, pois o modo como as características modelares se articulavam entre si dependia da camada social e do repertório cultural das famílias. A domesticação da mulher fez surgir aspirações de crescimento pessoal feminino, e a partir dos anos 70 consolida-se o movimento feminista, que foi uma das principais fontes de questionamento e transformação para a família. O movimento feminista gerou uma crise do modelo conjugal hegemônico desde o fim do século XIX, e a partir dos debates advindos desse movimento, uma nova revolução sexual realizou-se na sociedade, de modo que situações de recasamento e de “casais” homossexuais passaram a tornar-se visíveis (Ponciano e FéresCarneiro, 2003). O movimento feminista reivindicava relações igualitárias entre homens e mulheres, e a autoridade patriarcal, até então reforçada pela comunidade, tornou-se intolerável. Os valores conjugais, antes baseados na fidelidade, na cadeia de gerações e na responsabilidade perante a comunidade, passam a basear-se primordialmente na felicidade pessoal, no autodesenvolvimento e no desejo de ser livre para desenvolver a própria personalidade e realizar as ambições pessoais 94 (Ponciano e Féres-Carneiro, 2003). As mulheres, de forma cada vez mais maciça, foram invadindo os domínios da política, da cultura e das atividades profissionais, redefinindo a divisão sexual do trabalho e desafiando o modelo patriarcal (Vaitsman, 1994). Assim, segundo Costa e Rossetti-Ferreira (2004), os movimentos sociais das décadas de 60 e 70, associados às mudanças no âmbito econômico e tecnológico, promoveram intensas transformações não apenas no cenário político-econômico mundial, mas também modificaram as relações entre os gêneros, as relações familiares, redefinindo papéis sexuais e funções atribuídas aos sexos. As expressões de masculinidade e feminilidade foram questionadas, repensadas, ressignificadas e mutuamente configuradas a partir das práticas sociais. Com a crescente democratização das relações, advindas com a própria modernização, a família foi contaminada por valores democráticos, baseando-se na comunicação livre e aberta e no diálogo. A imposição modelar da família nuclear moderna não pôde mais ser controlada, já que era advogado o direito à livre escolha. Construiu-se a possibilidade de não se seguir um modelo único, tal qual o da família conjugal, e passaram a ganhar visibilidade inúmeras formas de configurações familiares: uniões conjugais sem vínculos legais, famílias monoparentais (caracterizados pela presença do pai com filhos ou da mãe com filhos, contando ou não com outros parentes habitando conjuntamente), famílias compostas por homossexuais e seus filhos, entre outras (Berquó, 1998). Mas, apesar de o modelo de família nuclear ter sido questionado, as configurações familiares atuais têm preservado algumas de suas características, como a intimidade e a privacidade (Ponciano e Féres-Carneiro, 2003). Assim, na atualidade, a família tende cada vez mais a ser pautada na idéia da diversidade e da ausência de um parâmetro norteador único. O estabelecimento de um modelo fixo já não se mantém, pois se estabelece a diversidade como valor fundamental. No plano teórico, percebe-se uma dificuldade de se buscar uma definição exclusiva de família, de modo que a literatura refuta a busca de uma estrutura familiar universal (Ponciano e Féres-Carneiro, 2003). 1.16.2. A família no judiciário Durante a transição democrática no Brasil, que culminou com a Constituição Federal de 1988, o modelo proposto para o país era de um Estado social e 95 democrático de direito. Na área do direito de família, os dispositivos constitucionais apresentaram uma verdadeira ruptura com o modelo de família presente até então no direito brasileiro (Koerner, 2002). Segundo a Constituição de 1988, “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado” (art. 226), sendo esta proteção estendida a formas não tradicionais de família. Essa legislação considera como família não só a formada pelo casamento, mas também a união estável entre homem e mulher (art. 266, inciso 3º), e a formada por qualquer dos pais e seus descendentes (inciso 4º). Assim, fundada em princípios constitucionais democráticos e valores universais, a política da família passa, pois, de um modelo arcaizante/regressivo para um modelo progressivo, em que o direito se abre à diversidade de costumes, e não adota mais um modelo familiar único, além de considerar que as relações familiares não são mais as mesmas (Koerner, 2002). Porém, apesar de o processo de mudança política, iniciado com a transição democrática, ter provocado inúmeras transformações na estrutura do direito brasileiro, segundo Koerner (2002) as instituições do sistema judicial têm se transformado de forma incompleta e contraditória, tanto em seus aspectos organizacionais e de procedimentos, como na prática dos profissionais de Direito. Confirmando essa afirmação de Koerner (2002), no que diz respeito à família, percebe-se que uma transformação legal no sentido de uma abertura a formas não tradicionais de família não necessariamente foi acompanhada de uma transformação na concepção de família de profissionais que atuam na área Direito, prevalecendo ainda uma valorização daquele modelo de família conjugal nuclear e patriarcal. Esse aspecto pode ser claramente evidenciado no que diz respeito à adoção, pois apesar de o Estatuto da Criança e do Adolescente não absolutizar a família conjugal como único modo de assegurar à criança o direito de viver em uma família, e não priorizar qualquer modelo de família como mais adequado para acolher uma criança em adoção, muitos profissionais de serviços técnico-judiciários responsáveis por selecionar candidatos à adoção continuam priorizando, muitas vezes de forma sutil, postulantes que se adequam ao modelo de família conjugal nuclear, em detrimento de outros como pessoas solteiras, separadas e viúvas. Apesar dos avanços legislativos, essa valorização do modelo de família conjugal ainda é tão presente em nossa sociedade que muitas vezes os próprios interessados em adotar que não se adequam a esse modelo acreditam que não 96 podem se inscrever para adoção de uma criança pois não seriam considerados uma família para a criança. Ou então deixam de se inscrever pois acreditam que a legislação prioriza o modelo conjugal como mais adequado ao desenvolvimento de uma criança. Enfim, parece que essa diversidade que caracteriza as relações familiares na atualidade, tão presentes em nosso cotidiano, não foi completamente assimilada no que se refere à adoção, pois as práticas se mantém de certa forma atreladas a um modelo de família conjugal, tanto para os profissionais que atuam junto ao direito como para a sociedade em geral. Porém, na atualidade, é possível perceber que há um grande número de pessoas cadastradas para adoção nos juizados que não correspondem a esse modelo familiar conjugal, e essa grande diversidade de interesses e de interessados envolvidos em processos de adoção coloca em questão aquela concepção que se fixa em um modelo, evidenciando a insuficiência e a precariedade de um trabalho de adoção que prioriza um determinado padrão familiar como mais adequado para uma criança. 1.17. Objetivos A partir do que foi exposto é possível perceber que o tema “adoção” engloba uma série de discussões e uma grande variedade de interesses, e lidar com essa variedade tem se mostrado um desafio rotineiro. Assim, buscando contribuir para uma melhor compreensão dos aspectos envolvidos na adoção, e mais especificamente, da diversidade de interesses e interessados relacionados ao tema, realizamos a presente pesquisa com pessoas interessadas em adotar crianças e/ou adolescentes, cadastradas para adoção no Juizado da Infância e da Juventude de Vila Velha -ES. Considerando a importância da adoção no contexto brasileiro atual e o destaque que o tema vem ganhando, o presente estudo objetivou construir um panorama a respeito das adoções realizadas através do Juizado da Infância e da Juventude do município de Vila Velha - ES, buscando ressaltar a diversidade de interesses e de interessados envolvidos no processo de adoção. Relacionam-se aos objetivos desse trabalho explorar o processo de adoção, as variáveis relativas à caracterização das pessoas interessadas em adotar, os motivos que as levaram a querer adotar, suas preferências quanto às características das crianças desejadas, explorar como a criança pode alterar a vida das pessoas que adotam, o 97 posicionamento dos pretendentes sobre a revelação à criança de sua natureza adotiva, a negociação de casais sobre a adoção, as restrições ou preconceitos percebidos pelos adotantes em relação ao seu interesse em adotar, entre outros. Além disso, objetivou-se, a partir dessa análise, apresentar perspectivas de atuação para profissionais, em especial psicólogos judiciários, que trabalham com adoção, e contribuir para questionar a adequação de um modelo familiar tradicional para lidar com uma realidade na qual se apresentam configurações familiares muito variadas. Acreditamos que, ao abordar a diversidade de aspectos envolvidos na adoção, estamos contribuindo para a produção de questionamentos de preconceitos e de concepções tradicionais no que se refere ao tema. A adoção parece ser um processo que, em razões de questões históricas ligadas a maternidade, a fertilidade, e a ideais de família, pode ser pensado a partir de estereótipos, e estudos na área podem contribuir para apontar a inadequação de modelos tradicionais para lidar com uma realidade que vai além de incompletas e falíveis teorias, além de contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho de profissionais de diversas áreas que lidam direta ou indiretamente com a adoção. Esperamos ainda que os resultados dessa pesquisa, na medida em que contribuam para a ampliação do corpo de conhecimentos sobre adoção, possam gerar subsídios para a implementação de projetos de intervenção e para a elaboração de políticas públicas. 2. MÉTODO 2.1. Participantes Participaram da pesquisa homens e mulheres, casados ou não, interessados em adotar crianças e/ou adolescentes, cadastrados no Juizado da Infância e da Juventude de Vila Velha - ES. Foram feitas no total 21 entrevistas, com casais (ambos os cônjuges simultaneamente) ou com pessoas individualmente. Em dois casos de entrevistas com casais os respectivos cônjuges não puderam comparecer, de modo que a entrevista foi feita com apenas um deles, que forneceu informações sobre o casal. Desse modo, o grupo de participantes compôs-se de 12 casais, 2 pessoas casadas que forneceram informações sobre ambos os cônjuges (1 do sexo feminino e 1 do sexo masculino), 6 pessoas solteiras (4 do sexo feminino e 2 do sexo masculino) e 1 separada (sexo feminino), perfazendo um total de 33 98 participantes (18 do sexo feminino e 15 do sexo masculino). Porém, durante a apresentação e análise dos dados, serão contabilizados 35 participantes, englobando as duas pessoas que não puderam comparecer às entrevistas, mas que foram abordadas indiretamente por meio de seus cônjuges. A escolha dos participantes não se deu aleatoriamente. Todas as pessoas cadastradas no Juizado da Infância e da Juventude de Vila Velha passam por um acompanhamento psicológico grupal (coordenado pela pesquisadora), necessário para a aprovação do cadastro para adoção neste Juizado. A partir do conhecimento prévio de todos os casos que passaram pelo acompanhamento grupal, buscou-se selecionar os participantes de forma a englobar uma diversidade de casos que ilustrassem diferentes especificidades no que se refere aos vários aspectos da adoção. Essa forma de seleção contribuiu para a existência de uma grande variedade de casos com um número relativamente reduzido de participantes. O fato de o universo dessa pesquisa não possuir características de aleatoriedade reduz o alcance de generalização dos resultados, mas tal decisão proposital adequa-se aos objetivos da pesquisa e, ao invés de limitá-la, abriu a possibilidade para a produção de uma riqueza de informações que dificilmente seria alcançada com outra estratégia. 2.2. Procedimento e Instrumento Inicialmente foi feito contado com a autoridade judiciária responsável pelo Juizado da Infância e da Juventude de Vila Velha – ES, a MM. Juíza Dr. Patrícia Pereira Neves, e foi solicitada permissão para a realização da pesquisa através do “Termo de consentimento para a realização de projeto de pesquisa” (anexo I), o qual foi preenchido em duas vias, ficando uma a cargo da autoridade judiciária e outra a cargo da pesquisadora. O contato com os participantes foi feito por meio de telefone, ou pessoalmente no grupo de adoção. Foi marcado um horário com as pessoas que se dispuseram a participar, em local de sua preferência. Foi explicado aos participantes os objetivos da pesquisa e os procedimentos a serem utilizados, e àqueles que concordaram em participar foi entregue um “Termo de consentimento para a participação em projeto de pesquisa” (anexo II), termo este assinado em duas vias, ficando uma a cargo do participante e outra a cargo da pesquisadora. 99 Foi preenchida uma ficha (individual ou referente ao casal – anexos III e IV) com alguns dados dos participantes, tais como sexo, idade, endereço, escolaridade, estado civil, profissão, e um registro da cor da pele dos participantes (negro, pardo, branco, oriental, ou indígena). No caso dos casais, além de solicitadas essas informações de cada um dos parceiros, foi informado também o tempo de união. Foi realizada com os participantes uma entrevista apoiada em roteiro semiestruturado elaborado previamente. O objetivo foi coletar informações acerca de vários aspectos da adoção, como o tempo de espera desde a efetuação do cadastro para adoção, os motivos que os levaram a querer adotar, os eventuais casos de adoção na família, suas preferências quanto às características das crianças desejadas, expectativas sobre como a adoção pode alterar suas vidas, o posicionamento dos pretendentes sobre a revelação à criança de sua condição adotiva, as restrições ou preconceitos percebidos pelos adotantes em relação ao seu interesse em adotar, entre outros. O roteiro da entrevista realizada com casais (anexo V) continha algumas questões adicionais em relação ao roteiro da entrevista realizada individualmente com os solteiros ou separados (anexo VI), questões estas referentes à negociação do casal em relação a alguns aspectos da adoção. As entrevistas foram gravadas, e de cada uma das entrevistas gravadas foram transcritas as informações relevantes, as quais foram submetidas à análise. O total de entrevistas realizadas foi de 21 (12 com casais, 2 individuais referentes ao casal, e 7 individuais com pessoas solteiras ou separadas). Cabe ressaltar que inicialmente foram realizadas as primeiras 10 entrevistas (7 casais e 3 individuais), com a finalidade principal de testar o instrumento. Essas entrevistas foram submetidas a análise, e só após a sua conclusão foram realizadas as outras entrevistas. Em função disso, as 11 últimas entrevistas (5 casais, 2 individuais referentes ao casal e 4 individuais) foram realizadas quase um ano após as 10 primeiras. 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO O Quadro 1 apresenta algumas informações sobre a caracterização dos participantes da pesquisa. 100 Quadro 1 – Caracterização dos participantes. Entrevistas Sexo Idade H 30 Escolaridade Estado Civil Profissão Cor da pele Ensino Superior Completo Casado Pastor da Igreja Metodista e Professor de Teologia e Filosofia Branca Parda Entrevista 1 5 anos M 30 Ensino Superior Completo Casada Pastora da Igreja Metodista e Jornalista (assessora nacional de comunicação da Igreja) H 43 Ensino Superior Incompleto Solteiro Missionário religioso (Instituição religiosa Perfect Liberty) Negra Entrevista 2 Tempo de união (casais) 18 anos M 50 Ensino Médio Completo Solteira Dona de casa Branca Entrevista 3 H 36 Ensino Médio Completo Solteiro Analista de importação Branca - Entrevista 4 M 45 Ensino Superior Completo Casada (separada de fato) Advogada Branca - H 28 Ensino Fundamental Incompleto Casado Cabeleireiro Parda M 24 Ensino Médio Completo Casada Dona de casa Branca H 42 Ensino Superior Completo Casado Comerciário Branca M 41 Ensino Médio Completo Casada Fotógrafa Branca M 43 Ensino Médio Completo Solteira Cuidadora da Casa da Criança Parda H 30 Ensino Fundamental Incompleto Casado Vigilante Branca M 35 Ensino Médio Incompleto Casada Comerciaria Negra H 35 Ensino Superior Completo Casado Administrador Branca M 30 Ensino Superior Completo Casada Administradora Branca H 45 Ensino Médio Completo Separado Operador de Petróleo Branca M 27 Ensino Médio Completo Divorciada Dona de casa Branca M 44 Ensino Superior Incompleto Solteira Cabeleireira e administra imóveis próprios Branca H 34 Ensino Médio Completo Casado Vendedor atacadista Parda M 34 Ensino Médio Completo Casada Vendedora atacadista Branca H 42 Ensino Médio Completo Solteiro Analista Contábil Negra 41 Ensino Médio Completo Solteira Entrevista 5 Entrevista 6 Entrevista 7 Entrevista 8 Entrevista 9 Entrevista 10 Entrevista 11 Entrevista 12 Entrevista 13 M 5 anos e meio 14 anos - 5 anos e 4 meses 7 anos 3 anos - 8 anos 12 anos Dona de casa Parda 101 Continuação do Quadro 1 – Caracterização dos participantes. Tempo de união (casais) Escolaridade Estado Civil Profissão Cor da pele 66 Ensino Médio Completo Viúvo Aposentado (Conferente de carga e descarga) Parda M 33 Ensino Médio Incompleto Solteira Dona de casa Parda Entrevista 15 M 41 Ensino Superior Completo Solteira Professora Branca - Entrevista 16 M 44 Ensino Superior Completo Solteira Gerente de importação, exportação e logística Parda - Entrevista 17 H 41 Ensino Médio Completo Solteiro Assistente de Administração Branca - H 38 Ensino Superior Completo Casado Técnico em Mecânica Branca M 37 Ensino Superior Incompleto Casada Professora e Proprietária de Creche Branca H 57 Ensino Médio Completo Divorciado Aposentado (Metalúrgico) Parda M 41 Ensino Médio Completo Divorciada Professora Parda H 34 Ensino Superior Completo Casado Engenheiro Elétrico e Analista de Logística Parda M 39 Ensino Médio Incompleto Casada Dona de casa Branca H 43 Ensino Superior Completo Casado Operador de Petróleo e Empresário Negra M 30 Ensino Médio Completo Casada Gerente de Vendas Branca Entrevistas Sexo Idade H Entrevista 14 Entrevista 18 Entrevista 19 Entrevista 20 Entrevista 21 6 anos 16 anos 4 anos 15 anos 5 anos A idade dos participantes variou entre 24 e 66 anos, sendo que 22,86% deles tinham até 30 anos, 28,57% entre 31 e 40 anos, 42,86% entre 41 e 50 anos, e 5,71% tinham 51 anos ou mais. Resulta uma idade média de 38,66 anos entre os participantes, sendo 40,25 anos a idade média dos homens entrevistados e 37,31 anos a das mulheres. A idade das mulheres apresenta-se relativamente alta ao se considerar a faixa etária na qual mais freqüentemente se tem filhos, principalmente o primeiro filho, o que seria o caso da maioria das participantes (68% delas). Diante disso podemos considerar, ao menos para esses participantes, que a iniciativa de realização de uma adoção foi tomada geralmente em um estágio mais avançado da vida, podendo vários fatores terem contribuído para isso, dentre eles: a espera na tentativa de ter filhos biológicos; a necessidade de um grande período para refletir sobre a idéia de realizar uma adoção; a busca por um filho em função de um novo relacionamento, iniciado em estágio mais avançado da vida, quando a idade impede uma gestação; no caso das pessoas solteiras, a espera pelo surgimento de um 102 relacionamento que gere filhos; entre outros. Um outro aspecto que deve ser considerado é o fato de que, na atualidade, os brasileiros estão cada vez mais adiando a decisão de ter filhos e optando por tê-los mais tardiamente, muitas vezes em função de carreira profissional ou de estabilidade financeira (Carelli, em texto no site www.pibbca.hpg.ig.com.br/materiais_arquivos/com_filhos. htm). Quanto à escolaridade dos participantes predomina a condição “Ensino Médio Completo” (50% dos homens e 57,9% das mulheres). A segunda condição de escolaridade mais freqüente é “Ensino Superior Completo” (37,5% dos homens e 26,3% das mulheres). O quadro se completa, para os homens, com dois casos de “Ensino Fundamental Incompleto” (12,5%) e para as mulheres com três casos de “Ensino Fundamental Completo” (15,8%). As profissões ou atividades profissionais dos participantes são bastante variadas. Entre as 19 mulheres, 6 não têm atividade profissional fora de casa, caracterizando-se como “Dona de casa” (31,6%). Outras 4 (21,1%) atuam em escolas ou creches. As demais 9 mulheres têm atividades profissionais variadas, sendo as mais freqüentes ligadas ao comércio. Nenhuma mulher com “Ensino Superior Completo” está na condição de “Dona de casa”. Não houve caso de mulher aposentada. Entre os homens, 6 (37,5%) atuam em prestação de serviços, em três casos de nível superior. São 4 (25%) os que atuam em atividades ligadas ao comércio e outros 4 (25%) atuam na indústria. Os 2 restantes (12,5%) exercem atividades religiosas ( um é pastor da Igreja Metodista e o outro é missionário religioso). Dois homens já estão na condição de aposentados. Apesar de não terem sido solicitadas diretamente informações a respeito da renda familiar dos participantes, os dados sobre escolaridade e profissão indicam que a maioria deles apresenta nível econômico de classe média, e esses dados estão de acordo com as informações obtidas por Weber (1999), que sugerem correlações claras entre o nível cultural e econômico e certos aspectos da adoção. Weber (1999), a partir de uma pesquisa sobre adoção, afirma que a maioria dos pais adotivos pertencentes a classes sociais de melhor renda adota através dos Juizados da Infância e da Juventude, enquanto a maioria dos pais adotivos com nível econômico menos privilegiado realiza adoções “à brasileira”. Talvez isso esteja relacionado ao fato de a “condição econômica” ser um dos itens analisados durante o processo seletivo de candidatos para adoção nos Juizados. Weber (1999) afirma 103 que parece haver uma contradição entre o que os Juizados e as pessoas que passaram pelo processo dizem. Segundo a autora, os juizados afirmam que a seleção dos candidatos não é feita pelo nível sócio-econômico, mas os candidatos à adoção dizem que sim, e os dados da pesquisa realizada por Weber (1999) mostram correlações entre esses aspectos. Dos 14 casais entrevistados, 9 são casados legalmente e 5 não. O tempo mínimo de relacionamento foi de 3 anos, sendo que 7 têm entre 3 e 6 anos de relacionamento, 3 têm entre 7 e 12 anos, e 4 têm entre 13 e 18 anos. Das 7 pessoas entrevistadas individualmente, 6 são solteiras e 1 é casada, mas separada de fato há 8 meses. Em relação à cor da pele, a maioria dos participantes tem a pele branca: 57,14% são brancos, 31,43% são pardos e 11,43% são negros (conforme classificação realizada pela pesquisadora no instrumento em anexo). Isso está de acordo com os dados obtidos por Weber (1999), segundo os quais a maioria dos adotantes no Brasil é composta por pessoas de pele branca, e apenas uma minoria é negra. Dos 14 casais entrevistados, 8 são inter-raciais e 6 não. Dos casais interraciais, 4 são constituídos de branco com pardo, 3 de branco com negro e 1 de pardo com negro. Dos casais em que ambos os cônjuges têm a mesma cor de pele, 4 são brancos e 2 são pardos. Foi possível perceber um alto grau de miscigenação entre os casais, o que, como será visto, está relacionado às preferências quanto à cor da pele do filho adotivo. As Tabelas 1a, 1b e 1c apresentam alguns dos principais resultados obtidos com a pesquisa. 104 Tabela 1a – Preferências quanto ao sexo e à cor de pele da criança a ser adotada e outras caracterizações. Tem cadastro Entrevistas Sexo apenas em Vila Velha Entrevista 1 Entrevista 2 H M H X Tem Não tem Interesse Não tem casos preferênci- Sexo preferido Cor preferida inicial em preferêncide a quanto adotar a quanto à adoção ao sexo (só para cor do filho na do filho Menina Menino casais) adotivo Branca Parda Negra família adotivo X X X X X X X X *1 X X *1 X X X X X X X X X X X X X M Entrevista 3 H X Entrevista 4 M X H Entrevista 5 M H Entrevista 6 X X M X X Entrevista 7 M X X *2 X *2 *2 H X Entrevista 8 X X X M X X H X Entrevista 9 X M X X H X Entrevista 10 X X M X X Entrevista 11 M X X X H X X Entrevista 12 X X X M X H X Entrevista 13 X *3 X *3 *3 M X H Entrevista 14 X X M X Entrevista 15 M X X Entrevista 16 M X X X Entrevista 17 H X X X H X Entrevista 18 X X X M H X Entrevista 19 X X M X H X Entrevista 20 X X M X X H X X Entrevista 21 X X M 1 * O interesse partiu do filho (11 anos). Primeiro teve o acordo do pai, e depois da mãe. *2 Interesse em uma criança específica (menina, branca, 1,2 anos). *3 Interesse em uma criança específica (menina, parda, 4 anos). X X *2 X X X *3 X X X X X X X X X X 105 Tabela 1b – Preferências quanto à idade da criança a ser adotada e outras caracterizações. Não tem preferência Entrevistas Sexo quanto à idade do Recém filho adotivo Nascido Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 Entrevista 5 Entrevista 6 Entrevista 7 Entrevista 8 Entrevista 9 Entrevista 10 Entrevista 11 Entrevista 12 Entrevista 13 Entrevista 14 Entrevista 15 H X M Idade preferida Entre 1 Acima Até 1 e 3 anos de 3 4 ano * *4 anos *4 X H M H M H M H M M H M H M H M M H M H M H M M Sexo Idade Cor X X X Já mudou de opinião quanto às preferências das características do filho adotivo quanto a Tem filhos biológicos X X X X X X X X X X X X *2 X X X *2 X X X X X X X X X X X X X X X *3 X *3 X X X X X X X X X X Entrevista 16 Entrevista 17 M X X X X H X X X H Entrevista 18 X M H Entrevista 19 X X M H Entrevista 20 X X X X M H Entrevista 21 X X M *2 Interesse em uma criança específica (menina, branca, 1,2 anos). *3 Interesse em uma criança específica (menina, parda, 4 anos). *4 Engloba as preferências no interior dessa faixa etária, mas não necessariamente com esses limites. X X X X 106 Tabela 1c – Caracterização complementar relacionada à adoção e à possibilidade de ter filho biológico. Não pode ter filhos biológicos Entrevistas Sexo ou tem dificuldades para tê-los Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 Entrevista 5 Entrevista 6 Entrevista 7 Entrevista 8 Entrevista 9 Entrevista 10 Entrevista 11 Entrevista 12 Entrevista 13 Entrevista 14 Entrevista 15 Entrevista 16 Entrevista 17 Entrevista 18 Entrevista 19 Entrevista 20 Entrevista 21 H M H M H M H M H M M H M H M H M M H M H M H M M M H H M H M H M H M Pretende ou não descarta a possibilidade de ter filhos biológicos Percebe Já tem Pretende ou Acha que Pretende restrições de filhos não Terá com a checontar pessoas com adotivos descarta a ajuda de gada do fipara o as quais se (esta possibilialguém lho adotivo filho que relaciona não é a dade de ter após a a vida vai ele é quanto ao primeira mais filhos adoção mudar adotivo seu interesse adoção) adotivos em adotar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Em 16 entrevistas os participantes informaram que tinham feito cadastro apenas no Juizado da Infância e da Juventude de Vila Velha, e em 5 entrevistas que tinham feito cadastro também em outras localidades (2 em Vitória, 1 na Serra, 1 em Castelo e 1 em Mantena – MG). O tempo de espera desde que foi feito o cadastro 107 no Juizado de Vila Velha variou entre 1 mês e meio e três anos, estando entre 1 mês e meio e 1 ano em 17 das entrevistas, e entre 1 e 3 anos em 4. Na época de realização das entrevistas, 2 pessoas solteiras (entrevistas 3 e 17) e 4 casais (entrevistas 9, 10, 13 e 20) já haviam conseguido a adoção de uma criança. Mas como essas adoções haviam sido realizadas há pouco tempo (no máximo há dois meses), esses participantes continuaram mostrando-se relevantes para a pesquisa. Em 5 casos a adoção foi de meninos recém nascidos, e em 1 caso a adoção foi de uma menina de 4 anos. Quadro 2 – Informações sobre o processo de adoção. Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 Entrevista 5 Entrevista 6 Entrevista 7 Entrevista 8 Município onde tem cadastro Vila Velha Vila Velha e Vitória Vila Velha Vila Velha Vila Velha e Vitória Vila Velha Vila Velha Vila Velha Entrevista 9 Vila Velha e Serra Entrevista 10 Entrevista 12 Entrevista 13 Entrevista 14 Entrevista 15 Entrevista 16 Vila Velha Vila Velha e Mantena – MG Vila Velha Vila Velha Vila Velha Vila Velha Vila Velha Entrevista 17 Vila Velha Entrevistas Entrevista 11 Há quanto tempo tem o cadastro 2 anos 4 meses e 1 mês 2 anos 2 meses 5 meses e 1 mês 6 meses 5 meses 9 meses 7 meses e 2 semanas 3 anos Adotou há quanto tempo Adotou por meio de qual Juizado 1 mês Vila Velha Sim 2 semanas Serra Sim 2 meses Vila Velha 2 semanas Vila Velha 2 meses De uma cidade no interior da Bahia *2 Já adotou Não Não Sim Não Não *1 Não Não Não 8 meses e 1 mês Não 1,5 mês 2 meses 4 meses 1 ano 4 meses Não Sim Não Não Não 1,6 ano Sim Entrevista 18 Vila Velha 3 meses Não Entrevista 19 Vila Velha 10 meses Não Entrevista 20 Vila Velha e Castelo 9 meses e 2 meses Sim 1 mês Entrevista 21 Vila Velha 1 ano Não *1 Já escolheram a criança e o processo já está em andamento no Juizado de Vitória *2 O entrevistado não relatou o nome da cidade. Vila Velha Dos entrevistados que já haviam adotado quando foram feitas as entrevistas, 4 adotaram pelo Juizado de Vila Velha, sendo que o tempo de espera para conseguirem a adoção foi, para os vários casos, de 2 anos (entrevista 3), 3 anos (entrevista 10), 2 meses (entrevista 13) e 9 meses (entrevista 20). Assim, nesses casos, o tempo de espera das pessoas que adotaram pelo Juizado de Vila Velha variou de 2 meses a 3 anos, o que indica que o tempo de espera para conseguir 108 uma adoção por via de meios legais pode ser longo, apesar de esse tempo variar em função de alguns aspectos, dentre eles a disponibilidade de participação do candidato no processo avaliativo e as preferências em relação às características da criança (cor, idade, e sexo). É interessante ressaltar que no caso da entrevista 13 o tempo de espera foi curto (2 meses), e isso se deu por alguns fatores. Quando o casal se interessou pela criança e começou a tentar sua liberação para a adoção, criou um vínculo afetivo com a menina, o que lhe deu prioridade em sua adoção. Além disso, o fato de o interesse ter sido em uma criança que não corresponde ao interesse da maioria dos postulantes à adoção (uma menina parda de 4 anos) possibilitou que o casal não enfrentasse a dificuldade de ter que competir com outros interessados. É importante mencionar que o tempo de espera relatado pelos participantes desde a realização do cadastro refere-se ao momento em que foi feita a entrevista. Deve-se lembrar que as primeiras 10 entrevistas foram realizadas quase um ano antes das outras 11 e, portanto, não é possível chegar a uma conclusão do tipo “o casal da entrevista 20 passou na frente na fila do cadastro do casal da entrevista 1, pois na entrevista 20 o tempo de espera foi de 9 meses e eles já adotaram, e na entrevista 1 é de dois anos e eles não adotaram ainda”. Além disso, para serem realizadas comparações desse tipo deve-se levar em conta outros fatores, dentre eles as características da criança que se deseja adotar e a possibilidade de não aceitação de uma adoção no momento em que foi chamado. Houve dois casos em que a adoção já havia ocorrido mas não por meio do Juizado de Vila Velha. Em um deles (entrevista 9) o casal, cujo tempo de espera no Juizado de Vila Velha foi de 7 meses, adotou por meio do Juizado da Infância e da Juventude do município da Serra, onde seu tempo de espera foi praticamente nulo. O casal relatou que foi informado por um amigo que havia uma criança com as características que eles queriam sob responsabilidade do Juizado da Serra em um abrigo, e imediatamente eles foram olhar a criança e se cadastrar naquele Juizado para tentarem a adoção (visto que o cadastro para adoção de uma criança específica deve ser feito no município do Juizado responsável pela criança). Fizeram o cadastro no Juizado da Serra e entraram numa fila de cadastros. Porém, como nenhuma das pessoas cadastradas anteriormente teve interesse em adotar a criança, eles logo foram chamados e conseguiram adotá-la. No outro caso (entrevista 17), o homem interessado em adotar, que já havia se cadastrado em Vila 109 Velha há cerca de 1,4 anos, recebeu um telefonema de uma amiga que mora no interior da Bahia, dizendo que havia um menino recém nascido cuja mãe não poderia criá-lo, e perguntando se ele não tinha interesse em adotá-lo. Apesar de sua preferência ser por menina, o entrevistado viajou até lá para conhecer o menino e gostou muito dele, de modo que foi ao Fórum da referida cidade para regularizar a adoção da criança e depois a trouxe consigo. Esses dados sugerem que as pessoas que se cadastram num Juizado e têm um papel participativo em busca do filho adotivo ficam menos tempo na fila de espera pela adoção do que aqueles que fazem o cadastro e ficam aguardando pelo Juizado. Um outro dado ainda corrobora essa informação. Um dos casais entrevistados (entrevista 5) relatou que, após ter feito o cadastro para adoção no Juizado de Vila Velha, foi procurar o Juizado do município de Vitória para fazer o cadastro lá também, e logo eles souberam de uma criança sob responsabilidade do Juizado de Vitória na qual nenhum dos cadastrados naquele município tinha interesse. Foram visitar a criança no abrigo, se interessaram por ela, e já estão sendo providenciados os trâmites necessários para a realização da adoção. Apesar de os técnicos dos Juizados, em geral, se posicionarem contrariamente a uma participação ativa dos candidatos à adoção (visitas a abrigos, realização de cadastros em vários municípios), os dados indicam que os candidatos mais ativos normalmente aguardam menos tempo para conseguirem a adoção. Dentre aquelas pessoas que não haviam realizado a adoção no momento da entrevista, o tempo médio de espera até então era de 7,3 meses, tempo este inferior àquele de 3 dos 4 interessados que conseguiram adotar pelo Juizado de Vila Velha. Em princípio, esses dados sugerem que a maioria dos participantes que ainda não adotou provavelmente vai esperar mais algum tempo para conseguir adotar pelo Juizado de Vila Velha, mas não se deve desconsiderar que o tempo de espera pela adoção depende de vários aspectos, e por isso não pode ser previsto com precisão. As motivações relatadas para adoção e suas respectivas freqüências podem ser vistas na tabela 2. Foram consideradas todas as respostas dadas pelos entrevistados. 110 Tabela 2 – Motivações para adoção. Motivações Não poder ter filhos biológicos ou ter dificuldade para têlos Ajudar uma criança Fazer sua parte perante a sociedade Por ser solteiro (a) Era um projeto de vida Ter estabilidade profissional e financeira Preencher um vazio Ser apaixonado por criança Vontade de ser mãe/pai Querer constituir/aumentar família Afinidade com uma criança específica Algo interior levou a isso Atender ao pedido do primeiro filho Para escolher o sexo do filho Teve um sonho sobre adoção Simplesmente por querer adotar Querer uma pessoa para cuidar Ter carinho e amor para dar Achar bonito o gesto da adoção % das respostas 24% 16% 8% 6% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Apesar de os dados terem sido obtidos com um conjunto de informantes selecionados deliberadamente em função da diversidade que exemplificavam, a motivação mais relatada foi “não poder ter filhos biológicos ou ter dificuldade para têlos” (24%), o que está de acordo com outras pesquisas (Reppold e Hutz, 2003; Cassin e Jacquemin, 2001; Weber, 1999 e 2003) que afirmam que a impossibilidade de gerar filhos biológicos ainda se constitui o principal motivo para adoção no Brasil. Não houve relato de casos de infertilidade masculina. Consideradas as 19 mulheres entrevistadas e levando-se em conta, ao mesmo tempo, as variáveis “ter filho biológico” e “não poder ter filho biológico”, chega-se ao quadro que se segue (o número entre parênteses identifica entrevistadas com vida conjugal e o número entre colchetes e em negrito identifica entrevistadas solteiras ou separadas): 111 Quadro 3 – Existência de filhos biológicos x possibilidade de ter filhos biológicos em relação às mulheres entrevistadas. Pode ter filho Tem Filho Não tem filho (1) (10) (21) [7] [11] [15] 3 casos 3 casos (5) (6) (8) (9) Não pode ter (2) (18) (19) (12) (13) (14) (20) filho 3 casos [4] [16] 10 casos Não há caso algum de mulher com vida conjugal interessada em adotar e que possa ter filho, que não tenha filho biológico. Das 14 mulheres com vida conjugal, 11 não podem ou têm dificuldades de ter filhos biológicos (8 delas não têm filhos e outras 3 têm filhos, embora não possam ter outros). As 5 entrevistadas sem vida conjugal não têm filhos biológicos, e 3 delas afirmam que poderiam tê-los. Deve ser registrado, entretanto, que todas 3 têm idades superiores aos 40 anos, o que implicaria uma primeira gestação envolvendo riscos. É possível dizer que, no grupo de entrevistadas que participaram do estudo, a impossibilidade de ter filho biológico foi a principal motivação para a adoção, ainda que precise ser considerada em articulação com a condição conjugal e com a idade. As outras motivações mais destacadas são “ajudar uma criança” (16%) e “fazer sua parte perante a sociedade” (8%). Reppold e Hutz (2003) afirmam que a adoção, no imaginário social, ainda é muito associada à caridade e à filantropia. Uma pesquisa realizada por Weber (1999) ressalta que os valores religiosos, como caridade, pena e amor ao próximo, são apontados como um forte motivador para adoção, e um estudo realizado por Gatti, Campos e Vargas (1993, citado por Reppold e Hutz, 2003) constata que a relevância social, associada ao nível de reflexão social, é um dos principais motivos para a adoção. Segundo Cassin e Jacquemin (2001) a caridade é uma motivação considerada ilegítima ou inadequada para a adoção, de forma similar a outras como preencher um vazio, satisfazer outra pessoa, salvar o casamento, promessa, ter companhia, e substituir um filho morto ou uma gravidez interrompida. Reppold e Hutz (2003) afirmam que essas motivações, em decorrência de sua fragilidade, podem implicar potenciais dificuldades de adaptação para a criança adotiva. “Preencher um vazio”, motivação considerada inadequada segundo a literatura, foi 112 citada pelos participantes em 4% das respostas, e outras motivações citadas que poderiam ser interpretadas como inadequadas foram “algo interior levou a isso” (2%), e “teve um sonho sobre adoção” (2%), mas para isso essas motivações precisariam ser melhor investigadas. É interessante ressaltar que, a partir de uma pesquisa realizada por Weber (2003), não ficaram evidenciadas correlações significativas entre motivações para o exercício da parentalidade adotiva e o sucesso da adoção, pois apesar de muitas das adoções pesquisadas terem se fundado em motivações consideradas ilegítimas, elas foram bem sucedidas. Essa afirmação pode ser exemplificada por um relato de um casal entrevistado (entrevista 20), que já possui uma filha adotiva de 7 anos, e estão realizando a segunda adoção. De acordo com o casal, quando foi realizada a adoção da primeira filha, o que motivou a realização da adoção naquele momento foi a perda de um bebê durante a gestação, mas apesar de a motivação ser considerada inadequada segundo a literatura, a adoção é considerada pelo casal como muito bem sucedida. “ Foi assim, né, como eu tinha perdido o neném, a assistente social ficou sabendo de uma criança dentro do próprio hospital, aí ela trouxe pra mim... mas aí, é como eu te falei, né, de início eu fiquei com medo, por eu ter perdido, de achar que ela ia ‘tapar buraco’...Não, é, eu achava que eu ia sentir assim..., aí quando ela chegou, sei lá, eu não consegui ver que é só do coração, era como se fosse minha mesmo” (mulher, casada, 39 anos, que já tem uma filha adotiva). Outras motivações relatadas, como “era um projeto de vida” (6%), “simplesmente por querer adotar” (2%) e “achar bonito o gesto da adoção” (2%), sugerem que tem havido uma certa mudança na forma como a adoção vem sendo encarada pela sociedade, sendo não apenas uma segunda opção para quem não pode ter filhos. Isso está de acordo com uma reportagem da revista Época de 23/08/04, de autoria de Mendonça e Fernandes (2004), na qual, ao relatarem o caso de um casal que já tinha filhos biológicos e resolveu adotar pois esse era um sonho antigo, afirmam que a classe média já não vê mais a adoção apenas como um plano B, pois para muitos isso se apresenta como um projeto de vida. 113 “Ter estabilidade profissional e financeira” foi uma motivação apontada em 4% das respostas, o que está de acordo com a literatura, que sugere que os brasileiros estão cada vez mais optando por ter uma estabilidade maior na carreira profissional e financeiramente antes de pensarem em ter filhos, sejam eles biológicos ou adotivos (Carelli, em texto no site www.pibbca.hpg.ig.com.br/materiais_arquivos/ com_filhos.htm). Foi apontado ainda como motivação “para escolher o sexo do filho” (2%), que é um aspecto muito interessante pois é uma possibilidade que existe na adoção e que não se coloca no caso da filiação biológica. De acordo com dados de Weber (1999), as pessoas, em sua maioria, adotam exatamente pelas mesmas razões que levam pessoas a terem filhos biológicos: querer uma criança, querer dar e receber amor, querer ter uma família. Muitas das motivações relatadas corroboram essa afirmação, dentre elas “ser apaixonado por criança” (4%), “vontade de ser mãe/pai” (4%), “querer constituir/aumentar família” (4%), “querer uma pessoa para cuidar” (2%), e “ter carinho e amor para dar” (2%). A grande diversidade de motivações relatadas está relacionada à variedade de casos, e algumas motivações são específicas de determinados casos, como por exemplo “por ser solteiro (a)” (6%), no caso de pessoas solteiras que desejam ter filhos mas não têm companheiro (a); “atender ao pedido do primeiro filho”, no caso de um casal que já tem um filho biológico e este sente falta de um (a) irmão (ã); ou ainda “afinidade com uma criança específica”, no caso de pessoas que tiveram afinidade com crianças específicas de abrigos e resolveram tentar adotá-las. É interessante ressaltar que em nenhum caso os entrevistados apontaram como motivação para adoção a necessidade de assegurar a continuidade do casamento. A idéia de que ter filhos pode assegurar a permanência de um relacionamento conjugal em crise é socialmente comum, e mais especificamente no caso da adoção, a infertilidade de um dos cônjuges poderia ser um motivo para crise marital, e a adoção ser vista como uma possibilidade de solução. Mas essa motivação não foi ressaltada por qualquer entrevistado, e um dos possíveis motivos para isso é o fato de que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a estabilidade da união entre o casal é um fator fundamental para que ele consiga a habilitação para adoção, e declarar a existência de uma crise conjugal e a adoção como uma possibilidade de solução poderia prejudicar o cadastramento do casal interessado em adotar. 114 Aos casais foi perguntado de quem foi o interesse inicial pela adoção, e 6 dos 14 casais responderam que foi de ambos os cônjuges, 5 responderam que foi da mulher, e apenas 3 que foi do homem. Nos casos em que o interesse pela adoção partiu de ambos os cônjuges, 4 casais afirmaram que não podiam ter filhos biológicos ou tinham dificuldade para tê-los, e apesar de todos esses casais relatarem um interesse antigo pela adoção, foi a infertilidade ou esterilidade da mulher que despertou o interesse conjunto pela adoção e a decisão de procurar o Juizado. Nos 2 casos em que o interesse pela adoção partiu de ambos os cônjuges e nos quais não havia qualquer problema de fertilidade com o casal, a adoção foi citada pelos entrevistados como um projeto de vida, tendo havido um interesse pela adoção desde o início do relacionamento do casal. Em 100% dos casos em que o interesse pela adoção partiu da mulher, os casais entrevistados afirmaram haver problemas de infertilidade ou esterilidade com o casal, sempre por algum distúrbio com a mulher. Isso parece indicar que, em casos de esterilidade do casal, quando o interesse pela adoção não é algo comum entre os pares, é mais fácil para a mulher aceitar a adoção do que para o homem, ou nesses casos, é mais fácil para a pessoa estéril lidar com a possibilidade de adoção. A possível dificuldade de alguns homens aceitarem a adoção pode estar relacionada à questão da masculinidade, e do tabu acerca de um homem criar um filho que não leva a sua herança genética. “ A princípio só ela (queria adotar) porque eu era, eu não sei se é essa a palavra, eu era meio egoísta, queria que fosse meu, olhava assim, outra criança como intrusa né... mas depois creio que Deus foi trabalhando no meu coração, que eu peguei e comecei a olhar as criancinhas na rua, comecei é, a pegar amor aos filhos dos outros com mais facilidade” (homem, 30 anos, casado com uma mulher que tem dificuldades para engravidar). É interessante ressaltar que nos 3 casos em que o interesse pela adoção partiu do homem, todos os casais já tinham tido filhos biológicos, e isso talvez tenha facilitado um interesse por parte do cônjuge masculino pela adoção. Nos 2 casos em que o interesse partiu do homem e que foi relatada uma impossibilidade de ter filhos 115 por parte da mulher, essa impossibilidade de ter filhos se deu devido à laqueadura de trompas, ou seja, esses casos se diferenciam da esterilidade feminina que sempre impossibilitou o casal de ter filhos biológicos. Em um desses casos (entrevista 2) foi o filho do casal que primeiramente demonstrou interesse na adoção de uma criança pelos pais, devido ao fato de se sentir sozinho e querer um (a) irmão (ã) como companhia, e primeiramente ele obteve a concordância do pai, e depois da mãe. No único caso em que o interesse inicial pela adoção foi do homem e que não foi relatado qualquer problema de infertilidade, o cônjuge masculino relatou ter tido vontade de adotar para ajudar uma criança que não tem família, e ao falar disso para a esposa ela concordou. O fato de a pessoa ter ou não casos de adoção na família, ou conhecer casos por meio de amigos, pode ser um fator importante na hora decidir sobre a adoção. Acredita-se que o sucesso ou não em casos de adoção conhecidos pode afetar positiva ou negativamente a decisão de adotar. No caso dos entrevistados, 48,57% afirmaram que têm casos de adoção na família, sendo que desse total 58,82% são mulheres e 41,18% são homens. Os casos citados de adoção na família (total de 21), em sua maioria, foram casos próximos, sendo primos (1º ou 2º graus) em 38,1% dos casos, irmãos em 33,33%, tios em 9,52%, e sobrinhos em 4,76% dos casos. Houve 3 entrevistados (1 casal e 1 homem ) que relataram já possuir filhos adotivos, e 1 caso em que a própria pessoa entrevistada era filha adotiva. De todos os casos de adoção na família relatados pelos participantes, a grande maioria (71,43%) foi considerada positiva, sendo que o principal motivo destacado para o sucesso da adoção foi a ausência de segredos e a existência de uma relação clara e aberta, mencionados em 86,66% dos casos avaliados como positivos. Dentre esses casos de adoção considerados bem sucedidos merece destaque o caso em que a própria pessoa entrevistada foi adotada (entrevista 11): “ Eu própria sou adotada... Eu fui adotada por minha tia, mas isso não tira o fato de que eu fui criada com um casal que não era os meus pais biológicos. Fui criada assim, sabendo, mas a minha criação foi totalmente diferente dos meus irmãos. Fui criada como filha única, adotada mesmo, sabendo que era adotada, então é um 116 relacionamento muito bom. Eu considerei que foi uma coisa muito válida na minha vida, tanto pra mim quanto pra eles. Eu acho que é uma experiência válida, se bem conduzida. Eu penso que é.” (mulher, solteira, 44 anos, que relatou ser filha adotiva). Apenas 28,57% dos casos de adoção na família relatados nas entrevistas foram considerados negativos por quem os relatou. É interessante ressaltar que todos os participantes que relataram casos negativos apontaram os motivos pelos quais, na sua opinião, a adoção não se deu de forma positiva, de modo que o que os participantes percebem como “erros” nas adoções negativas citadas é tomado por eles como exemplos daquilo que não deve ser feito numa adoção. Dessa forma, os casos de adoção considerados negativos não influenciaram negativamente a decisão de adotar dos participantes, mas ao contrário, serviram como exemplos de erros que não devem ser cometidos. “Acho também que a gente enfrenta um pouco a questão de não saber lidar com os casos que aconteceram porque na minha família os casos de adoção que houve não foram positivos, da família conseguir chegar num consenso pacífico, mas eu quando avalio isso vejo que tem a ver muito mais com a questão de que, ah, não contou que era adotiva ...” (mulher, casada, 30 anos, que relatou um caso negativo de adoção na família). É interessante ressaltar que em um dos casos em que os participantes relataram já ter filhos adotivos, o entrevistado (entrevista 19), que tem dois filhos adotivos havidos do primeiro casamento, avaliou essa adoções como não tendo sido bem sucedidas, e ainda sim resolveu adotar uma outra criança com a atual companheira. Nesse caso o participante apontou vários aspectos que, segundo ele, contribuíram para que a adoção de seus filhos não fosse considerada satisfatória, e também ressaltou esses aspectos como algo que não deve ser repetido na próxima experiência com adoção. Desse modo, percebe-se que mesmo as experiências muito próximas de adoção consideradas negativas não influenciaram negativamente a decisão de adotar dos participantes. 117 “...inclusive tenho dois filhos adotivos, é..., na condição de à brasileira, e..., a experiência pode não ter sido muito boa, em relação às situações, porque, à brasileira não tem condição de fazer exames de saúde... Nós tivemos, assim, uma situação referente a problemas, neurologista, um monte de coisas em relação à pessoa, e tal... O Marcos11 aconteceu de ser gêmeos, uma pessoa sugeriu que nós ficássemos com as crianças... A princípio não se sabia que eram gêmeos, pois não tinha feito exame nem nada... essas crianças chegaram até a minha casa, só que com dois meses, eles nasceram sem a flora intestinal, uma não teve condições e realmente veio a óbito, com dois meses, pra três meses... Aí o médico perguntou se podia examinar o que faleceu, e eu autorizei, e aí foi que conseguiu salvar o outro. Aí aconteceu isso primeiro, e daí pra frente sempre tinha alguma coisinha com ele, né, de saúde. Quando foi mais na frente, na parte escolar, aí começou a ter dificuldade com relação à visão, à coordenação motora... Até que ele começou a ir num neurologista, aí depois a parte psiquiátrica... Hoje ele está com 25 anos... Quando eu separei ele morou comigo, mas eu consegui um emprego pra ele, e aí, a mãe vendo que ele estava trabalhando, manifestou a vontade de ficar com ele, e então ele foi morar com a mãe... E a outra é Juliana, né, que é uma menina, até que é uma menina prendada, e tudo mais, hoje está trabalhando e estudando, mas é uma pessoa que, como se diz, tudo tá bom, aceita qualquer situação... No meu modo de pensar, a gente não pode ficar só pensando no bom e no melhor, mas eu realmente tive essas dificuldades todas, eu só, o que eu tenho interrogação foi por ter adotado à brasileira, porque se fosse uma situação mais detalhada, eu poderia ter evitado o problemas de saúde, a situação poderia ter tomado um outro rumo...Eu até que ajudei a ele desenvolver essa situação, porque eu, tentando ajudar, eu me apeguei de uma certa forma que eu piorava talvez mais a situação... Ele estava superprotegido. E hoje, depois que eu separei, é que eu tô vendo as 11 Todos os nomes mencionados durante o texto são fictícios, para assegurar o anonimato dos participantes. 118 coisas mais com a razão... Mas a relação filho/pai, eles são falhos, mesmo com tudo que eu fiz por eles, hoje eles não dão confiança, só quando precisam, e tal... A relação pai/filho não é positiva” (homem, divorciado, 57 anos, que já tem dois filhos adotivos). Um outro dado interessante é que em 28,57% dos casos de adoção na família citados pelos participantes não foi mencionada adoção propriamente dita, mas sim o “pegar para criar”, o que segundo os entrevistados era uma prática muito comum. Quando a família biológica não tinha condições de cuidar do filho, entregava-o para outra família criar, não havendo alterações no registro de nascimento da criança. Os casos relatados pelos participantes confirmam a distinção feita por Gagno e Weber (2002) entre filhos de criação e filhos adotivos, afirmando que na adoção a relação de filiação é substitutiva à relação dada biologicamente, enquanto nas famílias de criação a relação de filiação é geralmente aditiva, não havendo preocupação com a evitação de relações com a família de origem, e se mostrando uma alternativa de organização de parentesco que não é vista pelos pais biológicos como abandono, e nem vivida como tal pelas próprias crianças (questão discutida com exemplos por Fonseca, 2002a, 2002b). “Não tenho propriamente dito caso de adoção em si não, eu já tenho 45 anos... Naquela época os meus avós, como os avós de todo mundo na minha idade apanhavam as crianças, não era adoção, não existia, as crianças vinham do interior, carente de recursos, e as pessoas apanhavam como filha mas ajudava no serviço doméstico, não apanhava pra trabalhar não, isso é verdade, apanhava pra criar, mas ajudava, porque naquela época não existia a figura da empregada doméstica... então meus avós, eles tinham esse costume, assim como Vila Velha inteira... e a Maria foi pega também com 6 aninhos, e ela foi tratada como minha irmã, então naquela época se usava dizer assim ‘é minha irmã de criação’. Hoje não se usa, você não escuta falar ‘minha irmã de criação’, olha que há anos eu não ouço isso... mas não chocava não, não era para magoar a pessoa não, era pra distinguir aquela das demais, ela era uma irmã do coração...” (mulher, separada, 45 anos). 119 No caso em que a própria entrevistada é filha adotiva, apesar de ela própria se referir ao seu caso como sendo uma adoção, é possível perceber que sua situação se aproxima mais da dos filhos de criação, devido à sua caracterização. Porém, não foi a falta de condições financeiras que levou seus pais biológicos entregarem-na para outra família (a da tia), e sim o desejo de sua mãe biológica de ajudar uma irmã que não podia ter filhos. “Não, ela (mãe biológica) tinha condições, só que ela, como se diz, a minha tia não tinha filhos, não tinha, não teve condições... Antes de mim ela adotou uma criança que morreu. Acho que a mamãe ficou com pena né, dessa situação e, é..., prometeu uma filha pra ela, quando ela tivesse, quando ela casasse, isso aí foi solteira ainda. Aí quando ela se casou ela teve a primeira filha, não deu..., é uma história longa, aí ela teve quatro filhos homens, e a minha mãe queria igual a mim, queria uma menina, aí quando eu nasci, já..., já estava subentendido que eu seria adotada. Nunca foi uma necessidade financeira, foi mais uma necessidade afetiva que a minha mãe teve de ajudar a irmã... Meu pai também foi, meu pai biológico foi uma pessoa muito, digamos assim, honrou, né, o compromisso da minha mãe, porque ele, ele era muito apegado aos filhos, e cedeu uma filha por necessidade mesmo, assim, afetiva, de ver o casal de cunhados precisando de adotar, e lá no interior não é fácil, naquela época não era fácil conseguir uma criança. Aí me, me deram (risos)... Até hoje mantenho relação. Sei que eles são meus irmãos, fomos criados assim, muito próximos, eu sabendo, eu fazendo as minhas escolhas, porque eu tinha é... eu tive oportunidade de escolher, graças a Deus... De ficar com uma família ou outra, eu poderia... foi me dada essa possibilidade de escolha, com 9 anos, os meus pais biológicos mudaram dessa cidade que a gente morava, então a família reuniu e perguntou com quem eu queria ficar realmente, que até então tudo o que tinha sido feito poderia ser desfeito. E eu escolhi ficar com meus pais adotivos, porque eu acho que o laço... de você criar um ser humano, ele é muito forte, ele não se quebra com 120 facilidade, aí eu escolhi ficar com eles. ” (mulher, 44 anos, que é filha adotiva). Em relação às preferências quanto às características do filho adotivo, foram abordadas mais especificamente sexo, idade e cor de pele. É importante ressaltar que em duas entrevistas (7 e 13) os participantes afirmaram ter interesse na adoção de crianças específicas, e portanto as características apontadas por eles como preferidas foram as características daquelas crianças que eles desejavam adotar (entrevista 7: menina, 1,2 anos, branca; entrevista 13: menina, parda, 4 anos). Mas esses dados não inviabilizam que as respostas desses participantes entrem na análise. O sexo preferido pelos participantes e os motivos dessa preferência estão especificadas no quadro 4 a seguir, de modo que as entrevistas omitidas no quadro foram aquelas em que não houve preferência pelo sexo da criança. Quadro 4 – Sexo preferido pelos participantes e os motivos dessa preferência. Entrevistas Sexo H Entrevista 2 M Sexo preferido Menina Entrevista 3 H Menino Entrevista 4 M Menina Entrevista 6 Entrevista 7 Entrevista 10 H M M H M Menina Sempre sonharam em ter uma menina. Menina Afinidade com uma criança específica. Menino Entrevista 11 M Menina Entrevista 13 H M Menina Entrevista 15 M Menina Entrevista 16 M Menina Entrevista 17 H Menina Entrevista 18 Entrevista 19 Entrevista 21 H M H M H M Motivos * Por vontade do filho, pois ele não quer dividir os brinquedos com uma criança do mesmo sexo. Na família do marido não tem meninas. Acha que por ser um homem solteiro, será mais fácil criar um menino. Depois de uma experiência numa creche, percebeu que tem mais afinidade com o comportamento de meninas. Porque não tem meninos na família, já que ambos (separadamente) já tem filhas meninas. Acha que por ser uma mulher solteira, será mais fácil criar uma menina. Afinidade com uma criança específica. Acha que por ser uma mulher solteira, será mais fácil criar uma menina. Tem mais afinidade com meninas. Por vontade da mãe dele, pois ela adotou uma menina e considerou a adoção bem sucedida. Dizem que menina é mais fácil de educar. Menino Por vontade dos filhos do casal. Menina Porque ela só tem filhos homens. Menina Para fazer companhia para a filha do casal. * O número total de respostas foi 16. 121 Quanto ao sexo do filho adotivo, os entrevistados apontaram ter preferências em 14 das 21 entrevistas, enquanto em 7 entrevistas foi afirmado não haver preferências. Todas as entrevistas em que foi afirmado não haver preferências quanto ao sexo do filho adotivo foram realizadas com casais. Em 5 desses casos a criança adotiva seria o primeiro filho do casal (em 1 desses casos o homem já tinha filhos de um casamento anterior, mas era o primeiro filho dele com a atual companheira), e por isso os cônjuges optaram por não escolher o sexo da criança. Em 1 caso a mulher estava grávida de uma menina, e em 1 caso o casal já tinha uma filha adotiva, e mesmo assim esses casais preferiram não escolher o sexo do próximo filho. Nesse grupo em que não houve preferências quanto ao sexo do filho adotivo, em apenas um caso (entrevista 8) o casal resolveu não ter preferências pois eles discordavam quanto ao sexo preferido, pois ele preferia menino e ela menina. Em todas as outras respostas a essa questão não houve discordância entre os cônjuges. Algumas falas dos participantes evidenciam que a opção por não escolher o sexo da criança guarda similaridade com o que ocorre no processo de gestação, visto que não é possível escolher o sexo da criança quando se tem um filho biológico. Desse modo, assim como durante a gestação, os postulantes à adoção vivem a expectativa da incerteza, de não saber qual será o sexo do filho. “Não temos preferência por sexo, o que Deus mandar tá bom... é bom que a gente fica na expectativa (risos)” (mulher, casada, 24 anos). “Não importa se é menino ou menina, nem o filho genético não se pode escolher... então não pode ficar escolhendo muito” (homem, casado, 34 anos). Nas entrevistas nas quais houve preferência quanto ao sexo do filho adotivo, 50% foram realizadas com casais e 50% com os solteiros ou separados. Em 78,57% dos casos foi relatado que a preferência era por meninas e em 21,43% por meninos. Nota-se, assim, uma preferência muito maior pelo sexo feminino, tal como relatado em várias outras investigações. Àqueles que responderam ter preferências por um determinado sexo, foi solicitado que falassem sobre os motivos dessa preferência. 122 Entre os adotantes solteiros ou separados a justificativa mais freqüente para a escolha do sexo da criança relacionava-se ao seu próprio sexo (será mais fácil por ter aquele sexo, tem mais afinidade). Isso ocorreu em 5 dos 7 casos. Em um caso o interesse estava relacionado à afinidade com uma criança específica com a qual havia estabelecido contato (criança do mesmo sexo que a adotante). No caso restante, um homem declarou preferência por menina por vontade da mãe dele. Entre os 7 casais adotantes que manifestaram preferências por sexo do adotado, 5 preferiram adotar meninas. Esses 5 casais apresentaram 6 razões distintas para a preferência: vontade do filho que não queria dividir brinquedos, inexistência de meninas na família do marido, a mulher só tem filho homem, para fazer companhia à filha, sempre sonharam com menina, afinidade com criança específica. Nos 2 casos de preferência por meninos estava em pauta o fato de os cônjuges (separadamente) já terem filhas e a vontade dos outros filhos do casal. Percebe-se que algumas das motivações apresentadas para a preferência pelo sexo do filho adotivo foram muito particulares a cada caso. Em geral as motivações apontadas para preferência por meninas ou meninos foram similares, e apenas um motivo citado – “dizem que menina é mais fácil de criar”– apontou uma diferenciação entre os sexos. De acordo com Abreu (2002), no Brasil o sexo masculino parece associar-se a dificuldades no que se refere à educação, o que não acontece em outros países, como por exemplo na França. Costa e Campos (2003) afirmam que a maior procura pelo sexo feminino no Brasil está relacionada a estereótipos culturais de gênero, que relacionam o sexo feminino à docilidade, beleza e domesticidade. Essa idéia de que “a menina é mais fácil de criar do que menino”, presente na sociedade brasileira, foi ganhando força historicamente na medida em que era afirmada uma diferença biológica entre os sexos, na qual a mulher seria dotada de docilidade e sentimento, qualidades estas negadas ao homem pela "natureza". Assim, buscou-se manter uma simbologia da mulher como sendo dotada de fragilidade e emoções, como sendo mais fácil de lidar e educar, e do homem como sendo dotado de força e razão, com uma “natureza” forte que não o tornava submisso aos outros. Essas diferenças socialmente construídas acabaram sendo consideradas naturais, inscritas no biológico, e passaram a ocultar relações de poder, marcadas pela dominação masculina, que mantiveram a separação e a hierarquização entre homens e mulheres (Sousa e Altmann, 1999). 123 Nenhum dos adotantes (englobando casais e solteiros) alterou sua preferência quanto ao sexo do filho adotivo durante o período de espera pela concretização da adoção. A preferência pela cor de pele do filho adotivo dos participantes e os motivos dessa preferência estão especificadas no quadro 5 a seguir, de modo que as entrevistas omitidas no quadro foram aquelas em que não houve preferência pela cor de pele da criança. Quadro 5 – Cor de pele preferida pelos participantes e os motivos dessa preferência. Entrevistas Sexo Cor da pele preferida H Entrevista 1 Branca ou Parda M Entrevista 3 H Branca ou Parda Entrevista 4 M Branca ou Parda H Entrevista 6 Entrevista 7 Entrevista 9 Entrevista 10 Entrevista 13 Entrevista 14 M M H M H M H M H M Branca Branca Branca Afinidade com uma criança específica. Branca ou Parda Entrevista 16 M Branca ou Parda Entrevista 17 H Branca ou Parda M Querem que a criança seja parecida com eles, para se adaptar melhor à família, e para evitar que a criança tenha que ficar dando explicações. Afinidade com uma criança específica. Querem que a criança seja parecida com eles, para evitar preconceitos, evitar que as pessoas façam comentários e que a criança faça perguntas antes do momento certo. Parda Branca ou Parda Entrevista 21 Quer que a criança seja parecida com ela. Querem que a criança seja parecida com eles. M H M H Quer que a criança seja parecida com ele, para evitar problemas. Branca Entrevista 15 Entrevista 19 Motivos Querem que a criança seja parecida com eles, para evitar comentários desagradáveis. Querem que a criança seja parecida com eles, para evitar comentários do tipo “eles não são seus pais”. Quer que a criança seja parecida com ela, pois tem medo de não saber lidar com a diferença. Quer que a criança seja parecida com ela, pois não está preparada para lidar com a diferença. Quer que a criança seja parecida com ele, para não ter que ficar dando explicações. Parda Querem que a criança seja parecida com eles. Negra Querem que a criança seja parecida com a filha biológica do casal, que é negra. Acham que é mais difícil que uma criança negra consiga ser adotada. Quanto à cor do filho adotivo, em 66,66% das entrevistas foi afirmado haver preferências, e em 33,33% não. Nos casais, os cônjuges estiveram sempre de acordo em suas opiniões. Em 7 entrevistas foi relatada mais de uma cor preferida, e portanto foram consideradas todas as respostas dadas. Quando houve preferência 124 pela cor, a preferida foi branca, em 78,57% das entrevistas, seguindo-se a preferência pela cor parda em 64,28% das entrevistas, e pela cor negra em apenas 1 entrevista (7,14%). Tais dados, de forma geral, estão de acordo com os dados obtidos por Weber (1999) em condições similares, num estudo realizado com pessoas cadastradas para adoção no Juizado da Infância e da Juventude de Curitiba, segundo os quais a maioria absoluta dos adotantes coloca como condição principal uma criança branca, alguns aceitam uma criança “até morena”, e raramente é feita a opção por uma criança negra. Quando não há preferências pela cor de pele pode-se admitir que há aceitação de crianças negras. Em outras palavras, quando há preferência pela cor do filho adotivo, essa preferência não costuma ser por uma criança negra, e sim por crianças brancas (na maioria dos casos) ou pardas. A criança negra, na grande maioria das vezes, só não está excluída da preferência dos adotantes quando estes afirmam não ter preferências quanto à cor do filho adotivo. É interessante ressaltar, então, que em 7 entrevistas (33,33%) foi afirmada a inexistência de preferências quanto à cor de pele do filho adotivo, e como foi ressaltado, nesses casos a criança negra é aceita pelos postulantes à adoção. Como já foi visto, dos casos em que foi relatada preferência pela cor de pele da criança, houve um de preferência por criança negra (entrevista 21). A partir disso, pode-se dizer que, no total de 21 entrevistas, em 8 (38,1%) há a possibilidade de adoção de crianças negras, o que é um percentual relativamente alto se comparado a outras pesquisas, como a de Weber (1999), que indica que apenas cerca de 7% dos postulantes à adoção se mostram abertos à adoção de uma criança negra. É preciso cautela com tal comparação, entretanto, uma vez que o número de participantes da presente pesquisa é pequeno e eles foram escolhidos sem qualquer preocupação com a aleatoriedade. O único casal que relatou preferência por uma criança de cor negra é interracial (ele negro, ela branca) e argumentou com o fato de o casal ter uma filha biológica negra, e querer que a criança adotada seja parecida com a filha biológica, e também com a realidade de a criança negra ter muito menos chances de ser adotada se comparada às crianças brancas e pardas. Em 2 outros casos (14,28%) em que foram apontadas preferências pela cor do filho adotivo o interesse é pela adoção de uma criança específica, o que explica as preferências pela cor das crianças. Nos demais casos (78,57%) em que os entrevistados relataram ter preferências quanto à cor da criança, a motivação para essa preferência é querer 125 que a criança seja parecida com o(s) adotante(s), e as justificativas para isso são: “evitar que as pessoas façam comentários” (citado em 3 entrevistas), “evitar que a criança ou os pais tenham que ficar dando explicações” (2), “medo de não saber lidar com a diferença” (2), “evitar problemas” (1), “para a criança se adaptar melhor à família (1), “minimizar o preconceito” (1), e “evitar que a criança questione antes do tempo” (1). De fato, Weber (1999) afirma que uma pessoa que decide adotar uma criança cujas características raciais ou de cor de pele sejam diferentes das suas, tem grande probabilidade de enfrentar preconceitos em dobro no Brasil – pela adoção e pela diferença racial. Weber (1999) afirma ainda que esse desejo de que o filho adotivo se pareça com os pais pode expressar também uma necessidade de a família adotiva imitar a família biológica, na qual as características genéticas dos pais são transmitidas aos filhos, e portanto, estes são razoavelmente parecidos com os pais biológicos. Já de acordo com Abreu (2002), essa opção dos adotantes de que a criança se pareça com eles tem por objetivo facilitar a identificação dos pais adotivos com os filhos. Segundo o autor os pais buscam, através da adoção, reproduzir socialmente sua continuidade e semelhança, o que ocupa no imaginário social um lugar central na reprodução. Costa e Campos (2003) afirmam que é muito comum, nos estudos psicossociais de adoção, os adotantes ressaltarem com orgulho a semelhança dos filhos consigo próprios ou com outros membros da família, pois ressaltar essas semelhanças parece consolidar um vínculo de parentalidade que poderia estar ameaçado de não existir em função da ausência de ligação biológica. “A idéia da gente é que sejam parecidas com a gente, é pra ela se... não por nós, pra que ela se adapte melhor, é, à família” (mulher, casada, 41 anos). “ eu acho que mais pela sociedade mesmo, pra gente não ter que... pra diminuir bastante os problemas que a gente viria a enfrentar mais tarde. Não que fosse escondido, e que isso vai ser omitido, não... a questão da adoção tá, até pra criança. Mas é que eu acho que ficaria mais fácil, eu acho que seguindo o mesmo biotipo, não sei, eu acho que tem uma coisa assim, acho que nas outras pessoas...” (homem, solteiro, 36 anos). 126 Os dados obtidos a partir da comparação da cor da pele dos participantes que relataram ter preferências quanto a cor de pele do filho adotivo, com as preferências apontadas por eles, podem ser visualizados no quadro 6 a seguir. Quadro 6 – Comparação da cor da pele dos participantes que apontaram preferências pela cor da pele do filho adotivo com as preferências relatadas por eles. Entrevistas Entrevista 1 Entrevista 3 Entrevista 4 Entrevista 6 Entrevista 7 Entrevista 9 Entrevista 10 Entrevista 13 Entrevista 14 Entrevista 15 Entrevista 16 Entrevista 17 Entrevista 19 Entrevista 21 Sexo H M H M H M M H M H M H M H M M M H H M H M Cor da Pele dos participantes Branca Parda Branca Branca Branca Branca Parda Branca Branca Branca Branca Negra Parda Parda Parda Branca Parda Branca Parda Parda Negra Branca Preferência pela cor da pele do filho adotivo Branca ou Parda Branca ou Parda Branca ou Parda Branca Branca Branca Branca Parda Branca ou Parda Branca ou Parda Branca ou Parda Branca ou Parda Parda Negra Pode-se perceber que, em geral, os entrevistados tiveram preferências por crianças de cor de pele semelhante à própria cor, com uma certa tolerância à diferença. No caso dos casais, preferir uma criança da própria cor significa preferir uma criança da cor de pelo menos um dos cônjuges, visto que uma proximidade entre a cor da criança e a cor de pelo menos um dos pais adotivos significa que aquele casal teria plenas condições de gerar um filho biológico com a cor de pele daquela criança adotiva. Nas entrevistas com casais não houve discordância entre os cônjuges quanto à preferência pela cor de pele do filhos adotivo. Apenas em um caso (entrevista 7) a cor da criança não se assemelha à da pessoa adotante, e este é um dos 2 casos em que a adoção é motivada por afinidade com uma criança 127 específica, e, portanto, a cor de pele da criança não teve influência direta sobre a decisão de adotar. Os dados sobre as preferências de cor de pele podem ser observados mais detalhadamente na tabela 3, a seguir, que compara a cor da pele dos participantes, individualmente, com as preferências relatadas por eles quanto à cor do filho adotivo. Tabela 3 – Comparação da cor da pele dos participantes individualmente com as preferências relatadas por eles quanto à cor do filhos adotivo. Preferência dos participantes (individualmente) pela cor da pele do filho adotivo (%)* Branca 54,54% 72,72% Parda 36,36% 59,09% Negra 9,10% 9,10% * Pôde ser dada mais de uma resposta. Cor da pele Participantes (%) Fazendo uma análise individual de todos os participantes que apontaram preferências quanto à cor de pele do filho adotivo, dos 22 entrevistados, 54,54% têm a pele branca, 36,36% têm a pele parda e 9,10% têm a pele negra. Em relação à preferência desses entrevistados, em que cada participante pôde dar mais de uma resposta, percebe-se que 72,72% deles apontam como preferência uma criança branca, e 59,09% apontam como preferência uma criança parda, o que indica que não só as pessoas de pele branca preferem ou aceitam adotar crianças brancas, e também que a adoção de crianças pardas é preferida ou aceita por alguns adotantes de pele branca. Com base nos dados, é possível perceber que há uma certa tolerância quanto à diferença de cor entre adotantes e adotados, mas tal tolerância tem um limite claro, visto que crianças de pele negra raramente são apontadas como preferidas. Parece que, tanto para pessoas brancas como para pessoas pardas, a única situação em que o filho adotivo realmente será diferente dos pais é quando ele for negro. Uma das entrevistadas ressaltou que o filho adotivo não precisava ser tão semelhante a ela, mas ela não queria que fosse muito diferente. “A questão da cor, me foi perguntado. Parda, pode ser, branca, pode ser, morena, também pode ser, a única restrição que eu fiz foi negro, negro, aquele negro mesmo, isso aí eu fiz restrição sim, uma vez que me é possível escolher, né, eu fiz essa opção. Porque a minha 128 pele é muito branca, eu acho que destoa muito. Veja bem, o negro mesmo, aquele que, como a gente até brinca, chega a ser azul, o pardo não, é normal, não tem nada a ver, pode até ter o cabelo crespo sim, não tem problema, mas eu acho que aquele negro que chega brilhar, eu acho que destoa de mim, se eu tivesse uma cor mais escura, eu não teria restrição não, te digo sinceramente, mas é uma coisa... é seu filho, é um impacto eu acho que até pra mim, sabe” (mulher, separada, 45 anos). Como a adoção, na maior parte dos casos, não é realizada por uma única pessoa, pode ser revelador considerar a informação sobre cor de pele em conjunto com a condição conjugal e a cor de pele do cônjuge. Isso é feito a seguir (tabela 4), tomando-se como base as mulheres casadas e solteiras, somando-se a elas os dois homens solteiros. Tabela 4– Comparação da cor da pele dos participantes com as preferências relatadas por eles quanto à cor de pele do filho adotivo. Mulheres Aceita criança branca* Aceita criança parda* Aceita criança negra* Branca casada com branco (4) 4 1 1 Branca casada com pardo (3) 3 3 3 Branca casada com negro (2) 1 1 2 Parda casada com branco (1) 1 1 Parda casada com pardo (2) 1 2 Parda casada com negro (1) 1 Negra casada com branco (1) 1 1 1 Branca solteira (3) 3 3 1 Parda solteira (2) 2 1 Homem branco solteiro (2) 2 2 Total 18 16 8 * Pôde ser dada mais de uma resposta. As informações da tabela 4 indicam que entre as 19 mulheres adotantes que participaram do estudo apenas uma é negra, e entre os 16 homens três são negros. Não houve caso algum de casal com ambos os cônjuges negros. Tal quadro de baixa incidência de pessoas negras tem relação óbvia com os dados constantes da tabela 4, mas certamente é insuficiente para explicá-los no todo. O que se percebe 129 no exame da tabela acima é uma clara rejeição da criança negra. Consideradas as 21 oportunidades de adoção que estão em jogo, a criança branca é aceita em 18 casos, a criança parda em 16 casos, e a criança negra em apenas 8. Em relação aos casais, em quase todos os casos a preferência da cor de pele da criança adotiva é semelhante à cor de pele de pelo menos um dos cônjuges. Quase todos apontaram como preferências uma criança parecida com um dos membros do casal, visto que, como foi ressaltado, a proximidade entre a cor da criança e a cor de pelo menos um dos pais adotivos sinaliza (para o próprio casal e para as demais pessoas com que interage) plenas condições de ter sido gerado um filho biológico com a cor de pele daquela criança adotiva. A mesma configuração pode ser observada no caso de adotantes solteiros: a criança com cor de pele igual a de suas próprias peles sempre está indicada como preferência (uma única exceção foi constatada, a da entrevista 7, mas envolve interesse em uma criança específica). É possível afirmar, portanto, que nas adoções realizadas por casais, quando os cônjuges dizem que querem uma criança parecida com eles, está sendo levada em conta a cor de pele de ambos os cônjuges, de modo que cada cônjuge sempre leva em consideração a cor de pele do outro na hora de fazer a escolha pela preferência de cor de pele da criança. Das entrevistas nas quais foi afirmado não haver preferências quanto à cor do filho adotivo (total de 7), 1 foi realizada com uma pessoa solteira de cor de pele branca, 1 com um casal no qual ambos os cônjuges são brancos, e 5 foram realizadas com casais interraciais, sendo que em 3 casos um dos cônjuges é branco e o outro pardo, e em 2 casos um dos cônjuges é branco e o outro é negro. Assim, pode-se pensar que, pelo menos para os casais de brancos com negros, o fato de não ter preferência em relação à cor do filho adotivo ainda está de acordo com o argumento de querer que os filhos adotivos sejam parecidos com os pais, visto que qualquer que seja a cor da criança haverá uma proximidade entre a sua cor e a cor de pelo menos um dos pais adotivos, ou seja, aquele casal teria plenas condições de gerar um filho biológico com a cor de pele daquela criança adotiva. “Pode ser moreninho também, não, porque na minha família, da minha mãe, tem gente... tem uns moreninhos e tem branquinhos também, na dele é só branquinhos, mas na minha tem branco e 130 moreno, e pretinho também... a cor não importa não”(mulher negra, 35 anos, casada com homem branco). Em duas das entrevistas realizadas as pessoas relataram uma certa dificuldade em se definir a cor de pele de alguém, pois duas pessoas diferentes podem ter dificuldades para chegar a um acordo quanto a cor de uma pessoa. Um casal, que tem preferência por criança branca ou parda, relatou que foi chamado pelo Juizado para conhecer uma criança parda, e quando eles chegaram ao abrigo avaliaram a criança como sendo negra, e não a adotaram. “Nós fomos ver a Kátia ... Nós colocamos que a gente quer uma criança de pele branca, até parda, e aí foi a confusão, porque quando nós chegamos, a Kátia para nós ela não era parda, para nós ela era negra mesmo, né, então a gente pegou e ligou e disse assim ‘olha, se a Kátia para nós é parda a gente até muda, coloca de cor branca’, porque diz que não existe a morena ou moreno, né,... O problema é a definição do que é isso, porque é complicado... e aí vai ter que ser na hora de olhar mesmo, de estar com a criança. O pardo vai até aonde pra nós e até aonde começa o negro, é a gente que vai definir isso, é muito difícil e até constrangedor...” (homem, casado, 30 anos). Um dado interessante é que em uma das entrevistas realizadas foi apontada a necessidade de haver maior incentivo às famílias negras para a adoção. A maioria das pessoas que adotam são brancas ou pardas, e procuram crianças parecidas consigo mesmas (também brancas ou pardas). Como a maioria das crianças disponíveis para adoção são negras, uma entrevistada afirmou que seria interessante que famílias negras fossem incentivadas a adotar, para que houvesse proximidade na aparência entre essas crianças e seus pais adotivos. Mas é preciso levar em conta que, provavelmente, as pessoas negras adotam pouco no Brasil pois na população de baixa renda do país o negro está super-representado, em função de vários aspectos sócio-histórico-políticos. Além disso, essa é uma alternativa que não contribui para o questionamento de preconceitos sociais. Afirmando a necessidade de o filho ser parecido com os pais adotivos, essa alternativa afirma a 131 necessidade de se “camuflar” a família adotiva, como se ela fosse menos legítima que a família biológica. Essa alternativa também reforça a distinção e o preconceito racial, na medida em que enfatiza a semelhança de cor de pele como algo imprescindível, indo contra o direito à igualdade independentemente da cor. Assim essa medida não contribui para o questionamento desses preconceitos, e na tentativa de evitar a discriminação, acaba reforçando-a. Os dados apresentados anteriormente na tabela 1b revelam que apenas dois casais mudaram de opinião quanto à preferência pela cor de pele do filho adotivo. Em ambos os casos o casal é composto por um cônjuge branco e um negro e a mudança de opinião ocorreu no sentido de ampliação da aceitação, ou seja, durante o processo as restrições quanto à cor de pele desapareceram. Em ambos os casos havia restrição inicial a crianças negras. De qualquer forma, o princípio da similaridade de cor de pele entre filho e um dos pais não é quebrado, uma vez que estão envolvidos casais interraciais branco/negro. Uma adotante solteira também mudou de opinião quanto à cor de pele do filho adotivo. Trata-se de mulher branca que não tinha restrições e que, durante o processo, apresentou restrições a crianças negras. Tal caso (entrevista 15) será comentado com mais detalhes adiante. Em relação à idade do filho adotivo, todos os entrevistados afirmaram ter preferências. As idades preferidas e os motivos da preferência estão especificadas no quadro 7 a seguir. 132 Quadro 7 – Idade preferida pelos participantes e os motivos dessa preferência. Entrevistas Sexo H Entrevista 1 M H Entrevista 2 M Idade preferida 0-2 anos 1-5 anos Motivos * Ela está grávida, e não queria que os filhos biológico e adotivo tivessem uma distância grande de idade. Não quer ter o trabalho que exige um bebê. Não quer que o filho vá direto para a escola pois quer ter um tempo para ficar com ele em casa. Para a criança se acostumar com ele desde bebê, pois assim a proximidade fica maior. Entrevista 3 H 0-1 ano Entrevista 4 M 3-8 anos Não quer ter o trabalho que exige um bebê. Quer uma criança que já saiba falar. Quer pegar uma fase infantil, por isso não quer adolescente. 0-1,5 ano Querem curtir a fase de bebê. Querem que a criança se acostume com eles desde pequena. 0-8 meses Querem curtir a fase de bebê. 1,2 ano Afinidade com uma criança específica. 0-3 anos Querem curtir a fase de bebê. Acham que um bebê dá para educar do jeito deles, pois ainda não tem opinião formada. Recém nascido Querem passar por todas as etapas da criança. Entrevista 5 Entrevista 6 Entrevista 7 H M H M M H Entrevista 8 M Entrevista 9 Entrevista 10 Entrevista 11 H M H M M Recém nascido 0-2 anos Entrevista 15 H M H M H M M Entrevista 16 M 0-3 anos Entrevista 17 H 0-2 anos Entrevista 12 Entrevista 13 Entrevista 14 Entrevista 18 Entrevista 19 Entrevista 20 H M H M H M 0-2 anos 4 anos Afinidade com uma criança específica. 0-2 anos Para educar do jeito deles. 0-4 anos Para educar do jeito deles. Por que nunca teve a experiência, gostaria de passar por todas as fases. Para educar do seu jeito. Para a criança se acostumar desde pequena, pois isso aumenta a proximidade. Recém nascido Por opção dos filhos do casal. 0-6 meses Acham mais fácil a criança se acostumar com eles. 0-4 anos H Entrevista 21 Querem que a criança se acostume com eles desde nova. Acham que um bebê dá para educar do jeito deles. Para educar do jeito deles, passar os valores, pois acima disso fica mais marcada pelas experiências, fica mais difícil corrigir. Querem passar por todas as fases da criança. Para educar do jeito deles, pois acham que a personalidade é formada até os 7 anos. 2-4 anos M Gostam de curtir a fase de bebê. Para manter uma compatibilidade de idade com a filha. Não têm muito tempo para cuidar de um bebezinho. Querem a criança já andando e falando, pois é melhor para se lidar. Para educar do jeito deles, pois acreditam que é a fase que mais marca a criança. * O número total de respostas foi 32. É interessante perceber que todos os entrevistados, sem exceção, apontaram preferências em relação à idade da criança que eles pretendem adotar. Nas entrevistas com casais, não houve discordância entre os cônjuges quanto à idade 133 preferida. Nota-se, a partir do quadro acima, que em 3 entrevistas menciona-se a exigência de que a criança seja recém nascida, e em mais 13 casos a criança recém nascida está entre a preferência dos entrevistados – o que totaliza 16 casos (76,19%) de preferência por crianças recém nascidas. Nesses casos em que o recém nascido faz parte da preferência dos entrevistados, há preferência por criança entre 0 e 1 ano em 6 casos; por crianças entre 0 e 1,5 ano em 1 caso; entre 0 e 2 anos em 5 casos; entre 0 e 3 anos em 2 casos; e entre 0 e 4 anos em 2 casos. Das pessoas que não apontaram como preferência um recém nascido, em 2 casos o interesse é pela adoção de crianças específicas, as quais possuem 1,2 e 4 anos, e em 3 casos as pessoas apontaram como preferência outros limites de idade: de 1 a 5 anos, na entrevista 2, de 3 a 8 anos na entrevista 4, e de 2 a 4 anos na entrevista 21. Não houve caso de preferência por criança com idade acima de 8 anos, nem por adoção de adolescentes. Na tabela 5 a seguir é possível visualizar a porcentagem de participantes de acordo com a faixa etária preferida. Tabela 5 – Porcentagem de participantes por faixa etária preferida. Faixa etária preferida * % de participantes Inferior a 1 ano 76,19% Entre 1 e 2 anos 57,14% Entre 2,1 e 3 anos 28,57% Entre 3,1 e 4 anos 28,57% Entre 4,1 e 5 anos 9,52% Entre 5,1 e 8 anos 4,76% Acima de 8 anos 0% * Engloba as preferências no interior dessa faixa etária, mas não necessariamente com esses limites. Do total de entrevistas, em 76,19% a preferência engloba crianças com idade inferior a 1 ano, e apenas em 4,76% a preferência engloba crianças entre 5,1 e 8 anos, não tendo havido preferência por crianças acima de 8 anos. É possível perceber que, quanto maior a idade da criança, menos ela é preferida pelos participantes para ser adotada. Isso está de acordo com a literatura existente (Weber, 1999; Ebrahim, 2000, 2001a, 2001b; Mendonça e Fernandes, 2004), segundo a qual quanto maior a idade da criança disponível para adoção, mais difícil é que ela entre na preferência dos interessados em adotar, e portanto, mais difícil é que ela seja adotada. 134 Vários foram os motivos relatados para a preferência de idade da criança, e esses motivos variaram de acordo com a faixa etária preferida. Um dado importante que pôde ser percebido a partir dos motivos apontados para a preferência de idade é que muitos dos entrevistados afirmam que querem bebês, mas varia muito a idade da criança que os entrevistados consideram como sendo um bebê. Por exemplo, na entrevista 19 os participantes consideram um bebê uma criança de até 6 meses; na entrevista 12, uma criança de até 2 anos; e nas entrevistas 8 e 16 é considerado bebê uma criança de até três anos. Assim, todos esses entrevistados apontaram motivos pelos quais gostariam de adotar bebês, mas a idade da criança considerada por eles como sendo um bebê variou de entrevistado para entrevistado. Dentre as motivações relatadas (total de 32), a mais ressaltada por aqueles que querem bebês (variando aí a idade que consideram ser a de um bebê) foi “querer educar do seu jeito” (25% das respostas). De acordo com Abreu (2002), a preferência por crianças pequenas muitas vezes está relacionada à essa idéia que os adotantes têm do papel da educação que podem dar à criança, educação esta capaz de paliar “os problemas genéticos” dos quais a criança seja eventualmente portadora. Ou seja, quanto mais cedo a criança chegar, mais o adotante terá oportunidade de moldá-la. Outras motivações citadas por aqueles que querem bebês foram: “querer que a criança se acostume com eles desde pequena” (15,62% das respostas), “querer curtir a fase de bebê”(12,5%), “querer passar por todas as etapas da criança” (9,37%), e por opção dos filhos já existentes (3,12%). Dentre os motivos relatados por aqueles que afirmaram que não querem bebês, os motivos ressaltados para o limite inferior de idade foram “não querer ter trabalho com um bebê” (9,37% das respostas), e “querer que a criança já saiba falar/andar” (6,25%), e para o limite superior de idade foram “não querer que o filho vá direto para a escola” (3,12%) e “querer passar por uma fase infantil” (3,12%). Além dessas, outras motivações ressaltadas para a preferência da idade do filho adotivo foram “querer que os filhos biológico e adotivo tenham idades próximas” (6,25%), “ter afinidade com uma criança específica” (6,25%). Analisando todas as preferências em relação às características do filho adotivo, pode-se dizer que os dados estão de acordo com a literatura. Segundo Weber (1999), o perfil das crianças preferidas no Brasil é: menina, branca e recém nascida. 135 Apesar de não terem sido feitas indagações diretas sobre a saúde do filho adotivo, em 6 entrevistas esse aspecto foi mencionado: em 5 entrevistas as pessoas relataram a necessidade de que a criança fosse saudável (pela dificuldade de cuidar por ser solteira(o) em 2 casos, por falta de condições emocionais em 2 casos, e por falta de condições financeiras em 1 caso), e em 1 entrevista o fato de a criança ter a saúde comprometida não se mostrou um obstáculo para a adoção. Um outro dado curioso é que em 2 entrevistas foi relatado que, se houvesse oportunidade, os entrevistados adotariam gêmeos, sendo o interesse por um casal em um caso, e por duas meninas no outro. A partir do que foi exposto pode-se perceber que ambos os cônjuges de todos os casais entrevistados relataram ter a mesma preferência quanto a todas as características do filho adotivo, havendo um único caso em que foi necessária certa negociação para chegar a um consenso – ela preferia menina e ele menino, então optaram por não ter preferências quanto ao sexo da criança. Um resumo das mudanças de preferências por determinadas características do filho adotivo durante o período de espera pela adoção de uma criança pode ser visto no quadro 8. Tal quadro inclui apenas as 6 entrevistas nas quais ocorreram relatos de mudança de preferências. 136 Quadro 8 – Mudanças nas preferências das características do filho adotivo durante o processo de adoção. Entrevistas Entrevista 2 Mudanças na preferência das características do filho adotivo Sexo Cor da pele Idade Antes Depois Antes Depois Antes Depois Branca ou Parda Não tem mais preferência por cor de pele Entrevista 4 Entrevista 6 0-2 anos 1-5 anos 2,5-4 anos 0-3 meses 3-8 anos 0-8 meses Entrevista 8 Branca ou Parda Não tem mais preferência por cor de pele 0-2 anos 0-3 anos Entrevista 15 Não tinha preferência por cor de pele Branca ou Parda Recém nascido 0-4 anos 0-1 ano 0-3 anos Entrevista 16 Em nenhuma das entrevistas foi relatada mudança na preferência pelo sexo do filho adotivo, em 3 delas foram relatadas mudanças na preferência pela cor de pele, e em todas as 6 ocorreram mudanças na preferência pela idade. Dentre os motivos apontados para essa alteração (foram consideradas todas as respostas dadas, num total de 7), destacam-se “a participação no grupo de discussão sobre adoção no Juizado da Infância e da Juventude de Vila Velha” (5 casos), “a visita feita a abrigos”(1 caso), e “a conversa com amigos sobre adoção” (1 caso). É interessante notar que o tempo de espera de um candidato à adoção costuma variar de acordo com as características da criança que ele quer, sendo que os itens “idade” e “cor de pele” influenciam muito mais o tempo de espera do que o item “sexo”. Em geral, no que se refere à preferência dos pais, quanto mais nova é a criança, e quanto mais clara é a cor da sua pele, mais difícil é a adoção (pela indisponibilidade de crianças), e por isso maior é o tempo de espera dos candidatos. Assim, quase todas as alterações relatadas pelos participantes, tanto em relação a cor de pele como em relação à idade, se deram no sentido de ampliar as possibilidades de adoção e também de diminuir o tempo de espera pela criança. “A idade eu mudei, depois que eu participei desse encontro... de psicologia, essas discussões,. Eu vim pra cá, te confesso, com uma idéia errada, de achar que a gente tinha que pegar uma criança, tanto que eu fiz inscrição de 2 anos e meio até 3 anos e meio... eu te 137 confesso que tinha essa mentalidade sim, que a criança, que eu tinha que apanhar menor para eu colocar do meu jeitinho... e depois com o tempo eu fui aprendendo que não é isso, que você pode pegar uma criança maior que ela tá sempre aprendendo...” (mulher, separada, 45 anos). “O que eu acho é que a nossa visão diante de adoção, diante de uma criança no abrigo, mudou e muito... A gente tinha uma noção assim, de que é, uma criança maior fosse, é, não tivesse uma receptividade, fosse uma criança que de uma certa forma rejeitasse até as pessoas que fossem no abrigo, alguma coisa assim. E quando nós chegamos lá, nós fomos fazer uma atividade e eles, do adolescente até o menorzinho, né, uma receptividade, uma participação, uma coisa impressionante... Eu não quero bebê... tem uma fila enorme, por favor, dessa fila eu não quero participar mais. De 1 a 5 anos eu tô super feliz...” (mulher, casada, 50 anos). Segundo Costa e Rossetti-Ferreira (2004), uma das especificidades interessantes do tornar-se pai e mãe por vias de adoção é o fato de que a pessoa ou casal são colocados numa posição em que podem fazer escolhas iniciais sobre a criança desejada (cor, sexo, idade, entre outros), escolhas estas que não ocorrem num processo de filiação biológica. Entretanto essa pessoa ou casal é ao mesmo tempo enredada num processo em que de certa forma passa a ser escolhida pelas “circunstâncias”, tendo que levar em consideração, por exemplo, o tempo de espera para a adoção, as características físicas das crianças disponíveis, entre outros aspectos. Essas circunstâncias podem ir modificando a maternidade/paternidade inicialmente idealizada, e as escolhas vão se modificando de modo a se adequar a uma maternidade/paternidade possível. Esse aspecto pôde ser observado entre os entrevistados, pois estes fizeram alterações em relação às características preferidas do filho adotivo no sentido de adequar o seu desejo de ser pai/mãe às possibilidades reais de adoção, levando em conta as circunstâncias que interferem na agilização do processo adotivo. De todas as mudanças citadas quanto às preferências por características do filho adotivo, apenas uma se deu no sentido de reduzir as possibilidades de adoção, que foi a já mencionada mudança em relação à cor de pele na entrevista 15, pois 138 antes a entrevistada não tinha preferência por cor de pele, e depois ela passou a preferir apenas crianças brancas ou pardas, fazendo restrição à criança negra. Segundo a participante, ela mudou de opinião pois ouviu de amigos casos de pessoas que adotaram crianças de cor de pele diferente da própria e tiveram problemas com isso. A partir disso a entrevistada ficou com medo de não saber lidar com uma grande diferença de cor de pele entre ela (que é branca) e a criança, e passou a fazer restrição quanto à adoção de uma criança negra. Em relação ao medo de adotar uma criança de cor de pele diferente da própria cor, é interessante ressaltar o relato do casal (entrevista 20) que já possui uma filha adotiva de 7 anos, filha essa que tem a pele mais escura que a dos pais adotivos. “Nós não fizemos restrição no cadastro ... apesar de que com a Luzia, ela é um pouco mais amorenada, né, um pouco mais “jambinho”, principalmente quando vai à praia no verão então, nossa, ela fica super morena. E a gente viu que ela se sentia incomodada com isso, ela sempre questionou: “porque que eu sou tão morena assim e vocês são tão branquelos?”, “porque que eu sou tão morena assim e as minhas priminhas não são?”. Então a gente viu algum questionamento, e algum sofrimento talvez, por conta dessa diferença, por parte dela, né. E a gente explica, não filha, mas a sua pele é linda, veja, a gente tem que passar aqui um monte de óleo pra ficar na cor que você tá e você já fica assim natural (risos). Hoje ela não tem mais esse problema não, mas ela teve.” (homem, 34 anos, que já possui uma filha adotiva) Apesar de o casal (entrevista 20) ter percebido um questionamento por parte da filha adotiva quanto à diferença de cor de pele entre ela e os pais adotivos, estes não encararam esse fato como uma dificuldade, e trataram o assunto com naturalidade. O casal relata que atualmente isso não é mais um problema para filha, e que esse é um tipo de obstáculo que pode ser facilmente superado. Esse casal está tentando a segunda adoção, e continua não tendo preferências quanto à cor de pele do filho que será adotado. 139 Em 4 entrevistas (todas com casais) foi relatado que os cônjuges têm filhos biológicos conjuntamente12, sendo que em 3 casos o casal já possui um filho (entrevistas 1, 2 e 21), e em 1 caso o casal já possui dois filhos (entrevista 18). Em 2 entrevistas (ambas com casais) foi relatado que os cônjuges têm filhos biológicos, mas separadamente, sendo que em um desses casos cada cônjuge tem um filho (entrevista 10), e no outro caso um cônjuge tem um filho e o outro dois. Há ainda uma entrevista com um casal (14) em que foi relatado que apenas um dos cônjuges tem dois filhos biológicos (teve três, mas um veio a falecer). Nessas 7 entrevistas em que foi relatado que os participantes já têm filhos biológicos (4 conjuntamente, 2 separadamente e um caso em que apenas um dos cônjuges tem filhos biológicos), 4 casais relataram que não podem mais ter filhos biológicos, e 3 casais relataram que ainda podem ter filhos biológicos. Em 14 entrevistas (11 casais e 3 indivíduos) foi relatada uma dificuldade ou impossibilidade de ter filhos biológicos, e em todos os casos essa impossibilidade relaciona-se à mulher, apesar de os motivos serem variados: idade avançada, problemas no sistema reprodutivo, ou outros distúrbios de saúde que dificultam ou impossibilitam uma gravidez. Em 7 entrevistas (3 casais e 4 solteiros) não foi relatada qualquer dificuldade em ter filhos biológicos. De acordo com Abreu (2002), o que as pessoas interessadas em ter filhos buscam antes de tudo é um filho biológico. Quando fracassam as tentativas de reprodução por meios naturais, o primeiro passo (havendo condições econômicas) é a busca de técnicas de reprodução assistida, ou seja, a busca de técnicas médicas de ajuda à procriação. Segundo o autor, a grande maioria dos adotantes que têm problemas de fertilidade realizam contato com o médico para tentar solucionar o problema. No Brasil, como o custo das técnicas médicas de fertilização é alto, apenas as pessoas mais abastadas tem condições de fazer uso delas. Somente quando essas técnicas também não dão o resultado esperado é que as pessoas orientam seu olhar para uma criança de outra seqüência biológica. Por isso, segundo Abreu (2002), é durante o contato com a medicina que se decide pela adoção. Costa e Rossetti-Ferreira (2004), ao investigar como casais constróem e ressignificam sentidos de maternidade e paternidade ao se tornarem pais adotivos, analisam um caso em que o casal, extremamente desejoso em ter um filho, ao se 12 A entrevista 1 foi realizada com um casal em que a mulher estava grávida de 8 meses do primeiro filho, e como estava muito próximo de ela ter o bebê, este casal foi analisado como já tendo um filho biológico. 140 deparar com a infertilidade, busca primeiramente tentar resolver esse problema, e só quando isso se mostra inviável é que se coloca a possibilidade de adoção. Segundo as autoras, desde o casamento há uma associação de idéias no sentido de que “quem casa quer filhos para constituir família” (casamento → filhos → família). Mas quando o casal se depara com a infertilidade, e com o fato de ter que realizar exames e tratamentos, novos sentidos são associados ao eixo anterior da concepção de constituição de família, de modo que a associação passa a ser casamento → infertilidade → adoção → filhos → família. Apesar de não ter sido feita nenhuma investigação direta sobre esse assunto na presente pesquisa, das 14 entrevistas nas quais foi relatado algum problema de fertilidade, em 7 casos (entrevistas 5, 6, 8, 9, 12, 14 e 20), todos casais, os informantes relataram que procuraram algum tipo de auxílio médico na tentativa de ter filhos biológicos antes de se inscreverem no Juizado para adotar uma criança. Não é possível dizer ao certo o quanto, em tempo e dinheiro, cada um desses casais investiu na tentativa de ter um filho biológico, mas alguns deles relataram que tentaram tratamentos por mais de dois anos, outros relataram que pararam de tentar por falta de condições financeiras, e outros relataram ainda que, apesar de procurarem informações médicas, não realizaram qualquer tipo de tratamento também por falta de condições financeiras. Um dado interessante é que, dos 7 casais que procuraram auxílio médico para tentar ter um filho biológico antes de se inscreverem no Juizado para adoção de uma criança, 4 relataram que já tinham interesse em adotar mesmo antes de saberem que não poderiam ter filhos biológicos. Assim, apesar de ser muito comum essa idéia de que a adoção seria uma última tentativa para se ter um filho, após o fracasso de técnicas médicas de fertilização, percebe-se a partir dos relatos que, entre os entrevistados, essa não foi a concepção predominante. Mas Costa e Rossetti-Ferreira (2004) afirmam que essa idéia, já existente para o casal antes da descoberta da infertilidade, de realizar uma adoção, está muitas vezes ligada a sentimentos de filantropia e altruísmo, e só a partir do momento em que o casal realmente se depara com a infertilidade é que essa idéia é ressignificada, passando a ser sentida como a possibilidade concreta de realização da maternidade/paternidade e de construção de sua família. É possível perceber que, do total de entrevistas realizadas, em 33,33% foi relatado que ambos ou pelo menos um dos cônjuges têm filhos biológicos, e em 33,33% não foi relatada qualquer dificuldade em ter filhos biológicos. Esses são 141 dados relevantes num grupo de adotantes, visto que, como já foi ressaltado, em geral a idéia que se tem socialmente é a de que a adoção é uma forma de atender aos anseios daqueles que não têm filhos biológicos ou que não podem tê-los. Assim, percebe-se que, atualmente, além de a adoção ser vista como uma forma de resolver o problema de quem não pode ter filhos, concepção social mais comum, estão emergindo também outras concepções sobre o tema, de modo que a adoção vem se mostrando como uma possibilidade de atender a outros determinantes, tanto pessoais como sociais. Os dados obtidos por Costa e Campos (2003), a partir de um levantamento estatísticos sobre famílias adotantes no Distrito Federal nos anos de 1998 e 1999, também colocam em questão essa concepção de que a adoção é uma forma de compensar a impossibilidade de ter filhos biológicos, pois foi constatado que, entre os casais interessados em adotar, mais da metade possuía filhos biológicos em comum. Segundo as autoras, o momento do ciclo de vida da família pode influenciar na decisão pela adoção, pois em famílias cujos filhos estejam na fase da adolescência ou no início da vida adulta pode haver uma maior disponibilidade para realização de uma adoção. Esse aspecto pôde ser observado em alguns casos na presente pesquisa, pois das 7 entrevistas em que os participantes relataram já possuir filhos biológicos, em 4 delas (2 casais com filhos conjuntamente, 2 com filhos separadamente e um caso em que apenas um dos cônjuges tem filhos biológicos) esses filhos já estão na adolescência ou na fase adulta. Fazendo uma análise comparativa das motivações para adoção relatadas pelos entrevistados que não podem ter filhos biológicos e pelos entrevistados que podem ter filhos biológicos, levando em conta o fato de eles já terem tido ou não filhos biológicos, percebe-se que há uma diferença entre as principais motivações apontadas por esses grupos de participantes. Dentre aqueles que atualmente não podem ter filhos biológicos, tanto para aqueles que já têm filhos como para aqueles que não os têm, a principal motivação relatada é “não poder ter filhos biológicos”, sendo essa motivação ressaltada por 100% daqueles que já têm filhos biológicos, e por 70% daqueles que não os têm. Dentre aqueles que podem ter filhos biológicos, a motivação mais ressaltada por aqueles que já têm filhos biológicos é “ajudar uma criança” (em 100% dos casos), e a motivação mais ressaltada por aqueles que não têm filhos biológicos é “vontade de ser pai/mãe” (em 50% dos casos). 142 Em 7 entrevistas os informantes relataram que não está descartada a possibilidade de ainda terem filhos biológicos, sendo que 3 casos são de pessoas que podem ter filhos biológicos (2 solteiros e 1 casal), e 4 de pessoas que estão encontrando dificuldades para ter filhos biológicos, e não sabem se terão possibilidade de tê-los (todos casais). Dois desses casais que pretendem ter filhos biológicos mas têm dificuldades para tê-los (entrevistas 8 e 12) relataram acreditar que após a adoção as chances de a mulher engravidar serão maiores, pois já ouviram falar que depois que adota a mulher fica menos ansiosa para ter um filho, o que aumenta as chances de uma gravidez. Apesar de terem ressaltado esse aspecto, nenhum desses casais apontou-o como motivação para a adoção. Weber (2003), em uma pesquisa sobre conceitos e preconceitos acerca da adoção, afirma que essa concepção de que algumas mulheres só conseguem engravidar depois de terem adotado e, portanto, que a adoção seria um bom motivo para se tentar ter filhos biológicos, é uma idéia sem fundamento e preconceituosa, pois dessa forma a adoção é vista como um meio de conseguir um filho biológico posteriormente, e não como um fim, ou seja, como o próprio modo de ter um filho. Quando foi perguntado aos entrevistados se pretendiam ter outros filhos adotivos após a efetivação da adoção atual, em 15 entrevistas foi afirmado que sim, ou seja, grande parte dos informantes dessa pesquisa pretendem realizar uma segunda adoção. É importante ressaltar que 71,43% daqueles que afirmaram que não descartam a possibilidade de terem filhos biológicos colocam essas duas possibilidades como interdependentes – ter filhos biológicos ou ter filhos adotivos. Um dado interessante é que em 20% das entrevistas nas quais os entrevistados afirmaram querer ter mais filhos adotivos, houve uma maior flexibilidade quanto à preferência pela idade do segundo filho adotivo. Eles afirmam que gostariam de poder passar pela experiência de cuidar de um bebê na primeira adoção, não fazendo mais questão disso na segunda adoção. “A minha idéia é, depois que eu conheci a casa de passagem do IBES, eu, assim, gostei da idéia de pegar uma menina maior, então até 7 anos. Seria a segunda adoção... Mas antes eu gostaria de passar aquela fase de mãe, de bebê... a fraldinha, a chupetinha, até 143 acordar de noite, eu acho que tudo faz parte” (mulher, casada, 41 anos). Do total de entrevistados, um casal (entrevista 20) e uma pessoa individualmente (o cônjuge masculino da entrevista 19) relataram que já possuem filhos adotivos, sendo esta a segunda adoção para o casal da entrevista 20, e a terceira para o homem da entrevista 19. Em ambos os casos as adoções anteriores foram de bebês recém nascidos, e é possível perceber que em um caso (entrevista 20) há atualmente uma abertura maior quanto à preferência da idade do filho – na primeira adoção o casal preferia um recém nascido, e agora apontaram como preferência uma criança de 0 a 4 anos –, e no outro caso (entrevista 19) não é possível perceber uma grande ampliação da faixa etária preferida do filho adotivo (a preferência atual é por um bebê de até 6 meses). Assim, enquanto para alguns uma única experiência de adoção de bebês é suficiente, ficando então aberta a possibilidade de futuras adoções de crianças maiores, para outros há sempre a necessidade de que a adoção seja de um bebê. Essa escolha pode estar relacionada a aspectos como as experiências anteriores com adoção ou com crianças de pessoas próximas, e a crença ou não de que há uma idade apropriada para que a educação da criança seja realizada. Para os cônjuges da entrevista 20 a segunda adoção não precisa ser de um bebê pois eles já passaram por essa experiência, e na entrevista 19, o cônjuge masculino já teve a experiência de ter filhos adotivos, mas a sua companheira não, e a preferência pela idade da criança (até 6 meses) se dá pelo fato de o casal acreditar que assim é mais fácil de a criança se acostumar com eles. Em 95,24% dos casos os entrevistados acreditam que com a chegada do filho adotivo a vida vai mudar muito. Desse total, 33,33% acreditam que a mudança ocorrerá devido à chegada de mais uma pessoa em casa, em alguns casos bebê e em outros não. As mudanças apontadas pelos entrevistados (pôde ser dada mais de uma resposta) referem-se a: “dinâmica do trabalho” (38,09% das entrevistas), “rotina” (28,57%), “organização de tempo/horários” (23,81%), “fim do sentimento de liberdade” (23,81%), “ordem da casa” (19,05%), “alimentação” (14,28%), “mais lazer” (9,52%), “maior responsabilidade” (9,52%), “rotina de sono” (9,52%) e “mudança na 144 visão de mundo” (4,76%). É interessante ressaltar que, apesar de não ter sido feito qualquer questionamento a esse respeito, 57,14% dos entrevistados ressaltaram que as mudanças serão no sentido de melhorar a vida. Apenas em uma entrevista (entrevista 21) os participantes acreditam que com a chegada do filho adotivo a vida não vai mudar, pois o casal já tem uma filha biológica com 4 anos, e a faixa etária escolhida da criança adotiva é muito próxima (de 2 a 4 anos). Assim, o casal acredita que a chegada de uma criança mais ou menos da idade da filha que já possui não vai alterar sua vida. Àqueles que já haviam adotado quando foram realizadas as entrevistas (total de 6) foi perguntado se eles imaginavam que a vida ia mudar após a adoção, e como eles estão percebendo essas mudanças depois de terem adotado, e 66,66% responderam que as mudanças estão ocorrendo de acordo com o esperado, enquanto 33,33% responderam que as mudanças estão sendo maiores do que as expectativas que tiveram. Foi perguntado aos entrevistados se eles teriam a ajuda de alguém após a adoção, e em 76,19% das entrevistas a resposta foi positiva. A ajuda esperada é aquela dos próprios pais (avós das crianças) em 57,14% das entrevistas, irmãos em 14,28%, outros familiares em 28,57%, empregada doméstica em 28,57%, babá em 23,81%, amigos em 23,81%, creche em 9,52%, vizinhos em 4,76%, padrinhos em 4,76%, e pessoas da comunidade em 4,76% das entrevistas. Não há qualquer razão para interpretar esse quadro do tipo de ajuda que se espera obter como tendo algum elemento específico relacionado à adoção. Em outras palavras, os mesmos tipos de ajuda podem ser esperados por quem está próximo de ter filho biológico. No caso de adotantes solteiros e separados, essa ajuda ganha uma dimensão mais essencial, conforme ressalta Levy (2005). Segundo essa autora, a rede de apoio social é fundamental no caso de adoções monoparentais, pois contribui para a inserção da criança em sua nova família, ajuda o adotante a se sentir acolhido e a elaborar suas incertezas, impede o isolamento da díade cuidador(a)-filho, exerce uma função de socialização e oferece outros modelos de identificação ao filho adotivo. Apesar da evidência da importância da ajuda de outras pessoas após a adoção, em especial nos casos de famílias monoparentais, nem todos os entrevistados que compõem esse tipo de família pretendem contar com ela: todos os adotantes solteiros afirmaram que contarão com a ajuda de outras pessoas após a adoção, mas a 145 entrevistada separada (entrevista 4) afirmou não pretender contar com qualquer ajuda. É interessante ressaltar ainda que, no caso da mulher, a decisão de ter um filho sozinha pode ocorrer mesmo no caso de filho biológico, não sendo, portanto, uma ocorrência limitada ao âmbito da adoção. Àqueles que já haviam adotado foi perguntado se a ajuda que estão recebendo era a esperada, e todos afirmaram que sim. Todos os entrevistados relataram pretender contar para o filho que ele é adotivo, e foi perguntado se já haviam pensado em como fazer isso. As respostas podem ser vistas no quadro 9 a seguir. Quadro 9 – Como contar para o filho que ele é adotivo. Entrevistas Sexo H Entrevista 1 M H Entrevista 2 M Como pretendem contar para o filho que ele é adotivo? Não tem uma data certa. Quando ele tiver consciência. O filho biológico vai ter fotos de gravidez que o adotivo não vai ter. Da maneira mais natural possível. A medida que as questões forem surgindo. Se necessário, solicitarão ajuda de um psicólogo. Naturalmente. Ter um filho biológico e não contar para o outro que ele é adotivo é uma covardia. Acham que existe um momento próprio, mas não sabem qual é. Entrevista 3 H Vai contar para evitar problemas, porque é o certo, mas não gosta da idéia. No seu caso julga que tem que contar pois como é solteiro, se não contar vai ter que inventar uma história. Não pensou em como vai contar, mas vai descobrir uma forma. Entrevista 4 M É fundamental contar. Vai contando à medida que for crescendo, e pedirá ajuda psicológica para orientá-la como contar. H Entrevista 5 M H Entrevista 6 M Entrevista 7 M H Entrevista 8 M Pretendem contar desde pequeno, com muito amor. Pretendem contar com a ajuda de um profissional, tendo um acompanhamento tanto para eles como para a criança. Vão contar a partir do momento que a criança começar a entender as coisas. Não pensaram em como, mas de forma bem natural. Pretendem solicitar um psicólogo para auxiliá-los em como fazer. A experiência de outras pessoas pode ajudar. Não pretende trabalhar com mentiras, e não sente insegurança para falar. Pretende falar na idade certa, com muita naturalidade. A religião pode ajudar. Vão solicitar acompanhamento de um profissional, pois não sabem como vão falar. Acham que ir falando no dia a dia, que não nasceu da barriga. Mas não sabem em que idade falar e como a criança vai reagir. 146 Continuação do Quadro 9 – Como contar para o filho que ele é adotivo Entrevistas Sexo H Entrevista 9 M Como pretendem contar para o filho que ele é adotivo? Não gostam da idéia de contar, apesar de acreditarem que têm que contar. Pretendem contar logo no início. Já estão com o bebê, e ela já fala com ele que é adotivo, pois acredita que a criança, apesar de não assimilar, grava tudo, e depois vai buscando as informações. Quer que chegue uma idade na qual não precise estar falando, mas que a criança já compreenda com a maior naturalidade possível. Não vai haver um dia, mas a medida que for crescendo ele já vai sabendo. Pretendem utilizar livros de histórias e filmes infantis. Entrevista 10 H M Vão esperar a oportunidade de contar, pois acham que vai surgir. Entrevista 11 M Não pensou em como fazer. Tem que ir contanto desde pequeno, para a criança não ter um ‘choque’ quando sentar para conversar. A própria experiência como filha adotiva vai ajudar. Entrevista 12 Entrevista 13 Entrevista 14 H M H M H M A partir do momento que a criança começar a entender as coisas. Vão solicitar ajuda psicológica. Como esse caso é de interesse por uma criança específica de 4 anos, ela já sabe que é adotiva. Desde cedo. Quando a criança tiver condição de entender. Entrevista 15 M Pretende começar a falar desde que a criança chegar, independente da idade que tenha. Entrevista 16 M A partir do momento que puder entender. Responder à medida que a criança for perguntando. Tentar contar naturalmente. Entrevista 17 H Pretende contar desde pequeno, mas não pensou em como fazer. Pretende procurar orientação de um psicólogo. Entrevista 18 Entrevista 19 H M H M H Entrevista 20 M H Entrevista 21 M Desde que a criança chegar em casa. Não de uma só vez, mas ir conversando com a criança. Ir contando historinhas à medida que a criança for crescendo. Tem que contar, apesar de ser difícil. Desde pequena, contando algumas histórias. Desde que começar a falar, bem no nível da criança, por meio de historinhas. Da fantasia eles vão evoluindo para a realidade, até que a criança consiga enxergar a realidade completa. Foi assim que fizeram com a primeira filha adotiva, e pretendem repetir a experiência, pois deu certo. Não sabem como vão fazer, mas acreditam que têm que respeitar o Desenvolvimento da criança, pois cada criança é única. Pretendem procurar um psicólogo, para ver a idade ideal, e se há literatura infantil a esse respeito. É possível perceber que algumas idéias são comuns quando se pergunta aos entrevistados se já pensaram em como contar para o filho que ele é adotivo. Primeiramente, há uma concepção de que a revelação para a criança de que ela é adotiva tem que ocorrer com naturalidade, ou seja, não deve ser algo impactante para a criança. Essa idéia de “contar com naturalidade” foi ressaltada pelos informantes em 6 entrevistas. Enquanto em algumas entrevistas foi ressaltado que não há um momento específico adequado para a revelação da adoção para a criança (“não existe um momento certo para a revelação” em 2 entrevistas, “será no dia a dia” em uma outra, e “pretendem ir conversando com a criança” em mais uma), 147 outros entrevistados acreditam que há um momento próprio (1 entrevista), uma oportunidade adequada (1 entrevista), ou uma idade certa (1 entrevista), apesar de não saberem exatamente quando será. Outra concepção predominante é a de que a revelação deve ser feita o quanto antes, seja nas primeiras etapas da vida da criança, ou então logo que a criança for adotada: alguns ressaltam que pretendem contar para a criança “desde pequena” (4 entrevistas), “desde que chegar em casa” (2), “logo no início” (1) e “desde cedo” (1). Outros informantes, apesar de se manterem na posição de que a revelação da adoção para a criança deve ser feita enquanto ela ainda é pequena, apontam a necessidade de a criança ter um nível de desenvolvimento apropriado para que esse processo se inicie. Assim, alguns afirmam que vão começar a revelar a adoção “quando a criança começar a entender as coisas” (4 entrevistas), “à medida que ela for crescendo” (3), “quando ela tiver consciência” (1) e “desde que começar a falar” (1). A literatura (Piccini, 1986; Schettini Filho, 1999; Weber, 1999, 2001 e 2003) sugere que é importante que a adoção seja contada “o mais cedo possível”, para evitar uma possível revolta do filho adotivo em função de um sentimento de ter sido enganado. Um entrevistado ressaltou a importância de que a revelação seja feita de acordo com o desenvolvimento da criança, pois cada criança é única, e essa informação está de acordo com a literatura (Schettini Filho, 1999), que afirma que não é possível oferecer uma resposta padronizada para o momento adequado da revelação, pois esse momento dependerá, dentre outros fatores, do desenvolvimento de cada criança. É interessante ressaltar que em um caso (entrevista 9) uma entrevistada, ao pensar em como contar para o filho que ele é adotivo, relata como pensa aspectos do processo de desenvolvimento cognitivo da criança, e tenta adequar a isso a maneira de contar sobre a adoção. Dois participantes ressaltaram que pretendem ir contando ao filho que ele é adotivo à medida que as questões forem surgindo, ou seja, à medida que a criança for perguntando. Não há na literatura um consenso em relação a esse aspecto. Piccini (1986) acredita quando o filho adotivo traz as primeiras dúvidas sobre sua vinda, se lhe forem fornecidas respostas esclarecedoras, na medida certa de suas perguntas, ele irá se acostumando a encarar a sua verdade. Já Schettini Filho (1999) discorda que os pais devam aguardar as perguntas dos filhos, pois não parece provável que uma criança bem pequena tomasse essa iniciativa de fazer esse tipo de questionamento, e se o fizesse, seria indício de alguma informação ou percepção 148 anterior, o que estaria indicando que os pais demoraram a falar no assunto. Mas ambos os autores concordam que se os pais passarem as informações com segurança, empatia e afeto, possibilitarão que a criança se sinta seguramente aceita e inserida na família. Em 6 entrevistas os informante relataram que ainda não pensaram em como revelar a adoção para o filho, e não sabem como o farão. Em 3 entrevistas foi explicitada a dificuldade de contar para o filho que ele é adotivo, de modo que os participantes afirmaram que, apesar de pretenderem revelar a adoção, não gostam muito dessa idéia. Segundo Costa e Campos (2003), devido à freqüente associação entre adoção e problemas no imaginário social, muitas vezes as famílias adotivas optam por revelar a adoção para a criança mais por medo de que algo saia errado do que por acreditar ser um direito da criança conhecer sua história de origem. É interessante ressaltar que em um caso (entrevista 13) em que a adoção foi realizada recentemente a criança tem 4 anos e, portanto, ela já sabe que é adotiva, de modo que os pais já não precisarão passar por essa situação de revelar a adoção para a criança. Em 8 entrevistas os participantes relataram que pretendem solicitar um psicólogo para ajudá-los na hora de contar para o filho que ele é adotivo. Esses dados parecem indicar que alguns entrevistados vêem a forma de contar para o filho que ele é adotivo como algo possivelmente problemático para eles e para o filho adotivo, apesar de terem o desejo de que isso se dê de modo natural. Assim, mesmo aqueles que resolvem adotar, os quais muitas vezes supõe-se que devido a essa decisão estão muito menos presos a idéias pré-concebidas em relação à adoção, não estão imunes a certos estereótipos sociais, o que é evidenciado, por exemplo, no mal estar relatado por alguns entrevistados em ter que contar para o filho que ele é adotivo, e no fato de relatarem antecipadamente que pretendem contar com a ajuda de um profissional, como se a situação de adoção fosse em si mesma passível de problemas. “... desde novinho a gente pretende já tá fazendo um acompanhamento, porque é interessante né, vai abrindo a mentezinha dele, e a psicóloga também ajuda, mas com muito amor né, a gente vai dizer pra ele”(homem, casado, 28 anos) 149 É interessante ressaltar que em 5 entrevistas os informantes relataram que pretendem utilizar histórias ou filmes infantis que abordam a adoção, como um meio auxiliar para revelar a adoção para o filho. Parece que essa é uma forma de tentar buscar uma linguagem apropriada para falar do assunto com crianças pequenas, dada a insegurança revelada por muitos pais sobre como fazer a revelação da adoção para o filho. As especificidades de algumas situações se mostram interessantes. Dois casais com filhos biológicos relataram que no caso de quem tem filhos biológicos a necessidade de contar para o filho adotivo sobre a sua condição de adotado se torna muito maior, pois o filho biológico tem algumas coisas, como por exemplo fotos da gravidez, que o filho adotivo não vai ter. Um homem solteiro explicitou o fato de ele não gostar da idéia de contar para o filho que ele é adotivo, mas ressaltou a necessidade de fazê-lo pois no seu caso não contar sobre a adoção envolve necessariamente a invenção de uma outra história, sobre uma determinada mãe que não existiu. Alguns entrevistados ressaltaram aspectos que, de algum modo, poderão ajudar ou influenciar positivamente os pais na revelação da adoção para o filho, dentre eles a religião (citada em 1 entrevista), a experiência de outras pessoas (1 entrevista), a experiência como filha adotiva, no caso da entrevistada que é adotada (entrevista 11) e a experiência com a filha adotiva, no caso do casal que já possui uma filha adotiva (entrevista 20). Nesse último caso é interessante explicitar o relato dos pais de como foi a revelação da adoção para a filha: “Olha, por exemplo, com a Luzia, desde que ela começou a aprender a falar, a conversar, assim, bem no nível dela mesmo, a gente já contava historinha, da criança que é gerada na barriguinha, e outra que é gerada no coraçãozinho, e nessa linguagem a gente foi evoluindo para a realidade, até que ela conseguiu enxergar a realidade completa, né, de forma que não fosse duro para ela, mas ela não podia ficar, assim, ela não podia ser enganada, eu não acredito nisso, sabe, que você possa construir uma relação verdadeira em cima de uma mentira, ela tem direito de saber” (homem, 34 anos, que já tem uma filha adotiva). 150 É interessante notar que, na presente investigação, nenhum adotante (casal ou solteiro) arriscou mencionar com alguma precisão a idade que a criança deve ter para que eles decidam informá-la sobre a realidade da adoção. Como foi possível perceber, em geral as pessoas que adotam apresentam dúvidas quanto ao momento adequado de revelar a adoção para a criança, e mesmo que os pais tenham a pretensão de contar sobre a adoção o mais cedo possível, como sugere a literatura, essas dúvidas quanto ao momento adequado podem acabar levando a um adiamento constante da revelação, de modo que quando os pais perceberem já pode ter passado tempo suficiente para a criança ter crescido sem saber sobre sua condição de adotiva. Nesse sentido, apesar da evidente particularidade de cada caso, a delimitação de uma certa idade da criança para que ocorra a revelação poderia servir de parâmetro para os pais adotivos, e contribuir para que eles tenham uma informação mais concreta e segura a respeito de quanto revelar a adoção para a criança, evitando assim um adiamento que poderia ser prejudicial para a relação entre pais e filhos. Alguns autores sugerem certos limites de idade para a revelação da adoção para a criança. Schettini Filho (1999) afirma que, tendo em vista a situação individual de cada criança, revelar a adoção o mais cedo possível significa contar quando a criança tiver entre os 2 ou 3 anos, e essa seria uma boa época pois a criança não questionaria a informação nem exigiria detalhes, o que deixaria os pais mais liberados das tensões e do medo da revelação. Ainda segundo o autor, quando a revelação ocorre após 5 ou 6 anos de idade, os benefícios do conhecimento da história podem vir associados aos prejuízos decorrentes da forma pela qual ela é interpretada pela criança. Segundo Weber (2003), a partir de pesquisa realizada com pais e filhos adotivos, quando os filhos adotivos souberam de sua condição desde pequenos eles não encararam a revelação como um evento traumático, mas aqueles que souberam após os 6 anos de idade se lembravam do momento com uma certa angústia. A partir desses dados, é possível estabelecer um direcionamento a respeito da idade da criança para a revelação da adoção (a partir dos 2 ou 3 de idade, e no máximo até os 5 ou 6 anos), e poderia ser interessante que os técnicos do juizado que realizam avaliações psicossociais transmitissem essa informação para os postulantes à adoção, para evitar um adiamento prejudicial dessa revelação. 151 Finalmente, foi perguntado aos entrevistados se eles percebem restrições das pessoas com as quais se relacionam em relação ao seu interesse em adotar. Em 5 entrevistas os informantes afirmaram não perceber restrição alguma (entrevistas 4, 5, 6, 13 e 16), e nas outras 16 entrevistas os participantes afirmaram perceber restrições dos outros em relação ao seu interesse em adotar. Nota-se que o número de pessoas que não percebe qualquer tipo de restrição quando fala do seu interesse em adotar foi relativamente pequeno (23,8%), e isso indica que, infelizmente, ainda há muitos preconceitos em relação à adoção, visto que muitas vezes as pessoas se posicionam contrariamente a essa prática. As respostas das pessoas que afirmaram perceber restrições das outras pessoas quanto ao seu interesse em adotar podem ser visualizadas no quadro 10 a seguir: 152 Quadro 10 – Tipos de restrições quanto ao interesse em adotar percebidas e pessoas que as manifestam. Entrevistas Entrevista 1 Entrevista 2 Percebe Sexo restrições de quem H M H M Entrevista 3 H Entrevista 7 M Entrevista 8 Entrevista 9 Entrevista 10 Entrevista 11 Entrevista 12 Entrevista 14 H M H M H M H M H M H M Familiares Que restrições Quem pode ter filhos biológicos não precisa adotar. Não sabem de onde vem a criança. A amiga teve uma experiência negativa, e diz para eles tomarem o caso dela como exemplo. Vão ter problemas. Restrição quanto a ter um filho, e não quanto à adoção. Dizem que ele vai Familiares arranjar problemas, pois acham que a pessoa solteira vive numa paz, sem e amigos problemas. No Quem trabalha como cuidadora não pode se apegar às crianças e querer trabalho e adotá-las. da Justiça Uma amiga Familiares Filho dá trabalho, ainda mais adotivo. As pessoas ficam contado casos de e amigos adoção que não deram certo. Não sabem a procedência da criança. Amigos As pessoas ficam curiosas para saber por que adotaram, como isso fosse uma indicação certa de que eles têm problemas. Familiares Não sabe quem são os pais. Vai dar trabalho. Amigos Vai arrumar encrenca. Não conhece a índole da criança, sua origem genética. Amigos Vai dar trabalho. Quando os pais são ruins a criança já nasce com genes ruins. As pessoas relatam casos de adoção que não deram certo. Amigos Falam que são doidos. Vai dar trabalho. Pode ter uma genética ruim. Entrevista 15 M Amigos Restrição quanto a ter um filho, e não quanto à adoção. Falam que é louca, que criança dá trabalho. Entrevista 17 H Amigos Restrição quanto a ter um filho, e não quanto à adoção. Vai sair do grupo de amigos, deixar de sair e passar a ficar só em casa como o filho. Familiares Já tem dois filhos biológicos, não precisam adotar. Vão ter que dividir as coisas das crianças. Não conhecem a família de origem da criança. Amigos Falam que são doidos. Vão procurar problemas. As pessoas relatam casos negativos de adoção. Amigos Vão criar filho dos outros. Pode ser gente ruim. Acham que eles são coitados que não puderam ter filhos. Familiares Medo de que pegassem uma criança ruim. Entrevista 18 Entrevista 19 Entrevista 20 Entrevista 21 H M H M H M H M As restrições percebidas vêm de amigos (11 casos), de familiares (6), de pessoas do trabalho (1) e da Justiça (1), esses dois últimos casos estando relacionados entre si. É interessante ressaltar que em 3 casos (entrevistas 3, 15 e 17) as restrições foram apontadas em relação ao fato de o(a) entrevistado(a) querer ter um filho, e não de esse filho ser adotivo. Todos esses casos foram de entrevistas com pessoas solteiras, e as restrições percebidas foram: “vai arranjar problemas, pois a pessoa solteira vive numa paz, sem problemas” (1 caso), “dizem que é louca, 153 pois criança dá trabalho” (1 caso), e “vai sair do grupo de amigos, deixar de sair e passar a ficar só em casa como o filho” (1 caso). Dentre as restrições que se referem à adoção, as mais citadas foram as que se relacionam ao desconhecimento da origem genética da criança (9 casos – entrevistas 1, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20 e 21), sendo que em 4 desses casos se fala explicitamente da crença de que se os pais forem pessoas “ruins”, isso será transmitido geneticamente para a criança, que será então portadora de “genes ruins”. Em 1 entrevista (20) os informantes relataram como restrição percebida o comentário “vocês vão criar filho dos outros”, comentário este que evidencia uma concepção exclusivamente genética de parentalidade, como se a adoção não estabelecesse uma relação de filiação entre a criança e os pais que a adotaram. Uma outra forma de restrição percebida pelos participantes é o relato de casos negativos de adoção por parte das outras pessoas, sendo isso entendido como uma forma de desencorajá-los a adotar (4 casos – entrevistas 2, 8, 12 e 19). Alguns participantes relataram que, quando falam do seu interesse em adotar para as outras pessoas, algumas dizem que eles “vão ter problemas” com a criança adotiva (3 casos – entrevistas 2, 11 e 19), ou que o filho adotivo “vai dar trabalho” (4 casos – entrevistas 8, 10, 12 e 14), ou ainda que os adotantes “são doidos” (2 casos – entrevistas 14 e 19). Segundo Abreu (2002), muitas concepções negativas são produzidas e mantidas pela sociedade em relação à adoção, dentre elas a noção de problema: uma criança que pode trazer problema, e que é oriunda de problemas reprodutivos. Assim, a criança sinaliza com a possibilidade de conflitos na adolescência: fugir, querer os pais biológicos, ter recebido uma carga genética que a predisponha ao alcoolismo ao à prostituição (que é de onde se originam, numa visão fantasmagórica, os abandonados), entre outros. Alguns participantes que não podem ter filhos biológicos relataram que algumas pessoas parecem entender a opção pela adoção como uma indicação certa de que o casal tem algum problema de fertilidade (1 caso – entrevista 9), ou que eles são “coitados” que não puderam ter filhos (1 caso – entrevista 20), e isso é entendido pelos participantes como uma restrição. Um outro tipo de restrição que se baseia em concepção semelhante, percebida exclusivamente por pessoas que podem ter filhos biológicos ou que já tiveram filhos biológicos, refere-se à crença de que quem pode ter ou já tem filhos biológicos não precisa adotar uma criança (2 casos – entrevistas 1 e 18), e nesses casos a adoção seria injustificável. Em 1 154 entrevista (18), com participantes que já têm filhos biológicos, uma restrição percebida foi o fato de que eles “terão que dividir as coisas dos filhos biológicos com o filho adotivo”, o que deixa subentendida uma preferência pelas crianças que são filhas biológicas do casal. Há ainda um caso específico (entrevista 7) em que a pessoa trabalha num abrigo, como cuidadora de crianças, e os responsáveis pelos abrigos não admitem que uma cuidadora se apegue a uma criança a ponto de querer adotá-la. A Justiça também se posiciona contrariamente à adoção por parte de pessoas que trabalham em abrigos, pois uma cuidadora não poderia se apegar mais a uma criança que a outra, pois isso comprometeria o seu cuidado igualitário com todas as crianças. A entrevistada, que se apegou muito a uma menina do abrigo e resolveu tentar adotála, se sente muito prejudicada com essa restrição, e relata a sua indignação por tentarem impedi-la de dar uma família a uma criança que precisa. “Eu estou passando por uma situação muito difícil... A Fernanda é um dos casos da Casa da Criança que foi enviado pelo Juizado. Quando as profissionais são admitidas na casa eles preparam elas para não misturar o profissional com o pessoal, para não se apegar. Mas não tem como. Eu comecei a trabalhar lá na casa num dia e a Fernanda chegou no outro, com menos de um quilo de peso, e ela olhou para mim e deu um sorriso. Foi amor à primeira vista. Comecei a cuidar dessa criança... dessa e de todas as outras. A Fernanda nasceu prematura, e ainda é uma criança pequena que ainda precisa desenvolver o físico. Ela nasceu com um problema respiratório, de cardiopatia, e ainda toma alguns remédios controlados. Aí, pouco tempo depois que ela chegou, ela foi internada em estado grave, ficou entubada, teve parada respiratória, voltou a viver com choque elétrico, e eu acompanhei tudo, como se fosse a mãe. Eu adotei essa criança desde esse momento. Eu briguei pela vida dela no hospital, pedindo transferência, sabe, foi fortalecendo o vínculo... eu cuidei dessa criança na pior hora da sua vida. E o Mário (responsável pela casa de abrigo) não admite, diz que não pode se apegar, e ameaça de demissão. É uma pressão psicológica, e dá vontade de sair do serviço... isso é um ato 155 desumano. A menina já me chama de mãe, é uma relação de mãe e filha. Se eu não adotar essa criança vai ser um filho tirado da mãe. A própria justiça não admite que o profissional que trabalhe com crianças se apegue. Tem que ter um monte de robôs para cuidar dessas crianças, não pode ser gente”(mulher, 43 anos, cuidadora da Casa da Criança, interessada em adotar uma criança específica). Esse caso coloca em questão a impossibilidade de se impedir que seres humanos se apeguem afetivamente a outros, principalmente nesse caso tão específico, em que adultos cuidam de crianças desamparadas, que muitas vezes não têm família e encontram-se com problemas de saúde. A partir do relato da entrevistada, parece que as autoridades vêem a necessidade de haver um certo vínculo entre as pessoas que trabalham nas casas e as crianças, para que possa haver uma relação de cuidado, mas esse vínculo afetivo não pode ultrapassar um certo limite, a partir do qual o trabalho de cuidar igualmente de todas as crianças possa ser prejudicado. Ora, tentar delimitar a possibilidade de existência e do grau de vínculo afetivo entre seres humanos, ainda mais em uma situação tão específica como esta, parece tarefa impossível. Por isso a entrevistada afirma: “tem que ter um monte de robôs para cuidar dessas crianças, não pode ser gente”. Apesar de muitas terem sido as restrições percebidas pelos participantes em relação ao seu interesse em adotar, um entrevistado (entrevista 20) relatou um acontecimento positivo na empresa onde trabalha, relacionado com a adoção. Esse entrevistado está com o seu segundo filho adotivo há um mês, e gostaria de incluí-lo no plano de saúde da empresa na qual trabalha. Mas nos casos de adoção, os pais adotivos só conseguem a inclusão em qualquer plano de saúde quando fica pronta toda a documentação da adoção da criança, o que geralmente demora muito tempo, às vezes mais de um ano. Enquanto isso todos os atendimentos médicos ou exames que a criança necessite devem ser feitos em locais de atendimento público ou serem pagos particularmente. O entrevistado relatou uma conquista em relação a esse aspecto. “Esse episódio a que ela está se referindo é o seguinte, porque para inclusão nos benefícios do plano de saúde né, você tem que primeiro ter já os papéis. Como tá rolando aí e esses processos 156 geralmente são demorados mesmo né, enquanto isso a criança ia ficar descoberta. Eu me impus, e consegui. É o primeiro caso na Companhia que antes de ter esses papéis ele vão fazer a inclusão, entendeu, então... Às vezes é até por falta de informação. Eu fui lá conversar como o pessoal do benefício e eles me disseram ‘Olha, é o primeiro caso, e a gente não sabia como lidar com isso, a gente tem aqui umas regras que têm que ser seguidas’, né , e eu consegui. Hoje vai tá sendo incluso o Miguel, mesmo sem a papelada ainda. É um progresso, é um progresso... Essa empresa está inclusive abrindo a mente para esta questão, que no último acordo coletivo um dos itens lá dos benefícios que os empregados ganharam é apoio das assistentes sociais da empresa e do departamento jurídico nos processos de adoção. Isso é um progresso imenso” (homem, 34 anos, está realizando a segunda adoção). Esse relato evidencia que, apesar dos muitos obstáculos sociais ainda existentes, é possível perceber alguns movimentos favoráveis e de incentivo à adoção, não apenas de cidadãos comuns e instituições voltadas para esse fim, mas também de empresas privadas, que estão levando em conta a importância da adoção na sociedade atual, e dando subsídios aos funcionários de desejam realizála. Isso mostra que conquistas como esta são possíveis, e que a ampliação de uma discussão social sobre a adoção pode contribuir para a desmistificação de mitos e preconceitos existentes sobre o tema. A partir das análises realizadas, percebe-se que os dados coletados evidenciaram uma grande diversidade de informações, e as possibilidades de análise se mostraram muito amplas. A riqueza dos dados foi proporcionada pelas particularidades dos casos, que trouxeram uma grande variedade de informações em um universo pequeno de participantes. 4. COMENTÁRIOS FINAIS Os comentários finais serão iniciados com a apresentação de um diagrama que pretende resumir e organizar cronologicamente os principais passos da trajetória implicada na adoção legal e os fatores e ela relacionados, de modo que esses passos, em sua maior parte, foram considerados na presente investigação. 157 158 159 É fato que o universo dessa pesquisa não possui características de aleatoriedade, o que reduz o alcance de generalização dos resultados. Porém tal decisão foi proposital aos objetivos da pesquisa, e ao invés de limitá-la, produziu uma grande riqueza de informações. O interesse esteve focado na diversidade de casos envolvidos no processo de adoção e na emergência de suas especificidades, e os resultados, em se tratando de um universo numericamente pequeno, produziram uma grande variedade de dados, contribuindo para a ampliação do corpo de conhecimentos sobre a adoção. Como foi ressaltado, Santos (1988) afirma que, quanto à decisão de ter um filho, os pais adotivos têm que tomar uma decisão num nível em que não precisam chegar, necessariamente, os pais biológicos, pois para adotarem têm que levar adiante uma série de providências e escolhas iniciais, enquanto os pais biológicos podem tornar-se pais sem terem tido tal pretensão e sem terem refletido sobre essa escolha. Os resultados da pesquisa parecem corroborar as afirmações de Santos (1988), pois indicam que os pais adotivos têm que refletir a respeito de uma série de questões que muitas vezes não se colocam aos pais biológicos, ou pelo menos não se colocam da mesma forma, o que pode contribuir para que eles tenham que refletir com mais cuidado e durante mais tempo a respeito da decisão de ter um filho. A pessoa que resolve adotar, se tem companheiro(a), geralmente discute o assunto com ele(a) antes de tomar a decisão, pensa em como vai adotar (se por meios legais ou não), quais as características da criança que deseja, se vai contar ou não para a criança que é adotiva, e muitas vezes tem que lidar com o preconceito das outras pessoas em relação à sua decisão. Se a adoção é feita por meios legais, via Juizado da Infância e da Juventude, o adotante geralmente passa por uma avaliação que lhe coloca outras questões, como que aspectos estão motivando a adoção, se há condições financeiras e psicológicas para que a adoção se efetive, além do tempo de espera para a adoção, em geral, ser longo, o que permite que haja um maior período de reflexão até a efetivação da maternidade/paternidade. Além disso, os pais adotivos têm a possibilidade de experimentar um estágio de convivência com a criança ou adolescente antes que se efetive a adoção, o que permite uma experiência de ensaio e erro que não se coloca aos pais biológicos. Assim, os dados sugerem que os pais adotivos parecem passar por uma reflexão maior, antes de ter um filho, em comparação a muitos pais biológicos. 160 Apesar de a procura mais comum pela adoção ocorrer por parte de casais que não podem ter filhos, como indica a literatura, as pesquisas têm mostrado que a existência de adoções feitas por famílias diferentes do padrão de família tradicional, como, por exemplo, famílias compostas por mães desacompanhadas, pais desacompanhados, pares homossexuais, famílias inter-raciais, famílias recompostas, entre outras, merece especial destaque no contexto atual. O fato de a família nuclear conjugal ter se tornado hegemônica fez com que vigorasse a tendência a ver qualquer desvio desse modelo como problemático. No entanto, as dinâmicas familiares ditas "alternativas", apesar de não se encaixarem no modelo ainda dominante de família, são cada vez mais freqüentes e gozam de legitimidade social, de modo que a compreensão da vida familiar no Brasil contemporâneo exige que sejam consideradas, além do padrão hegemônico, tais dinâmicas alternativas. Essas várias possibilidades de composições familiares levam a novas situações sociais, inclusive no que diz respeito à adoção, e o desafio é lidar com essa diversidade confrontando mitos e estereótipos sobre o que é considerado “normal” ou “desviante”. No que se refere ao trabalho de profissionais que lidam com a adoção, a análise dessa diversidade aponta a inadequação de modelos tradicionais para lidar com uma realidade ainda não contemplada inteiramente pelas formulações teóricas relacionadas à família, e uma prática que não considere as várias possibilidades de composição familiar como legítimas corre o risco de se mostrar limitada. Os resultados dessa pesquisa também contribuem para a reflexão acerca dos critérios referentes à legitimidade das intenções de pais adotivos. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção só será deferida se fundar-se em motivos legítimos (art. 43, p.41). Segundo a Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano (2001), que apresenta comentários sobre os artigos do ECA, o termo “motivos legítimos” refere-se ao fato de a adoção não poder ser usada para satisfazer outros interesses e objetivos que não a proteção dos direitos das crianças e adolescentes, não sendo considerados motivos legítimos, por exemplo, todos aqueles ligados a interesses de exploração e de uso da adoção para satisfação exclusiva dos adotantes. Porém, como na própria lei não são estabelecidos os critérios de legitimidade, muitas vezes essa tarefa fica a cargo dos profissionais que trabalham com a adoção, que passam a estabelecer seus próprios critérios de legitimidade para considerar um postulante à adoção apto ou inapto. A 161 partir disso, percebe-se que uma atuação presa a modelos tradicionais pode privilegiar critérios de legitimidade bastante restritos, não condizentes com a diversidade presente na sociedade contemporânea. Assim, os resultados da pesquisa, na medida em que evidenciam a grande diversidade de aspectos envolvidos na adoção, apontam para a necessidade de uma ampliação dos critérios de legitimidade das motivações de pais adotivos. Como afirma Oliveira (2002), não podemos perder de vista que a avaliação psicológica dos pretendentes à adoção resume-se a uma visão pontual, precisa, feita em um momento determinado, uma vez que o profissional tem um prazo para realizar sua tarefa. Quando trabalhamos na avaliação dos postulantes à adoção, temos apenas uma avaliação das possibilidades que essas pessoas apresentam para desempenhar seus papéis parentais, seus desejos e suas motivações, visto que as figuras parentais e filiais são interdependentes, e não se pode desconsiderar o papel ativo que as crianças exercem nos ajustes das interações. Um outro aspecto que deve ser levado em conta é que a avaliação psicológica dos pretendentes à adoção é uma intervenção imposta pela autoridade judicial, de modo que a participação dos interessados independe de sua vontade, o que pode comprometer a eficácia do trabalho. Assim, acreditamos que devem ser consideradas as limitações do trabalho de avaliação psicológica dos postulantes à adoção, o qual deve ser repensado visando sua flexibilização e agilização. Acreditamos ainda que, mais que um trabalho de avaliação psicológica, o trabalho com os futuros pais adotivos deve ser de preparo e a orientação, no sentido de dar suporte ao grupo familiar, de orientá-lo quanto ao processo de adoção e, principalmente, de abrir espaço para a discussão dos tabus que envolvem a adoção. De acordo com Ebrahim (2001a), esse trabalho pode ser decisivo para que haja mudanças nas próprias formulações dos pedidos dos adotantes, sendo talvez capazes de alterar o quadro atual de um desejo generalizado por crianças brancas e recém nascidas. É importante ressaltar que o fato de a pesquisa ter sido realizada por psicóloga que atua diretamente no setor de adoção do Juizado da Infância e da Juventude de Vila Velha contribuiu para a produção das informações, de maneira que a vivência profissional, longe de manter-se distante numa suposta e inatingível neutralidade, enriqueceu a apresentação dos dados e seu tratamento com elementos da própria experiência. O risco de distorção na manifestação de algumas idéias, pelo receio dos entrevistados de que isso pudesse afetar a decisão final 162 sobre adoção certamente existe, já que a pesquisadora tem um papel como profissional em tal decisão. Por outro lado é evidente a dificuldade de encontrar formas seguras de eliminar riscos desse tipo em qualquer investigação. Vale a pena ressaltar o fato de que em todos os 21 casos incluídos na investigação, apesar de terem sido incluídos por critério de diversidade, fica claro que não há razões evidentes ou facilmente detectáveis para não autorizar a adoção. Em verdade, isso é o que, de fato, aconteceu, mostrando que a ampliação dos horizontes técnicos e jurídicos dos profissionais que atuam no processo decisório sobre adoção está se consolidando. Apesar de o número de pesquisas realizadas sobre adoção no Brasil ser crescente, mostra-se necessária uma maior sistematização dos conhecimentos que vêm sendo produzidos cotidianamente na prática profissional. Como afirmam Cassin e Jacquemin (2001), o trabalho com adoção apresenta uma complexidade peculiar, considerando-se aspectos culturais que permeiam o fenômeno, os mitos, a visão social que se tem dessa prática e seus determinantes sócio-históricos na realidade brasileira. Essa pesquisa visou contribuir para uma reflexão sobre a prática do psicólogo frente às questões da adoção no contexto brasileiro, evidenciando a necessidade de novos referenciais, atitudes e conceitos, a importância de não perder de vista a abrangência da realidade, e de manter um olhar crítico sobre as relações e dispositivos que permeiam sua atuação profissional. A atuação do psicólogo judiciário, de um modo geral, fica restrita à perícia técnica, atrelado ao uso de testes psicológicos e entrevistas para elaboração de laudos, com o objetivo de auxiliar as decisões tomadas em juízo. Como afirma Koerner (2002), essa participação no processo se dedica à produção de uma verdade, baseada na competência técnica especializada, e essa concepção de produção de verdade é especialmente inadequada para os profissionais das ciências humanas, como os psicólogos. No que se refere à adoção o trabalho não é diferente, porém evidenciase cada vez mais a necessidade de se retirar o foco das atribuições da perícia e colocá-las num patamar mais amplo que inclua a possibilidade de transformação das posturas dos profissionais e dos interessados frente à adoção. Não podemos desconsiderar, como ressalta Oliveira (2002), que o trabalho no Judiciário significa um trabalho numa Instituição que lhe impõe certas normas e a sua cultura institucional. Mas acreditamos que o psicólogo judiciário, assim como os outros profissionais que lidam com a justiça, conscientes das relações de poder que 163 permeiam seu trabalho, podem tornar-se agentes de mudança, podendo contribuir para um processo de revisão de conceitos, valores e outros paradigmas. Uma providência de grande interesse envolveria a divulgação ampla e detalhada dos vários aspectos, experiências e inovações envolvidos no processo de adoção, de forma a sinalizar claramente, para toda a sociedade, que tal processo é cada vez mais acessível e menos preconceituoso. Alguns segmentos da população não têm informações sobre como agir e que providências tomar até mesmo no caso de filiação biológica – sendo evidente que tal desinformação é muito maior quando está em jogo a adoção. Um diagrama que sistematiza a trajetória implicada na adoção legal e identifica fatores relacionados a ela, como o que apresentamos na abertura desses comentários finais, pode ser a base para planejamento de divulgação que vise ampliar conhecimentos, aumentar interesse e reduzir preconceitos. A maior evidência de que a atuação do conjunto de profissionais envolvidos no processo de adoção conseguiu implantar e difundir mudanças em tal processo se daria com o aumento do contingente de interessados em adotar legalmente com uma visão mais aberta e menos estereotipada sobre adoção, e com a incorporação a tal contingente de pessoas e casais que hoje avaliam tal pretensão como inviável, por isso não se candidatando. Seria evidência relevante, também, a redução de adoções ilegais – não por repressão, mas sim pela existência de mecanismos que contribuíssem no sentido de facilitar a legalização de adoções decididas em circunstâncias que exigiram urgência ou em circunstâncias de forte apelo emocional. É claro que, do ponto de vista da organização de uma sociedade justa e eqüitativa, a evidência mais almejada deve ser a da inexistência de crianças abandonadas, mas essa é uma questão fundamental que escapa ao âmbito da presente investigação.
Download