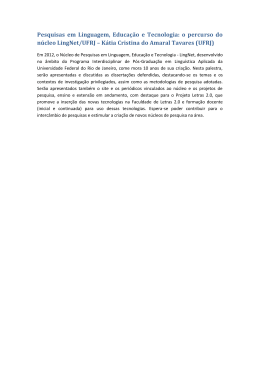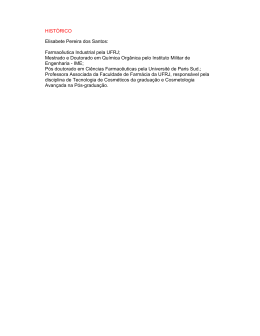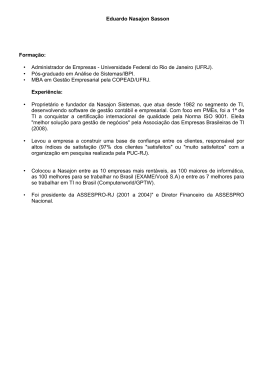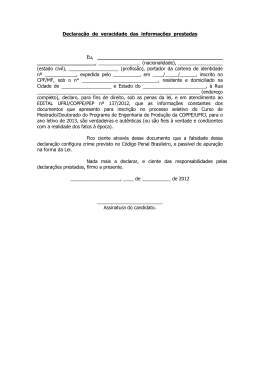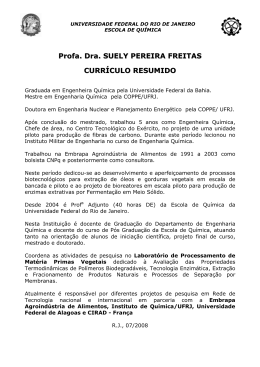Gabinete do Reitor • Superintendência Geral de Comunicação Social da UFRJ • Ano VI • Nº 61 • Junho/Julho de 2011 15 a 18 Janice Caiafa Partilhar a cidade A precariedade dos sistemas de transporte público afeta profundamente a relação dos cidadãos com a cidade. Análises acerca do papel dos meios de transporte na produção de espaços coletivos e sua importância para os processos de alteridade ocupam lugar central nos estudos etnográficos de Janice Caiafa Pereira e Silva, professora da Escola de Comunicação (ECO) da UFRJ, para quem, “o transporte coletivo ajuda a realizar a cidade”. Em entrevista ao Jornal da UFRJ, Janice Caiafa observa como a falta de investimentos na área afeta, particularmente, as populações de baixa renda, que não contam com outras opções para circular no ambiente urbano. Cacaso 12 a 14 A poesia viverá sempre O futuro em jogo Com menos recursos e condições para produzir suas pesquisas, as Ciências Humanas e Sociais buscam novos caminhos para superar a fragmentação da área e assegurar a sobrevivência do pensamento crítico na universidade. 9 a 11 À sombra da lei Operação que matou Bin Laden, além de afrontar regras de convívio entre as nações, tem raízes históricas na doutrina da “supremacia divina” dos Estados Unidos sobre os outros países, de acordo com especialistas. 9 a 11 A língua do preconceito Supostos erros de concordância em livro sugerido pelo Ministério da Educação causam polêmica e evidenciam que ainda há muito preconceito contra o uso popular da Língua Portuguesa. 24 e 25 Nós pega o peixe Em entrevista exclusiva ao Jornal da UFRJ, Tzvetan Todorov, historiador, linguista e ensaísta búlgaro radicado na França, critica o ensino de Literatura baseado exclusivamente na análise das estruturas internas do texto, sem relação com o contexto mais amplo em que a obra está inserida. Antônio Carlos de Brito, conhecido pelo apelido “Cacaso”, é considerado um dos importantes emblemas da chamada “poesia marginal” brasileira, cuja produção desenvolveuse por letras de músicas interpretadas pelos amigos Elton Medeiros e Maurício Tapajós. 2 Jornal da UFRJ Junho/Julho 2011 UFRJ é contemplada com Prêmio Oscar Niemeyer Reitor Aloisio Teixeira Vice-reitora Sylvia da Silveira Mello Vargas Pró-reitoria de Graduação (PR-1) Belkis Valdman Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (PR-2) Ângela Maria Cohen Uller Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PR-3) Regina Célia Alves Soares Loureiro Pró-reitoria de Pessoal (PR-4) Luiz Afonso Henriques Mariz Pró-reitoria de Extensão (PR-5) Laura Tavares Ribeiro Soares Superintendência Geral de Administração e Finanças Milton Flores Chefe de Gabinete João Eduardo Fonseca Fórum de Ciência e Cultura Beatriz Resende Prefeito da Cidade Universitária Hélio de Mattos Alves Sistema de Bibliotecas e Informação (SiBI) Paula Maria Abrantes Cotta de Melo Superintendência Geral de Com. Social Fortunato Mauro Ouvidoria Geral Cristina Ayoub Riche Daniela Magioli No último dia 17 de junho foi realizado o evento que reuniu os ganhadores do Prêmio Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea) do Rio de Janeiro. Foram 81 trabalhos inscritos e 20 instituições participantes, com representantes de diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro. A UFRJ JORNAL DA UFRJ é uma publicação M E N S A L da S U P E R I N T E N D Ê N C I A GERAL de comunicação SOCIAL da Universidade Federal do rio de janeiro. O Jornal da UFRJ publica opiniões sobre o conteúdo de suas edições. Por restrições de espaço, as cartas sofrerão seleção e poderão ser resumidas. Fotolito e impressão Gráfica Posigraf 25 mil exemplares o Espaço Alexandria O Colégio Brasileiro de Altos Estudos (CBAE) da UFRJ inaugurou, dia 16/06, o Espaço Alexandria. Trata-se de um projeto que, inspirado no ambiente no qual foi assentada a semente da cultura ocidental, visa estruturar o diálogo da universidade com a dinâmica atual do conhecimento, sem barreiras disciplinares, o que facilita a efetivação de encontros improváveis. O CBAE e do Espaço Alexandria se localizam na Avenida Rui Barbosa, 762, Praia do Flamengo, Rio de Janeiro. Agenda 15 de setembro de 2011 Interessados em receber esta publicação devem entrar em contato pelo e-mail [email protected] A UFRJ obteve premiação pelos trabalhos “Conexão Hibrida”, de Bruno Schnellrath; “A concepção de Palmas 1989 (e sua condição moderna)”, de Ana Beatriz Araújo Velasques; “A imagem da degradação urbana: Lapa, Rio de Janeiro”, de Pilar Macarena Tejero Baeza; “A poética das diferenças na obra de Robert Venturi e Denise Scott Brown”, de Silvio Vilella Colin; e “Por dentro de Copacabana: descobrindo os espaços livres do bairro”, de Rogério Goldfeld Cardeman. CBAE da UFRJ inaugura Av. Pedro Calmon, 550. Prédio da Reitoria – Gabinete do Reitor Cidade Universitária CEP 21941-590 Rio de Janeiro – RJ Telefone: (21) 2598-1621 Fax: (21) 2598-1605 [email protected] Supervisão editorial João Eduardo Fonseca Jornalista responsável Fortunato Mauro (Reg. 20732 MTE) Edição Fortunato Mauro Pauta Fortunato Mauro, Coryntho Baldez e Márcio Castilho Redação Aline Durães, Coryntho Baldez, Daniela Magioli, Guido Arosa, Márcio Castilho, Pedro Barreto, Rafaela Pereira e Vanessa Sol Revisão Érica Bispo e Luciana Crespo Arte Anna Carolina Bayer Ilustração Anna Carolina Bayer, João Rezende, Júlio M. de Castro, Marco Fernandes e Zope Charge Zope Fotos Marco Fernandes Expedição Marta Andrade contou com cinco trabalhos premiados. Trata-se de um mérito concedido aos estudantes da área tecnológica selecionados por suas unidades de ensino, desde o nível técnico até a pós-graduação, premiando os melhores trabalhos de conclusão de cursos com valor acadêmico e/ ou potencial mercadológico nas áreas de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, incluindo tecnólogos e técnicos de Nível Médio. II Fórum de Gastronomia, Saúde e Sociedade: Gastronomia e Turismo Instituto de Nutrição Josué de Castro (INJC) da UFRJ Auditório Hélio Fraga – Bloco K do Centro de Ciências da Saúde (CCS) - Av. Carlos Chagas Filho, 373 - Cidade Universitária Rio de Janeiro Público-alvo: gastrônomos, turismólogos, nutricionistas, estudan- tes de Gastronomia e Nutrição e profissionais das áreas citadas e da saúde. Máximo de participantes: 150 IV Seminário Memória, Documentação e Pesquisa A Memória Institucional e as suas interfacescom a cultura e a oralidade 16 de setembro de 2011 Fórum de Ciência e Cultura (FCC) da UFRJ – São Pedro Calmon – Avenida Pauster, 250 - Palácio Universitário Praia Vermelha – Rio de Janeiro cultural nas instituições Beatriz Resende (FCC-UFRJ) Beatriz Kushnir (Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro) Regina Abreu (PPGAS-UFRJ e PPGMS-Unirio) Paulo Knauss (UFF e Arquivo do Estadodo Rio de Janeiro) Luciana Heymann (CPDOCFGV) Claudia Mesquita (Museu da Imagem e Som) 8h30 – Abertura 13h-16h - Mesa-redonda Os desafios da produção, conservação e difusão da memória oral nas instituições Confere certificado de participação. Inscrições pelo e-mail: andreaqueiroz@sibi. ufrj.br 9h-12h – Mesa-redonda Memória e produção Junho/Julho 2011 Jornal da UFRJ Humanidades 3 O futuro em jogo Com menos recursos e condições para produzir suas pesquisas, as Ciências Humanas e Sociais buscam novos caminhos para superar a fragmentação da .área e assegurar a sobrevivência do pensamento crítico na universidade Coryntho Baldez E Marco Fernandes m tempos de corrida tecnológica e acirrada disputa corporativa pela superação de marcas de produtividade, a área de Humanidades parece ter sido deslocada de qualquer função social relevante. Na última década, além de sofrer com a redução do volume de recursos para a pesquisa, comparativamente a outros campos de investigação científica, o seu objeto de estudo tornou-se cada vez mais delimitado por uma política pragmática de financiamento de projetos. Se o mercado supervaloriza as ciências da Vida e da Natureza, incorporando-as à esfera econômica, a produção livre de conhecimento e o pensamento crítico – uma histórica tradição das Humanidades – tendem a perder força na universidade? Pesquisadores ouvidos pelo Jornal da UFRJ, mesmo com abordagens distintas, acreditam que, de algum modo, a universidade está desafiada a buscar caminhos que preservem a autonomia da produção acadêmica e o intercâmbio entre os campos do conhecimento. Missão redefinida Dados do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) mostram que, entre 2001 e 2010, os investimentos de fomento à pesquisa em Ciências Humanas passaram de R$ 9,1 milhões para R$ 36,4 milhões. O crescimento é muito inferior ao verificado no mesmo período em várias outras áreas. As Ciências da Saúde, por exemplo, passaram de R$ 9,1 milhões para 71,3 milhões e as Ciências Biológicas deram um salto de R$ 28,2 milhões para R$ 117,5 milhões. Essas áreas, não por coincidência, são de grande interesse para um segmento de mercado sempre à procura de novos produtos: o complexo industrial farmacêutico. Os números expressam a redefinição da missão da universidade, cada vez mais voltada para a inovação tecnológica e a prestação de serviços, na análise de Roberto Leher, professor associado da Faculdade de Educação (FE) da UFRJ e de seu Programa de Pós-graduação em Educação. “Agora, fala-se não apenas em Ciência e Tecnologia, mas em Ciência, Tecnologia e Inovação. Não se trata apenas de um problema semântico ou de nomenclatura, mas da função social da universidade”, avalia o estudioso das políticas públicas para o Ensino Superior. É um processo que se inicia na década de 1990 e culmina na Lei da Inovação Tecnológica, de 2004, cujo objetivo foi facilitar as parcerias entre as empresas e a universidade pública brasileira, destaca Leher, que coordena o Observatório Social da América Latina do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (Clacso). A situação é paradoxal, afirma o professor da FE, porque inovação tecnológica, historicamente, é compreendida como pesquisa e desenvolvimento (P&D), atividade desenvolvida essencialmente nas empresas. Um estudo da Universidade da Pensilvânia (EUA) – ressalta Leher – mostra que nove de cada dez inovações são produzidas fora da universidade. “Como no Brasil, as empresas nacionais não têm atividade de inovação relevante, à exceção da Petrobras e da Embraer, e as corporações multinacionais não produzem aqui as suas inovações, essa função está sendo transferida para a universidade”, critica o docente. Em sua opinião, os editais dos órgãos de fomento que financiam as pesquisas estão induzindo as instituições públicas de Ensino Superior a desenvolver atividades de inovação tecnológica. Mas Leher indaga: como pode a universidade se envolver em um processo associado à “fetichização” da mercadoria, que busca torná-la objeto de desejo do consumidor? De acordo com o professor, como as empresas e corporações multinacionais que querem criar os caros setores de P&D no Brasil, a universidade está cumprindo um papel de prestadora de serviços. “Se as corporações farmacêuticas precisam fazer um levantamento de biodiversidade, elas não vão montar um grande laboratório na Amazônia para realizar a tarefa. Não apenas porque teriam que investir muitos recursos em laboratórios e contratação de pesquisadores, mas também porque é uma iniciativa que gera tensões e desconfianças em relação a registros de propriedade. Quando a universidade faz esse trabalho para a indústria do setor, isso não acontece”, frisa Leher. Segundo ele, são comuns convênios de universidades públicas com empresas laranja que negociam patentes diretamente com multinacionais farmacêuticas. “É uma atividade de serviços desenvolvida pela universidade brasileira que está se generalizando”, condena o pesquisador. O sonho sob suspeita Luiz Bevilacqua, professor emérito da UFRJ e pesquisador do Núcleo de Transferência de Tecnologia (NTT) do Programa de Engenharia Civil (PEC) do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) da UFRJ, também vê com preocupação a relação entre os interesses do mercado e a universidade. “Existe toda uma visão de mundo que deu grande força para práticas utilitaristas e imediatistas na universidade. O mundo ficou muito atrelado a resultados econômicos e financeiros, e o progresso ficou associado ao rendimento. Isso, de fato, tem atrapalhado um tipo de produção científica com maior horizonte”, assinala o pesquisador. Até nas próprias agências de financiamento, afirma o professor, é comum se exigir resultados imediatos. Mas, segundo ele, a pesquisa mais genuína, aquela mais arriscada, que não produz respostas de curto prazo, é alvo da suspeita dos órgãos de financiamento e, às vezes, da própria sociedade. É um procedimento – acrescenta – que força os pesquisadores a con- 4 Jornal da UFRJ Humanidades Junho/Julho 2011 Marco Fernandes Luiz Bevilacqua: “Existe toda uma visão de mundo que deu grande força para práticas utilitaristas e imediatistas na universidade.” tribuírem em um ritmo incompatível com a produção de ideias originais. Se os pesquisadores precisam publicar cinco ou seis trabalhos por ano, cumprem tal tarefa na esteira do conhecimento já produzido, de acordo com o professor da Coppe. “Quebrar barreiras é mais complexo, exige mais tempo e paciência. O financiamento desse tipo de pesquisa é difícil, porque tem resultados mais no longo prazo. A lógica das agências é não alimentar sonhos. Mas a pesquisa, no fundo, é isso. Algumas pessoas precisam sonhar”, afirma o coordenador do projeto Espaço Alexandria, dedicado a reunir grupos de pesquisa interdisciplinar em torno de eixos temáticos comuns. Para Bevilacqua, o Espaço Alexandria, de certo modo, é um contraponto ao utilitarismo que se estabeleceu na universidade brasileira. Contudo, o professor ressalta não estar afirmando que, por si só, é ruim investir em pesquisa tecnológica. Por exemplo, melhorar o desempenho de um automóvel para reduzir a produção de gases de efeito estufa é importante. “Mas não se pode ficar restrito a tal tipo de pesquisa. Precisamos ter liberdade para dar grandes saltos. As teorias que quebram paradigmas surgem, na maioria dos casos, de modo inesperado. Às vezes, se busca uma coisa e, no meio do caminho, se encontra outra. É nisso que o Brasil precisa investir”, defende Bevilacqua, que deseja fazer do Espaço Alexandria o berço do primeiro Prêmio Nobel brasileiro. “A universidade está no mundo” Já Marco Antonio Teixeira Gonçalves, professor e diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (Ifcs) da UFRJ, considera que a influência externa que a universidade sofre em todas as áreas do conhecimento resulta, muitas vezes, em debates importantes para a sociedade. “A imagem, por exemplo, é um assunto que vem sendo discutido por quase todas as áreas das Ciências Humanas e Sociais, como a Filosofia, a Comunicação Social, a Antropologia e a Sociologia. Existem questões externas relacionadas à sociedade que se refletem no debate acadêmico. Precisamos entender que a universidade está no mundo”, afirma o professor do Programa de Pósgraduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ. Ao comentar o fato de que o financiamento às Ciências da Natureza e da Vida é mais volumoso do que o destinado às Humanidades, Marco Antonio Gonçalves ressalta que é preciso levar em conta a existência de um universo maior de pes- soas nas engenharias e na Medicina, por exemplo. É uma quantidade que contrasta, segundo ele, com a menor procura de campos como os de História, Filosofia, Sociologia e Antropologia. “Eu não gosto da ideia de que exista uma desvalorização das Ciências Humanas e Sociais. Esse é um campo com reflexões e propósitos diferentes. As profissões das Ciências da Vida e da Natureza já têm ocupações no mercado de trabalho bem definidas, enquanto quem cursa Filosofia ou Antropologia não sabe bem o que poderá fazer. É outro tipo de relação com o mercado”, analisa o antropólogo. Em relação às exigências de produtividade acadêmica, Marco Antonio afirma que é a única forma de democratizar a produção e a difusão de trabalhos. Para ele, como o dever do cientista é publicizar o seu conhecimento, a publicação de seus estudos em artigos ou livros deve ser algo natural. O professor não concorda com a ideia de que a qualidade fica prejudicada por causa da pressão para publicar. “Ninguém vai produzir um artigo ruim, porque precisa fazer uma contagem no CNPq. O que os pesquisadores estão fazendo é tentar tornar mais objetiva sua produção, buscando as melhores condições para publicar em função da atual lógica de produção científica. Mas isso não atrapalha a independência da produção universitária. Inclusive, pode-se não produzir nada e prosseguir como professor. O que estamos discutindo são avaliações extra-universitárias por parte de órgãos como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) do Ministério da Educação e do CNPq, que exigem produtividade e pontuações. Mas considero que a universidade lida com isso de maneira livre”, destaca Marco Antonio Gonçalves. Gestão da pobreza? Para Roberto Leher, no entanto, o pensamento crítico encontra condições muito difíceis de se desenvolver na universidade brasileira pelo fato de questionar a ordem social dominante. Mas em que sentido esse tipo de reflexão vem sendo sacrificada? Segundo ele, os editais de pesquisa, salvo raros casos, não valorizam as perspectivas críticas, mas uma determinada concepção de Ciências Sociais e Humanas que não indagam as causas dos problemas enfrentados pela sociedade brasileira. “Particularmente, existe uma proliferação de estudos acerca da chamada pobreza nas áreas de Economia, Educação, Serviço Social, Comunicação Social, entre outras. É curioso que essas pesquisas busquem analisar diversas dimensões da pobreza, mas, em geral, não questionem seus fatores determinantes. Digo brincando que se trata de um novo campo de estudo: a ‘pobretologia’. São especialistas em pobres. Fazem mensurações sobre os níveis de pobreza e estudam políticas focais para subgrupos de pobres”, exemplifica Leher. Segundo ele, as Ciências Humanas e Sociais têm certo apoio para produzir um conhecimento mais operacional, comprometido não necessariamente com a busca da verdade, mas com soluções eficazes para problemas imediatos. Ao mesmo tempo, o professor da FE frisa que a área de Humanidades sofre um processo de esvaziamento na própria universidade brasileira. “É um fenômeno visível a olho nu na UFRJ. Não podemos permitir a decadência das instalações das Ciências Humanas e Sociais, que é indutora da desorganização da área. Cada vez mais, tenho que trabalhar como se fosse um intelectual medieval. Ou seja, tenho que comprar os meus livros, colocá-los nas minhas prateleiras e ficar recluso em casa para pesquisar e escrever. Na Praia Vermelha, ninguém consegue produzir. É uma situação inusitada, porque a universidade tem a função de socializar o conhecimento, mas não podemos fazer isso em nosso espaço de trabalho. Preciso ficar agendando encontro com estudantes como se estivesse em um consultório médico, ou seja, em horários em que há salas desocupadas”, conta o pesquisador. Ficar sem verba de órgãos de fomento, segundo o docente, é muito ruim porque a universidade pública brasileira não tem infraestrutura própria para apoiar a pesquisa. Para Leher, a degradação das instalações físicas da área de humanidades expressa uma correlação de forças na universidade. “A precariedade da infraestrutura não é generalizada na UFRJ. Muito provavelmente, não veremos isso, por exemplo, na área das engenharias, das Ciências da Natureza e da Vida, que estão mais imbricadas com as necessidades do mercado”, observa o pesquisador. Pensar é arriscar Mas, para Luiz Bevilacqua, se é verdade que as Humanidades estão perdendo importância, uma parcela de responsabilidade cabe aos próprios cientistas da área. “Há 30 anos, talvez houvesse um preconceito, mas hoje acredito que não existe Como pode a universidade se envolver em um processo associado à “fetichização” da mercadoria, que busca torná-la objeto de desejo do consumidor? Indaga Roberto Leher. Junho/Julho 2011 mais. Inclusive a Academia Brasileira de Ciências, que tem tido um papel importante, incorporou a área de Ciências Humanas há quatro anos”, enfatiza o professor da Coppe. Bevilacqua critica alguns pesquisadores das Ciências Humanas e Sociais – “não todos” – porque dedicam muito tempo para análises do pensamento de outros. No Brasil, diz que, infelizmente, ainda existe a cultura de “teto baixo”. “Precisamos afirmar o nosso pensamento e mostrar ao mundo que temos algo a dizer. Alguns pensadores, como Caio Prado Junior, Celso Furtado e Darcy Ribeiro, formularam questões novas e expressaram ideias próprias. É preciso que os jovens da área bebam diretamente nessas fontes, e não em seus intérpretes, e se preparem para formular o seu próprio pensamento”, afirma o coordenador do Espaço Alexandria. Embora saiba que publicar pensamentos originais e renovadores é uma tarefa difícil, Bevilacqua afirma que o problema afeta todas as áreas do conhecimento, em diversos países. Depoimentos de professores do exterior confirmam que muitos dos seus alunos não conseguem publicar ideias novas porque contradizem teses cristalizadas de pesquisadores com reputação científica. O professor emérito da UFRJ acha que o Brasil ainda padece daquilo que Nelson Rodrigues identificou como “síndrome do complexo de vira-latas”. Por exemplo, em vez de aumentar o número de bolsas no exterior, Bevilacqua defende a importação de jovens pesquisadores estrangeiros, sem campo de trabalho em seus países, para reforçar pesquisas prioritárias para o Brasil. “No mundo político, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o único que saiu do Brasil e disse: ‘Eu não sou vira-lata’. Precisamos de alguém que não tem curso superior para agir com independência e altivez em relação aos outros países. Essa postura existe pratica- Humanidades mente em todas as áreas e precisa ser abolida”, enfatiza o professor emérito. Estudos fragmentados Em relação à crítica de que os estudos na área das Humanidades são cada vez mais fragmentados, Marco Antônio Gonçalves afirma que, com o processo de acúmulo de conhecimento e a popularização da universidade, muitas pessoas vão estudar os mais diversos campos. Hoje, segundo ele, existem milhares de informações à disposição do pesquisador, o que torna mais difícil o conhecimento totalizante. “As grandes teorias da sociedade vão, na verdade, deixando de existir no momento em que certas questões se aprofundam e surgem novas especialidades. A fragmentação dos estudos tem a ver com a ideia de buscar a profundidade em torno de um tema”, defende o pesquisador. Marco Antônio exemplifica com o grande boom de pesquisa acerca da violência na década de 2000, quando vários editais da Capes, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e do CNPq foram dedicados ao assunto. “Com isso, se engendrou projetos que buscavam compreender o tema em profundidade. Portanto, não sei se a fragmentação é dada pelas agências ou pelo processo social”, analisa o diretor do Ifcs. Roberto Leher lembra que, depois da II Guerra Mundial, a perspectiva crítica nas Ciências Sociais, particularmente na América Latina, é muito fecunda, chegando, inclusive, a organismos internacionais, como a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal): “é um momento em que as teorias da modernização são questionadas e refutadas por importantes autores como Caio Prado Junior, Celso Furtado, Florestan Fernandes, Otavio Ianni, entre Marco Fernandes outros. Em suma, é um período de pujança do pensamento crítico”. De acordo com o professor, a perspectiva crítica na análise da realidade social sofre um refluxo com a queda do muro de Berlim, a dissolução da URSS e a hegemonia neoliberal que se afirma nas décadas seguintes. “É uma espécie de vingança do pensamento neopositivista, Jornal da UFRJ 5 agora com a variante do pós-modernismo, que também trabalha com a perspectiva de relativismo epistemológico. É nesse cenário que temos estudos fragmentados e a volta de perspectivas metodológicas que procuram produzir não o que seria a verdade, mas conhecimentos de natureza operacional e que tenham utilidade”, avalia Leher. Por um novo modelo de pesquisa Se as Ciências Humanas e Sociais perderam peso nas políticas de financiamento da pesquisa científica no Brasil, ainda é possível viabilizar uma universidade pública que produza conhecimento livre e crítico em benefício do conjunto da sociedade? De acordo com o professor da Faculdade de Educação (FE) da UFRJ, Roberto Leher, talvez o maior desafio, hoje, seja criar condições para que a universidade defina, de forma autônoma, seus problemas de pesquisa e suas linhas de investigação. Ele concorda que determinadas pesquisas interinstitucionais, de maior escopo, sejam objeto de editais, mas diz que aquelas mais cotidianas devem ser decididas no âmbito interno da universidade. A universidade, segundo ele, deve retomar o poder de definição sobre as suas linhas de investigação não apenas nas Humanidades, mas em todas as áreas. Ele defende a retomada de conceitos de financiamento presentes no CNPq dos anos 1960, quando havia a avaliação de projetos desvinculados de editais, que eram aprovadas por seu mérito intrínseco. “Era a chamada verba de balcão”, lembra o professor. O projeto Espaço Alexandria (www.espacoalexandria.com. br), segundo o seu coordenador e professor emérito da UFRJ, Luiz Bevilacqua, se insere no conceito de ampla liberdade acadêmica, focando especialmente em áreas incipientes, com pouca investigação e bibliografia. “É uma tentativa de libertar a universidade dos critérios do mercado e dos modelos acadêmicos de pesquisa que priorizam a quantidade e os resultados imediatistas”, explica o professor emérito. Para facilitar a compreensão do “espírito” do projeto, Bevilacqua relata um fato ocorrido na Universidade do ABC, da qual foi coordenador acadêmico e reitor. Em um concurso na área de Neurociências, uma candidata jovem, com apenas quatro anos de doutorado, no final da sua apresentação acerca da memória, afirmou que gostaria, na verdade, de ter pesquisado a respeito dos processos neurológicos do sonho. Indagada sobre as razões que a impediram de seguir tal caminho, respondeu que não conseguiria publicar seus estudos em revistas científicas, uma vez que o campo é embrionário e tem escassa bibliografia. Caso se dedicasse a estudar o sonho, teria apenas um ou dois artigos publicados e ficaria reprovada no concurso. Para se tornar professora universitária, abandonou seu projeto, estudou outra área e conseguiu publicar 15 artigos. Hoje, trabalha com pesquisas sobre o sonho na Universidade do ABC. “É um exemplo de como o modelo de produtividade acadêmica bloqueia as ideias. O Espaço Alexandria busca acolher exatamente esse tipo de pesquisa”, realça o professor. Marco Antonio Gonçalves, professor e diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (Ifcs) da UFRJ, sustenta que o maior desafio da universidade no século XXI é desfazer a fragmentação do conhecimento. Se o aprofundamento de diversos temas foi reflexo de mudanças sociais e teve papel importante, ele pode gerar, também, um isolamento nocivo. “Tentar aproximar campos que estão no mesmo processo de discussão e não se comunicam, não dialogam, deve ser uma tarefa da universidade”, observa o professor do Programa de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ. Ele considera que, a partir de determinadas questões, a área de Humanidades pode produzir um diálogo bastante frutífero entre diversos campos. Mas como conectá-los? Para ele, o caminho não é, necessariamente, reunir fisicamente as pessoas, mas criar “redes sócio-acadêmicas que façam com que o conhecimento ultrapasse as instâncias de fragmentação. É preciso remontar a produção de pesquisas a partir de outro paradigma”, conclui o antropólogo. 6 Jornal da UFRJ Comunidade Junho/Julho 2011 Vila Residencial da UFRJ Joana Angélica, residente há 33 anos, aponta as melhorias na Vila Residencial. a conquista de seu espaço Nem só de vida acadêmica vive a Cidade Universitária da UFRJ. Existe, depois do Parque Tecnológico, em um terreno próximo à Divisão Gráfica, a Vila Residencial da UFRJ, onde moram cerca de mil pessoas. Rafaela Pereira Q uem poderia imaginar que na Cidade Universitária existiria uma vila residencial, com escola, igreja, comércio próprio e ruas com nomes de flores? A moradia no campus surgiu antes mesmo da construção da própria universidade e do aterro que uniu as oito ilhas antes existentes (Fundão, Baiacú, Cabras, Catalão, Pindaí do Ferreira, Pindaí do França, Bom Jesus e Sapucaia). Por lá moravam pessoas que ajudaram na construção da Ponte Presidente Costa e Silva (Rio-Niterói) e, mais tarde, da própria universidade, como Antônio Pereira da Silva (o “seu Tunico”), que veio do Nordeste há 60 anos. “Eu tinha amigos que estavam aqui para construir o Hospital Universitário, não existia nada disso e as ilhas estavam sendo aterradas. Depois comecei a trabalhar na universidade, construí família e fui ficando”, relembra o morador. Tudo começou na época da construção da Ponte Rio-Niterói, quando o local onde hoje está a Vila Residencial era utilizado como canteiro de obras. Com instalações provisórias, as casas eram em madeira e ocupavam uma pequena área. Depois que a Ponte ficou pronta, esse alojamento ficou desativado e, logo após, um grupo de funcionários da UFRJ pediu per- missão para ocupar a área. Havia também, distribuídas pelas ilhas, famílias que usavam a terra para subsistência. Essas foram transferidas para onde hoje se conhece como Vila Residencial. Assim nascia a Vila Residencial. No início, as condições de moradia eram precárias. As casas eram de madeira e, até bem pouco tempo, não existia tratamento de água e esgoto. Os ônibus que servem ao transporte interno da UFRJ lá não circulavam com tanta frequência. Foi a partir da luta de moradores e do apoio da Reitoria da que as conquistas foram chegando à área. Em 2009, houve o acolhimento da Vila Residencial na proposta do Plano Diretor da Cidade Universitária (PD UFRJ 2020), que tem como objetivo a oferta de alternativas de moradia. Hoje a Vila já possui saneamento básico - cujo investimento foi na ordem de R$ 17 bilhões, oriundos de fontes que não são os cofres da UFRJ -, quando chove as ruas não alagam mais e o comércio, que serve também à universidade, vem crescendo. “As obras, a gente consegue através do Programa de Extensão da Vila, e não pela universidade, institucionalmente. A atual Reitoria, assim como a futura, tem tido uma postura diferente com relação à Vila”, aponta Pablo Benetti, professor da Faculdade de Arquite- Junho/Julho 2011 tura e Urbanismo (FAU), membro do Comitê do PD UFRJ 2020 e coordenador do Programa de Extensão da Vila Residencial, vinculado à Pró-reitoria de Extensão (PR-5). De acordo com Ivan Carmo, atual vice-prefeito da Cidade Universitária, o projeto de urbanização da Vila foi feito pela própria PR-5 e pelo Escritório de Arquitetura FAU. As obras foram realizadas junto com a execução da dragagem e da despoluição dos canais do Cunha e do Fundão. “O que a gente está fazendo agora é a integração desse sistema com o sistema de saneamento. Foi uma intervenção da UFRJ junto ao governo do estado Jornal da UFRJ Comunidade para começar a promover, pelo menos, a higiene básica do local. Assim, mesmo com a Vila estando em um plano mais baixo em relação à baía da Guanabara, conseguimos recalcar o esgoto e acabar com o problema do retorno”, explica Ivan. Mais obras Há ainda a previsão da construção de uma creche – com custo em torno de R$ 2 milhões e que deve ficar pronta em, aproximadamente, um ano -, e de um Posto de Saúde da Família. “Esse é um projeto que está sendo negociado com a Prefeitura do Rio e que teve a iniciativa da Faculdade de Medicina (FM), do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva (Iesc) e da Faculdade de Enfermagem Anna Nery (EEAN) da UFRJ. Ao mesmo tempo, o Comitê do PD UFRJ 2020 está negociando a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), próxima ao Terminal de Integração Rodoviário”, adianta Pablo Benetti, para atendimento da população da Cidade Universitária. Para Joana Angélica Pereira, da direção da Associação de Moradores da Vila (Amavila), essa foi a realização de um sonho. “Antes a gente não tinha ação do poder público. Vivemos muitos anos com o retorno de esgoto alagando as nos- 7 “A relação agora é de convivência. É mais um apoio do que uma atuação na Tuninho “foi ficando” e formou família na Vila. manutenção.” Ivan Carmo sas casas. E quando solicitávamos uma atuação, recebíamos como resposta que a Vila Residencial estava localizada no campus da UFRJ e que era área da União. Apesar de morarmos dentro de uma das maiores universidades do país, a gente vivia em completo abandono. De 2007 para cá é que a gente percebe as mudanças. E hoje temos a obra de saneamento, uma praça com brinquedos e a regularização fundiária. E será através dessa regularização que poderemos cobrar mais do poder público”, aponta Joana, que reside na Vila há 33 anos. Crescimento Com tantas melhorias, há um aumento na procura por moradias na área e também na valorização das casas. E se antes ela era apenas voltada para os funcionários da universidade e suas famílias, hoje não existe mais esse controle. “A tendência da Vila é que, nem sempre, os moradores tenham vínculo com a UFRJ. E é preciso lembrar que não é uma vila operária, como as construídas pelas fábricas. É claro que o funcionário e o aluno são os que têm maior interesse no local. O que a gente nota que é ela vem suprir um problema sério de não haver habitação na Cidade Universitária. Há um servidor novo no Escritório Técnico da Universidade (ETU), engenheiro, que veio de Juiz de Fora (MG), que está alugando uma casa lá. A tendência da Vila é que vire uma área como todas as que existem na cidade”, avalia Pablo Benetti. E, atualmente, até os estudantes procuram vagas para morar mais perto de faculdade ou escola e não perderem tanto tempo no deslocamento. “Nossa autoestima cresceu 8 Jornal da UFRJ Comunidade Junho/Julho 2011 panhamento da saúde integral da família. A Faculdade de Medicina tem o ambulatório social, que presta atendimento quinzenal na Amavila. “A Escola Politécnica oferece curso de Informática e, agora, também trabalha com um projeto de inclusão digital através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Outro projeto é a aula de música aos sábados, com o patrocínio da Petrobras. Através dessa articulação da PR-5, estão surgindo outros projetos”, revela Joana Pereira. Outro projeto conta com a participação da Faculdade de Odontologia (Odonto), que vem atender a uma nova demanda da comunidade: “Começou quando viemos aqui estabelecer um programa de prevenção oral. Percebemos as necessidades e vamos começar o trabalho de Assistência Social com visitas domiciliares e programas para idosos e crianças”, explica Márcia Carvalho da Silva, assistente social da Odonto. Mariana Melo destaca o fato de morar perto de seu local de estudos. e os moradores estão melhorando suas casas para receberem os estudantes que moram longe ou que não conseguiram vaga no Alojamento Estudantil. Temos uma característica de cidade do interior, e isso tem atraído às pessoas para cá. Os estudantes agora ajudam a reforçar as nossas reivindicações”, acredita Joana Angélica, da Amavila. Seguindo regras já pré-determinadas, os alunos vivem em uma espécie de “república”. Thiago Feijó faz licenciatura em Matemática, morava em Guaratiba e optou pela Vila para não perder tempo nos engarrafamentos: “Queria vir para cá há mais tempo, mas somente agora achei lugar”. Mariana Melo, estudante do 3º período de Biofísica, mudou de Itaipuaçu, no município de Maricá, para a Vila, pelo fato de gastar cerca de cinco horas de sua casa até a Cidade Universitária. “Aqui é mais perto e bem mais barato. Tem boa segurança e, às vezes, ficamos na praça conversando com o pessoal da república que ninguém mexe”, informa Mariana. Marta Dias é a dona da casa em que Mariana e Thiago estão morando. Segundo ela, mesmo que dê mais trabalho, arrumou “um monte de filhos”. Marta avalia que até ganha dinheiro, mas, na verdade, quer ajudar os estudantes de alguma forma: “Sempre procuro vagas para estágios. Gostaria que aqui fosse instalada uma biblioteca. Eu sempre penso no bem-estar dos estudantes. Eles perdem muito tempo no trânsito e não conseguem estudar”. E a UFRJ, ao mesmo tempo em que incentiva o crescimento, fiscaliza. Há uma política de controle de expansão. “Como há a possibi- lidade de se ampliar as casas em direção ao manguezal, qualquer notificação de nova construção ou ampliação pode ser embargada. E essa conscientização de que não se pode invadir a área de mangue é uma cultura dos próprios moradores. Porém, sempre aparece um que tenta burlar”, destaca Ivan Carmo. Inclusão social Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN), Faculdade de Medicina (FM), Instituto de Nutrição Josué de Castro (INJC), Instituto de Biologia (IB), Escola Politécnica (Poli) e Escola de Serviço Social (ESS) são alguns dos exemplos da atuação de unidades da UFRJ na Vila Residencial. A EEAN, por exemplo, atua na Vila há cerca de 20 anos levando as campanhas de vacinação para a população local e, por seus estudantes, faz o acom- Uso do solo De quem é a responsabilidade de cuidar da Vila Residencial da UFRJ? De acordo com Pablo Benetti, o terreno da universidade deve ser usado essencialmente para a função institucional. No caso, a Vila poderia ser caracterizada como um bairro, sem vinculação institucional direta, mesmo que ali morem servidores e estudantes. O fato é que geopoliticamente, o “bairro” pertence à XXª Região Administrativa da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ivan Carmo explica que desde 2003 que a universidade não cuida diretamente da Vila Residencial, uma vez que não é patrimônio da universidade. “A relação agora é de convivência. É mais um apoio do que uma atuação na manutenção. Porém, no passado a gente já fez mais. Na década de 1990, existia até uma Subprefeitura lá. Infelizmente demorouse em caracterizar que essa não era uma tarefa da UFRJ”, declara o futuro prefeito da Cidade Universitária. Benetti explica que, legalmente, esse terreno ainda é da UFRJ. Existe o processo de regularização fundiária, mas até ser concluído, a UFRJ é a responsável pelo espaço. “Deixaremos de ser responsáveis quando a Vila passar a ser parte legal da cidade do Rio de Janeiro. No momento é um bem da União, que não poderia ter uso habitacional. A política da UFRJ com a Vila sempre foi oscilante. Desde a época em que se criou uma Subprefeitura apenas da área. O problema é que isso não é institucional e, caso não se resolva, vai sempre depender do ‘humor’ da Administração Central”, explica o professor da FAU. Junho/Julho 2011 Jornal da UFRJ Operação que matou Bin Laden, além de afrontar regras de convívio entre as nações, tem raízes históricas na doutrina da “supremacia divina” dos Estados Unidos sobre os outros países, de acordo com especialistas. À sombra da lei 9 10 Jornal da UFRJ Internacional Junho/Julho 2011 A operação secreta do governo estadunidense para matar Bin Laden, no dia 1º de maio, transgrediu as regras mais banais do Direito Internacional. Sem pedir licença, um Estado invadiu o território de outra nação soberana – o aliado Paquistão – e executou, sem julgamento, aquele que considerava seu inimigo número um. E mais: admitiu ter praticado tortura para obter informações sobre o paradeiro do líder da al-Qaeda, apontada como a maior rede terrorista do mundo e assumidamente responsável pelo ataque, em 11 de setembro de 2001, às torres gêmeas do World Trade Center (WTC), em Nova Iorque. Coryntho Baldez O episódio é apenas mais um na longa tradição dos Estados Unidos da América (EUA) de usar a força além de suas fronteiras para resolver problemas ligados à sua política externa. Exemplo recente foi a invasão do Iraque, em 2003, sob o pretexto de que o governo de Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa e era uma ameaça ao mundo – a tese foi desmentida pelos fatos, mas o país prossegue ocupado. Sustentada pela ideologia que invoca a “supremacia divina” dos EUA sobre os outros países, que remonta ao século XIX, essas ações beligerantes do governo – pelo menos em um primeiro momento – acabam recebendo apoio interno. A operação no Paquistão não foge à regra: veio a calhar para recuperar o prestígio eleitoral do presidente Barack Obama e aproximá-lo até mesmo de eleitores conservadores. Afinal, foi o democrata que cumpriu a promessa do republicano George W. Bush de matar Bin Laden. Um êxito para Obama Do ponto de vista do país norte-americano, a investida contra o complexo de Abbottabad, onde Bin Laden estava escondido, foi um sucesso, de acordo com Arthur Bernardes do Amaral, do Laboratório de Estudos do Tempo Presente (Tempo), vinculado ao Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (Ifcs) da UFRJ. Ele afirma que a operação foi feita de maneira discreta e extremamente efetiva, conseguindo pôr fim a uma perseguição que já durava aproximadamente uma década. “Obviamente, o modo como a ‘Operação Lança de Netuno’ foi conduzida gerou reações positivas e negativas, pois os EUA não comunicaram ao governo paquistanês seus planos, gerando um claro mal estar diplomático entre as duas nações”, ressalta o pesquisador do Tempo. Segundo Bernardes, a ação foi uma vitória política de grande peso do presidente, credenciando-o à reeleição em 2012. Ele avalia que o êxito de Obama no campo da segurança, que tradicionalmente se considera como área de expertise dos republicanos, dá grande crédito ao líder democrata. “Com a morte de Bin Laden, Obama teria feito contra a al-Qaeda, em apenas dois anos na Casa Branca, mais do que Bush fizera ao longo de dois mandatos. É razoável pensar que a operação não gera tensões diplomáticas ou problemas de segurança mais profundos para os EUA na Ásia Central, mas, sem dúvida, o evento será elemento importante da política interna dos EUA no futuro próximo”, analisa o cientista social. De acordo com Marco Antonio Scarlecio, professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio), do ponto de vista da norma do sistema internacional, a ação do serviço secreto dos Estados Unidos para matar Bin Laden foi “complicada”, pois o Paquistão é um país soberano e os EUA atuaram lá sem aviso prévio. “Eles entraram, distribuíram tiros, eliminaram pessoas, apossaram-se de informações e saíram sem dar maiores satisfações. Do ponto de vista operacional, tudo isso se deu em função de a liderança do país norte-americano não confiar completamente nos dirigentes do Paquistão. É mais um episódio da relação ambígua entre os dois países”, afirma o especialista em assuntos de Defesa. Destino divino? Ao analisar as raízes da operação, o professor Luiz Antonio Simas, mestre em História Social pela UFRJ, afirma que o processo de formação da identidade nacional dos Estados Unidos Um ciclo sem fim? Ao comentar a possibilidade de o assassinato de Bin Laden, em vez de estancar, alimentar o ciclo do terror, Arthur Bernardes do Amaral, pesquisador do Grupo de Acompanhamento e Análise do Terrorismo Internacional do Laboratório de Estudos do Tempo Presente ( Tempo) da UFRJ, afirma que o episódio, na verdade, implicou um duro golpe à rede al-Qaeda. “O saudita era o Emir do grupo, sua principal liderança política, de perfil carismático e grande responsável por mobilizar uma ampla rede de apoiadores econômicos à organização. Sua morte significa o fim de uma era para ela, pois gera um vácuo de poder em sua estrutura que demorará a ser preenchido”, comenta o cientista social. Segundo ele, em um cenário de fragmentação interna e disputa entre diversas lideranças regionais, o critério nessa “corrida” pelo poder poderá ser quem consegue operar mais ataques contra os inimigos da organização. “Caso ocorram, é mais provável que sejam realizados no médio prazo, pois qualquer ação nesse momento encontraria os governos ocidentais e de países considerados ‘apóstatas’ no Oriente Médio e na Ásia Central com suas “guardas levantadas”, avalia Bernardes. Embora ressalte que possa haver algumas ações pontuais contra os países mais vulneráveis e próximos às bases da al-Qaeda, como Paquistão, Afeganistão e Arábia Saudita, o pesquisador acredita que ataques contra alvos na Europa e Américas serão, ao menos no curto prazo, menos prováveis. “tem como contexto fundamental a expansão territorial do século XIX, com a mítica ‘Marcha para o Oeste’”. Ele explica que a base ideológica da conquista de territórios foi a doutrina do “Destino Manifesto”, amplamente difundida nos EUA ao longo do século XIX. Segundo Simas, a doutrina informa que o povo estadunidense é predestinado por Deus para expandir o seu território e levar, além das fronteiras naturais, os princípios fundadores da nação. “O sintetizador da doutrina foi o jornalista John L. O’Sullivan, que a expressou em um famoso ensaio chamado Annexation. Uma das suas passagens, diz o seguinte: ‘O Destino Manifesto é um ideal moral superior que se sobrepõe a outras considerações, incluindo leis e acordos internacionais’. A expansão, portanto, era o cumprimento de uma missão divina. Isso está tão arraigado na alma dos EUA que não há como não lembrar de George W. Bush rezando salmos para definir as estratégias de invasão do Afeganistão e do Iraque”, analisa o professor. Arthur Bernardes do Amaral lembra que a lógica do “Destino Manifesto” bebe diretamente em alguns mitos fundacionais da nação. Entre os principais, cita o mito da “Providência Divina”, segundo Junho/Julho 2011 Jornal da UFRJ Internacional por Deus, deve se unir. Os inimigos externos, segundo ele, vão se modificando através dos tempos: “De início, foram os índios que viviam há milhares de anos nas terras cobiçadas pelos Estados Unidos. Um pouco depois, a ira expansionista se voltou contra os latinoamericanos. Para lidar com os “cucarachas”, o presidente Ted Roosevelt recomendou, em 1903, a utilização de um grande porrete (big stick), que os obrigasse a reconhecer a liderança dos EUA”. Em boa parte do século XX - continua Simas -, durante pelo menos 40 anos, o inimigo foi o comunismo – “falo dos tempos da ‘Doutrina Truman’, base da atuação dos EUA durante a Guerra Fria”. E com a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), o inimigo externo foi redefinido. “A ameaça maior ao sonho americano nos dias atuais é o terrorismo”, observa o professor. Para Simas, é emblemático que a recente operação que terminou com a execução de Bin Laden tenha se referido ao “inimigo número um da “Eles entraram, o qual Deus favoreceria os colonos, protegendo-os dos perigos naturais e das ameaças desconhecidas no novo continente. “Havia também o mito da ‘Missão na Natureza Selvagem’, de acordo com o qual os colonos teriam de retribuir esse favor divino levando a luz às trevas do continente, a ordem ao caos, impondo a sua presença aos vazios. Por fim, havia, também, o mito da ‘Cidade na Colina’, que, com base nos dois mitos anteriores, afirmava que as colônias na América do Norte seriam como uma cidade na colina, que é observada por todos ao seu redor e que, consequentemente, serve de exemplo e modelo para todos os demais, que devem copiá-la, já que é ela o exemplo mais perfeito de comunidade que atende aos desígnios divinos”, assinala o pesquisador do Tempo. Segundo Bernardes, esses mitos cimentaram a ideia de que os Estados Unidos seriam uma nação excepcional – “não apenas diferente, mas melhor” –, que teria o direito e o dever de atuar sobre o mundo para ativamente transformá-lo e fazê-lo à sua imagem e semelhança. “A noção de que os Estados Unidos são superiores enquanto modelo de comunidade política funda- mentaria o intervencionismo de George W. Bush, ao defender que a exportação da democracia serviria como panaceia universal”, afirma o cientista social da UFRJ. O inimigo externo Contudo, a lógica da supremacia estadunidense, para Bernardes do Amaral, tem sido relativizada pelo atual governo. “Barack Obama assume uma retórica de relativa humildade e maior multilateralismo, se comparado com seu antecessor. Mas até mesmo ele argumenta que, em um mundo permeado por diversas ameaças, a liderança dos Estados Unidos continua sendo indispensável, muito embora ele não possa liderar sozinho”, observa o pesquisador. Já Marco Antonio Scarlecio acredita que o episódio pode ser explicado pelo fato de os Estados Unidos ocuparem a posição de mais importante potência capitalista do mundo, não tendo vínculo imediato com a ideologia do “Destino Manifesto”. “Boa parte dos estadunidenses adoraria não ter seu país engajado diretamente em questões mundiais”, avalia o professor. No entanto, para Simas, ao difundir a doutrina do “Destino Manifesto” como um dos fundamentos da nação, os Estados Unidos também vão construir outro poderoso mito de unidade nacional: a ideia de que o sonho americano de expansão da liberdade é constantemente ameaçado por inimigos externos, contra os quais o povo da América, escolhido distribuíram tiros, eliminaram pessoas, apossaram-se de informações e saíram sem dar maiores satisfações. Do ponto de vista operacional, tudo isso se deu em função de a liderança do país norte-americano não confiar completamente nos dirigentes do Paquistão. É mais um episódio da relação ambígua entre os dois países” 11 América” como “Gerônimo”, chefe apache de meados do século XIX que liderou o combate contra os pioneiros norte-americanos durante a expansão territorial dos Estados Unidos. Ele ressalta que Gerônimo foi considerado um índio renegado pelo governo dos EUA por lutar contra a entrega dos territórios indígenas e o confinamento dos nativos em reservas federais. “Há que se considerar que os povos apaches começaram a ocupar as planícies da parte central e do sudoeste da América do Norte por volta do ano de 850. Portanto, cerca de mil anos antes da doutrina do ‘Destino Manifesto’ afirmar que Deus designou aos Estados Unidos o direito de conquistar aqueles territórios”, lembra o pesquisador. É mais impactante ainda perceber, de acordo com Simas, que o presidente dos EUA se vangloriou de ter recebido a mensagem cifrada da execução de Bin Laden com a frase “Gerônimo morreu em combate”. “O racismo explícito que marcou a postura dos desbravadores do Oeste e dos governos contra os índios apaches revive na operação autorizada pelo presidente negro”, assinala o mestre em História Social. “Nós contra eles” Arthur Bernardes do Amaral considera que a figura de um inimigo externo é uma constante quando olhamos para diversas retóricas de mobilização nacional. “Isso ocorre tanto no caso dos Estados Unidos como no caso de outros países, para os quais os próprios Estados Unidos são esse inimigo externo. Não há inocência nesse tipo de acusação”, afirma o cientista social. Para ele, a questão principal é o resultado desses discursos. Ao mobilizar sentimentos do tipo “nós contra eles”, afirma, os líderes políticos podem ser autorizados por seus respectivos públicos eleitores a tomar medidas extremas que não seriam sequer cogitadas em outros momentos. Isso ocorreu com muita clareza nos Estados Unidos – lembra Bernardes – quando o presidente Bush chegou a ter 90% de aprovação popular pouco mais de uma semana após os atentados de 11 de setembro: “Foi a maior taxa de aprovação da séria histórica que é medida desde 1932 pelo Pew Research Center (organização independente de pesquisa de opinião pública). Foi com base nesse maciço apoio popular e em um discurso que apresentava o terrorismo como uma ameaça que deveria ser combatida a qualquer custo que o governo estadunidenses aprovou o chamado Patriot Act. A medida flexibilizou uma séria de direitos civis em nome do combate ao terrorismo e foi renovado por mais quatro anos no final de maio”. 12 Jornal da UFRJ Forma & Sentido Junho/Julho 2011 Tzvetan Todorov A poesia viverá sempre Marco Fernandes U m dos mais influentes pensadores acerca dos estudos literários, o historiador, linguista e ensaísta búlgaro Tzvetan Todorov esteve no Rio de Janeiro, em junho, para participar de um ciclo de palestras, tendo como tema central o lugar da poesia na sociedade contemporânea. O evento “Forma e Sentido”, realizado no teatro Oi Futuro, no Flamengo, reuniu, com o apoio e participação da Faculdade de Letras (FL) da UFRJ, outros intelectuais, como a professora e crítica literária estadunidense Marjorie Perloff, o poeta francês Michel Déguy e o músico e ensaísta brasileiro José Miguel Wisnik. Com curadoria do poeta, filósofo e ensaísta Antônio Cícero, o encontro procurou discutir a produção literária no ambiente das novas tecnologias e as possibilidades da leitura diante da frenética e veloz vida moderna. Em entrevista exclusiva ao Jornal da UFRJ, Todorov critica o ensino de Literatura baseado exclusivamente na análise das estruturas internas do texto, sem relação com o contexto mais amplo em que a obra está inserida. O problema, segundo ele, afasta as novas gerações do prazer da leitura, privando-as de “uma das melhores heranças da humanidade”. O pensador, radicado na França desde 1963, também aborda o sentido à existência que os livros são capazes de imprimir e o futuro das obras literárias no cenário das novas tecnologias. Independentemente do suporte, Todorov confia na imaterialidade do texto. “A poesia viverá sempre, ainda que o poema esteja gravado numa rocha. O importante é o espírito humano, e o espírito é imortal”, destaca o historiador, autor de cerca de 30 livros. Marcio Castilho Jornal da UFRJ: O senhor viveu até o início dos anos 1960 na Bulgária, país do bloco comunista. Até que ponto aquele contexto o influenciou nos primeiros estudos em que faz uma aplicação direta do estruturalismo no campo da Literatura? Quais as dificuldades de produção literária e cultural naquele país? Tzvetan Todorov: A vida cultural e a vida intelectual em um país totalitário são diretamente controladas pelo aparelho do partido. E os estudos literários, assim como a Sociologia, a Filosofia, a Economia, as Ciências Humanas e Sociais eram afetados. Dessa forma, a Literatura que nós estudávamos tinha um objetivo preciso: mostrar que ela servia para ilustrar e confirmar a ideo- logia oficial, nessa época, o marxismoleninista. No entanto, essa operação não valia a pena, porque as coisas eram muito simplificadas, muito esquemáticas. As obras de Marx não eram lidas nunca. Era um tipo de catecismo que era necessário aprender. Fiz o Ensino Superior em Literatura na Universidade de Sófia. Para alguém como eu, um jovem comum que amava a Literatura e que queria fazer de seu estudo sua profissão, havia esse grande obstáculo. Tudo o que se podia fazer era reiterar a ideologia corrente e afirmar que o povo é assim, que o capitalismo é daquele jeito, que a história levava a essa direção, o que não era muito excitante. Um pouco graças ao contato com os livros ou com as pessoas, tive a ideia de procurar uma parte da Literatura que escapasse da ideologia. Essa parte era a materialidade do texto, ou seja, o material linguístico. Portanto, eu diria que o contexto teve uma influência muito forte. Nós éramos orientados ou a ilustrar a ideologia do ambiente ou entrar num tipo de neutralidade que não poderia ser nada além de formalista. Podíamos contar as sílabas de um verso e dizer se ele tinha um ritmo dactílico ou iâmbico, observar as figuras retóricas que eram empregadas. Evidentemente, é possível se interessar por esse tipo de estudo, mas não é o principal sentido do estudo de Literatura. Jornal da UFRJ: O senhor se mudou para Paris, tendo concluído seu doutorado com Roland Barthes em 1966. Como percebeu a nova realidade em país democrático e como esse novo contexto – mais pluralista e sem doutrinações ideológicas – afetou sua produção no campo da Literatura? Tzvetan Todorov: Para quem vivia num país comunista daquela época, o maior sofrimento era o fato de que, nas lojas, não havia nada. As prateleiras estavam sempre vazias. Quando descobríamos que as batatas haviam aparecido numa loja, toda a cidade de Sófia partia para encher a dispensa com batatas. Num determinado momento, escutávamos que, do outro lado da cidade, havia cebolas, e nós íamos rapidamente para lá comprar cebolas. Inevitavelmente, a primeira impressão que se tem quando se chega a um país do Ocidente é que as lojas tinham de Junho/Julho 2011 tudo, o tempo todo. Podia-se dizer que “é uma fraqueza ser tão sensível aos bens materiais e assumir o papel de consumidor” ou que “vivemos nesse maravilhoso país de ideais comunistas e você não deve se queixar porque não há ovos ou manteiga nas lojas”. Acredito que esse ponto de vista é muito superficial. Na realidade, era uma humilhação cotidiana para a população, que não podia satisfazer suas necessidades mais imediatas. Então, essa primeira impressão foi um baque. Essas pessoas de quem ouvíamos dizer que sofriam sob o jugo capitalista podiam ir a todas as lojas enquanto nós, que vivíamos no paraíso comunista, não tínhamos nada. A liberdade foi outra coisa que me sensibilizou bastante. Liberdade é uma palavra muito bonita, mas na vida cotidiana não se precisa dela, somente quando começamos a escrever e a querer publicar – e esse era o meu caso. Terminei os estudos literários e comecei a fazer um pouco de Jornalismo, alguns estudos literários, e eu queria publicar. Nesse momento, me deparei com a censura, que tinha o rosto de um redator-chefe que fazia o papel dele ao dizer: “Isso não é positivo para o Partido Comunista. É necessário corrigir”. Essa era uma coisa que me fazia sofrer. Montaigne disse, no século XVI, que se amanhã me proibirem de ir a Nantes eu sofrerei fortemente, ainda que eu não tenha intenção alguma de ir a Nantes. A liberdade para o espírito é um tipo de oxigênio. Temos a necessidade de dizer: “Eu posso fazer tudo o que eu quero, mesmo que não faça”. Então, o segundo ponto foi descobrir que as pessoas podiam dizer tudo o que queriam e que ninguém tinha temor em falar contra as autoridades. Havia ainda uma terceira diferença: os jovens da minha geração, em sua maioria, tinham convicções comunistas, uma visão de que era necessária a construção do comunismo. Como vinha de um país do comunismo real, olhava com grande perplexidade esses jovens que eram meus colegas. Comíamos e bebíamos juntos. Cortejávamos as mesmas garotas. Nós éramos muito próximos. Gostava muito deles, mas não compreendia suas posições políticas. As coisas das quais eu havia escapado, as que me faziam sentir aliviado eram as que eles gostariam de viver. Eu não tenho um caráter bélico, não gosto de fazer polêmicas, portanto, eu não tentava convencêlos e evitava falar desse assunto. Eu havia descoberto nessa época, por causa dos meus estudos anteriores, o que chamam de formalismo russo. Era um grupo de críticos literários de grande talento que tinham escrito alguns estudos muitos bons sobre Literatura na época da revolução em 1918, em 1925 ou em 1930. Depois, o “Stalinismo” destruiu tudo, mas eram pessoas com muitas ideias originais. E meu primeiro trabalho foi consti- Forma & Sentido tuir uma antologia dos textos deles e traduzi-la para o francês. Essa tradução do russo para o francês, ainda que eu fosse búlgaro, foi minha primeira manifestação intelectual. A antologia caiu em um terreno favorável, porque na França começava a moda do estruturalismo, notavelmente através da obra de Claude Lévi-Strauss, um grande etnólogo que viveu no Brasil, e também de alguns linguistas traduzidos, como Jakobson, entre outros. Traduzir os formalistas russos deu a impressão de que agora havia um ingrediente literário. Então essa ideia foi bem acolhida. Fiquei bem visto pelos colegas, por pessoas como Gerard Genette, Roland Barthes e outros menos conhecidos, que me encorajaram a fazer exatamente esse tipo de estudo. Então, dessa forma, continuei o que eu fazia na Bulgária e em condições infinitamente mais favoráveis, porque poderia fazer o que quisesse sem me preocupar com a censura. Jornal da UFRJ: O senhor dirigiu durante muitos anos a revista Poétique. Já havia nesse momento uma preocupação sobre a forma pela qual as obras literárias estavam sendo representadas como objeto de linguagem fechado. Poderia comentar essa fase? Tzvetan Todorov: Criei essa revista com Gerard Genette. Não queríamos afirmar que a obra literária era um objeto fechado em si mesmo, como diz a questão. Apenas pensávamos que, para ler bem uma obra literária, não bastava reunir informações sobre o contexto. Era necessário também ocupar-se muito dessa obra em si. Então, o que nós queríamos era completar o que já existia com um estudo interno da obra e não eliminar tudo o que fosse externo. Para provar, eu diria que, entre os estudos de obras que fiz nessa época, havia alguns que eram mais formais e outros que falavam do sentido e da ideologia que esse texto continha. Obras de James, Dostoievski ou de autores como Conrad me pareciam revelar melhor seu sentido se eu pudesse levar em conta também a estrutura, a análise interna. Mas era uma coisa e outra. Nossos admiradores ou discípulos muito rapidamente sistematizaram o que nós fizemos para elaborar uma espécie de catecismo estruturalista que desempenhou, por sua vez, um papel importante, sobretudo no ensino. Eu diria que menos na crítica, mas no ensino isso se tornou uma espécie de receita. Nunca houve a intenção, nem por Genette nem por mim, de obrigar os alunos a aprender as seis funções da linguagem de Jakobson, os quatro valores de Greimas, as 24 situações dramáticas etc. Isso é um tipo de redução da Literatura ao estudo do inventário retórico. Nós pensávamos que era necessário melhorar os instrumentos de análise, mas não pensávamos substituir o estudo das obras pelo estudo do instrumento. Jornal da UFRJ: Em seu livro A literatura em perigo (Difel, 2009), o senhor escreve que o prazer da leitura teria sido substituído pelo prazer da “engenhosidade analítica”, ou seja, um modelo que privilegia o “texto como um mundo à parte”. Como avalia o ensino da Literatura hoje? Tzvetan Todorov: Meu ponto de vista hoje é que não há uma ruptura entre a Literatura e o mundo em que vivemos. Ela deve ser vista seriamente e não como um brinquedinho, um pequeno objeto bem construído que nós podemos admirar por sua engenhosidade. Ela é muito mais ambiciosa, é um meio de conhecer o ser humano, a sociedade humana, a condição humana. Um meio que não é o da Ciência, da Filosofia e que, por essa razão, não pode ser reduzido a sentenças, como eu poderia dizer “sim ou não”, “verdadeiro ou falso”, mas que tem forças muito próprias que são as forças da imagem, do discurso, do ritmo, da sonoridade, que nos permitem revelar esse mundo que nos permeia melhor que qualquer outro modo. Formulei pouco a pouco a noção de que a Literatura é primeira Ciência Humana. Bem antes da Sociologia, da Psicologia ou da História, Homero, os poetas que inventaram o livro de Jó ou os evangelhos, as tragédias gregas ou a narrativa histórica Jornal da UFRJ 13 já desejavam compreender melhor o humano. Diria que, se a Literatura não tivesse essa ambição, não leríamos mais os autores do passado, não teríamos o prazer de brincar com jogos do século V. Se nós lemos Quixote, Shakespeare ou Guy de Maupassant, é porque nós temos a impressão de que, através das personagens deles, através dessa alteridade, podemos descobrir melhor o que nós mesmos somos, a vida que nos envolve, o nosso mundo. Jornal da UFRJ: Quais as razões históricas que levaram professores e críticos literários a privilegiar uma visão reducionista da Literatura, ou seja, uma visão do ensino da Literatura apenas como forma de acesso aos gêneros literários ou como tentativa de classificação da história da Literatura por períodos, em detrimento da leitura dos textos propriamente ditos? Tzvetan Todorov: Penso que o leitor comum que não fez estudos literários ou que não vai à universidade lê a Literatura sempre da mesma maneira, e lê para se distrair, para ter prazer. Mas, ainda assim, quando lê um grande romance ou um poema – porque isso acontece ainda –, ele tem a impressão de que essa obra fala com ele. Mas você tem razão de perguntar por que ela teve essa evolução. Na universidade ou na escola, mesmo fora desses espaços, há a concepção de que a Literatura mudou. Apresento em meu livro algumas hipóteses, porém é uma grande questão, e eu não posso garantir que aquelas hipóteses são as melhores. Acho que uma das razões é o impacto do 14 Jornal da UFRJ individualismo que a Filosofia e a visão de mundo contemporânea apresentam. Acredito que o individualismo deu atenção apenas à questão do conhecimento do ser humano e tornou, de certa forma, fútil o questionamento acerca do que é o homem. Essa questão está um pouco fora de moda hoje. Nietzsche dizia que não há verdade. O que existe são interpretações. Se nós acreditamos que não há mais do que interpretações, pode-se dizer que a verdade não existe. Tudo é relativo, tudo é arbitrário. Então, esse conhecimento do humano que a Literatura pode oferecer é o conhecimento dos escritores, mas não um conhecimento verdadeiro. Ela não me acrescenta nada de mais. Esse tipo de individualismo extremo que coloca em questão todos os valores, todas as certezas, é um ingrediente. Outro elemento é que, no século XX – não sei sobre o Brasil, mas acho que indiretamente vocês receberam essa influência – houve uma espécie de reação contra a dispersão individualista e isso deu lugar às ideologias totalitárias. Essas ideologias queriam executar um tipo de marcha à ré e restabelecer uma sociedade que seria moderna em sua tecnologia, mas antiga em suas estruturas. Todo mundo vigia todo mundo, mas há um chefe da vila e a tudo o que ele diz é necessário obedecer. Há o chefe de Estado e o rei absoluto que diz: “O Estado sou eu”. Essas palavras jamais foram mais verdadeiras que nos reinos de Stalin ou Hitler. Stalin podia mudar qualquer lei, qualquer regra. Sua vontade era a única coisa que contava. Sob essas condições, o sentido da Literatura que nós aprendemos evidentemente recebeu um grande golpe, já que a produção literária provinha da propaganda e não era uma exploração profunda da verdade humana. Em oposição, os países da democracia liberal que se viram numa situação mais ou menos de Guerra Fria passaram a rejeitar violentamente a ideologia. Eu diria que, por uma espécie de lógica do contraste, eles valorizaram o puro formalismo, uma separação entre o mundo da obra e mundo em que vivemos. Acredito que todas essas influências ideológicas que são subterrâneas e de longa duração agem para nos fazer esquecer o encanto da Literatura. Eu acrescentaria, para terminar, que a ideologia neoliberal ou ultraliberal – a que domina o mundo de hoje, começando na China, indo até o Chile, passando por muitos outros países – nos diz que os valores humanos são completamente submissos aos valores econômicos. E se acreditamos nesse pensamento, não há muito espaço para a Literatura – ela que nos fala do amor, dos sofrimentos do Forma & Sentido relacionamento entre pais e filhos, da beleza das obras, das paisagens ou das angústias individuais. Acho que um poema não possui nenhum valor de mercado. Ele não possui nenhum valor além da medida em que ele toca o homem, o leitor. Isso nós não podemos medir. Portanto, não há espaço no mundo de hoje. Jornal da UFRJ: Quais as consequências desse modelo de ensino para as novas gerações de leitores? A espécie humana sempre quis ver mais longe do que a sua existência imediata. Nunca se contentou só em se divertir. Desde a antiguidade, sempre existiram homens que fizeram avançar nossa compreensão do humano e eu acho que isso vai continuar. Os robôs não vão nos entender. Tzvetan Todorov: Eu diria muito brevemente que se pode compreender como a privação de uma das melhores heranças de humanidade. Depois de três mil anos, acumulamos uma sabedoria, uma compreensão do mundo. Portanto, não há nenhuma razão de privarnos e nós, que lemos alguns livros e temos contato com os autores do passado, temos o dever de manter essa chama acesa. Ajudar as novas gerações a alcançar isso não é fácil, porque existem, hoje em dia, muitas outras distrações, como a Internet, a televisão, o videogame. Mas não avalio que devamos nos desesperar. A espécie humana sempre quis ver mais longe do que a sua existência imediata. Nunca se contentou somente em se divertir. Desde a Antiguidade, sempre existiram homens que fizeram avançar nossa compreensão do humano e eu acho que isso vai continuar. Os robôs não vão nos entender. Jornal da UFRJ: Como o senhor avalia o futuro do livro no cenário das novas tecnologias e quais as novas configurações que a vida digital impõe às obras e aos estudos literários? Tzvetan Todorov: Acho que o problema é menor para os estudos literários, porque eles estudam o texto, qualquer que seja a forma em que ele é difundido. Quando lemos um romance numa tela, num livro eletrônico, num livro de bolso ou num Junho/Julho 2011 livro de luxo é o mesmo romance. Portanto, os estudos literários podem dormir tranquilos e continuar como já fizeram. Mas eu acho que isso vai influenciar, já influencia a Literatura em si mesma e a prática da leitura. Eu mesmo sou completamente formado – ou deformado – pelo mundo no qual existe o objeto livro e não consigo ler com a mesma facilidade um livro eletrônico. Eu gosto de ter o objeto livro, virar as páginas. Isso faz parte do meu prazer, mas eu posso conceber muito bem que meus filhos e os filhos deles passem a esses outros suportes. No entanto, o que gera interesse no livro não é o suporte, mas o texto. E o texto é imaterial. Ele pode passar de uma língua a outra, de um suporte a outro. A poesia viverá sempre, ainda que o poema esteja gravado numa rocha. Ainda que a Internet não existisse mais, que as fotocópias não existissem mais, que a máquina de escrever não mais existisse, usaríamos um martelo para fazer a escrita hieroglífica. O importante é o espírito humano e o espírito é imortal. Marco Fernandes Marco Fernandes Junho/Julho 2011 Entrevista Jornal da UFRJ 15 Marco Fernandes A precariedade dos sistemas de transporte público afeta profundamente a relação dos cidadãos com a cidade. Sobretudo no Rio de Janeiro, as deficiências nos serviços prestados por empresas de ônibus, trens e metrô colaboram para a segregação do espaço público, restringindo o contato com o outro e a possibilidade de experimentação da novidade. Tais análises acerca do papel dos meios de transporte na produção de espaços coletivos e sua importância para os processos de alteridade ocupam lugar central nos estudos etnográficos de Janice Caiafa Pereira e Silva, professora da Escola de Comunicação (ECO) da UFRJ. “O transporte coletivo ajuda a realizar a cidade”, afirma a pesquisadora, salientando a função desses meios para a partilha da cidade. Em entrevista ao Jornal da UFRJ, Janice Caiafa observa como a falta de investimentos na área afeta, particularmente, as populações de baixa renda, que não contam com outras opções para circular no ambiente urbano. A professora também analisa a passagem do direito de uso ao consumo na oferta de serviços de transporte. É o caso da gestão privada do metrô do Rio de Janeiro. “Somos tratados não como alguém que exerce o direito de uso daquele equipamento coletivo de serviço, mas como alguém que compra deslocamento”, relata a docente, que lançará um livro com base nos dados da pesquisa etnográfica sobre o cotidiano do metrô do Rio de Janeiro. Entrevista Janice Caiafa 16 Jornal da UFRJ Entrevista Junho/Julho 2011 Marco Fernandes Entrevista Janice Caiafa Partilhar a cidade Pesquisa recente do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) da UFRJ revela que a frota atual de 1,8 milhão de automóveis na cidade do Rio ultrapassará os três milhões até 2020, o que representará um carro para cada dois habitantes. “O veículo coletivo ocupa nove vezes menos espaço por passageiro transportado que um automóvel. O carro particular não poderia estar no futuro das cidades”, afirma a professora, autora dos livros Aventura das cidades: ensaios e etnografias (FGV, 2007) e Jornadas urbanas: exclusão, trabalho subjetividade nas viagens de ônibus na cidade do Rio de Janeiro (FGV, 2002), entre outras obras. Doutora em Antropologia pela Universidade de Cornell (EUA), com pós-doutorado pela City University of New York, Janice Caiafa está à frente da Coordenação Interdisciplinar de Estudos Culturais (Ciec), núcleo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura da ECO. A pesquisadora aponta que as medidas para gerar o “contágio” e a partilha urbana devem ser orientadas sempre em prol do uso coletivo do solo urbano. Nessa entrevista, a professora também reflete sobre a apropriação do Ensino Superior como fonte de rentabilidade para o capital e discute as limitações das novas tecnologias de Comunicação nas relações sociais. Márcio Castilho Jornal da UFRJ: Em que medida a qualidade dos meios de transporte pode afetar a relação do cidadão com a cidade? Janice Caiafa: O transporte coletivo tem um papel fundamental na relação que estabelecemos com a cidade, porque constrói acesso. O transporte coletivo distribui a população para longe das vizinhanças, promovendo heterogeneidade e legando a muitos a possibilidade de circular pela cidade. Por isso, ele tem uma função dessegregante em alguma medida. O transporte coletivo ajuda a realizar a cidade. A cidade se constitui historicamente como um meio heterogêneo e diverso. O historiador Lewis Mumford mostra que as funções urbanas somente se desenvolvem quando a cidade começa a atrair desconhecidos — outsiders. As cidades, segundo ele, não se constituem somente no quadro de um fenômeno de sedentarização, mas atraindo gente que vem de fora, seja comerciante ou até um inimigo invasor. Chamei isso de uma “captura atrativa”. É interessante observar, portanto, que, nos inícios das cidades, existe um movimento, um deslocamento, um nomadismo. Todos nos tornamos um pouco estrangeiros nesse contexto. Desenvolvi essa questão no livro Aventura das cidades: ensaios e etnografias. A cidade oferece um tipo de abertura, um tipo de inserção a esses desconhecidos, que não chega a ser, de fato, uma integração, mas é um tipo de pertinência. Claro que em muitos momentos essa potência das cidades, que está presente desde a sua constituição, pode ser neutralizada. Essa diversidade pode não produzir diferença, mas permanece no horizonte das cidades e somente se realiza com a produção de espaços coletivos. O transporte coletivo, precisamente, é um grande agente dessa dispersão urbana, desse movimento tipicamente urbano de produção de heterogeneidade, porque ajuda a partilhar a cidade e a produzir espaços coletivos. Realiza uma dessegregação provisória, que é essa noção que apresentei no livro Jornadas Urbanas. Não supera os códigos sociais, mas constrói esse tipo de dessegregação provisória e local, porque permite acesso, dá fuga, conduz as pessoas para longe, inclusive para longe do meio familiar. Mesmo no próprio veículo coletivo se constitui um meio heterogêneo de contato com desconhecidos, com estranhos. Tenho me interessado muito em explorar esse tipo de comunicação que é possível nas cidades, essa comunicação com estranhos. Tenho chamado de “comunicação da diferença” em contraste com o reconhecimento. É uma comunicação marcada pela imprevisibilidade dos encontros citadinos em que você se defronta muito mais com a novidade. Então, há um papel importante do transporte coletivo no povoamento das cidades e na realização da cidade como lugar de heterogeneidade. Esse contato com o outro, tornado possível na rua ou no transporte coletivo, é um grande agente que permite esse tipo de experimentação com a subjetividade, porque justamente nos transforma. Quando nos expomos às descontinuidades no meio diverso das cidades, experimentamos, em algum grau, a novidade. Por isso se pode falar em renovação dos processos subjetivos. O transporte coletivo produz um momento particularmente propício para essa experimentação porque ali se produz uma pausa em relação ao movimento da rua. Nele, você se coloca ao lado desses desconhecidos. É uma pausa. Isso permite uma chance especialmente interessante para essa experimentação subjetiva, para esse treino ético de conviver com os outros e de entender as necessidades de gente que você não conhece. Jornal da UFRJ: Analisando especificamente o caso da cidade do Rio de Janeiro, como a precariedade do transporte coletivo pode também refletir uma segregação do espaço público? Janice Caiafa: É interessante pensar como a precarização do transporte coletivo numa cidade inibe nossos movimentos, impede essa partilha da cidade e contribui para inviabilizar essa experiência das diferenças. Isso é particularmente cruel com os pobres, que, em geral, não têm outras opções Junho/ Julho 2011 de transporte. Não poder se mover numa cidade ou se mover a duras penas é uma enorme limitação. Segmentos inteiros de uma população podem ser condenados, fadados a uma imobilidade e, portanto, à exclusão. Essa é uma forma violenta de exclusão. Portanto, a precarização do transporte coletivo contribui muito para produzir segregação na cidade. Recentemente, em Ipanema, quando da inauguração da estação General Osório, houve um clamor entre algumas pessoas contra a chegada do metrô. Em Higienópolis, em São Paulo, bairro de alta renda, há quem se preocupe, também, com o projeto do metroviário. Tais pessoas querem justamente evitar essa partilha. Anos atrás, durante o governo de Leonel Brizola, a introdução dos ônibus “Padron” para ligar a Zona Norte à Zona Sul também gerou um clamor contra a implantação desses coletivos. Tudo isso diz respeito a partilhar ou não partilhar a cidade. No Rio de Janeiro, os ônibus são tradicionalmente precários. Os motoristas são extremamente explorados, correm como loucos. Os veículos têm problemas de manutenção estruturais. Tive oportunidade de conhecer bem essa situação na pesquisa sobre as viagens de ônibus que resultou no livro Jornadas urbanas. Os trens, que funcionam no modelo privado, também são precaríssimos. O metrô é, em geral, mais confiável, mas sofreu um abalo recentemente e as condições de viagem pioraram. Há o problema da relação do Estado com as concessionárias, nesse contexto. Em todos esses casos, a gestão é privada e, no caso dos ônibus, a propriedade também é privada. Esse regime de propriedade e gestão privadas mobiliza uma fórmula de poder em que os rodoviários são submetidos a um esquema muito apertado de exploração. Num modelo privado, o que se observa é que muitas vezes os próprios usuários são anexados ou colocados para produzir em alguma medida. A cidade inteira, de certa forma, é anexada. Há o problema também do subsídio ao automóvel privado. É uma figura da privatização do espaço urbano e da segregação das cidades. Tudo isso faz parte do quadro de precarização do transporte coletivo. Jornal da UFRJ: Uma estatística pode aprofundar a discussão sobre a relação entre transporte individual e perda do espaço público coletivo: nos últimos dez anos, a frota de veículos particulares em circulação na cidade do Rio de Janeiro registrou um aumento de 29,54%. Nesse período, a população carioca cresceu 7%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A Coppe-UFRJ revela que a frota atual de 1,8 milhão de automóveis ultrapassará os três milhões até 2020, o que representará um carro para cada dois moradores. Janice Caiafa: A primeira questão é que o automóvel particular realiza uma ocupação privada da via pública. O veículo coletivo ocupa nove vezes menos espaço por passageiro transportado que um automóvel particular. A ênfase na construção de viadutos e rodovias numa cidade e a preocupação com o escoamento de um Entrevista tráfego cada vez mais congestionado são anúncios empresariais, perceberemos que uma tentativa de viabilizar o transporte ali se busca, antes de tudo, fazer crer que em automóvel particular. O mesmo ocorre se está comprando um bom produto. Isso com os estacionamentos. O estacionamen- parece se tornar mais importante do que to é uma forma de preservação da pro- fornecer um bom transporte. É assim com priedade privada. Ele é sempre pago. Não a publicidade em geral, mas quando está existe, a rigor, estacionamento gratuito. A em jogo o fornecimento de um serviço, sociedade paga para o motorista de carro o problema se coloca mais fortemente. É particular ocupar a via pública. O carro importante, antes de tudo, observar como particular não poderia estar no futuro das o tratamento ao usuário e do espaço do cidades. Não apenas as administrações lo- equipamento coletivo muda nesse contexcais estimulam o automóvel particular. Re- to. Por exemplo, no caso da exploração do centemente o governo federal estimulou a espaço do metrô para anúncios de outras compra em massa de automóvel privado empresas. No contexto da gestão privada com a redução de impostos. Há também do metrô do Rio de Janeiro, há essa tena questão da desejabilidade do automóvel, tativa de exaurir esse espaço, de exploráuma situação laboriosamente construída lo ao máximo para extrair lucro também no contexto do capitalismo contemporâ- daí. Tanto nas gestões públicas quanto nas neo. O carro é um bem de consumo muito privadas, os anúncios são, de fato, uma almejado. Os anúncios publicitários ex- renda alternativa a que muito frequenteploram a sensação de poder que muitas mente os metrôs do mundo recorrem. O pessoas parecem ter com a posse de um desejável, por outro lado, é que essa renda carro. Claro que para o motorista de carro alternativa seja utilizada em prol da moparticular vai ficando mais difícil circular dicidade da tarifa. Esse é um princípio do nas cidades, mas justamente por culpa do transporte coletivo reconhecido pelo direiexcesso de veículos. to administrativo Não são os ônibus Acredito “As novas tecnologias brasileiro. os responsáveis que, no contexto pelos congestionanos trazem coisas que de uma gestão púmentos. Ao conblica, pode haver trário, eles contrirealmente precisamos mais chance de buem para esvaziar que isso se dê. Não conhecer e explorar. as ruas por sua alta está garantido, mas capacidade de cartemos mais chanAcho que o passo regamento. ces no contexto de uma gestão em que inicial para essa Jornal da UFRJ: Em o imperativo do sua pesquisa sobre negócio não toma aprendizagem é que o metrô, a senhoprecedência sobre ra problematiza as o aspecto do uso no nós sejamos mais “virtudes do negócio equipamento coleprivado”. Escreve tivo de serviço. modestos e sóbrios que “a aposta nas ao utilizarmos esses virtudes da privaJornal da UFRJ: O tização em suas que está por trás da novos recursos e ao várias modalidades relação entre Estado é uma conclusão e iniciativa privada falar sobre eles”. apressada. Não que na gestão de serviços se possa extrair daí públicos? Por que o também alguma Estado abdica desse qualidade, mas não nos pode escapar os papel? novos problemas que se colocam”. Quais Janice Caiafa: Trata-se de um fenômeno os problemas do transporte metroviário no do capitalismo contemporâneo. É uma Rio de Janeiro, especialmente após a priva- figura das mutações que o capital vem sotização? frendo, porque cada vez mais as atividades Janice Caiafa: Como mostram os dados vão passando para os domínios do lucro da pesquisa, que deve resultar também privado. Esse processo começou a se agraem livro, é possível também perceber no var no pós-guerra e, mais ainda, nos anos metrô esse atrito entre o serviço e o negó- 1980, com uma série de privatizações. O cio. É interessante observar, por exemplo, Brasil acompanhou isso. Tipicamente, nescomo somos tratados como clientes e não sa nova fórmula de poder do capitalismo como usuários. Somos tratados não como contemporâneo, o Estado tende a recuar e alguém que exerce o direito de uso daque- a figura da empresa ganha proeminência. le equipamento coletivo de serviço, mas O Estado assume então esse papel de viacomo alguém que compra deslocamento. bilizar o negócio. As atividades que antes Esse tratamento muda tudo na operação eram preservadas das ambições do negóde um equipamento coletivo de serviço. O cio vão passando para os circuitos do lucro próprio Estado trata o usuário como con- privado. A Constituição brasileira tem a fisumidor, porque ele é supostamente pro- gura da concessão do serviço público, por tegido pela legislação de proteção ao con- exemplo, mas diz que o Estado continua sumo. Isso é curioso, pois não é o direito responsável pelo fornecimento do serviço, de uso que é levado em consideração. Em embora isso possa não ter muitas repergeral, diria que ainda não se considerou o cussões práticas. suficiente essa fricção entre serviço e negócio. Se observarmos as interpelações dos Jornal da UFRJ: É possível refletir o uso e Jornal da UFRJ 17 o consumo em outras instâncias? A Educação, por exemplo, em diferentes níveis também é apropriada como fonte de rentabilidade para o capital? Janice Caiafa: É possível perceber, sim, essa questão do direito de uso, do consumo e da presença da empresa em outros setores, que não o do transporte. Nas instituições privadas de Ensino Superior, o estudante também costuma ser tratado como cliente, como consumidor. É interessante observar que, nesse contexto, a produção de conhecimento não vinga. Há algumas instituições privadas que conseguem algum êxito, mas podemos observar que, em geral, isso ocorre com a ajuda do Estado, quando o imperativo do lucro não se impõe tão peremptoriamente. Temos outro problema mais insidioso: é quando aspectos da gestão privada atingem a universidade pública. Gilles Deleuze, escrevendo sobre essa fórmula de poder, sobre as novas mutações do capitalismo, observa como há uma onipresença da figura da empresa em todas as instâncias. É característico dessa nova lógica do capital na contemporaneidade. Deleuze diz que a empresa é um gás, nós a respiramos. Ainda nesse contexto, temos o imperativo do novo e a confusão entre o novo e o recente. Na indústria, há a questão, por exemplo, da obsolescência programada. Os objetos são programados para incorrer em obsolescência. Não apenas objetos industriais, mas também atividades e práticas. Esse aspecto da obsolescência se agrava particularmente no contexto do capitalismo a partir do pós 2ª Guerra Mundial. Todos querem ser portadores do novo, o novo como um valor em si. É um “dinamismo” que se tenta imprimir à empresa e que pode contagiar administrações públicas. É preciso mudar a qualquer preço. Se prestarmos atenção, a questão dos dividendos em curto prazo vem ocorrendo na universidade pública. Um exemplo concreto são os professores cada vez mais submetidos a uma avaliação de cunho quantitativo. Eles são estimulados a produzir num ritmo que evoca essa questão dos dividendos em curto prazo. É claro que o professor pesquisador tem que escrever sempre e publicar constantemente para dialogar com seus colegas, com seus alunos e leitores. O problema se coloca quando o imperativo da quantidade predomina. Os próprios estudantes de pós-graduação também enfrentam isso, hoje. É preciso apresentar resultados precocemente, mas o pensamento precisa de maturação, de duração. Há outros aparecimentos da figura da empresa se pensarmos nos pacotes do governo, seja criando bolsas nas instituições privadas em nível de graduação, seja estimulando um tipo de expansão que também se baseia em dividendos, em metas, e muitas vezes sem garantia de contrapartida orçamentária suficiente. São todos casos, me parece, desse funcionamento empresarial. Jornal da UFRJ: A relação da universidade com o mercado em vários campos de conhecimento também pode ser problemática? Janice Caiafa: Também. Há outras figuras: especializações pagas, chamadas lato sen- 18 Jornal da UFRJ su, tão comuns hoje na universidade pública. É um contágio com a fórmula empresarial. Há associações e parcerias, que a gente encontra muitas vezes na figura do apoio. As empresas investem hoje, cada vez mais, na imagem da marca. Pode interessar a uma empresa se associar à produção de conhecimento ou mesmo aparentar que ela mesma produz conhecimento. É preciso, então, colocar seu logo nesse tipo de realização. Há ganhos financeiros e também políticos. Jornal da UFRJ: Em prejuízo da autonomia do professor... Janice Caiafa: Exatamente. Isso pode custar caro à autonomia de pensamento, que tradicionalmente se cultivou e se cultiva na universidade pública brasileira. Mas claro que essa entrada não está tão franqueada assim. Há vários casos de recusa. Algumas pessoas percebem o risco, mas é um problema que enfrentamos. A privatização das universidades públicas não ocorre de uma vez por todas. Ela é paulatina e são práticas privatizantes que vão sendo introduzidas aos poucos. Jornal da UFRJ: As novas tecnologias de comunicação apresentam que tipo de configuração nos processos de alteridade? Janice Caiafa: Há muitas possibilidades que essas novas máquinas informáticocibernéticas, emblemáticas do nosso tempo, sobretudo a Internet, nos trazem. Acho que ainda é preciso aprender a explorá-las. Uma coisa que impede essa aprendizagem é a adesão imediata sobre os benefícios da comunicação por computador, que é, de fato, bastante frequente. A partir de Foucault, Giorgio Agamben ressalta que todo dispositivo de poder se produz por “assujeitamento”. É preciso produzir um sujeito contemporâneo ao dispositivo que se produz com ele. Caso contrário, seria um mero processo de violência. Portanto, o mais difícil é se descolar do dispositivo ou criticá-lo. Nesse contexto, é importante perguntar que tipo de relação é essa que estabelecemos na rede que poderia merecer um status tão privilegiado de substituir os encontros face a face, por exemplo? O laço social somente se estabelece na relação com o outro. Deleuze escreve que, na experiência ordinária, a figura de outrem nos traz mundos possíveis. Ele afirma que o papel de outrem na vida social é a expressão de um mundo possível. O que eu não vejo ou o que eu desconheço me é trazido como possibilidade pela presença de outrem. A presença de outrem garante, poderíamos dizer, um engajamento. Ela é um tipo de engajamento sem o qual a vida social não se produz. Qual o tipo de engajamento que ocorre nas relações na rede? Ao nos envolvermos com esses outros, com quem dialogamos nessas relações, na rede, podemos fazer uma série de manobras. Podemos nos colocar de forma a esvaziar as discussões, multiplicando os comentários até a exaustão, ou cessando de postar ou enviar qualquer coisa, podemos construir um perfil falso etc. De fato, pode não haver, a rigor, um engajamento. Muitos usam esse tipo de presença para Entrevista Junho/Julho 2011 não correr riscos. No mundo do trabalho, por exemplo, é comum pessoas que ocupam posições de comando usarem esses recursos para esvaziar discussões, controlar o movimento, para desmobilizar. Pode acontecer que, de fato, não entremos em relação com o outro, permanecendo em torno de nós mesmos. Pode ser diferente, mas não está garantido. O engajamento político propriamente e também esse que está na base do laço social - envolve exposição à alteridade, à diferença, funciona introduzindo risco. gajamento prévio. Em outros casos, vão se mobilizar para fazer pequenas coisas. Por vezes, coisas expressivas podem acontecer. Sabemos de boicotes a empresas. Isso traz algum prejuízo para os capitalistas. As novas tecnologias nos trazem coisas que realmente precisamos conhecer e explorar. Acho que o passo inicial para essa aprendizagem é que nós sejamos mais modestos e sóbrios ao utilizarmos esses novos recursos e ao falar sobre eles. Teríamos mais sucesso em descobrir suas possibilidades criadoras sem essa adesão impensada. Jornal da UFRJ: Para além das limitações da rede como promotor de laços sociais, como a senhora avalia a possibilidade de as novas tecnologias de comunicação cumprirem um papel de agente de democracia, abrindo os fluxos da comunicação especialmente em países com forte restrição às liberdades individuais? Janice Caiafa: Podemos pensar no engajamento político, no sentido mais comum. Existe um tipo de interferência que você faz com um clique: “clique aqui para resolver esse ou aquele problema”. Nesse caso, há a ilusão de que você participou. Podemos ficar satisfeitos com isso. Claro que há um poder convocatório extraordinário, imenso e que pode levar as pessoas a agir. Avalio, porém, que elas somente agirão para uma causa importante a partir da convocação na rede se elas já estiverem engajadas e mobilizadas para aquilo, se fizeram alguma militância ou leram algum livro, por exemplo. Se convocadas, elas se engajarão mais ainda. Mas elas têm um en- Jornal da UFRJ: Quais as alternativas para produção do coletivo e possibilidades de “contágio”? Janice Caiafa: Há uma série de medidas concretas que podem ser tomadas pelas administrações das cidades. Tais medidas serão sempre em prol do uso coletivo do solo urbano: fornecer um bom transporte coletivo e priorizar a construção de espaços públicos, nesse caso, preocupando-se com todos os detalhes, inclusive estéticos. É preciso torná-los habitáveis para que as pessoas possam desejar ocupá-los. Outras medidas incluem levar o desenvolvimento urbano no Rio de Janeiro, por exemplo, para regiões e vizinhanças que hoje são tão negligenciadas, como a Zona Norte e a Zona Oeste – e não apenas aquelas que recebem a denominação de favelas. É preciso ainda levar adiante a urbanização para além da privilegiada Zona Sul, descentralizando esse processo de urbanização. O transporte coletivo pode ser um grande agente desse processo de descentralização, Marco Fernandes levando desenvolvimento para essas regiões. Especialmente o metrô, que admiravelmente constrói acesso. Ele promove os lugares, coloca as regiões no mapa da cidade. Ele não faz isso sozinho, mas fará uma grande parte. É desejável que o transporte metroviário seja o principal meio de transporte na cidade e que os ônibus sejam complementares. No Rio de Janeiro, temos o contrário. O metrô é quase complementar às integrações de tanto que predomina a opção rodoviária. É crucial proporcionar um transporte coletivo bom, confiável, eficiente e que se preste a essa função dessegregadora, que se ofereça como lugar de experimentação. Para a produção desse transporte coletivo eficiente, é preciso preservar o seu caráter de serviço público e não deixar que se imponham os interesses privados. Para promover esse uso coletivo do espaço das cidades, pode ser preciso tomar outro tipo de medida – não a medida que proporciona, mas que limita, forçando a partilha. Colocar-se ao lado do usuário do transporte coletivo e ao lado do pedestre – em geral, eles coincidem. Medidas que limitam, por exemplo, não oferecendo as ruas para que se estacionem carros. Também pode ser interessante para algumas cidades limitar o acesso de carros particulares a certas regiões, em alguns horários, para forçar a partilha. Isso não se faz facilmente e pode ser necessário introduzir uma regra. Se não houve uma aprendizagem ética, pode ser preciso colocar regra. Claro que somente é possível tomar essas medidas limitadoras quando também se proporciona. Para limitar o uso do carro, tem que fornecer um bom transporte coletivo. As medidas que proporcionam então são, de fato, as mais importantes. Com algumas medidas concretas a favor do uso coletivo do espaço das cidades, as pessoas vão ser atraídas para ocupá-las e vão realizar a cidade. É a presença das pessoas que realiza a cidade. É preciso atraí-las para ocupála. Por isso, o transporte tem que ser bom e o espaço público, confortável e bonito, para atrair as pessoas a ocupá-lo. Jornal da UFRJ: O Rio de Janeiro passa por uma década de transformações urbanísticas em razão da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Como avalia essas mudanças? Janice Caiafa: O importante é que toda essa mobilização seja orientada para tornar a cidade mais habitável. Antes de tudo, uma cidade precisa ser hospitaleira para seus habitantes para ambicionar receber outros. Frequentemente, durante a preparação da cidade para esses grandes eventos internacionais, os equipamentos construídos caem em desuso, fazendo com que a população aproveite muito pouco. A preocupação tem que ser a de tornar a cidade mais hospitaleira para os que vêm de fora, mas torná-la também acolhedora para todos, inclusive para seus habitantes, que vão se tornar um pouco estrangeiros na mistura urbana, nesse contágio. Acho que todas as medidas tomadas deveriam contribuir para tornar a cidade hospitaleira e habitável e o que for mobilizado possa ser usado pelas pessoas depois da Jornal da UFRJ Junho/Julho 2011 19 Conect@dos, porém controlados Conectar-se ou não conectar-se, eis a questão. As redes sociais estão ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. De acordo com estatísticas da transnacional ComScore – empresa estadunidense, com filial em São Paulo, especializada em estatísticas na Internet - divulgadas em fevereiro deste ano, existem 40 milhões de brasileiros conectados à Internet. Desses, 32 milhões acessam o site de relacionamentos Orkut. Em segundo lugar, aparece o Facebook, que computa 18 milhões de usuários. Outros dispositivos como Messenger, MySpace (com cerca de 100 milhões de cadastros em todo o mundo), YouTube, Twitter e Foursquare também ganham .força no país quando o assunto é conectar e dar visibilidade aos usuários da rede mundial de computadores Pedro Barreto O ritmo frenético de crescimento das redes sociais, no entanto, dificulta a análise dos números. Estima-se que o MySpace, site de relacionamentos com enfoque na música, ganhe cerca de 300 mil novos usuários por dia em todo o mundo, tornando caduca qualquer estatística de mais de uma semana. Já o YouTube, página virtual de compartilhamento de vídeos, recebe aproximadamente 100 milhões de visitantes por dia e exibe cerca de 70 mil vídeos por minuto. Considerando o ainda precário acesso do brasileiro à Internet, dado o alto custo da conexão de banda larga para a grande parte da população, qual o motivo de tamanha adesão? De acordo com Henrique Antoun, professor da Escola de Comunicação (ECO) da UFRJ, o crescimento dessa forma de sociabilidade é um fato natural. “As redes sociais estão sendo utilizadas para fazer de modo mais horizontal aquilo que o público brasileiro já faz: conversar, ‘azarar’, fazer grupos para essa ou aquela causa”, analisa o docente, pesquisador do futuro da democracia na cibercultura. Segundo ele, “em vez de pensar a sociedade do alto para baixo, a partir de hierarquias e movimentos de terror, de medo, que é o que está na essência de pensadores como Hobbes, agora você pode pensar uma formação social que venha num plano de sociabilidade, de relações e interações em que cada indivíduo intervém e que cria uma tessitura”. Antoun recorre ao pensador francês Michel Foucault, para analisar o fenômeno das redes sociais. “O conceito de ‘Biopolítica’ inverte a importância das relações sociais, fazendo 20 Jornal da UFRJ Comportamento Junho/Julho 2011 Marco Fernandes Para Paula Sibilia, as redes sociais não são a causa, mas, sim, um sintoma “da mudança na subjetividade contemporânea”. com que as relações de amizade e afetividade tenham maior preponderância do que as verticais de hierarquia, de comando, de dominação”, afirma o acadêmico, segundo quem Foucault restabelece a visão de cultura como “algo que cai do céu e se abate sobre os homens, em nome de um simbólico que ninguém sabe direito de onde vem”, para uma noção de “luta social”. Na análise do pesquisador, “a Biopolítica vem exatamente mostrar que as pessoas agora reivindicam um poder sobre a sua própria subjetividade”. Já para Paula Sibilia, professora do Programa de Pós-graduação em Comunicação e do Departamento de Estudos Culturais e Mídia da Universidade Federal Fluminense (UFF), as redes sociais não são a causa, mas, sim, um sintoma “da mudança na subjetividade contemporânea”. Em sua tese de doutoramento, O show do eu: a intimidade como espetáculo (ECO-UFRJ, 2008), que foi transformada em livro pela Nova Fronteira, a antropóloga analisa o surgimento dos blogs. Segundo a pesquisadora quando foram lançados, os blogs eram uma espécie de diários íntimos de pessoas anônimas, mas se disseminaram rapidamente e, hoje, funcionam como ferramentas corporativas de grandes empresas, sites noticiosos etc. Em sua pesquisa, a Sibilia aponta que a cada dois segundos, três novos blogs são criados. Sociedade do controle O show do eu analisa o desejo de exposição do sujeito na esfera con- temporânea, “que estimula a hipertrofia do eu até o paroxismo, que enaltece e premia o desejo de ‘ser diferente’ e ‘querer sempre mais’”. De acordo com Paula Sibilia, o flaneur do século XIX, que se perdia na multidão, deu lugar a um sujeito ávido por exibir-se. Tal mudança relaciona-se com a passagem da “Sociedade Disciplinar”, de Foucault, para a “Sociedade do Controle”, de Deleuze. “Há o desejo de se conectar, e esta vontade, dos sujeitos desta época, é muito complexa. Sentimos-nos cada vez mais presos. Podese saber onde você está, que compras está fazendo etc”, aponta a professora do Instituto de Artes e Comunicação Social (Iacs) da UFF. Em sua obra, Sibilia aponta indícios de como a “Sociedade do Controle” atua sobre os indivíduos na constituição de uma nova subjetividade. “Uma organização social ancorada no capitalismo mais desenvolvido da atualidade, que se caracteriza pela superprodução e pelo consumo exacerbado, no qual vigoram os serviços e os fluxos de finanças globais. Um sistema articulado pelo marketing e pela publicidade, mas também pela criatividade alegremente estimulada, ‘democratizada’ e recompensada em termos monetários”, explica a pesquisadora. Sibilia refuta a tese de “servidão voluntária”, conceito de La Boétie, filósofo francês do século XVI, segundo quem, grosso modo, os povos subjugados buscam sua própria dominação. “Não seríamos escravos. É um tipo de prazer mais complica- do. Ninguém te obriga. Fazemos por prazer. Eu acho que é um problema de outro tipo de liberdade. Cada vez é mais difícil não nos conectarmos. É voluntário sim, mas não como servidão. Há uma pressão por nos conectarmos no mundo. Não é somente o mercado, tem a ver com o projeto de vida que escolhemos”, explica a professora. Para ela, essa mudança na sociabilidade, “o modo como nos constituímos como sujeitos do mundo contemporâneo”, teve início nos últimos 50 anos. “A visibilidade foi crescendo ao longo do século XX. Há uma demanda por visibilidade e conexão. As redes sociais não são a causa desse desejo, ele é anterior e foi reforçado pelas novas tecnologias”, completa Sibilia. Henrique Antoun concorda que estejamos vivendo em meio a “Sociedade do Controle”. No entanto, o pesquisador faz questão de distinguir os mecanismos pelos quais a disciplina e o controle são exercidos: “Todos esses mecanismos das redes sociais são mecanismos de controle, mas o controle não funciona como a disciplina. O controle é mais sutil, mais terrível, mais abusivo, implica mecanismos diferenciados. Você investigar a vida de um trabalhador para fins de conceder-lhe empréstimo financeiro, isso é controle. Porque você ‘detona’ o salário do ‘cara’ e o faz trabalhar cada vez mais para pagar os empréstimos”. Para Antoun, a diferença fun- damental está em notar que, no mundo contemporâneo, não há mais a “submissão” – voluntária ou não – presente na sociedade disciplinar. “A luta é muito mais sutil, muito mais balanceada. Não há dúvidas de que são instrumentos de poder, sim, e são ligados ao novo capitalismo: cognitivo, financeiro, a todos esses novos mecanismos imperiais, a formação do mundo atual”, completa o professor da ECO. Resistência Segundo Antoun, entretanto, o perigo maior Junho/Julho 2011 na contemporaneidade não está nas redes sociais, mas, sim, em um velho conhecido meio de comunicação de massa, ainda muito presente na vida. “Estou submetido à tevê porque ela me invade. Eu não compro o aparelho, mas ela está em todo lugar. A tevê gera demandas das mais diversas, ideológicas, sociais, que, de repente, viram a ordem do dia e, se você não está vendo, pode se assustar”, exemplifica o docente. Nas redes sociais, Antoun admite que possa haver tentativas de controle, mas percebe um potencial maior de resistência social. O professor compara as recentes insurreições no Irã e no Egito, quando os manifestantes utilizaram as redes sociais para a mobilização e a articulação de ações de campanha: “O controle ainda tem uma abertura que faz com que ele não esteja totalmente subsumido sob as formas antigas de poder. Então, Jornal da UFRJ Comportamento ele proporciona meios de resistência e tem sido usado amplamente desta forma, mas o tempo inteiro é ambivalente. Tanto o Facebook como o Twitter tentam minimizar as áreas de resistência onde não interessam e maximizá-la nas áreas de seus interesses. Então, se você está lutando contra a ditadura iraniana, isso toma um influxo que não tem tamanho. Mas se é para combater o governo egípcio, começa a apanhar, porque não interessa ao Departamento de Defesa dos EUA, a Praça Tahir abarrotada de gente pra derrubar Mubarak”. O docente cita o caso brasileiro para demonstrar como os tradicionais veículos de comunicação não detêm tanto poder como antes. Antoun lembra a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006, após os jornais e emissoras de tevê veicularem incansavelmente matérias acerca do episódio que passou a ser conhecido como “mensalão”, que, mesmo assim, não impediu a vitória do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) no pleito à Presidência da República. “Lula ter se reeleito não marca o sucesso de uma política econômica, porque isso sempre foi insuficiente para eleger alguém. Mas, sim, o sucesso dos vazamentos que essa mídia social, distribuída, porque, em uníssono, os quatro grandes veículos de comunicação do país batiam na tecla da falência total do governo e da corrupção do governo do PT”, recorda o pesquisador. O mesmo aconteceu na eleição de 2010 quando, de acordo com o professor da ECO, a mídia convencional apoiou o candidato José Serra, do 21 Tecno-apartheid Em O show do eu, Paula Sibilia chama a atenção para um curioso paradoxo. Se for verdade que aumenta, a cada instante, o número de usuários de redes sociais em todo o planeta, este contingente não representa sequer 20% da população mundial. “Hoje, por exemplo, apenas um bilhão dos habitantes de todo o planeta possui uma linha de telefone fixo; desse total, menos de 1/5 têm acesso à Internet por essa via. Outras modalidades de conexão ampliam esses números, mas, de todo o modo, continuam ficando fora da rede pelo menos cinco bilhões pessoas. O que não chega a causar espanto se for considerado que 40% da população mundial, quase três bilhões de pessoas, tampouco dispõem de uma tecnologia bem mais antiga e reconhecidamente mais básica: o vaso sanitário”, ilustra a autora. Sibilia denomina tecno-apartheid o fato de 43% das senhas de acesso à Internet em todo o mundo estarem localizadas na América do Norte, enquanto apenas 4% estão na América Latina, pouco mais de 1% no Oriente Médio e menos ainda na África. Nascida na Argentina e radicada no Brasil, a professora do Instituto de Artes e Comunicação Social (Iacs) da UFF compara os dois países no quesito conexão à Internet. Se nosso país é o líder em números absolutos no Continente Latino-americano (40 milhões de pessoas com acesso à Internet), em termos proporcionais de conexões/ número de habitantes, caímos para o quarto lugar na América Latina e ficamos no 62º posto em escala global. “Dessa quantidade, apenas 3/4 dispõem de conexões residenciais, e, de fato, são apenas 20 milhões os que se consideram “usuários ativos”; ou seja, aqueles que se conec- Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) contra Dilma Rousseff (PT). “Eleger o sucessor era coisa que não acontecia na nossa República há 60 ou 80 anos. Acho que o último sucessor que foi eleito foi Washington Luiz. A eleição de Dilma contou com momentos difíceis em que a mídia distribuída teve papel decisivo”, opina Antoun. Paula Sibilia recorda ainda o recente episódio da professora Amanda Gurgel, da rede pública de Ensino do Rio Grande do Norte, cujo vídeo reivindicando melhores salários para a categoria ganhou destaque nacional, ocupando espaço mesmo nos veículos de mídia convencional no Brasil e no exterior. No entanto, a professora do Iacs da UFF relativiza essa forma de resistência. “Evi- taram pelo menos uma vez no último mês”, esmiúça a pesquisadora, chamando a atenção, ainda, para o fato de que 120 milhões de brasileiros ainda não têm nenhum tipo de acesso à rede, o que corresponde a 80% da população. Já na Argentina, os 15 milhões de usuários conectados representam 42% da população do país. “Porém as conexões residenciais não passam de 3 milhões; a maior parte dos argentinos acessa esporadicamente a rede, a partir de cybercafés ou lan houses. Quase 2/3 desse total se concentram na cidade ou na província de Buenos Aires; enquanto nessas áreas as conexões de banda larga têm uma penetração de 30%, nas regiões mais pobres do norte do país essa opção não atinge sequer 1%”, esclarece Sibilia. A pesquisadora, assim, destaca a relevância de observarmos como a exposição exacerbada dos indivíduos conectados à rede, em oposição àqueles que não estão representados neste ambiente, ou seja, excluídos até virtualmente: “Apenas uma porção das classes média e alta da população mundial marca o ritmo dessa ‘revolução’ de você e eu. Um grupo humano distribuído pelos diversos países do nosso planeta globalizado, que, embora não constitua em absoluto a maioria numérica, exerce uma influência muito vigorosa na fisionomia da cultura global. Para isso, conta com o inestimável apoio da mídia em escala planetária, bem como do mercado que valoriza seus integrantes (e somente eles) ao defini-los como consumidores - tanto da Web 2.0 como de tudo o mais. É precisamente esse grupo que tem liderado as metamorfoses do que significa ser alguém - e, logo, ser eu ou você — ao longo da nossa história recente”. dente que existem possibilidades de resistência, mas questiono esse termo (resistência). Cresce de forma incrível o número de usuários de Facebook, do Twitter, do YouTube. Está no auge essa forma de se relacionar. Mas não é aí que vamos encontrar resistência. O corpo dócil e útil é aquele hiperconectado”, argumenta a pesquisadora. Para ela, ainda não descobrimos uma nova forma de liberdade que não aquela que nos é apresentada. “O que é liberdade? Obviamente, somos muito livres como sujeitos históricos. Nunca fomos tão livres. Mas há uma liberdade que não temos? Talvez as redes sociais estejam obscurecendo, por exemplo, a liberdade de não nos conectarmos, algo que nós não conhecemos”, aponta Paula Sibilia. 22 Jornal da UFRJ Programa de Bonificação por Resultados Prêmio ou punição? Os índices de avaliação do governo federal revelam que a qualidade do ensino público na Educação Básica do país vai mal. Mas o que fazer para melhorá-lo? Os desafios são muitos. No Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Educação lançou o Planejamento Estratégico da Educação, que vem causando polêmica em função das metas propostas. Vanessa Sol N o início deste ano, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) do Rio de Janeiro divulgou o Planejamento Estratégico da Educação para o estado. Dentro do escopo do planejamento desenvolvido pela Seeduc, foi criado o Programa de Bonificação por Resultados (Resolução Seeduc nº 4.669 de 04/02/2011) que visa à gratificação dos servidores que trabalhem nas escolas e nas diretorias regionais. O bônus será concedido ao trabalho em equipe que alcance ou supere as metas propostas pela secretaria, que promete aporte de recursos financeiros chegando a R$ 140 milhões, e que o professor que atingir as metas pode receber até três salários a mais por ano. O programa de avaliação e bonificação em função do desempenho da escola, contudo, não agradou aos professores. Para Quincas Rodriguez de Souza, professor de História da rede pública estadual, o plano de metas da Seeduc está inserido numa lógica empresarial e produtivista da educação. “Nessa concepção, o professor é visto como uma ferramenta e o problema da educação (que é muito amplo) se transforma, simplesmente, em um problema de gestão”, destaca o docente. A medida, no entanto, não é propriamente nova. Ela vem sendo adotada por países estrangeiros, como os Estados Unidos da Améri- ca (EUA), e, no Brasil, não apenas o governo estadual do Rio de Janeiro utiliza o sistema. Em São Paulo, a bonificação vinculada ao rendimento das escolas já vem sendo utilizada, assim como na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Márcio da Costa, professor da Faculdade de Educação (FE) da UFRJ, explica que a utilização desse tipo de política visa a criar responsabilidade para todos aqueles que participam do processo educacional. “A adoção desse tipo de política, que pode ser chamada genericamente de responsabilização, é crescente no mundo inteiro. O prêmio seria uma das possibilidades de investir na responsabilidade dos atores envolvidos no processo educacional, a fim de que eles, de alguma maneira, respondam por suas escolhas, decisões e procedimentos”, avalia o especialista em Política Educacional. Márcio da Costa destaca, ainda, que essa política pode utilizar variáveis distintas, mas a que vem sendo adotada é a de recompensar a partir da medição de determinados indicadores, considerados como de desempenho escolar. Contudo, o professor explica que a adoção desse tipo de política pode envolver um conjunto de problemas e armadilhas. “Sou a favor da política de responsabilização, mas a quantidade de possíveis consequências não intencionais, efeitos perver- sos, possibilidades de dribles que podem ser dados nela, em suma, a eventualidade de ser nebulosa e vulnerável a ingerência política é grande, de tal forma que em determinados contextos é preferível não adotá-la”, enfatiza o pesquisador. Ana Maria Monteiro, professora e diretora da Faculdade de FE, alerta ainda para o discurso que acompanha o sistema de avaliação implantado, no qual os problemas do sistema educacional brasileiro são atribuídos ao professor. “Quando o sistema de avaliação é aplicado à Educação Básica, ele vem acompanhado de um discurso muito intenso de denúncia sobre a má formação do professor. Essas ideias ficam associadas e cria-se um consenso de que a educação brasileira vai mal, com resultados baixos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - avaliação instituída pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério de Educação (Inep) do Ministério da Educação -, porque a culpa é do professor e que ele está mal formado. Não podemos jogar a culpa somente no professor”, ressalta pesquisadora do Ensino de História. Alvo errado Há vários fatores envolvidos na questão da baixa qualidade da Educação Básica pública do país e a possível má formação de professores não é, em definitivo, o fator mais importante nessa questão. A desvalorização dos profissionais de educação e os baixos salários a eles pagos; a falta de uma política de maior vínculo do profissional com a escola; a falta de infraestrutura e de melhores instalações físicas; a violência que assola as instituições em regiões de alto risco social; entre várias outras situações, interferem no desenvolvimento e nas práticas de ensino. Na opinião de Ana Maria Monteiro, pelo fato de o sistema ser falho, surge a necessidade de avaliálo. Entretanto, da forma como ela é implantada e realizada, torna-se uma punição para os professores, que, na verdade, continuam a ser uma das vítimas do sistema. “Avaliar uma instituição pública é cor- Jornal da UFRJ 23 apoio técnico e recursos financeiros para os estados e municípios que apresentarem fragilidades em seu sistema de ensino. Até 2022, o Ministério da Educação deseja que o Ideb brasileiro seja 6,0. A média é compatível com um sistema educacional de qualidade, comparável ao de países desenvolvidos. Contudo, o Rio de Janeiro apresentou o segundo pior desempenho entre os estados da Federação, estando à frente apenas do Piauí. Na avaliação realizada em 2009, cujo resultado foi divulgado em 2010, as escolas estaduais do Rio de Janeiro obtiveram 2,8 pontos, quando a meta projetada era 2,9. Para o exame a ser realizado em 2011, a meta projetada é de 3,1. Para André Jorge Marinho, que também é professor da rede pública estadual de Ensino do Rio de Janeiro, esse tipo de avaliação não ajuda a construir uma política educacional de qualidade: “A avaliação é um ‘calcanhar de Aquiles’, pois esse modelo leva em consideração apenas a nota do aluno e tem pouca capacidade de avaliar, por exemplo, o desenvolvimento cognitivo do estudante, a socialização e outras questões”. reto, porque é um investimento público realizado com os impostos, verifica-se como os recursos são utilizados para custear o funcionamento da instituição. Nessa lógica, seriam detectadas as fragilidades do sistema a fim de solucioná-las. Realizada dessa maneira, a avaliação não é ruim. Porém, quando se cria uma avaliação e se atribui uma gratificação em função de resultados (em condições desfavoráveis ao ensino), ela acaba virando punição”, destaca a professora. Para Quincas Rodriguez, a implantação do Programa de Bonificação por Resultados afeta toda a comunidade escolar. Em sua opinião, a medida impossibilita a gestão democrática da escola assim como a autonomia de seus projetos político-pedagógicos. “Os professores agora devem seguir cartilhas e manuais e aplicar avaliações padronizadas. A isso eu denomino de ‘neotecnicismo’. Sem o reconhecimento do seu saber, o professor é transformado em um repetidor de fórmulas e modelos, eliminando da sala de aula a possibilidade da construção de um espaço de re- flexão crítica e de conhecimento”, aponta o docente. Índices e metas Para a Seeduc, o Planejamento Estratégico da Educação tem como objetivo melhorar a qualidade do Ensino Médio da rede pública estadual que, de acordo com o resultado do último Ideb, não atingiu as metas almejadas pelo Ministério da Educação. O Ideb é considerado um indicador de acompanhamento das metas de qualidade do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) para a Educação Básica, que compreende os ensinos Fundamental e Médio. Desde 2005, o Ideb mensura a qualidade das escolas da rede pública de todo país. O cálculo é feito com base na taxa de rendimento escolar e no desempenho dos estudantes no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e na Prova Brasil. Para isso, foram estabelecidas metas bianuais de desempenho para cada rede pública de ensino e, também, para cada escola. A fim de que tais metas sejam alcançadas, o ministério pretende oferecer “Avaliar uma instituição pública é correto, porque é um investimento público realizado com os impostos, verifica-se como os recursos são utilizados para custear o funcionamento da instituição. (...) Porém, quando se cria uma avaliação e se atribui uma gratificação em função de resultados (em condições desfavoráveis ao ensino), ela acaba virando punição” Necessidade de mudança A educação está ligada intimamente ao desenvolvimento de um país e muitos investimentos precisam ser realizados para que esta área dê um salto de qualidade. Quincas Rodriguez acredita que haja dificuldades de mudanças no atual estágio de nossa escola. Para ele, a real mudança passa, necessariamente, por repensar a escola pública e seu papel na sociedade: “Devemos pensar a escola como um espaço de construção coletiva e democrática, que envolva a comunidade. Uma escola de horário integral, na qual o aluno possa desenvolver todas as suas potencialidades. Um professor com dedicação exclusiva e bem remunerado, para que conheça de fato seus alunos e desenvolva projetos de acordo com a realidade educacional da escola”. Ana Maria Monteiro ressalta, ainda, que a escola vai desempenhar bem seu papel quando for respeitada, quando for entendida como um ambiente colaborativo, onde professores e estudantes se sintam apoiados e amparados. Para ela, a transformação do atual cenário deve passar por mudanças profundas. “Hoje, há a convicção de que a questão da educação no Brasil é estrutural e que precisa ser melhorada a fim de que quem passe pela escola consiga desenvolver a capacidade de leitura, escrita e domínio dos conhecimentos fundamentais para a cidadania”, finaliza a diretora da FE-UFRJ. 24 Jornal da UFRJ Sócio-Linguística Junho/Julho 2011 Zope Supostos erros de concordância em livro sugerido pelo Ministério da Educação causam polêmica e evidenciam que ainda há muito preconceito contra o uso popular da Língua Portuguesa. A língua do preconceito Aline Durães “ N ós pega o peixe”. Essa foi uma das frases mais comentadas pela grande mídia nas últimas semanas. Provocou uma avalanche de críticas e comentários que demonstraram que certos setores da sociedade brasileira, que utilizam os meios de comunicação como caixa de ressonância, permanecem com posturas conservadoras quando o assunto é o uso popular da Língua Portuguesa. A oração em questão consta do livro Por uma vida melhor, da professora Heloisa Ramos, publicado pela editora Global (2011) e sugerido pelo Ministério da Educação para os programas de alfabetização de jovens e adultos. No primeiro capítulo, intitulado “Escrever é diferente de falar”, a autora pontua as diferenças entre a língua falada e a escrita, destacando a existência de uma série de variantes, baseadas em aspectos regionais e sociais. O livro aponta que construções como a do início desta matéria não condizem com a norma culta e alerta que, ao falar assim, o aluno poderá ser vítima de preconceito linguístico. “A classe dominante utiliza a norma culta principalmente por ter maior acesso à escolaridade e por seu uso ser um sinal de prestígio. Nesse sentido, é comum que se atribua um preconceito social em relação à variante popular, usada pela maioria dos brasileiros”, afirma a autora num trecho da página 12 do livro. Ao reconhecer que a língua falada não segue a Gramáticas e ao colocar nas mãos dos estudantes a decisão sobre qual das variantes — a culta ou a popular — eles devem usar em cada situação, o livro passou a ser demonizado pela grande mídia. A acusação principal era a de que ele induziria os alunos a falarem errado. Críticas surgiram de todos os lugares. A Academia Brasileira de Letras (ABL), por exemplo, em nota oficial, julgou o livro didático “inadequado” e afirmou estranhar “certas posições teóricas dos autores”. Para muitos linguistas e educadores, entretanto, esse episódio apenas mostrou como o preconceito contra a fala popular continua vivo nas camadas mais escolarizadas da população. “Causa imensa surpresa o fato de ver pessoas especializadas em áreas do conhecimento ligadas à Economia, à Política, entre outras, se sentirem tão à vontade para discutir o trabalho de um especialista em Linguística e Língua Portuguesa. Você pode imaginar o sentimento de um aluno que, ao ingressar na escola, leia e ouça críticas ao seu modo de falar?”, questiona Eugenia Duarte, professora da Faculdade de Letras (FL) da UFRJ. Na opinião de Marcos Bagno, escritor e professor do Instituto de Letras da Universidade de Brasília (UnB), a forma como o livro didático Por uma vida melhor aborda a temática da variação linguística cria um ambiente de aprendizagem acolhedor a jovens e adultos já carregados de estigmas contra sua maneira de falar. “O livro afeta para melhor a qualidade do ensino. O tratamento da variação linguística estimula a disposição das pessoas a incorporarem outras maneiras de falar e, principalmente, a de se apoderarem da tecnologia da escrita. Somente a ignorância generalizada sobre o que é uma língua e o que significa ensiná-la pode justificar a ideia, patética, de que o livro é uma afronta à Língua Portuguesa”, pontua o professor, que é doutor em Filologia. Língua: poder e preconceito A questão linguística é bem mais complexa do que parece. O domínio da língua implica poder. Ao longo da história, vários povos invasores impunham seu próprio idioma aos dos territórios ocupados, combatendo as línguas nativas como forma de ampliar seu controle. No Timor Leste, por exemplo, a Língua Portuguesa é usada por muitos cidadãos como afirmação de sua iden- tidade. A ex-colônia de Portugal luta contra a dominação da Indonésia, que invadiu a ilha em 1975, sufocou os movimentos de independência e a anexou a seu território. A manutenção do Português é, para os timorenses, uma das práticas de resistência à opressão. Por outro lado, a língua se configura em um campo no qual também atuam desigualdades e formas de discriminação. Por ser uma capacidade cognitiva afetada em grande medida pelo social, ela passa constantemente por processos dinâmicos de transformação. Isso explica por que palavras passam a ser utilizadas com maior frequência enquanto outras caem em desuso. Essas mudanças, entretanto, não são homogêneas e lineares: algumas são aceitas, outras renegadas. “Certas variantes são socialmente aceitas quando se generalizam numa comunidade de fala. Outras, por serem mais notadas na fala de grupos menos prestigiados socialmente, são estigmatizadas. É exatamente o caso da concordância verbal e nominal”, observa Dinah Callou, professora emérita da FL-UFRJ. Mais uma vez, a influência das camadas dominantes se manifesta na língua. “O preconceito linguístico é mais um dos muitos preconceitos que existem em nossa sociedade. Quem tem poder pode o peixe pega Nós pega o Sócio-Linguística Junho/Julho 2011 falar como quiser. Quem não o tem, não pode”, pondera Marcos Bagno. Para Ludmila Thomé, do Laboratório de Estudos de Linguagem, Leitura, Escrita e Educação (Leduc) da Faculdade de Educação (FE) da UFRJ, a intolerância diante das diferentes formas de falar o Português requer especial atenção dos professores encarregados do ensino das camadas sociais mais favorecidas: “O que mais me impressionou em toda essa discussão acerca do livro didático do Ministério da Educação foi constatar como as elites desse país pensam nosso povo, nossa fala, nossa cultura popular. Veio à tona uma visão de língua que pertence a um tempo no qual a escola servia a uma nata da sociedade, na qual se ensinava apenas a Cultura com ‘C’ maiúsculo, a cultura erudita, e, com o que, se desmerecia a cultura popular”. A educadora lembra que, durante as aulas de Literatura, por exemplo, a maior parte dos estudantes lê escritores como Guimarães Rosa e Machado de Assis, que trazem em seus textos vozes, conflitos sociais e regionais distintos. O contato com esses personagens deveria prepará-los para aceitar melhor as diferenças na fala. “A escola na qual se formam nossas elites deveria focar uma visão mais política acerca da sociedade, o que não acontece. Muitas vezes, o ensino privado reafirma a diferença e os estudantes são treinados para ser elite, mesmo”, critica Ludmila Thomé. sujeito, a preferência pela próclise, entre outros. Se esses fatos são ignorados, o que dizer da concordância?”, questiona a docente, organizadora da obra A norma brasileira em construção: fatos lingüísticos em cartas pessoais do século XIX (FAPERJ/UFRJ, 2005). Por uma vida melhor se diferenciou exatamente por abordar a fala popular. Marcos Bagno pontua, entretanto, que a enxurrada de críticas à obra de Heloisa Ramos evidencia o compromisso da grande mídia com a elite brasileira: “Um pequeno grupo que reina há mais de 500 anos sobre os destinos da Nação. Por isso, qualquer mínimo pretexto para disparar contra o governo é aproveitado com grande alarde pela imprensa”. Assunto novo? A presença de variações linguísticas em livros didáticos não é algo recente. Desde 1996, com a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o Ministério da Educação estimula os alunos da rede pública de ensino a terem contato com elas. Segundo os PCN, “a escola precisa livrar-se de alguns mitos: o de que existe uma única forma ‘certa’ de falar, a que parece com a escrita; e o de que a escrita é o espelho da fala”. Antes disso, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo publicou, em 1978, um documento no qual já sugeria uma série de inovações para o ensino de Língua Portuguesa. “Nem de longe esse livro (Por uma vida melhor) é o primeiro a fazer isso. Hoje em dia, todos os livros didáticos de Português disponíveis no mercado e adquiridos pelo Ministério da Educação trazem um capítulo, uma unidade ou um módulo sobre a variação linguística”, informa Marcos Bagno. Se o assunto não é novo, como explicar o alvoroço em torno dele justo agora? Para Célia Lopes, professora da FL-UFRJ, os capítulos de variação linguística dos livros didáticos limitam-se a tratar apenas das diferenças regionais. “Não se notam observações sobre fenômenos sintáticos característicos das falas culta e popular, como a preferência por ‘ter’ existencial em vez ‘haver’; o uso inexpressivo do pronome oblíquo “o” e do pronome “se” para indeterminar o que, ao Livro didático: apoio ao professor Um dos argumentos mais recorrentes contra o livro Por uma vida melhor era o de que ele seria incapaz de ensinar a língua portuguesa a jovens e adultos. Para Ludmila Thomé, essas críticas pecam não apenas por tratar as variantes linguísticas como erros de Português, mas também por destituir do professor o papel de protagonista do ensino. O livro didático não tem a função de, sozinho, ensinar alguém. Ele serve ao educador também como material complementar. “O papel do livro didático foi sempre muito questionado. Ele não substitui o professor. É um complemento e deve estar em uma perspectiva de escolha do próprio profissional; o profes- Jornal da UFRJ 25 sor decide com qual livro trabalhará. Isso não significa que ele determinará como serão todas as aulas. Será mais um apoio, assim como livros não didáticos, filmes etc”, destaca Ludmila Thomé. Ludmila Thomé, que já participou de comissões do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do Ministério da Educação, conta que a seleção de livros sugeridos pelo órgão é criteriosa e movimenta especialistas de diversas universidades. “Há uma guerra entre as editoras para suas obras se encaixarem no padrão estabelecido”, ressalta a professora. “Ele não foi adquirido de forma leviana. Apenas quem nunca participou desses processos é capaz de imaginar que ele é simples e mecânico”, complementa o escritor Marcos Bagno. Você pode imaginar o sentimento de um aluno ingressar na escola, leia e ouça críticas ao seu modo de falar?” o peixe pega Nós pega o 26 Jornal da UFRJ Saúde João Resende Junho/Julho 2011 Um novo biofármaco produzido pelo Laboratório de Biotecnologia Farmacêutica (BiotecFar) da UFRJ pode ser uma saída para o tratamento do diabetes. Baseado no sistema de liberação continuada da amilina humana, ele oferece aos diabéticos um melhor controle da glicemia Rafaela Pereira A tualmente o tratamento para o diabetes é via oral – para o tipo 1 – e aplicação de doses de insulina – para o tipo 2 da doença. Foi na tentativa de melhorar a qualidade de vida dos portadores e de proporcionar melhor equilíbrio da glicemia no organismo que a equipe do professor Luis Maurício Lima, farmacêutico, professor da Faculdade de Farmácia e coordenador do projeto no Laboratório de Biotecnologia Farmacêutica (BiotecFar) da UFRJ, começou em 2009 a pesquisar a ação de outros hormônios, como a amilina. Cossecretado com a insulina, a amilina é produzida naturalmente no pâncreas, mas até a sua descoberta não era tão percebida. “O perfil de liberação desse hormônio é muito semelhante ao da insulina. Indivíduos normais secretam os dois concomitantemente, inclusive no estágio de jejum. Já nos pacientes diabéticos, nos quais a secreção da insulina é comprometida, a de amilina também assim o é. E mesmo quem faz uso da insulina possui dificuldade em controlar os níveis de glicose no sangue”, explica o professor. Mas o que tem esse hormônio de tão especial? É ele o responsável pela modulação da glicemia e pela inibição da secreção de insulina. Controla também o esvaziamento gástrico e o metabolismo renal. “Mesmo com a insulina, o controle glicêmico é complicado. Estudos mostram que com a amilina esse controle é muito mais preciso. Contudo, seus benefícios não são vistos imediatamente, diferentemente da insulina. Porém, uma não vem para substituir a outra, mas para serem usadas de forma concomitante”, alerta o pesquisador. Inovação para o cuidado do diabetes Cenário mundial Se hoje em dia a produção de medicamentos à base de insulina é feita facilmente e em grande escala, o mesmo não acontece ainda com a amilina. Para a reposição desse hormônio há certa dificuldade no desenvolvimento, uma vez que a amilina humana é insolúvel, diferentemente da insulina, que é possível de ser encontrada em farmácias. “A amilina é encontrada em solução aquosa, mas forma fibra e tem problema de agregação proteica. Não é uma saída tecnológica farmacêutica viável”, avalia Luis Maurício. A saída encontrada, explica o coordenador do BiotecFar, foi encontrar um análogo desse hormônio que fosse solúvel. E desde meados de 2005 começou-se a fabricar, nos EUA e no Canadá, o Pramlintide, licenciado como Symlin. “Esse, sim, é solúvel em água e tem seu uso recomendado como auxiliar de insulina, sendo in- jetado conjuntamente nos momentos das refeições. Porém, no final das contas não está sendo reposta a amilina humana, e sim um análogo”, explica Luis Maurício. Outro problema detectado pelo grupo de estudo é a administração da droga. O professor explica que atualmente o diabético deve aplicar a insulina e a amilina separadamente. Diante desse cenário, a equipe do BiotecFar recorreu à Nanotecnologia Farmacêutica para produzir um medicamento que fosse capaz de liberar a amilina humana de forma controlada. “Encapsulamos nanopartículas de amilina humana em partículas biocompatíveis. Pelo tamanho reduzido, são facilmente administradas por injeção subcutânea ou intramuscular. Apesar de continuarem insolúveis, formam um depósito que vai se degradando aos poucos no local de aplicação e pode ser liberada na fase rápida e na fase lenta, para repor os níveis basais”, explica o professor. Atualmente, esses trabalhos estão submetidos a publicações e já foi feito o depósito no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). “A patente ainda não foi concedida, esse trâmite demora, mas já nos permite o desenvolvimento. Ainda não estamos protegidos internacionalmente, pelo fato de a UFRJ não fazer pedido de patente internacional. Agora buscamos parceiros industriais ou governamentais de fomento para estender esse estudo”, aposta Luis Maurício. Apoio e investimentos E para a produção deste medicamento, o grupo contou com o apoio dos governos federal e estadual, via agências de fomento como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Junho/Julho 2011 Pessoal de Nível Superior (Capes) e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). Buscou-se também parceria com a agência Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), mas, de acordo com Luis Maurício, o projeto não foi aprovado e um recurso já foi impetrado. “Uma das críticas feitas foi porque parte do investimento seria disponibilizado para a importação de substâncias que não têm fabricação nacional. Mas isso foi um comentário inocente, porque essa prática é feita no mundo inteiro e quase todos os insumos farmacêuticos são importados”, explica o professor. Além do apoio do setor público, segundo Luís Maurício, atualmente há a possibilidade de uma parceria com uma empresa privada: “Academicamente paramos por aqui, precisamos dessas parcerias para seguir em frente e conseguirmos que o produto comece a ser comercializado. Tem uma empresa interessada, que pediu uma proposta na qual detalhássemos quais são os próximos passos para a fabricação do remédio. Mas ainda não houve nada de concreto”. Números que avançam Considerado desde 2007 pelas Organizações das Nações Unidas (ONU) um problema de saúde pública, hoje o diabetes é tido como a epidemia do século, afetando cerca de 250 milhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes (IDF), o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de países com o maior número de portadores da doença. Segundo dados obtidos do Sistema Vigitel, utilizado pelo Ministério da Saúde para monitorar a frequência e a distribuição de fatores de risco e proteção para as doenças crônicas não transmissíveis, são quase nove milhões de brasileiros já portadores do diabetes. E a pesquisa, realizada em 2010, estima que 30% da população desconhecem ter a doença. Os resultados da pesquisa também mostram que, no conjunto da população adulta das 27 cidades estudadas (capitais estaduais e Brasília), a frequência do diagnóstico médico prévio do diabetes foi de 5,8%, para a população com idade igual a ou maior de 18 anos, sendo semelhante em ambos os sexos. O diagnóstico se torna, em ambos os sexos, mais comum com a idade, alcançando menos de 1% dos indivíduos entre 18 e 24 anos de idade e mais de 20% após os 65 anos. “São quase 11 milhões de diabéticos no Brasil e o Vigitel aponta ainda crescimento de 1% ao ano. Por esses números é que o diabetes tem sido, nos últimos quatro anos, uma das prioridades do Ministério da Saúde (MS)”, explica Rosa Maria Sampaio Viana, coordenadora geral de Hipertensão e Diabetes do MS. Jornal da UFRJ Saúde 27 250 milhões de pessoas em todo o mundo têm diabetes Um dos fatores para o aumento de diabetes no País é a obesidade. Recente pesquisa também do Ministério da Saúde mostra que quase metade da população adulta (48,1%) está acima do peso e 15% são obesos. “Isso é um fator que contribui para o aumento do diabetes. Mas não podemos esquecer o componente genético e nem que essa é uma doença multifatorial. O diabetes satisfaz todos os critérios de um problema que exige ação da saúde pública, principalmente por apresentar uma grande prevalência na população mundial”, analisa a nutricionista Daniella Moraes Mizurini, doutoranda do Instituto de Bioquímica Médica (IBMq) da UFRJ. E para reverter a situação e melhorar a saúde da população, é preciso adotar medidas como manter um estilo de alimentação saudável - consumindo todos os grupos alimentares, com moderação e variedade – e aumentar o consumo de alimentos ricos em fibras como frutas e verduras, além de evitar exageros e praticar atividade física. “A orientação dietética individualizada e intensiva melhora consideravelmente o controle da glicemia em pacientes com diabetes tipo 2. Os diabéticos devem priorizar o consumo de alimentos naturais em detrimento dos industrializados e aumentar o consumo de vegetais. E a alimentação deve ser fracionada em diversas refeições a fim de evitar o consumo excessivo de alimentos em determinadas refeições ou o jejum prolongado”, ensina a nutricionista, explicando, ainda, que o acompanhamento dietético é uma ferramenta importante para a redução dos sintomas e controle da doença. Ações ministeriais O Ministério da Saúde tem buscado programar diversas estratégias de saúde pública para prevenir o diabetes e suas complicações. De acordo com Rosa Maria Sampaio Viana, uma das linhas de ações é o cadastro de acompanhamento informatizado. “Ao chegar à rede de saúde, o paciente gera, de forma voluntária, os dados. Hoje temos cerca de 30% dos portadores de diabetes do país cadastrados. Esse sistema está sendo 5º lugar no ranking de países com o maior número de portadores da doença implementado pelo DataSUS e será agregado ao Cartão SUS”, explica a Rosa Maria coordenadora. Outra ação é a assistência farmacêutica, que disponibiliza medicamentos e insumos considerados essenciais para os portadores de diabetes e também de outras doenças. De acordo com a coordenadora geral de Hipertensão e Diabetes do Ministério da Saúde, essa é uma determinação para cumprir uma lei federal de 2006, que coloca o SUS como responsável por essa distribuição: “E essa ação é agregada ao programa de Farmácia Popular. Os medicamentos são muito caros, é uma doença crônica que vai durar a vida toda. Essas ações são uma conquista do país em política pública”. 30% da população desconhecem ter a doença “São quase 11 milhões de diabéticos no Brasil e o Vigitel aponta ainda crescimento de 1% ao ano. Por esses números é que o diabetes tem sido, nos últimos quatro anos, uma das prioridades do Ministério da Saúde (MS)” 28 Jornal da UFRJ Cidadania Junho/Julho 2011 União estável entre pacto contra a intolerância Aline Durães N o início de maio, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovaram, em sessão histórica e por unanimidade, a união estável homoafetiva. Com a decisão, casais homossexuais, que antes não possuíam qualquer legitimidade perante a lei, passam a desfrutar dos mesmos direitos concedidos a parceiros heterossexuais. A partir de agora, lésbicas e gays, bem como travestis e transexuais, podem solicitar pensão alimentícia, quando houver separação judicial, recebem pensão em caso de morte dos companheiros e já podem incluir seus parceiros como dependentes em planos de saúde e na declaração do Imposto de Renda. Além disso, têm direito também à licença-gala, afastamento trabalhista de até nove dias após a oficialização da união em cartório. As diferenças com o casamento praticamente inexistem: “Os direitos e os deveres são os mesmos; a diferença é que o casamento tem um papel — a certidão de registro civil — com um carimbo do Estado. Ele consegue ser comprovado. A união estável não, se constitui no decurso do tempo. A Constituição Federal diz que a união estável pode ser convertida em casamento. Então, ao menos o direito de pedir a conversão da união em casamento, os casais gays também têm”, ressalta Maria Berenice Dias, presidente da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDF). Para o Murilo Mota, sociólogo da Escola de Serviço Social (ESS) da UFRJ, a conquista representa “uma virada histórica contra a intolerância, a intransigência e o preconceito”. Pesquisador da temática “Homossexualidade e Velhice”, Murilo explica que muitos homens analisados em seu trabalho sofreram com a falta de reconhecimento de direitos: “Foram marcados pela epidemia de Aids quando ela era uma sentença de morte. Há narrativas impressionantes sobre a perda de parceiros, mas tais uniões eram invisíveis aos olhos da sociedade. Esses homens são de um tempo em que a homossexualidade era uma patologia; o desejo estava sempre coberto pelo medo, vergonha, injúria e difamação e a falta de respaldo dos direitos sociais e civis deixou marcas profundas em suas trajetórias de vida”. Atualmente, graças aos avanços na interpretação da lei, casais homossexuais podem recorrer a qualquer cartório do país para registrarem sua união. “Tabeliães e juízes não podem mais se negar a validar a parceria homossexual. Convicções pessoais, comprometimentos religiosos devem ser deixados de lado. Nós vivemos em uma democracia, na qual existe a vontade de todos e não somente a da maioria. Há segmentos minoritários que têm seus direitos e devem ser respeitados. Se esses grupos são aceitos na sociedade ou não, se são alvo de preconceitos religiosos ou não, isso não deve invalidar o reconhecimento de sua cidadania”, destaca a advogada Maria Berenice Dias, da OAB. Uma nova entidade familiar Ao incorporar uma série de direitos civis à população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgêneros), o Supremo reconheceu a união homoafetiva como uma nova entidade familiar, problematizando o conceito tradicional de família. Assim como tantas outras instituições, a família também é uma construção histórica. E vem mudando nas últimas décadas. São cada vez mais numerosas aquelas que, fugindo do paradigma mononuclear urbano - pai, mãe e filhos -, são chefiadas por mães ou pais solteiros ou por avós e tios que criam netos e sobrinhos. A união homossexual é apenas mais um novo arranjo. “É preciso entender que a família vem se transformando há muito tempo. Como instituição, é impactada pelas transformações radicais da divisão social do trabalho, pelo nível de autonomia e individualidade nas grandes metrópoles, nas relações de gênero e, principalmente, na esfera da sexualidade que aponta para novos estilos de vida. Nesse sentido, a discussão da parceria civil entre pessoas do mesmo sexo vem apimentar o debate”, explica Murilo Mota. Para Denílson Lopes, professor da Escola de Comunicação (ECO) da UFRJ e superintendente do Fórum de Ciência e Cultura (FCC), a aprovação da união estável não pode, entretanto, forçar os homossexuais a se encaixarem em um modelo único. “Há muitas pessoas que não querem ser encaradas como família ou como casal, que desejam ter outro tipo de configuração afetiva. É importante pensar que há uma diversidade de forma de relacionamentos, sem cairmos em moralismos. Não podemos achar que os gays devem se ater a um modelo único e já ultrapassado de família. O casamento não deve ser a única forma de se pensar família”, pontua o profes- Junho/Julho 2011 Jornal da UFRJ Cidadania 29 homossexuais Martins de Castro Aprovação da união estável entre homossexuais problematiza o conceito de família e abre caminho para o reconhecimento de direitos dos grupos LGBT sor, que estuda gêneros, no que diz respeito a gays e transgêneros. A caminho de direitos Na visão dos militantes do movimento organizado LGBT, o momento atual é propício para expor outras reivindicações. Entre elas, a mais importante é a criminalização da homofobia. Segundo o relatório organizado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), 260 pessoas foram assassinadas no Brasil em 2010 em função da sua orientação sexual, 62 a mais do que no ano anterior. Ao longo de cinco anos, os números da violência cresceram cerca de 113%, fazendo do Brasil o campeão mundial de assassinatos de homossexuais. Mais de 60% de gays e lésbicas entrevistados para um estudo (“Política, Direitos, Violência e Homossexualidade”), do antropólogo Sérgio Luís Carrara, do Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Huma- nos (Clam) e professor do programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), disseram sofrer agressão e discriminação. Destes, 33,5% apontaram como agressores amigos e vizinhos, 27% para o ambiente familiar, 26,8% são agredidos nas escolas ou em faculdades e 20,6% em ambiente religioso. Há ainda dados que apontam os homossexuais como o grupo de pessoas que mais sofre violência no Brasil. Para frear os crimes de ódio, transita no Senado Federal o Projeto de Lei nº 122 (PL 122/2006). Essa legislação enumera as diferentes formas de discriminação e prevê punições específicas a cada uma delas. Mas encontra resistência, principalmente por parte das bancadas religiosas. O principal argumento desses segmentos é que essa lei, ao criminalizar a homofobia, estaria ferindo a liberdade de expressão daqueles que não simpatizam com as causas homossexuais. Na opinião de especialistas, entretanto, a discussão sobre a homofobia deve estar no mesmo patamar do debate contra o racismo e contra a violência à mulher. “Não há qualquer voz social pública que reivindique, por exemplo, o direito de verbalizar o racismo. A pessoa pode até ser racista, mas não vai exigir fazer esse tipo de discussão em público”, observa Denílson Lopes. O PL 122 vem alterar a Lei nº 7.716, de 1989, que pune a discriminação em função de raça, cor, etnia e procedência nacional. “Queremos inserir aí a orientação sexual. Mas as lideranças religiosas manipulam o preconceito das pessoas para vincular esse debate com o de liberdade de expressão. Quando o assunto é homossexualidade, elas brigam pelo direito de se expressar contra. Pode falar mal de negro? Não! Pode falar mal de homossexual? Também não!”, afirma Maria Berenice Dias. Para Murilo Mota, a luta pela cidadania LGBT passa por debates e reflexões acerca da intolerância. O pesquisador afirma que os direitos de liberdade religiosa não podem ser utilizados para estigmatizar e violar a imagem dos homossexuais. “Eles não querem ser ‘curados’; não querem ser ‘salvos’, já que não se percebem em desvio; não querem ser iguais nas relações afetivas dentro da norma heterossexual; não querem inventar novos direitos, somente querem garantias dos direitos humanos já percebidos como universais”, defende o sociólogo. No fim, a consolidação da democracia Mesmo depois de mais de 20 anos do fim da ditadura militar e da reabertura política, a democracia brasileira ainda está em construção. Passa por processos de aprimoramento constantes para que, cada vez mais, os cidadãos brasileiros tenham acesso pleno a seus direitos. De acordo com os especialistas, a promoção da cidadania LGBT é um dos passos indispensáveis à consolidação de uma democracia real no Brasil. Para Murilo Mota, “a democracia de fato é aquela em que se luta contra as diferenças econômicas e desigualdades sociais, mas se garanta também o direito à diferença individual reconhecendo que todos podem ser o que querem no princípio da cidadania”. Denílson Lopes lembra que a “questão homossexual” está inserida em um debate mais amplo, o dos direitos humanos. O professor enfatiza que a discussão acerca da tolerância às afetividades não-heterossexuais contribui, em última instância, para a construção de uma sociedade melhor. “As pessoas precisam discutir a sexualidade que, afinal, é uma dimensão da experiência humana. Nós nos compreendemos pelo que somos, mas também pelo que não somos. Quanto maior a diversidade e o nosso contato com o diferente, maior será o nosso enriquecimento”. A mudança passa também pela universidade. A Comissão de Diversidade Sexual da OAB está organizando um estatuto a ser enviado para as esferas legislativas, que prevê, entre outras, a adequação na grade curricular dos cursos de Direito. “Um dos efeitos da decisão do Supremo foi o de divulgar que a população LGBT tem direitos e deve buscá-los. Isso exige uma qualificação dos advogados. Eles precisam estar prontos para trabalhar com esse que eu considero um novo ramo do Direito”, conclui Maria Berenice Dias, que é ex-desembargadora. 30 Jornal da UFRJ Universidade Junho/Julho 2011 Escola de Belas Artes celebra seus 195 anos Vanessa Sol A história de criação da Escola de Belas Artes (EBA) da UFRJ se confunde, de certa maneira, com a própria história do Brasil pós-colonial. Nascida, em 12 de agosto de 1816, com o nome de Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, ela surge junto à preocupação de D. João VI com o desenvolvimento cultural da sede da corte. Com a chegada da Missão Artística Francesa - grupo de artistas e artífices organizados e liderados por Joaquim Le Breton, do qual faziam parte pintores, escultores, desenhistas e arquitetos cujas obras seguiam o estilo Neoclássico -, há um forte desenvolvimento das Belas Artes no país, o que o elevou, no campo do ensino superior acadêmico, a um patamar até mesmo superior a alguns países europeus. O pioneirismo do ensino artístico foi apenas uma das importantes ações realizadas pela família real, que havia chegado ao Brasil em 1808. Não há dúvida de que o legado da primeira escola de arte do país pode ser visto até hoje. Ao longo de seus 195 anos, antes mesmo de pertencer à UFRJ, ela adotou diferentes denominações e passou por diferentes moradas na capital. Em 1827, era conhecida como Academia Imperial de Belas Artes, nome adotado até o fim do Segundo Im- Fabio Portugal pério. Nessa época, ela se instalou no prédio de estética neoclássica projetado por Grandjean de Montigny, no centro do Rio. Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, a Academia Imperial de Belas Artes (ENBA) desaparece e um ano depois ressurge como Escola Nacional de Belas Artes. Em 1931, a ENBA passa a integrar a Universidade do Rio de Janeiro e, em 1937, a Universidade do Brasil, permanecendo assim até 1966, quando, então, se torna a Escola de Belas Artes da UFRJ. Em 1975, a unidade é transferida para a Cidade Universitária. Nas novas instalações, divide o espaço com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (Ippur) e com a Reitoria. Carlos Gonçalves Terra, professor e diretor da EBA, avalia que a escola cresceu muito desde sua criação e que formou, e forma, artistas e profissionais que estão no mercado, “nomes reconhecidos em todas as áreas”. Para ele, a EBA “é uma riqueza muito grande para o ensino da Arte”, no Brasil. Visitantes e expositores na “Quinzena de Gravura”, evento realizado por alunos do ateliê do curso de Gravura, da Escola de Belas Artes (EBA/UFRJ). A EBA de hoje e de amanhã Atualmente, a EBA oferece diversas formações profissionais e artísticas. São 11 cursos, dos quais Universidade Junho/Julho 2011 Pintura, Escultura e Gravura foram os pioneiros. Há também os de Composição Paisagística; Composição de Interiores; Desenho Industrial (Projeto de Produto); Comunicação Visual – Design; Artes Cênicas (com duas habilitações: Indumentária e Cenografia); História da Arte; Restauração de Bens Culturais Móveis e Licenciaturas em Educação Artística (com duas habilitações: Artes Plásticas e Desenho). No passado, o curso de Arquitetura também fazia parte da Escola de Belas Artes. Porém, o curso se emancipou em 1945, dando origem a Faculdade Nacional de Arquitetura e, posteriormente, recebeu a denominação de Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. A escola cresceu muito ao longo de sua trajetória, ampliando a oferta de cursos e possibilidades de formações diferentes. Com a expansão, a EBA ganhou o primeiro módulo que está sendo construído atrás do prédio da Reitoria e que abrigará parte de seus cursos. De acordo Carlos Terra, o novo prédio tem uma especificação de pé direito para abrigar grandes esculturas, e a previsão é que as obras sejam concluídas em novembro de 2012. “Nós ganhamos o primeiro módulo e acredito que com o prédio novo parte dos problemas de espaço sejam solucionados. No escopo do Plano Diretor 2020, teremos mais dois ou três módulos o que permite toda a escola ficar bem alocada em termos de espaço físico”, destaca o diretor. Pensando na melhoria de acesso à informação, a atual direção colocou computadores com acesso à Internet à disposição dos alunos nos corredores da EBA. Hoje, já são cinco terminais entre o sexto e o sétimo andares. A intenção é colocar outros setes em pontos da escola, inclusive, no atelier, apelidado de Pamplonão – no qual os estudantes participam das aulas de Pintura. “Essa ideia de ter o acesso rápido à Internet por meio de terminais de computador me fascinou. Vi isso em uma universidade e, assim que pude, implantei-a aqui. Com os terminais, os alunos podem ter acesso a e-mail, podem fazer a inscrição no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga), entre outras possibilidades”, enfatiza Carlos Terra. Centro Cultural A Escola de Belas Artes pretende no futuro construir um centro cultural no terreno que foi doado, em testamento, por Belmiro de Abreu, localizado na Avenida Mem de Sá, no bairro da Lapa, Rio de Janeiro. Para obter a posse do terreno, a UFRJ enfrentou anos de batalha ju- dicial, uma vez que o mesmo estava ocupado e vinha sendo explorado como estacionamento de veículos. De acordo com Carlos Terra, no testamento de doação, há a explícita vontade de Belmiro de Abreu que no terreno fosse construído um centro de Artes com espaço destinado à exposição de jovens artistas. “Tentando atender a vontade do doador, a EBA construirá um centro cultural com três pavimentos, no qual o primeiro será uma galeria para exposição de estudantes e jovens artistas; no segundo haverá um pequeno teatro e, no terceiro, salas para cursos de Extensão voltados à comunidade do entorno”, afirma o professor. No momento, a EBA espera que a Prefeitura do Rio de Janeiro conceda o alvará de construção, pois já existe verba alocada para o início das obras. O diretor explica que vem trabalhando pela liberação do mesmo o quanto antes: “desde que assumi a direção da escola, no ano passado, estou lutando pela liberação do alvará de construção”. a preservação de sua memória e também para o ensino e a pesquisa. É o Museu D. João VI, fundado em 1979. Seu acervo está ligado à própria criação da EBA, quando ainda era Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Grande parte da coleção ficou sob a guarda do Museu Nacional de Belas Artes, quando foi criado, em 1937. Contudo, as peças de interesse acadêmico passaram a compor o Museu D. João VI, em 1979. Segundo Carla Dias, professora da EBA e coordenadora do Museu D. João VI, as peças dispersas pela EBA não haviam sido olhadas como um patrimônio da escola. “Esse olhar para a constituição de um patrimônio e a notação desses títulos para o tombamento se deu a partir da gestão de Almir Paredes Cunha, então diretor da EBA. Foi ele que decidiu criar o museu para preservar esses objetos que fazem parte da história da escola”, destaca a coordenadora. Ao todo são cerca de 6.600 peças, dentre as quais 800 são gravuras, 837 desenhos, 480 pinturas, além de esculturas, fotografias, vitrais, 4 mil livros que fazem parte da Biblioteca de Obras Raras, plantas e desenhos “todas as peças do museu estão expostas. Isso é um novo paradigma museográfico.” Museu D. João VI: aliado no ensino A Escola de Belas Artes conta com importante instrumento para Jornal da UFRJ 31 arquitetônicos. Muitas dessas peças foram doadas, como é o caso da coleção Ferreira das Neves. Há ainda uma coleção didática, que são peças resultantes de atividades pedagógicas realizadas ao longo dos anos na EBA. São desenhos, exercícios feitos por estudantes durante as aulas, estudos de modelo vivo, esboços, entre outros. Em 2005, o museu passou por uma revitalização através do projeto coordenado por Sonia Gomes Pereira que foi contemplado pelo Programa Petrobras Cultural. Com a revitalização, o D. João VI assumiu um novo conceito. Além de preservar a memória da EBA e do ensino artístico no Brasil, hoje, assume um padrão compatível com as necessidades de estudo da História da Arte dos últimos dois séculos. Atualmente, todo acervo está disponível ao público e peças estão dispostas em trainéis deslizantes, estantes e mapotecas. Assim, o visitante pode fazer seu próprio percurso. Na opinião de Carla Dias, ao invés de ter uma exposição permanente ou temporária e um acervo guardado, optou-se por abri-lo completamente: “todas as peças do museu estão expostas. Isso é um novo paradigma museográfico. Tanto que outros museus vêm nos visitar para ver como funciona”. A possibilidade de escolha do percurso também faz parte da proposta. Cada visitante, estudante ou pesquisador elaborará um caminho diferente e cada visita será única. Carla Dias explica que, dessa maneira, não há um percurso definido, embora existam áreas de interesse prédefinidas. “O visitante é um agente. Ele percorre os espaços e constrói sua própria visita”, finaliza a professora. Marco Fernandes Uma das tarefas de Carlos Terra, diretor da EBA, será a de construir um centro cultural no terreno doado por Belmiro de Abreu. 32 Jornal da UFRJ Junho/Julho 2011 Cacaso Zope Guido Arosa “Passou um versinho voando, ou foi uma gaivota?” É essa a concepção perecível de poesia de Antônio Carlos de Brito, considerado o ícone da poesia marginal brasileira, nascido na cidade mineira de Uberaba, em 1944. Eternizado pelo apelido “Cacaso”, mudou-se para o Rio de Janeiro aos 11 anos e, logo depois, por seu talento para o desenho, publicou caricaturas de políticos na imprensa carioca. Já a poesia veio antes dos 20, por suas letras para músicas dos amigos Elton Medeiros e Maurício Tapajós. Cacaso lecionou na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), nos anos 1960 e 1970. Colaborador das revistas Movimento e Opinião, lançou sua primeira obra poética, A palavra cerzida, em 1967. É partir de então que se dá seu engajamento político-social e a consolidação de sua poesia crítica, livre e irônica - no pós-modernismo poético conhecido por “geração mimeógrafo”, pelo qual a poesia marginal se consolidou. No sufoco Em plena ditadura militar, com a falta de espaço em editoras tradicionais para suas poesias, Cacaso e outros intelectuais, como Chacal e Ana Cristina Cesar, passam a difundir seus escritos através de cópias mimeografadas. É em 1976, com a antologia 26 poetas hoje, de Heloísa Buarque de Hollanda, que passam a ser divulgados e destacados os “poetas perecíveis”: “Desde 1968, a gente era mais ou menos um grupo coeso e começamos a nos interessar juntos pela poesia marginal, como uma forma de resistência ao golpe de 1964”, afirma Heloísa Buarque, que é professora do Programa Avançado de Cultura Contemporânea (PACC), do Fórum de Ciência e Cultura (FCC) da UFRJ. Inserido no que Heloísa Buarque denomina de “a geração do sufoco”, que permaneceu no Brasil depois do Ato Institucional número 5 (AI-5), Cacaso ministrava aulas, clandestinamente, de poesia, no subterrâneo do Parque Lage. “Naquele momento, Cacaso era off, não parecia pretender a eternidade com sua poesia e, daí, atualmente, ele ser adotado em provas de vestibular”, relembra a professora. Referências Para Teresa Cristina Meireles de Oliveira, professora da Faculdade de Letras (FL) da UFRJ, Cacaso é produto de diversas correntes da poesia, unindo o tradicional aos movimentos de vanguarda. “Em Cacaso se manifestam a herança iconoclasta de Drummond, o lirismo cotidiano de Bandeira, o humor sintético de Oswald de Andrade. É por essas leituras que passa a sua poesia, que também viu os experimentalismos do Concretismo e do Neoconcretismo”, ressalta a docente. Segundo Heloisa Buarque, Cacaso fez parte de uma geração “comprometida com a espontaneidade da linguagem”, trazendo aos anos 1970, segundo Teresa Cristi- na, a “atualização da palavra poética, em que se podem perceber traços da influência da mass media e da tradição e renovação da letra da música popular”. Parcerias de peso É na Música Popular Brasileira (MPB), além de sua contribuição à poesia e ao magistério, que Cacaso foi uma das peças fundamentais. Teve como parceiros João Bosco, Aldir Blanc, Toquinho, Miúcha, Chico Buarque e outros. Uma de suas principais composições foi “Dentro de mim mora um anjo”, interpretada, em 1975, por Sueli Costa, foi trilha da novela “Bravo” (1975 – 1976), da Rede Globo, regravada na voz de Fafá de Belém. Morto em 1987, Cacaso ressurgiu nos anos 2000 com a coletânea de sua obra completa, Lero-lero (Cosac & Naify, 2002), e com nova edição de seu livro Na corda bamba (Bem-Te-Vi, 2004).
Download