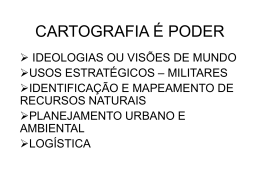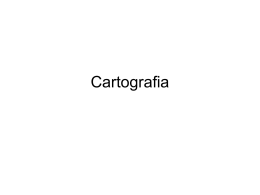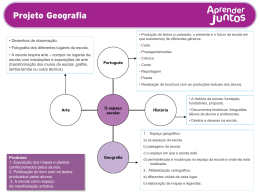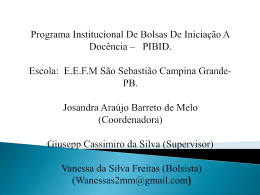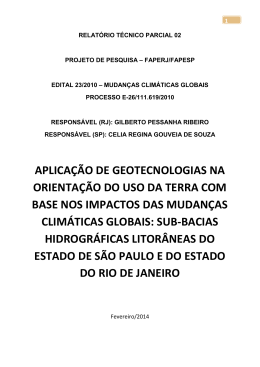MAPEAMENTOS PARTICIPATIVOS: ENSAIO CRÍTICO NA PERSPECTIVA DA PERCEPÇÃO/COGNIÇÃO DO AMBIENTE A elaboração de cartografias sociais vem acontecendo amplamente desde os anos 1990, configurando um domínio de problemas políticos, sociais, culturais e epistemológicos que constitui o campo de trabalho do presente ensaio. O conjunto das cartografias sociais é formado pelas experiências de mapeamento participativo (às vezes chamado de mapeamento comunitário), processo que se apresenta como resultado de um esforço coletivo que visa valorizar a percepção e o conhecimento de agentes locais nos processos de diagnóstico, ordenamento territorial, conservação de recursos naturais, resolução de conflitos sócio-ambientais e planejamento. Afirma-se, na maior parte dos textos normativos, que os mapas assim produzidos estão aptos a garantir a inclusão, o empoderamento e a transparência nos processos sociais” (Brenda Parker). Para alguns autores, o mapeamento participativo pode ser olhado, tanto do ponto de vista prático quanto teórico, como uma técnica para elucidar conhecimentos e criar meios que permitam que diferentes vozes e sistemas culturais dialoguem. Seu objetivo é tanto empoderar quanto lutar contra a intolerância e a ignorância através do diálogo intercultural (Crawhall). O acúmulo de experiências comunitárias com mapeamento participativo já permite uma leitura analítico-crítica do conjunto dos trabalhos. Nas palavras de um dos analistas desta área, ao avaliar tais experiências, somos levados a concluir que, em alguns casos, a cartografia social e o mapeamento participativo resultam de processos históricos bem determináveis, de caráter emancipatório, quando sujeitos e grupos investem no automapeamento para legitimar uma territorialidade que se apresenta como condição de manutenção de sua capacidade de viver/sobreviver; em outros casos, os mapeamentos atendem a condições históricas de manipulação/enquadramento de populações tradicionais pelo ambientalismo conservacionista, de apropriação de saberes tradicionais por interesses estratégicos da biotecnologia, da vigilância de populações e territórios por interesses geopolíticos (Acselrad). Nossa reflexão visa problematizar tais experiências do ponto de vista das questões cognitivas/comunicativas envolvidas na proposta de diálogo intercultural. É sabido que as diferenças culturais implicam no estabelecimento de defasagens importantes, cuja conciliação numa mesma prática não é objetivo fácil de ser atingido, e por esse motivo, neste ensaio trabalhamos a partir de um dos pontos críticos das experiências de mapeamento: os mapas não necessariamente empoderam as comunidades; quando são produzidos em um padrão intelectual ocidental, eles podem contribuir para uniformizar e/ou marginalizar (Crawhall). Nossa questão de reflexão e pesquisa, no presente trabalho, é o estudo da diversidade cultural nos processos de mapeamento, a partir do parâmetro de indexalidade ou não indexalidade contido na produção de mapas em diferentes culturas. A cultura hegemônica no Ocidente construiu uma imagem cartográfica baseada na idéia da não indexalidade, onde um mapa consiste em um “sistema de conhecimento espacial e/ou de crenças, que assume a forma de afirmação 1 não indexável e não sinalizada sobre a localização no espaço de lugares e objetos” (Ingold). A cartografia ocidental moderna se apresenta dentro deste viés, sendo suposto que os mapas devem funcionar como representações esquemáticas do mundo real, que não indexam nenhuma posição, mas com os quais deve ser possível situar a posição de tudo em relação a tudo mais.Nesta perspectiva propugnase a existência de um sujeito que se eleva sobre o mundo para obter dele uma visão total: “supõe-se que quanto mais alto uma pessoa vai, mais sua visão transcende as limitações locais e os horizontes estreitos da vista do patamar terreno” (Ingold) A totalidade do mundo seria alcançada por uma integração vertical colocada cada vez mais à distância da experiência direta. O contra-ponto à tese da nãoindexalidade dos mapas encontra seus fundamentos nas abordagens em que a cognição e a experiência aparecem ligadas, inextricavelmente. Nestes casos, o mapeamento deve ser entendido como um “campo de relações estabelecidas através da imersão do ator-perceptor num dado contexto ambiental” (Ingold). A refutação da tese da não-indexalidade tem como consequência a rejeição da definição dos mapas modernos como objetos científicos continuamente aperfeiçoados, oferecendo representações progressivas, cumulativas, objetivas e cada vez mais acuradas da realidade geográfica. Na elaboração dos mapas ocidentais, os esquemas classificatórios utilizados produzem como principal efeito o ocultamento de todas as ações sociais envolvidas em seu processo de produção, apresentando-se, portanto, com uma neutralidade e naturalidade que não lhes correspondem. Contra o argumento da representação, apresenta-se a perspectiva do mapeamento como atividade de um agente que se movimenta em um ambiente e, neste movimento, define trilhas e trajetórias, as quais narra. O mapeamento configura assim um campo de práticas. A espacialização torna-se, assim, narrativa provisória que totaliza as experiências das jornadas para fins de comunicação. A totalização corresponde a uma integração considerada lateral, em contraste com aquela integração vertical reivindicada na concepção de mapas como objetos não-indexáveis. Na integração lateral das narrativas de jornadas, a “percepção do ambiente como um todo não provém de uma ascensão de uma perspectiva local e míope para uma perspectiva panóptica e global, mas surge na passagem de um lugar para outro, e em histórias de movimento e de horizontes variáveis ao longo do caminho” (Ingold). A tensão entre as duas teses a respeito dos processos de mapear e elaborar mapas não se resolve facilmente. Porque há um importante exercício de poder que funciona nesta tensão. Os mapas europeus são tão indexáveis quanto quaisquer outros. Mas seu regime de indexação tem uma característica bastante especial: sua principal propriedade é que eles indexam modos de vida que são favoráveis à construção de impérios. As formas de vida que os produzem e sustentam podem ser inseridas em outros modos de vida (Turnbull, 2000). Uma leitura das experiências de mapeamento participativo a partir desta dupla concepção do ato de mapear nos permite distinguir aquelas que utilizam os instrumentos da cartografia social moderna, procedendo a um extenso processo de modelagem cognitiva de comunidades em princípio alheias a tais 2 modos de representação/construção do espaço, de outros movimentos de mapeamento que se pautam pela negociação com os modos autóctones de construção social do espaço e alcançam efetivamente uma potência no plano político, do jogo de controle hegemônico, posições contra-hegemônicas e resistências. Somente no segundo caso podemos pensar o instrumento do mapeamento como ferramenta para a preservação da diversidade ambiental/cultural. Referências Acselrad, H. (org.) – Cartografias sociais e territórios. RJ: UFRJ,IPPUR, 2008. Crawhall, N. Giving new voice to endangered cultures. (arquivos ETTERN). Ingold, T. Jornada ao longo de um caminho de vida – mapas, descoberta-de-caminho e navegação. In Religião e Sociedade, Rio de Janeiro, 25 (1): 72-75, 2005 Turnbull, D. Trickster and Cartographers: maps, science and the state in the making of a modern scientific knowledge. Routledge: 2000. Parker, B. Constructing Community Through Maps? Power and praxis in community maps. The Professional Geographer, 58(4), pages 470-484. Oxford: Blacwell Publishing, 2006. 3
Download