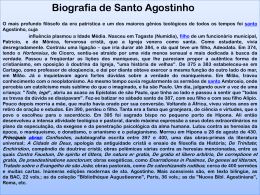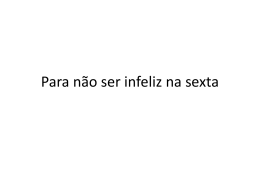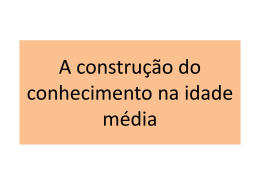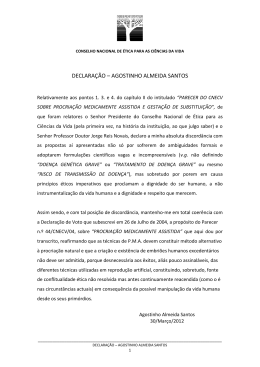PREGAÇÕES DO PADRE RANIERO CANTALAMESSA NO TEMPO DA QUARESMA DO ANO DE 2014 NA CASA PONTIFICIA – PAPA FRANCISCO Padre Raniero Cantalamessa, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, nasceu em Colli del Tronto (AP-Itália), em 22 de julho de 1934. Foi ordenado sacerdote em 1958. É laureado em Teologia pela Universidade de Friburgo, Suíça, e em Letras Clássicas pela Universidade Católica de Milão. Foi professor ordinário de História das Origens do Cristianismo e Diretor do Departamento de Ciências Religiosas da Universidade do “Sacro Cuore” de Milão. Foi membro da Comissão Teológica Internacional de 1975 a 1981 e, por doze anos, membro da Delegação Católica para o Diálogo com as Igrejas Pentecostais Primeira pregação da quaresma COM JESUS NO DESERTO A quaresma começa todos os anos com a narração de Jesus que se retira para o deserto por quarenta dias. Nesta meditação introdutória queremos tentar descobrir o que foi que Jesus fez neste tempo, quais são os temas presentes na narração evangélica, para aplicalos à nossa vida. 1. “O Espírito conduziu Jesus ao deserto” O primeiro tema é o do deserto. Jesus acabou de receber, no Jordão, a investidura messiânica para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração e pregar o reino (cf. Lc 4, 18s). Mas não se apressa para realizar nenhuma dessas coisas. Pelo contrário, obedecendo a um impulso do Espírito Santo, se retira no deserto onde permanece quarenta dias. O deserto em questão é o deserto da Judéia, que se estende a partir de fora das muralhas de Jerusalém até Jericó, no Vale do Jordão. A tradição identifica o lugar com o assim chamado Monte da Quarentena situado em frente ao Vale do Jordão. Ao longo da história tem havido multidões de homens e mulheres que escolheram imitar este Jesus que se retira ao deserto. No Oriente, a começar por Santo Antônio Abade, retiravam-se nos desertos do Egito ou da Palestina; no ocidente, onde não existiam desertos de areia, se retiravam em lugares solitários, montanhas e vales remotos. Mas o convite a seguir Jesus no deserto não é dirigido somente aos monges e aos eremitas. De forma diferente, é dirigido a todos. Os monges e os eremitas escolheram um espaço de deserto, nós temos que escolher pelo menos um tempo de deserto. A Quaresma é uma oportunidade que a Igreja oferece a todos, sem distinção, para viver um tempo de deserto sem ter que, por isso, abandonar as atividades diárias. Santo Agostinho lançou este triste apelo: “Retorneis para dentro do vosso coração! Onde quereis ir longe de vós? Retorneis da vagabundagem que vos levou para fora do caminho; retorneis ao Senhor. Ele está pronto. Primeiro retorne ao teu coração, tu que te tornaste estranho a ti mesmo, por força de vagabundar fora: não conheces a ti mesmo, e procuras aquele que te criou! Volta, retorna ao coração, separa-te do corpo… regresse ao coração: lá examina o que talvez percebas de Deus, porque ali se encontra a imagem de Deus; na interioridade do homem habita Cristo[1]”. Reentreis no próprio coração! Mas o que é e o que representa o coração, que tanto se fala na Bíblia e na linguagem humana? Fora do contexto da fisiologia humana, onde não é mais do que um órgão do corpo, embora vital, o coração é o lugar metafísico mais profundo de uma pessoa; é o íntimo de todo homem, onde cada um vive o seu ser pessoa, ou seja, o seu subsistir em si, em relação a Deus, do qual tem origem e no qual encontra o seu fim, aos outros homens e à criação inteira. Até mesmo na linguagem comum, o coração designa a parte essencial de uma realidade. “Ir ao coração de um problema” quer dizer ir à parte essencial dele, da qual depende a explicação de todas as outras partes do problema. Assim, o coração de uma pessoa mostra o lugar espiritual onde é possível contemplar a pessoa na sua realidade mais profunda e verdadeira, sem véus e sem fixar-se nos seus aspectos marginais. É no coração que acontece o juízo de cada pessoa, sobre o que traz dentro de si e que é a fonte da sua bondade e da sua maldade. Conhecer o coração de uma pessoa quer dizer ter penetrado no santuário íntimo da sua personalidade, pelo qual se conhece aquela pessoa pelo que realmente ela é e vale. Retornar ao coração, portanto, significa retornar ao que há de mais pessoal e interior em nós. Infelizmente, a interioridade é um valor em crise. Algumas causas desta crise são antigas e inerentes à nossa própria natureza. A nossa “composição”, ou seja, o sermos constituídos de carne e espírito, faz com que sejamos como um plano inclinado, porém, inclinado, para o exterior, o visível e a multiplicidade. Como o universo, depois da explosão inicial (o famoso Big Bang), também nós estamos em fase de expansão e distanciamento do centro. Estamos perpetuamente “de saída”, por meio daquelas cinco portas ou janelas que são os nossos sentidos. Santa Teresa de Ávila escreveu um trabalho intitulado O castelo interior que é certamente um dos frutos mais maduros da doutrina cristã da interioridade. Mas existe, infelizmente, também um “castelo exterior”, e hoje constatamos que também é possível estar trancados neste castelo. Trancados fora de casa, incapazes de reentrar. Prisioneiros da exterioridade! Quantos de nós deveríamos fazer própria a amarga constatação que Agostinho fazia sobre a sua vida antes da conversão: “Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Sim, porque tu estavas dentro de mim e eu fora. Ali te buscava. Deformado, me jogava nas belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, e não estava contigo. Mantinham-me distante de ti as tuas criaturas, inexistentes se não existissem em ti[2]”. Aquilo que se faz no exterior é exposto ao perigo quase inevitável da hipocrisia. O olhar de outras pessoas tem o poder de desviar a nossa intenção, como certos campos magnéticos fazem desviar as ondas. A ação perde a sua autenticidade e a sua recompensa. O parecer toma a dianteira do ser. É por isso que Jesus nos convida a jejuar e dar esmolas e orar ao Pai “no segredo” (cf. Mt 6, 1-4). A interioridade é o caminho para uma vida autêntica. Fala-se tanto hoje de autenticidade e se faz disso o critério de vitória ou não da vida. Mas onde está, para o cristão, a autenticidade? Quando é que uma pessoa é realmente ela mesma? Somente quando acolhe, como medida, Deus. “Fala-se tanto – escreve o filósofo Kierkegaard – de vidas desperdiçadas. Mas desperdiçada é somente a vida daquele homem que nunca se deu conta, porque nunca teve, no sentido mais profundo, a impressão de que existe um Deus e que ele, justo ele, o seu eu, está diante deste Deus[3]”. De um retorno à interioridade têm necessidade especialmente as pessoas consagradas ao serviço de Deus. Em um discurso dado aos superiores de uma congregação religiosa contemplativa, Paulo VI disse: “Hoje estamos vivendo num mundo que parece tomado por uma febre que se infiltra até no santuário e na solidão. Barulhos e estrondos invadiram todas as coisas. As pessoas não conseguem mais recolher-se. Vítimas de milhares de distrações, elas dissipam normalmente as suas energias atrás das várias formas da cultura moderna. Jornais, revistas, livros invadem a intimidade das nossas casas e dos nossos corações. É mais difícil do que antes encontrar uma oportunidade para aquele recolhimento no qual a alma consegue estar plenamente ocupada em Deus”. Mas procuremos também ver como fazer, concretamente, para reencontrar e conservar o hábito da interioridade. Moisés era um homem muito ativo. Mas está escrito que ele tinha mandado construir uma tenda portátil e em cada etapa do êxodo fixava a tenda fora do acampamento e regularmente entrava nela para consultar o Senhor. Ali, o Senhor falava com Moisés “cara a cara, como um homem fala com outro” (Ex 33, 11). Mas até isso nem sempre é possível fazer. Nem sempre é possível retirar-se a uma capela ou a um lugar solitário para reencontrar o contato com Deus. Por isso, São Francisco de Assis sugere outra solução mais ao alcance das mãos. Enviando os seus freis pelos caminhos do mundo, dizia: Nós temos um eremitério sempre conosco onde quer que estejamos e toda vez que o queiramos podemos, como eremitas, reentrar neste eremitério. “Irmão corpo é o eremitério e a alma o eremita que ali habita dentro para orar a Deus e meditar”. É como ter um deserto sempre “em casa” ou melhor “dentro de casa”, onde é possível retirar-se com o pensamento em cada momento, até mesmo andando pelo caminho. Concluímos esta primeira parte da nossa meditação escutando, como dirigidas a nós, a exortação que Santo Anselmo de Aosta dirigiu ao leitor em uma sua famosa obra: “Ânimo, mísero mortal, fuja por um curto período das tuas ocupações, deixa um pouco os teus pensamentos tumultuados. Afasta nesse momento os graves problemas e coloca de lado as tuas extenuantes atividades. Espera um pouco Deus e descansa nele. Entra no íntimo da tua alma, exclua tudo, exceto Deus e o que te ajude a procura-lo, e, fechada a porta, diga a Deus: Busco o teu rosto. O teu rosto eu procuro, Senhor[4]”. 2. Os jejuns agradáveis a Deus O segundo grande tema presente na narração de Jesus no deserto é o jejum. “Por quarenta dias e quarenta noites esteve jejuando. Depois teve fome” (Mt 4, 1b). O que significa para nós, hoje, imitar o jejum de Jesus? Antes, com a palavra jejum se entendia somente o limitar-se nos alimentos e nas bebidas e o abster-se das carnes. Este jejum alimentar conserva ainda a sua validez e é altamente recomendado, quando, é claro, a sua motivação é religiosa e não apenas higiênica ou estética, mas não é mais o único e nem sequer o mais necessário. A forma mais necessária e significativa de jejum chama-se hoje sobriedade. Privar-se voluntariamente de pequenos ou grandes confortos, do que é inútil e às vezes também prejudicial à saúde. Este jejum é solidariedade com a pobreza de tantos. Quem não lembra as palavras de Isaías que a liturgia nos faz ouvir no começo de toda Quaresma? “Por acaso não consiste nisto o jejum que escolhi: em repartir o teu pão com o faminto, em recolheres em tua casa os pobres desabrigados, em vestires aquele que vês nu e em não te esconderes daquele que é tua carne?” (Is 58, 6-7). Tal jejum também é uma resposta a uma mentalidade consumista. Em um mundo, que fez do conforto supérfluo e inútil um dos fins da própria atividade, renunciar ao supérfluo, saber privar-se de algo, deixar de recorrer sempre à solução mais cômoda, do escolher a coisa mais fácil, o objeto de maior luxo, viver, em suma, com sobriedade, é mais eficaz do que impor-se penitências artificiais. É, acima de tudo, justiça para com as gerações que virão depois da nossa, que não devem ser obrigadas a viver das cinzas do que nós consumimos e desperdiçamos. A sobriedade também tem um valor ecológico, de respeito pela criação. Mais necessário do que o jejum de alimentos é hoje também o jejum das imagens. Vivemos em uma civilização da imagem; viramos devoradores de imagens. Por meio da televisão, a imprensa, a publicidade, deixamos entrar, em jorros, imagens dentro de nós. Muitas delas não são saudáveis, transmitem violência e maldade, não fazem mais que incitarem os piores instintos que nós trazemos dentro. São embaladas expressamente para seduzir. Mas talvez o pior é que dão uma ideia falsa e irreal da vida, com todas as consequências que se derivam no impacto depois com a realidade, especialmente para os jovens. Pretende-se inconscientemente que a vida ofereça tudo o que a publicidade apresenta. Se não criamos um filtro, uma barreira, transformamos, em um curto espaço de tempo, a nossa fantasia e a nossa imaginação em um depósito de lixo. As imagens ruins não morrem quando chegam ao nosso interior, mas fermentam. São transformadas em impulsos para a imitação, condicionam terrivelmente a nossa liberdade. Um filósofo materialista, Feuerbach, disse: “O homem é o que ele come”; hoje, talvez, devêssemos dizer: “O homem é o que ele olha”. Outro destes jejuns alternativos, que podemos fazer durante a Quaresma, é aquele das palavras más. São Paulo recomenda: “Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas, na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graça aos que a ouvirem” (Efésios 4, 29). Palavras inconvenientes não são só os palavrões; são também as palavras cortantes, negativas que iluminam sistematicamente o lado fraco do irmão, palavras que semeiam discórdia e desconfianças. Na vida de uma família ou de uma comunidade, estas palavras têm o poder de fechar cada um em si mesmo, de congelar, criando amargura e ressentimento. Literalmente, “mortificam”, ou seja, causam a morte. São Tiago dizia que a língua está cheia de veneno mortal; com ela podemos abençoar a Deus ou amaldiçoa-lo, ressuscitar um irmão ou mata-lo (cf. Tg 3, 1-12). Uma palavra pode ser pior do que um soco. No Evangelho de Mateus aparece uma palavra de Jesus que abalou os leitores do Evangelho de todos os tempos: “Eu vos digo que toda palavra sem fundamento que os homens disserem, darão contas no Dia do Julgamento” (Mt 12, 36). Jesus certamente não pretende condenar toda palavra inútil no sentido de não “estritamente necessária”. Tomado no sentido passivo, o termo argon (a = sem, ergon = obra) usado no Evangelho indica a palavra privada de fundamento, portanto, a calúnia; tomado em sentido ativo, significa a palavra que não fundamenta nada, que não serve nem mesmo para a necessária descontração. São Paulo recomendava ao discípulo Timóteo: “Evita o palavreado vão e ímpio, já que os que o praticam progredirão na impiedade” (2 Tm 2,16). Uma recomendação que o Papa Francisco nos repetiu mais de uma vez. A palavra inútil (argon) é o oposto da palavra de Deus, que é de fato definida, pelo contrário, energes, (1Tess 2,13; Hb 4,12), ou seja, eficaz, criativa, cheia de energia e útil a tudo. Neste sentido, o que os homens terão de dar conta no dia do juízo é, em primeiro lugar, a palavra vazia, sem fé e sem unção, pronunciada por quem deveria, pelo contrário, pronunciar as palavras de Deus que são “espírito e vida”, especialmente no momento em que exercita o ministério da Palavra. 3. Tentado por Satanás Passemos ao terceiro elemento da narração evangélica no qual queremos refletir: a luta de Jesus contra o demônio, as tentações. Em primeiro lugar uma pergunta: existe o demônio? Ou seja, a palavra demônio indica realmente alguma realidade pessoal, dotada de inteligência e vontade, ou é simplesmente um símbolo, um modo de dizer para indicar a soma do mal moral no mundo, o inconsciente coletivo, a alienação coletiva e assim por diante? A principal evidência da existência do demônio nos Evangelhos não está nos vários episódios de libertação de possessos, porque na interpretação destes fatos pode ter influenciado as crenças antigas sobre a origem de certas doenças. Jesus é tentado no deserto pelo demônio, esta é a prova. A prova é também os muitos santos que lutaram na vida contra o príncipe das trevas. Eles não são uns “Dom Quixote” que lutaram contra moinhos de vento. Pelo contrário, eram homens muito concretos e com a psicologia muito saudável. São Francisco de Assis uma vez confidenciou a um companheiro: “Se os freis soubessem quantas ou quais tribulações eu recebo dos demônios, não haveria um só que não iria começar a chorar por mim[5]“. Se para muitos é um absurdo crer no demônio é porque se baseiam em livros, passam a vida nas bibliotecas ou em escrivaninhas, enquanto o demônio não está interessado nos livros, mas nas pessoas, especialmente, é claro, nos santos. O que pode saber sobre Satanás quem nunca teve que lidar com a realidade de satanás, mas somente com a sua ideia, ou seja, com as tradições culturais, religiosas, etnológicas sobre Satanás? Esses costumam tratar este assunto com grande confiança e superioridade, descartando tudo como “obscurantismo medieval”. Mas é uma falsa segurança. Como alguém que se gabasse de não ter nenhum medo do leão, aduzindo como prova o fato de que já o viu tantas vezes pintado ou fotografado e nunca se assustou. É completamente normal e coerente que não acredite no diabo, quem não crê em Deus. Seria realmente trágico se alguém que não crê em Deus, cresse no diabo! No entanto, pensando bem, é o que acontece em nossa sociedade. O demônio, o satanismo e outros fenômenos conexos são hoje de grande atualidade. O nosso mundo tecnológico e industrializado está cheio de magos, feiticeiros de cidade, ocultismo, espiritismo, adivinhadores de horóscopos, vendedores de feitiços, de amuletos, bem como de verdadeiras seitas satânicas. Expulso pela porta, o diabo voltou pela janela. Ou seja, expulso pela fé, voltou com a superstição. A coisa mais importante que a fé cristã tem a dizer-nos, no entanto, não é que o demônio existe, mas que Cristo venceu o demônio. Cristo e o demônio não são para o cristão dois princípios iguais e contrários, como em certas religiões dualísticas. Jesus é o único Senhor; Satanás não é nada mais do que uma criatura “apodrecida”. Se lhe foi concedido ter poder sobre os homens, é para que os homens possam ter a possibilidade de fazer livremente uma escolha de campo e também para que “não se encham de soberba” (cf. 2 Cor 12,7), achando-se auto-suficientes e sem a necessidade de algum redentor. “O velho Satanás é louco” diz um canto espiritual negro. “Deu um tiro para destruir a minha alma, mas errou a mira e destruiu, em vez disso, o meu pecado”. Com Cristo não temos nada a temer. Nada e ninguém pode nos prejudicar, se nós mesmos não o quisermos. Satanás, dizia um antigo padre da Igreja, depois da vinda de Cristo, é como um cão amarrado no quintal: pode latir e atacar o quanto quiser; mas, se não somos nós que chegamos perto, não pode morder. Jesus no deserto se libertou de Satanás para libertar-nos de Satanás! Os Evangelhos nos falam de três tentações: “Se tu és o Filho de Deus, diga para essas pedras se transformarem em pão”; “Se eres o Filho de Deus, atira-te para baixo”; “Todas estas coisas eu te darei, se, prostrando-te, me adorares”. Elas têm um objetivo único e comum a todas: desviar Jesus da sua missão, desvia-lo do objetivo pelo qual veio à terra; substituir o plano do Pai por outro diferente. No batismo, o Pai tinha apontado a Cristo o caminho do Servo obediente que salva com a humildade e o sofrimento; Satanás propõe um caminho de glória e de triunfo, o caminho que todos então esperavam do Messias. Ainda hoje, todo o esforço do diabo é de desviar o homem do objetivo pelo qual veio ao mundo que é o de conhecer, amar e servir a Deus nesta vida para gozá-lo depois na outra. Distraí-lo, ou seja, atraí-lo para outro lugar, para outra direção. Satanás, porém, é também astuto; não aparece pessoalmente com chifres e cheiro de enxofre (seria muito fácil reconhece-lo); serve-se das coisas boas levando-as ao excesso, absolutizando-as e transformando-as em ídolos. O dinheiro é uma coisa boa, como o é o prazer, o sexo, o comer, o beber. Mas se eles se transformam na coisa mais importante da vida, o fim, não mais meios, então se tornam destrutivos para a alma e muitas vezes também para o corpo. Um exemplo particularmente relevante para o tema é o divertimento, a distração. O descanso é uma dimensão nobre do ser humano; Deus mesmo recomendou o repouso. O mal é fazer do jogo o objetivo da vida, viver a semana como espera do sábado à noite ou do jogo no estádio no domingo, por não mencionar outros passatempos muito menos inocentes. Neste caso, a diversão muda de significado e, mais do que servir para o crescimento humano e aliviar o estreasse e o cansaço, aumenta-os. Um hino litúrgico da Quaresma exorta a usar com mais moderação, neste tempo, as “palavras, alimentos, bebidas, sono e diversões”. Este é um tempo para redescobrir por que viemos ao mundo, de onde viemos, aonde iremos, que rota estamos seguindo. Senão, pode acontecer conosco o que aconteceu com o Titanic ou, mais próximo de nós no tempo e no espaço, com a Costa Concordia. 4. Por que Jesus foi para o deserto Tentei destacar os ensinamentos e exemplos que nos chegam de Jesus para este tempo da Quaresma, mas tenho que dizer que até agora não falei do mais importante de todos. Por que Jesus, depois do seu batismo, foi para o deserto? Para ser tentado por Satanás? Não, nem sequer pensava nisso; ninguém vai de propósito buscar tentações e ele mesmo nos ensinou a rezar para não sermos levados à tentação. As tentações foram uma iniciativa do demônio, permitidas pelo Pai, para a glória do seu Filho e como ensinamento para nós. Foi ao deserto para jejuar? Também, mas não principalmente para isso. Foi para rezar! Sempre quando Jesus se retirava em lugares desertos era para orar ao seu Pai. Foi para sintonizar-se, como homem, com a vontade divina, para aprofundar a missão que a voz do Pai, no batismo, lhe tinha feito vislumbrar: a missão do Servo obediente chamado a redimir o mundo com o sofrimento e a humilhação. Foi em definitiva para orar, para estar em intimidade com o seu Pai. E isso é também o objetivo principal da nossa Quaresma. Foi ao deserto pelo mesmo motivo pelo qual, segundo Lucas, um dia, mais tarde, subiu ao Monte Tabor, ou seja, para orar (Lc 9, 28). Não se vai ao deserto somente para deixar algo – o barulho, o mundo, as ocupações -; vai-se principalmente para encontrar algo, ou melhor, Alguém. Não se vai somente para reencontrar a si mesmo, para colocar-se em contato com o próprio eu profundo, como em tantas formas de meditações não cristãs. Estar a sós consigo mesmo pode significar encontrar-se com a pior das companhias. O crente vai ao deserto, desce ao próprio coração, para renovar o seu contato com Deus, porque sabe que “no homem interior habita a Verdade”. É o segredo da felicidade e da paz nesta vida. O que mais deseja um apaixonado do que estar a sós, em intimidade, com a pessoa amada? Deus é apaixonado por nós e deseja que nós nos apaixonemos por ele. Falando do seu povo como de uma esposa, Deus disse: “A conduzirei ao deserto e falarei ao seu coração” (Os 2,16). Sabe-se qual é o efeito do enamoramento: todas as coisas e todas as outras pessoas ficam pra trás, em segundo plano. Há uma presença que preenche tudo e faz todo resto “secundário”. Não isola dos outros, que, de fato, torna ainda mais atento e disponível para com os outros, mas como de reflexo, por redundância do amor. Oh, se nós homens e mulheres de Igreja descobríssemos o quanto está perto de nós, ao alcance das mãos, a felicidade e a paz que buscamos neste mundo! Jesus está esperando por nós no deserto: não o deixemos sozinho em todo esse tempo. [Traduzido do original italiano por Thácio Siqueira] [1] S. Agostinho, In Ioh. Ev., 18, 10 (CCL 36, p. 186). [Trad.Livre] [2] S. Agostinho, Confessioni, X, 27. [Trad.Livre] [3] S. Kierkegaard, La malattia mortale, II, in Opere, edição de C. Fabro, Florência 1972, p. 663. [Trad.Livre] [4] S. Anselmo, Proslogion, 1, (Opera omnia, 1, Edimburgo 1946, p.97). [Trad.Livre] [5] Cf. Speculum perfectionis, 99 (FF 1798). Segunda pregação da quaresma SANTO AGOSTINHO: “CREIO NA IGREJA UMA E SANTA” 1. Do Oriente ao Ocidente Na meditação introdutória, da semana passada, refletimos sobre o significado da Quaresma como um tempo para irmos com Jesus até o deserto, em jejum de alimentos, palavras e imagens, para aprender a superar as tentações e, sobretudo, crescer na intimidade com Deus. Nas quatro pregações que restam, dando continuidade à reflexão iniciada na Quaresma de 2012 com os Padres gregos, frequentaremos agora a escola dos quatro grandes doutores da Igreja latina: Agostinho, Ambrósio, Leão Magno e Gregório Magno; para ver o que cada um nos diz, hoje, sobre a verdade da fé que mais particularmente defendeu: respectivamente, a natureza da Igreja, a presença real de Cristo na Eucaristia, o dogma cristológico de Calcedônia e a inteligência espiritual das Escrituras. O objetivo é redescobrir, por trás desses grandes Padres, a riqueza, a beleza e a felicidade de crer; passar, como diz São Paulo, “de fé em fé” (Rm 1,17), de uma fé acreditada para uma fé vivida. Teremos, assim, um aumento do “volume” de fé dentro da Igreja para constituir depois a força maior do seu anúncio ao mundo. O título do ciclo vem de um pensamento caro aos teólogos medievais: “Nós”, dizia Bernardo de Chartres, “somos como anões sentados em ombros de gigantes, de modo a vermos mais coisas e mais longe do que eles, não pela agudeza do nosso olhar nem pela altura do nosso corpo, mas porque somos carregados para o alto e elevados por eles a uma altura gigantesca” (1). Este pensamento encontrou expressão artística em certas estátuas e vitrais de catedrais góticas da Idade Média, em que são representados personagens de estatura imponente, que carregam, sentados sobre seus ombros, homens pequenos, quase anões. Os gigantes eram para eles, como são para nós, os Padres da Igreja. Depois das lições de Atanásio, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa, respectivamente sobre a divindade de Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade e sobre o conhecimento de Deus, podia-se ter a impressão de que restasse muito pouco a ser feito pelos Padres latinos na edificação do dogma cristão. Um olhar superficial para a história da teologia nos convence imediatamente do contrário. Motivados pela cultura a que pertenciam, favorecidos pela sua forte têmpera especulativa e condicionados pelas heresias que eram forçados a combater (arianismo, apolinarismo, nestorianismo, monofisismo), os Padres gregos tinham se concentrado principalmente nos aspectos ontológicos do dogma: a divindade de Cristo, as suas duas naturezas e o modo da sua união, a unidade e a trindade de Deus. Os temas mais caros a Paulo, a justificação, a relação entre lei e evangelho, a Igreja como corpo de Cristo, foram deixados à margem da sua atenção ou tratados en passant. Aos seus escopos respondia muito melhor João, com a sua ênfase na encarnação, do que Paulo, que põe no centro de tudo o mistério pascal, isto é, o agir, mais do que o ser de Cristo. A índole dos latinos, mais inclinada, excetuando-se Agostinho, a se ocupar de problemas específicos, jurídicos e organizacionais, do que de questões especulativas, unida ao surgimento de novas heresias, como o donatismo e o pelagianismo, estimulará uma reflexão nova e original sobre os temas paulinos da graça, da Igreja, dos sacramentos e das Escrituras. São os tempos sobre os quais queremos refletir nesta pregação quaresmal. 2. O que é a Igreja? Comecemos a nossa resenha pelo maior dos padres latinos, Agostinho. O doutor de Hipona deixou a sua marca em quase todas as áreas da teologia, mas especialmente em duas: a da graça e a da Igreja; a primeira, fruto da sua luta contra o pelagianismo; a segunda, de sua luta contra o donatismo. O interesse pela doutrina de Santo Agostinho sobre a graça prevaleceu, do século XVI em diante, tanto no âmbito protestante (ao qual estão ligados Lutero, com a doutrina da justificação, e Calvino, com a da predestinação), quanto no campo católico, por causa das controvérsias levantadas por Jansen e Baio (2). Já o interesse pelas suas doutrinas eclesiais prevalece em nossos dias, porque o Concílio Vaticano II fez da Igreja o seu tema central e porque o movimento ecumênico tem na ideia de Igreja a questão crucial a ser resolvida. Procurando ajuda e inspiração nos Padres da Fé para o hoje da fé, vamos nos ocupar desta segunda área de interesse de Santo Agostinho, que é a Igreja. A Igreja não era um assunto desconhecido para os Padres gregos nem para os escritores latinos anteriores a Agostinho (Cipriano, Hilário, Ambrósio), mas as suas afirmações se limitavam principalmente a repetir e comentar afirmações e imagens das Escrituras. A Igreja é o novo povo de Deus; a ela é prometida a indefectibilidade; ela é “a coluna e a base da verdade”; o Espírito Santo é o seu mestre supremo; a Igreja é “católica” porque se estende a todos os povos, ensina todos os dogmas e possui todos os carismas; na esteira de Paulo, fala-se da Igreja como do mistério da nossa incorporação a Cristo por meio do batismo e do dom do Espírito Santo; ela nasceu do lado aberto de Cristo na cruz, como Eva do lado de Adão adormecido (3). Tudo isso, porém, era dito ocasionalmente; a Igreja ainda não tinha entrado em discussão. Quem será forçado a tratar dela é justamente Agostinho, que, durante quase toda a vida, teve de lutar contra o cisma dos donatistas. Talvez ninguém se lembrasse hoje daquela seita norte-africana se ela não tivesse sido a ocasião de origem do que hoje chamamos de eclesiologia, ou seja, um discurso refletido sobre o que é a Igreja no desígnio de Deus, a sua natureza e o seu funcionamento. Por volta de 311, um certo Donato, bispo da Numídia, se recusou a receber novamente na comunhão eclesial aqueles que durante a perseguição de Diocleciano tinham entregado os livros sagrados às autoridades estatais, renegando a fé para salvar a vida. Em 311, foi eleito bispo de Cartago um certo Ceciliano, acusado, erradamente segundo os católicos, de ter traído a fé durante a perseguição de Diocleciano. Opôs-se a esta nomeação um grupo de setenta bispos do norte africano, liderados por Donato. Eles depuseram Ceciliano e elegeram em seu lugar Donato. Excomungado pelo papa Milcíades em 313, ele permaneceu no seu posto, provocando um cisma que criou no norte da África uma Igreja paralela à católica, mantida até a invasão dos vândalos, um século depois. Durante a polêmica, eles tentaram justificar a sua posição com argumentos teológicos. Foi para refutá-los que Agostinho desenvolveu, pouco a pouco, a sua doutrina da Igreja. Isto aconteceu em dois contextos diferentes: nas obras escritas diretamente contra os donatistas e nos seus comentários à Escritura e discursos ao povo. É importante distinguir entre esses dois contextos porque, conforme cada um, Agostinho insistirá mais em alguns aspectos da Igreja do que em outros e só a partir do conjunto é que pode ser entendida a sua doutrina completa. Vamos ver, portanto, brevemente, quais são as conclusões a que o santo chega em cada um dos dois contextos, a começar pelo diretamente antidonatista. a. A Igreja, comunhão dos sacramentos e sociedade dos santos. O cisma donatista partiu de uma convicção: não pode transmitir a graça um ministro que não a possui; os sacramentos administrados desta forma seriam desprovidos de qualquer efeito. Este argumento, que no início foi aplicado à ordenação do bispo Ceciliano, acabou estendido rapidamente aos outros sacramentos, em particular ao batismo. Com isto, os donatistas justificavam a sua separação dos católicos e a prática de rebatizar quem vinha das suas fileiras. Em resposta, Agostinho desenvolve um princípio que se tornará uma conquista perene da teologia e que lança as bases de um futuro tratado de sacramentis: a distinção entre potestas e ministerium, ou seja, entre a causa da graça e o seu ministro. A graça conferida pelos sacramentos é obra exclusiva de Deus e de Cristo; o ministro não passa de um instrumento: “Pedro batiza, é Cristo quem batiza; João batiza, é Cristo quem batiza; Judas batiza, é Cristo quem batiza”. A validade e eficácia dos sacramentos não é impedida pelo ministro indigno: uma verdade da qual, bem sabemos, o povo cristão precisa se lembrar também hoje… Neutralizada, assim, a principal arma do adversário, Agostinho pode elaborar a sua grandiosa visão da Igreja mediante algumas distinções fundamentais. A primeira é entre a Igreja presente ou terrestre e a Igreja celestial ou futura. Só esta segunda será uma Igreja de todos santos e apenas santos; a Igreja do tempo presente será sempre o campo em que se misturam o trigo e o joio, a rede que recolhe peixes bons e peixes ruins, ou seja, santos e pecadores. Dentro da Igreja em seu estágio terreno, Agostinho opera outra distinção: entre a comunhão dos sacramentos (communio sacramentorum) e a sociedade dos santos (societas sanctorum). A primeira une visivelmente entre si todos aqueles que participam dos mesmos sinais externos: os sacramentos, a Escritura, a autoridade; a segunda une entre si todos e apenas aqueles que, além dos sinais, também têm em comum a realidade escondida nos sinais (res sacramentorum), que é o Espírito Santo, a graça, a caridade. Dado que na terra sempre será impossível saber com certeza quem possui o Espírito Santo e a graça, e, mais ainda, se eles perseverarão nesse estado até o fim, Agostinho acaba identificando a verdadeira e definitiva comunidade dos santos com a Igreja celeste dos predestinados. “Quantas ovelhas que hoje estão dentro estarão fora, e quantos lobos que hoje estão fora estarão dentro!” (5). A novidade, neste ponto, mesmo no tocante a Cipriano, é que, enquanto este fazia consistir a unidade da Igreja em algo externo e visível, na concórdia de todos os bispos entre si, Agostinho a faz consistir em algo interno: o Espírito Santo. A unidade da Igreja é operada, assim, pelo mesmo que opera a unidade na Trindade: “O Pai e o Filho quiseram que estivéssemos unidos entre nós e com eles por meio do mesmo vínculo que os une, o amor, que é o Espírito Santo” (6). Ele executa na Igreja a mesma função que exerce a alma em nosso corpo natural: ser o seu princípio vital e unificador. “O que a alma é para o corpo humano, o Espírito Santo é para o Corpo de Cristo, que é a Igreja” (7). A plena pertença à Igreja exige as duas coisas juntas, a comunhão visível dos sinais sacramentais e a comunhão invisível da graça. Esta, no entanto, admite graus, e por isso não quer dizer que se deva estar necessariamente dentro ou fora. Pode-se estar em parte dentro e em parte fora. Há uma pertença exterior, ou sinais sacramentais, em que se situam os cismáticos donatistas e os próprios maus católicos, e uma comunhão plena e total. A primeira consiste em ter o sinal externo da graça (sacramentum), sem receber, porém, a realidade interior produzida por eles (res sacramenti), ou em recebê-la, mas para a própria condenação, não para a própria salvação, como no caso do batismo administrado pelos cismáticos ou da Eucaristia recebida indignamente pelos católicos. b. A Igreja Corpo de Cristo animado pelo Espírito Santo. Nos escritos exegéticos e nos discursos ao povo, encontramos esses mesmos princípios básicos da eclesiologia; mas menos pressionado pela controvérsia e falando, por assim dizer, em família, Agostinho pode insistir mais em aspectos interiores e espirituais da Igreja, mais caros a ele. Neles, a Igreja é apresentada, com tons muitas vezes elevados e comovidos, como o corpo de Cristo (ainda falta o adjetivo “místico”, que será adicionado mais tarde), animado pelo Espírito Santo, tão afim ao corpo eucarístico a ponto de, às vezes, igualar-se quase totalmente a ele. Ouçamos o que ouviram os seus fiéis, numa festa de Pentecostes, sobre esta questão: “Se queres entender o corpo de Cristo, ouve o Apóstolo que diz aos fiéis: Vós sois o corpo de Cristo e os seus membros (1 Co 12,27). Se vós sois o corpo e os membros de Cristo, na mesa do Senhor está o vosso mistério: recebei o vosso mistério. Ao que sois, respondeis „amém‟ e, ao respondê-lo, o confirmais. É dito a vós: „o corpo de Cristo‟, e respondeis: „amém‟. Sê membro do corpo de Cristo, para o teu amém ser verdadeiro… Sede o que vedes e recebei o que sois” (8). O nexo entre os dois corpos de Cristo se fundamenta, para Agostinho, na singular correspondência simbólica entre o devir de um e o formar-se da outra. O pão da Eucaristia é obtido da massa de muitos grãos de trigo e o vinho de uma multidão de bagos de uva: assim a Igreja é formada por muitas pessoas, reunidas e amalgamadas pela caridade que é o Espírito Santo (9). Como o trigo espalhado pelas colinas foi primeiro colhido, depois moído, misturado com água e assado no forno, assim os fiéis esparsos pelo mundo foram reunidos pela palavra de Deus, moídos pelas penitências e exorcismos que precedem o batismo, imersos na água do batismo e passados pelo fogo do Espírito. Mesmo em relação à Igreja, deve-se dizer que o sacramento “significando causat”: significando a união de várias pessoas em uma, a Eucaristia a realiza, a causa. Neste sentido, podemos dizer que “a Eucaristia faz a Igreja”. 3. Atualidade da eclesiologia de Agostinho Vamos agora ver como as ideias de Agostinho sobre a Igreja podem ajudar a iluminar os problemas que ela enfrenta em nosso tempo. Quero me concentrar em especial na importância da eclesiologia de Agostinho para o diálogo ecumênico. Uma circunstância torna esta escolha particularmente oportuna. O mundo cristão se prepara para celebrar o quinto centenário da Reforma Protestante. Já começaram a circular declarações e documentos conjuntos em vista do evento (10). É vital, para toda a Igreja, não estragarmos esta ocasião permanecendo prisioneiros do passado, tentando apurar, talvez com maior objetividade e serenidade, as razões e as culpas de um e de outro, mas sim darmos um salto de qualidade, como ocorre na eclusa de um rio ou de um canal, que permite que os navios continuem a sua navegação num patamar mais elevado. A situação do mundo, da Igreja e da teologia mudou desde aquela época. Trata-se de recomeçar a partir da pessoa de Jesus, de ajudar humildemente os nossos contemporâneos a descobrir a pessoa de Cristo. Devemos nos remeter ao tempo dos apóstolos. Eles tinham diante de si um mundo pré-cristão; nós temos diante de nós um mundo em grande parte pós-cristão. Quando Paulo quis resumir em uma frase a essência da mensagem cristã, ele não disse “Anunciamos esta ou aquela doutrina”, mas “Nós proclamamos Cristo, e Cristo crucificado” (1 Cor 1, 23). E ainda: “Nós proclamamos Jesus Cristo, o Senhor” (2 Cor 4,5). Isto não significa ignorar o grande enriquecimento teológico e espiritual produzido pela Reforma, nem querer retornar ao ponto de antes; significa, em vez disso, deixar que toda a cristandade se beneficie das suas conquistas, uma vez libertadas de certas forçações devidas ao clima polêmico do momento e às posteriores controvérsias. A justificação gratuita pela fé, por exemplo, deveria ser anunciada hoje, e com mais força do que nunca, mas não em oposição às boas obras, o que é uma questão superada, e sim em oposição à pretensão do homem moderno de se salvar sozinho, sem necessidade nem de Deus nem de Cristo. Se vivesse hoje, sou convencido que isto seria o modo com o qual Lutero predicasse a justificação por fé. Vamos ver como a teologia de Agostinho pode nos ajudar neste esforço para superar as barreiras seculares. O caminho a percorrer hoje, em certo sentido, segue na direção oposta à que foi tomada por ele contra os donatistas. Na época, era preciso ir da comunhão dos sacramentos à comunhão na graça do Espírito Santo e na caridade, mas hoje temos que ir da comunhão espiritual da caridade à plena comunhão, inclusive nos sacramentos, entre os quais, em primeiro lugar, a Eucaristia. A distinção entre os dois níveis de realização da verdadeira Igreja, o externo, dos sinais, e o interno, da graça, permite que Agostinho formule um princípio que seria impensável antes dele: “Pode haver algo na Igreja católica que não seja católico, e fora da Igreja católica algo católico” (11). Os dois aspectos da Igreja, o visível e institucional e o invisível e espiritual, não podem ser separados. Isso é verdade e foi reiterado por Pio XII na Mystici corporis e pelo Concílio Vaticano II na Lumen Gentium, mas, devido às separações históricas e ao pecado humano, até que se realize a sua correspondência plena, não podemos dar mais importância à comunidade institucional do que à espiritual. Para mim, isto levanta uma séria indagação. Posso eu, como católico, me sentir mais em comunhão com a multidão dos que, tendo sido batizados na minha própria Igreja, se desinteressam completamente de Cristo e da Igreja, ou se interessam por ela apenas para falar mal, do que me sinto em comunhão com as fileiras daqueles que, apesar de pertencer a outras confissões cristãs, acreditam nas mesmas verdades fundamentais em que eu creio, amam Jesus Cristo até dar a vida por ele, difundem o Evangelho, se esforçam para aliviar a pobreza no mundo e possuem os mesmos dons do Espírito Santo que nós? As perseguições, tão frequentes hoje em certas partes do mundo, não fazem distinção: os perseguidores não queimam igrejas nem matam pessoas porque elas são católicas ou protestantes, mas porque são cristãs. Para eles, nós já somos “uma coisa só”! Esta, obviamente, é uma pergunta que deveria ser feita também pelos cristãos das outras igrejas a propósito dos católicos, e, graças a Deus, é precisamente isto o que está acontecendo de uma forma oculta, porém maior do que as notícias nos deixam vislumbrar. Um dia, tenho certeza, ficaremos admirados, ou outros ficarão, por não termos notado antes o que o Espírito Santo estava realizando entre os cristãos do nosso tempo, à margem da oficialidade. Fora da Igreja católica há muitíssimos cristãos que olham para ela com olhos novos e começam a reconhecer nela as suas próprias raízes. A intuição mais nova e fecunda de Agostinho sobre a Igreja, como vimos, foi a de identificar o princípio essencial da sua unidade no Espírito, mais do que na comunhão horizontal dos bispos uns com os outros e dos bispos com o papa de Roma. Como a unidade do corpo humano é dada pela alma que vivifica e move todos os seus membros, assim é a unidade do corpo de Cristo. Esta unidade é um fato místico, mais do que uma realidade que se expressa social e visivelmente em perspectiva externa. É o reflexo da unidade perfeita que existe entre o Pai e o Filho por obra do Espírito. Foi Jesus quem fixou de uma vez para sempre este fundamento místico da unidade quando disse: “Que todos sejam um, como nós somos um” (Jo 17, 22). A unidade essencial na doutrina e na disciplina será o fruto desta unidade mística e espiritual, nunca a sua causa. Os passos mais concretos para a unidade não são dados, portanto, em torno de uma mesa ou nas declarações conjuntas (embora tudo isto seja importante); são dados quando os crentes de diferentes confissões proclamam juntos, em acordo fraterno, o Senhor Jesus, compartilhando cada um o próprio carisma e reconhecendo-se irmãos em Cristo. 4. Membros do corpo de Cristo, movidos pelo Espírito! Em seus discursos ao povo, Agostinho nunca expõe as suas ideias sobre a Igreja sem apresentar imediatamente as consequências práticas para a vida cotidiana dos fiéis. E é isto o que nós também queremos fazer antes de concluir a nossa meditação, como se nos colocássemos entre as fileiras dos seus ouvintes de então. A imagem da Igreja como Corpo de Cristo não é uma novidade de Agostinho. O que é novo nele são as conclusões práticas para a vida dos crentes. Uma delas é que não temos mais razão para nos olharmos com inveja e com ciúme. O que eu não tenho, mas os outros têm, também é meu. Ouvimos o apóstolo elencar todos aqueles maravilhosos carismas: apostolado, profecia, curas… e talvez nos entristeçamos pensando que não temos nenhum deles. Mas, cuidado, alerta Agostinho: “Se tu amas, o que tens não é pouco. Se de fato amas a unidade, tudo o que nela é possuído por alguém é também possuído por ti! Expulsa a inveja e será teu o que é meu, e, se eu expulsar a inveja, será meu o que tu possuis”. Somente o olho, no corpo, tem a capacidade de ver. Mas o olho, por acaso, enxerga apenas para si? Não é todo o corpo que se beneficia da sua capacidade de ver? Só a mão age, mas ela age, acaso, apenas para si mesma? Se uma pedra está prestes a atingir o olho, a mão por acaso permanece imóvel, dizendo que o golpe, afinal, não é contra ela? O mesmo acontece no corpo de Cristo: o que cada membro é e faz, Ele é e faz para todos! Eis por que a caridade é o “caminho mais excelente” (1 Cor 12 , 31): ela me faz amar a igreja, ou a comunidade em que vivo, e, na unidade, todos os carismas, e não apenas alguns, são meus. E há mais: se amas a unidade mais do que eu a amo, o carisma que eu possuo é mais teu do que meu. Suponhamos que eu tenha o carisma de evangelizar; eu posso me comprazer ou me vangloriar dele, e, assim, me torno “um címbalo que retine” (1 Cor 13,01); o meu carisma “de nada me aproveita”, ao passo que o ouvinte não deixa de se beneficiar, apesar do meu pecado. A caridade multiplica realmente os dons; ela faz do carisma de um, o carisma de todos. “Fazes parte do corpo de Cristo? Amas a unidade da Igreja?”, perguntava Agostinho aos seus fiéis. “Então, quando um pagão te perguntar por que não falas todas as línguas, se está escrito que aqueles que receberam o Espírito Santo falam todas as línguas, responde sem hesitar: „É claro que falo todas as línguas! Eu pertenço ao corpo da Igreja, que fala todas as línguas e em todas as línguas proclama as grandes obras de Deus‟” (13). Quando formos capazes de aplicar esta verdade não só às relações dentro da comunidade em que vivemos e à nossa Igreja, mas também às relações entre uma Igreja cristã e a outra, naquele dia a unidade dos cristãos será praticamente um fato consumado. Acolhamos a exortação com que Agostinho fecha muitos dos seus discursos sobre a Igreja: “Se quiserdes, pois, experimentar o Espírito Santo, mantenha o amor, amai a verdade e alcançareis a eternidade. Amém” (14). [Tradução do original italiano por ZENIT português] (1) Bernardo de Chartres, coment. João de Salisbury, Metalogicon, III, 4 (Corpus Chr. Cont. Med., 98, p.116). (2) A este âmbito da influência de Agostinho é dedicado o livro de H. de Lubac, Augustinisme et théologie moderne, Paris, Aubier 1965. (3) Cf. J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines, London 1968 chap. XV. (4) Agostinho, Contra Epist. Parmeniani II,15,34; cf. todo o Sermo 266. (5) Agostinho, In Ioh. Evang. 45,12: “Quam multae oves foris, quam multi lupi intus!”. (6) Agostinho, Discursos, 71, 12, 18 (PL 38,454). (7) Agostinho, Sermo 267, 4 (PL 38, 1231). (8) Agostinho, Sermo 272 (PL 38, 1247 em diante). (9) Ibidem. (10) Cf. documento conjunto católico-luterano “Do conflito à comunhão”, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/lutheran-feddocs/rc_pc_chrstuni_doc_2013_dal-conflitto-alla-comunione_it.html (em italiano). (11) Agostinho, De Baptismo, VII, 39, 77. (12) Agostinho, Tratados sobre João, 32,8. (13) Cf. Agostinho, Discursos, 269, 1.2 (PL 38, 1235 s.). (14) Agostinho, Sermo 267, 4 (PL 38, 1231) Terceira pregação da Quaresma SANTO AMBRÓSIO E A FÉ NA EUCARISTIA 1. A reflexão sobre os sacramentos Junto do tema da Igreja, outro tema sobre o qual se nota um progresso na passagem dos Padres gregos aos latinos é aquele dos sacramentos. Nos primeiros tinha faltado uma reflexão sobre os sacramentos em si, ou seja, sobre a ideia de sacramento, embora tendo tratado de forma excelente de cada mistério: batismo, unção, eucaristia[1]. O iniciador da teologia sacramental – daquilo que, a partir do século XII, será o De sacramentis” – é ainda mais uma vez Agostinho. Santo Ambrósio com as suas duas séries de discursos Sobre os sacramentos” e “Sobre os mistérios”, antecipa o nome do tratado, mas não o seu conteúdo. Também ele, de fato, se ocupa de cada sacramento e não ainda dos princípios comuns a todos os sacramentos: ministro, matéria, forma, modo de produzir a graça… Então, por que escolher Ambrósio como mestre de fé de um tema sacramental como é aquele da Eucaristia sobre o qual queremos hoje meditar? A razão é que Ambrósio é aquele que mais do que qualquer outro tem contribuído para o fortalecimento da fé na presença real de Cristo na Eucaristia e lançou as bases para a futura doutrina da transubstanciação. No De sacramentis escreve: “Este pão é pão antes das palavras sacramentais; quando acontece a consagração, de pão torna-se carne de Cristo [...] Com quais palavras se realiza a consagração e de quem são essas palavras? [...] Quando se realiza o venerável sacramento, já não é mais o sacerdote que usa as suas palavras, mas usa as palavras de Cristo. É, portanto, a palavra de Cristo que realiza este sacramento”[2]. No outro escrito, Sobre os mistérios, o realismo eucarístico é ainda mais explícito. Diz: “A palavra de Cristo que pôde criar do nada o que não existia, não pode transformar em algo diferente aquilo que existe? De fato, não é algo menor dar às coisas uma natureza totalmente nova do que mudar aquela que já tem [...]. Este corpo que produzimos (conficimus) sobre o altar é o corpo nascido da Virgem. [...] Com certeza é a verdadeira carne de Cristo que foi crucificada, que foi sepultada; é, portanto, realmente o sacramento da sua carne [...]. O próprio Senhor Jesus proclama: „Este é o meu corpo‟. Antes da bênção das palavras celestes usa-se o nome de outro objeto, depois da consagração significa corpo”[3]. Sobre este ponto a autoridade de Ambrósio, no desenvolvimento posterior da doutrina eucarística, prevaleceu sobre aquela de Agostinho. Este certamente acredita na realidade da presença de Cristo na Eucaristia, mas, como vimos na meditação passada, acentua ainda mais fortemente o seu significado simbólico e eclesial. Alguns dos seus discípulos chegarão a afirmar não só que a Eucaristia faz a Igreja, mas que a Eucaristia é a Igreja: “Comer o corpo de Cristo, não é nada mais do que tornar-se o corpo de Cristo”[4]. A reação à heresia de Berengário de Tours que reduzia a presença de Jesus na Eucaristia a uma presença só dinâmica e simbólica, provocou uma reação unânime na qual as palavras de Ambrósio tiveram um papel importante. Ele é a primeira autoridade que Santo Tomás de Aquino cita na sua Somma em favor da tese da presença real[5]. A expressão “corpo místico” de Cristo, que até agora tinha servido para designar a Eucaristia, passou aos poucos a indicar a Igreja, enquanto que a expressão “verdadeiro corpo” normalmente foi reservada somente à Eucaristia[6]”. Esta particular inversão marca, de certa forma, o triunfo da herança de Ambrósio sobre aquela de Agostinho. Expressões como aquelas do hino Ave verum, onde o corpo eucarístico de Cristo é saudado como “o verdadeiro corpo, nascido da Virgem Maria, que foi imolado na cruz e de cujo lado jorraram água e sangue”, parecem tiradas quase totalmente das palavras mencionadas acima por Ambrósio. Podemos resumir dessa forma a diferença entre as duas perspectivas. Dos três corpos de Cristo – o corpo verdadeiro ou histórico de Jesus nascido de Maria, o corpo eucarístico e o corpo eclesial – Agostinho une estreitamente o segundo e o terceiro, o corpo eucarístico e aquele da Igreja, diferenciando-os do corpo real e histórico de Jesus; Ambrósio une, de fato identifica , o primeiro com o segundo, ou seja, o corpo histórico de Cristo e aquele eucarístico, distinguindo-os do terceiro, ou seja, do corpo eclesial. Neste sentido, se poderia ir muito além, caindo em um realismo exagerado, quase que – como dizia uma fórmula contrária à heresia de Berengário – o corpo e o sangue de Cristo estivessem presentes no altar “sensivelmente e fossem, na verdade, tocados e partidos pelas mãos do sacerdote e mastigados pelos dentes dos fieis[7]”. Mas o remédio de tal perigo estava na mesma noção de sacramento já claro na teologia. Que a Eucaristia não é uma presença física, mas sacramental, mediada por sinais que são, de fato, o pão e o vinho. 2. A Eucaristia e a Beraka judaica Se existe um limite na visão de Ambrósio, esse é a ausência de qualquer referência à ação do Espírito Santo na produção do corpo de Cristo sobre o altar. Toda a eficácia reside nas palavras da consagração. Elas são para ele palavras criativas, ou seja, palavras que não se limitam a afirmar uma realidade existente, mas produzem a realidade que significam, como a frase “fiat lux” da criação. Isso influenciou na pouca importância que teve na liturgia latina a epiclese do Espírito Santo, que desempenha, pelo contrário, nas liturgias orientais um papel essencial como aquele das palavras da consagração. As novas Orações Eucarísticas fizeram explícito, sobre esse ponto, o que no Cânone romano somente era mencionado implicitamente. A frase: “Santifica, oh Deus, esta oferta com a potência da tua benção”, equivale na verdade a dizer: “Santifica, Oh Deus, esta oferta com a potência do teu Santo Espírito”, e talvez teria sido melhor, no momento de traduzir o Cânone romano nas línguas modernas, explicitar neste sentido o significado da frase, de modo que nem sequer esta venerável oração eucarística ficasse sem uma verdadeira epiclese ao Espírito Santo. Mas há uma lacuna maior, da qual se começa a dar-se conta, e que não diz respeito só a Ambrósio e nem sequer somente aos Padres latinos, mas à explicação do mistério eucarístico no seu todo. Mais do que nunca, vemos aqui como o estudo dos Padres não só nos ajuda a recuperar tesouros antigos, mas também a abrir-nos ao novo que emerge na história; a imitá-los não só no conteúdo, mas também no método que era o de colocar a serviço da palavra de Deus todos os recursos e os conhecimentos disponíveis no seu contexto cultural. O novo recurso que temos hoje para compreender a Eucaristia é a aproximação entre cristãos e judeus. Desde os primeiros dias da Igreja, vários fatores históricos levaram a acentuar a diferença entre o cristianismo e o judaísmo, até contrapô-los entre si, como faz já Ignácio de Antioquia[8]. Destacar-se dos hebreus – na data da Páscoa, nos dias de jejum, e em tantas outras coisas – se torna uma espécie de palavra de ordem. Uma acusação frequentemente direcionada aos próprios adversários e aos hereges é aquela de “judaizar”. A respeito da Eucaristia, o novo clima de diálogo com o judaísmo tornou possível uma melhor compreensão da sua matriz hebraica. Como não é possível entender a Páscoa cristã, a menos que seja considerada como o cumprimento do que a Páscoa hebraica prenunciava, assim não é possível compreender completamente a Eucaristia se ela não é vista como o cumprimento do que os hebreus faziam e diziam ao longo da sua refeição ritual. O próprio nome Eucaristia não é nada mais do que a tradução de Beraka, a oração de bênção e agradecimento feita durante esta refeição. Um primeiro resultado importante dessa mudança foi que hoje nenhum estudioso sério avança mais na hipótese de que a Eucaristia cristã seja explicada à luz da ceia em voga em alguns cultos mistéricos do helenismo, como se tem tentado fazer por mais de um século. Os Padres da Igreja conservam as Escrituras do povo hebraico, mas não a sua liturgia, à qual não podiam mais participar, depois da separação da Igreja da Sinagoga. Assim, para a Eucaristia utilizaram as figuras contidas nas Escrituras – o cordeiro pascal, o sacrifício de Isaac, o de Melquisedec, o maná -, mas não o concreto contexto litúrgico no qual o povo hebraico celebrava todas estas memórias que era a refeição espiritual celebrada, uma vez por ano, na ceia pascal (o Seder) e semanalmente no culto da sinagoga. O primeiro nome pelo qual a Eucaristia foi designada por Paulo no Novo Testamento é o de “refeição do Senhor” (kuriakon deipnon) (1 Cor 11, 20), com evidente referência à refeição hebraica pela qual se diferencia já pela fé em Jesus. É a perspectiva em que se coloca também Bento XVI no capítulo dedicado à Instituição da Eucaristia no seu segundo volume sobre Jesus de Nazaré. Seguindo a opinião agora predominante dos estudiosos, ele aceita a cronologia joanina segundo a qual a ceia de Jesus não foi uma ceia pascal, mas foi uma solene refeição de adeus; com Lous Bouyer, também Bento XVI acredita que seja possível “traçar o desenvolvimento da eucharistia cristã, isto é, do cânone, da beraka hebraica[9]”. Por várias razões culturais e históricas, a partir da Escolástica, tentou-se explicar a Eucaristia à luz da filosofia, especialmente das noções aristotélicas de substância e acidente. Também isso era um colocar a serviço da fé os conhecimentos novos do momento e, portanto, um imitar o método dos Padres. Nos nossos dias, temos que fazer o mesmo com os novos conhecimentos de ordem, desta vez, históricas e litúrgicas mais do que filosóficas. Com base nos estudos já realizados nessa direção, especialmente o de L. Bouyer[10], gostaria de mostrar a luz intensa que recai sobre a Eucaristia cristã quando colocamos as narrações evangélicas da instituição sobre o fundo do que sabemos da refeição espiritual hebraica. A novidade do gesto de Jesus não será diminuída, mas exaltada ao máximo. 3. O que aconteceu naquela noite Um texto que mostra os laços estreitos entre a liturgia judaica e a ceia cristã é a Didaqué. Este texto não é nada mais do que uma coleção de orações da sinagoga, com o acréscimo, aqui e ali, das palavras “pelo teu servo Jesus Cristo”; o resto é idêntico à liturgia da sinagoga. O rito sinagogal era composto por uma série de orações chamadas “berakah” que em grego é traduzido por “Eucaristia”. A beraka resume a espiritualidade da antiga Aliança e é a resposta de benção e de ação de graças que Israel dá à palavra de amor dirigida-lhe pelo seu Deus. O rito seguido por Jesus ao instituir a Eucaristia acompanhava todas as refeições dos Hebreus, mas assumia uma particular importância nas refeições em família ou em comunidade no sábado e nos dias festivos. No início da refeição, cada um por sua vez tomava pela mão uma taça de vinho e, antes de leva-la aos lábios, repetia uma benção que a liturgia atual nos faz repetir quase literalmente no momento do ofertório: “Bendito sejas, Senhor nosso Deus, Rei dos séculos, que nos destes este fruto da videira”. É o primeiro cálice de vinho. Mas a refeição começava oficialmente só quando o pai de família ou o chefe da comunidade tinha partido o pão que tinha que ser distribuído entre os convidados. E, de fato, Jesus, logo após a frase, toma o pão, recita a benção, parte-o e o distribui dizendo: “Este é o meu corpo…” E aqui o rito, que era somente uma preparação, se torna realidade. Depois da benção do pão, que era considerada como uma benção geral por todo o alimento, serviam-se os pratos de costume. Se os precedentes da Eucaristia se encontram na refeição ritual dos Judeus, então não tem mais significado especial saber se a festa da Páscoa coincidia com a Quinta-feira Santa ou com a Sexta-feira Santa. Jesus não associou a Eucaristia com nada particular próprio do alimento da Páscoa (deixando de lado a incompatibilidade da data, não há qualquer referência ao consumo do cordeiro e das ervas amargas), mas apenas com aqueles elementos que fazem parte do rito de cada dia: ou seja, a fração do pão no começo e com a grande oração de ação de graças no final. O caráter pascal da última ceia é inegável, mas é independente destas discussões e se explica com o nexo que Jesus coloca entre a Eucaristia (“o meu sangue derramado por vós”) e a sua morte de cruz. É ali que se realiza, de acordo com João, a figura do cordeiro pascal ao qual “não se quebra nenhum osso” (Jo 19,36). Mas voltando ao ritual hebraico. Quando o jantar está acabando e as iguarias foram consumidas, os comensais estão prontos para o grande ato ritual que conclui a celebração e dá o significado mais profundo. Todos lavam as mãos, como no começo. Estava prescrito que o presidente recebesse a água do mais jovem dos presentes e talvez João a tenha dado a Jesus. Mas, o Mestre, em vez de deixar-se servir, dá uma lição de humildade, lavando os seus pés. Terminado isso, tendo diante de si uma taça convida a fazer as três orações de agradecimento: a primeira por Deus criador, a segunda pela libertação do Egito, a terceira para que continue no presente a sua obra. Concluída a oração, a taça passava de mão em mão e cada um bebia. Eis o rito antigo, realizado tantas vezes por Jesus em vida. Lucas diz que depois de ter ceado Jesus tomou o cálice dizendo: “Este cálice é a nova aliança no meu Sangue que é derramado por vós”. Algo decisivo acontece quando Jesus acrescenta a estas palavras a fórmula das orações de agradecimento, ou seja, a beraka hebraica. Aquele rito era um banquete sacro no qual se celebrava e se agradecia um Deus salvador, que tinha redimido o seu povo para estreitar com ele uma aliança de amor, concluída no sangue de um cordeiro. O alimento cotidiano abençoava a Deus por aquela Aliança, mas agora, do momento em que Jesus decide dar a vida pelos seus como o verdadeiro cordeiro, ele declarou concluída aquela antiga Aliança que todos juntos estavam celebrando liturgicamente. Naquele momento, com poucas e simples palavras, ele abre, oferece e estreita com os seus a nova e eterna Aliança no seu Sangue. Quando Jesus passa aquele cálice é como se dissesse: “Até agora, todas as vezes que tivestes celebrado esta refeição ritual tivestes comemorado o amor de Deus Salvador que vos redimiu do Egito. A partir de agora, toda vez que repetirdes o que fizemos hoje, o fareis não mais em comemoração de uma salvação da escravidão material no sangue de um animal; o fareis em memória de mim, filho de Deus que dá o seu Sangue para redimir-vos dos vossos pecados. Até aqui tivestes comido alimento normal para celebrar uma libertação material; agora comereis a mim, alimento divino sacrificado por vós, para fazer-vos uma só coisa comigo. E me comereis e bebereis o meu Sangue, no mesmo ato em que eu me sacrifico por vós. Esta é a nova e eterna Aliança no meu amor”. Acrescentando as palavras “fazei isto em memória de mim”, Jesus dá um alcance ilimitado ao seu dom. Do passado, o olhar se projeta ao futuro. Tudo o que ele fez até agora na ceia é colocado nas nossas mãos. Repetindo o que ele fez, se renova aquele ato central da história humana que é a sua morte pelo mundo. A figura do cordeiro pascal que sobre a cruz se torna evento, na ceia nos é dado como sacramento, ou seja, como memorial perene do evento. O evento acontece apenas uma vez (semel). (Hb 10,12), o sacramento, sempre que o quisermos (quotiescumque) (1 Cor 11,26). A idéia do “memorial” que Jesus retoma do ritual hebraico do sábado e dos dias festivos, referida em Êxodos 12, 14 contém a própria essência da Missa, a sua teologia, o seu significado íntimo para a salvação. O memorial bíblico é muito mais do que uma simples comemoração, do que uma simples lembrança subjetiva do passado. Graças a ele, intervém, fora da mente do orante, uma realidade que tem uma existência própria, que não pertence ao passado, mas existe e obra no presente e continuará a obrar no futuro. O memorial que até agora era o compromisso da fidelidade de Deus a Israel, agora é o corpo partido e o sangue derramado do Filho de Deus; é o sacrifício do Calvário “representado” (ou seja, tornado novamente presente) para sempre e para todos. Aqui descobre-se o significado e a preciosidade da insistência de Ambrósio e, atrás dele, de forma mais evoluída, dos teólogos escolásticos e do concílio de Trento, sobre a presença “verdadeira, real e substancial de Cristo” na Eucaristia[11]. Só assim, de fato, é possível manter no “memorial” instituído por Jesus o seu caráter objetivo de dom absoluto, sem condições, independente de tudo, até mesmo da fé de quem o recebe. 4. A nossa assinatura no dom Qual é o nosso lugar no drama humano-divino que temos lembrado? A nossa reflexão sobre a Eucaristia deve levar -nos a descobrir justamente isso. É para nós, de fato, para envolver-nos na sua ação, que Jesus fez do seu dom um “sacramento”. Na Eucaristia acontecem dois milagres: um é aquele que faz do pão e do vinho o corpo e o sangue de Cristo, o outro é aquele que faz de nós “um sacrifício vivo agradável a Deus”, que nos une ao sacrifício de Cristo, como autor, e não apenas como espectadores. No ofertório oferecemos o pão e o vinho que para Deus não tinham, é claro, nem valor nem significado por si mesmos. Agora, na consagração, é Cristo que coloca aquele valor que eu não posso colocar na minha oferta. Neste momento pão e vinho se tornam Corpo e Sangue de Cristo que se entrega à morte em um supremo ato de amor ao Pai. Eis então o que aconteceu: o meu pobre dom privado de valor tornou-se o dom perfeito para o Pai. Jesus não dá somente a si mesmo no pão e no vinho, também nos pega e nos transforma (misticamente, não realmente) em si mesmo, também nos dá o valor que tem o seu dom de amor ao Pai. Naquele pão e naquele vinho estamos também nós; “Naquilo que oferece, a Igreja oferece a si mesma”, escreve Agostinho[12]. Gostaria de resumir, com a ajuda de exemplo humano, o que acontece na celebração eucarística. Pensemos em uma grande família em que há um filho, o primogênito, que admira e ama desmedidamente seu próprio pai. Para o seu aniversário deseja fazer-lhe um presente precioso. Antes, porém, de apresenta-lo pede, em segredo, a todos os seus irmãos e irmãs que coloquem a sua assinatura nesse dom. Este chega, portanto, nas mãos do pai como sinal do amor de todos os seus filhos, sem distinção, mesmo que, na verdade, só um pagou o preço dele. É o que acontece no sacrifício eucarístico. Jesus admira e ama infinitamente o Pai Celestial. A ele quer fazer a cada dia, até o fim do mundo, o dom mais precioso que se possa pensar, aquele da sua própria vida. Na Missa ele convida todos os seus “irmãos” a colocarem a sua assinatura no dom, de modo que ele chega a Deus Pai como o dom indistinto de todos os seus filhos, mesmo que só um tenha pagado o preço de tal dom. E que preço! A nossa assinatura são as poucas gotas de água que são misturadas ao vinho no cálice; a nossa assinatura, explica Agostinho, é especialmente o amém que os fieis pronunciam no momento da comunhão: “Àquilo que sois respondeis: Amém e respondendo o assinais. Ouves, de fato: O corpo de Cristo, e respondes: Amém. Sejas membro do corpo de Cristo, para que seja verdadeiro o seu Amém… Sejais aquilo que vês e recebeis aquilo que sois[13]”. Toda a eclesiologia eucarística de Agostinho que lembramos semana passada encontra aqui o seu campo de aplicação. Se não é possível dizer que a Eucaristia é a igreja (como chegam a afirmar alguns dos seus discípulos), pode-se e deve-se dizer que a Eucaristia faz a Igreja. Sabemos que quem assinou um compromisso tem o dever de honrar a própria firma. Isso significa que, saindo da Missa, temos que fazer também nós da nossa vida um dom de amor ao Pai e aos irmãos. Temos que dizer também nós, mentalmente, aos irmãos: “Tomai, comei; este é o meu corpo”. Tomai o meu tempo, as minhas capacidades, a minha atenção. Tomai também o meu sangue, ou seja, os meus sofrimentos, tudo o que me humilha, me mortifica, limita as minhas forças, a minha mesma morte física. Quero que toda a minha vida seja, como aquela de Cristo, pão partido e vinho derramado pelos outros. Quero fazer de toda a minha vida uma eucaristia. Recordei a Didaqué, como o texto que documenta a fase de transição da liturgia hebraica para aquela cristã. Terminamos com uma oração sua que inspirou tantas orações eucarísticas subsequentes: “Como este pão partido estava espalhado sobre as colinas e recolhido tornou-se uma só coisa, Assim a tua Igreja se recolha dos confins da terra no teu reino porque tua é a glória e a potência por Jesus Cristo nos séculos”. Amem [Tradução Thácio Siqueira / ZENIT] [1] Cf. J. Kelly, Il pensiero cristiano delle origini, cit., pp. 415 ss. [2] Ambrósio, De sacramentis, IV,14-16. [3] Ambrósio, De mysteriis, 52-53. [4] Guglielmo di Saint-Thierry, PL 184, 403. [5] Cf. S. Th., III, q.LXXV. aa. 1 ss. [6] É o processo reconstruído por H. de Lubac, in Corpus Mysticum. L‟Eucharistie et l‟Eglise au Maoyen Age, Aubier, Paris 1949 [7] Denzinger-Schoenmetzer, Enchiridion Symbolorum, nr. 690 [8] Ignacio de Antiquioa, Epístola aos Magnésios, 10,3. [9] J. Ratzinger – Bento XVI, Jesus de Nazaré, vol .II, LEV, Roma 2011, p.132-163; cf. L. Bouyer, Eucharistie. Théologie et spiritualità de la prière eucharistique. Desclée, Tournai 1966 [10] Além do livro citado de L. Bouyer, cf. A. Baumstark, Liturgie comparée, Chevetogne 1953; L. Alonso Schoekel, Meditaciones biblicas sobre la Eucaristia, Sal Terrae, Santander 1986 ; Seung Ai Yang, “Les repas sacrés dans le Judaisme de l‟époque hellénistique”, in Encyclopedie de l‟Eucaristie, du Cerf, Paris 2000, pp. 55-59. [11] Cf. Conc. Tridentino, Canon 1 de SS. Eucharistiae sacramento (DS, 1651). [12] Agostinho, De civitate Dei, X, 6 (CCL 47, 279 (“ In ea re quam offert, ipsa offertur”). [13] Agostinho, Sermo 272 (PL 38, 1247 s.) Quarta pregação da Quaresma SÃO LEÃO MAGNO E A FÉ EM JESUS CRISTO VERDADEIRO DEUS E VERDADEIRO HOMEM 1. Oriente e ocidente unânimes sobre Cristo Existem vários caminhos, ou métodos, para aproximar-se à pessoa de Jesus. Pode-se, por exemplo, partir diretamente da Bíblia e, também neste caso, é possível seguir várias vias: a via tipológica, seguida na mais antiga catequese da Igreja, que explica Jesus à luz das profecias e das figuras do Antigo Testamento; a via histórica, que reconstrói o desenvolvimento da fé em Cristo a partir das várias tradições, autores e títulos cristológicos, ou dos diversos ambientes culturais do Novo Testamento. Pode-se, pelo contrário, partir das perguntas e dos problemas do homem de hoje, ou até mesmo da própria experiência de Cristo, e, de tudo isso, chegar à Bíblia. Todos esses são caminhos amplamente explorados. A Tradição da Igreja elaborou, bem rápido, uma via de acesso ao mistério de Cristo, um modo seu de recolher e organizar os dados bíblicos relativos a ele, e esta via se chama o dogma cristológico, a via dogmática. Por dogma cristológico compreendo as verdades fundamentais sobre Cristo, definidos nos primeiros concílios ecumênicos, especialmente o de Calcedônia, que, em substância, se resumem nesses três pilares: Jesus Cristo é verdadeiro homem, é verdadeiro Deus, é uma só pessoa. São Leão Magno é o Padre que eu escolhi para introduzir-nos nas profundidades deste mistério. Por um motivo bem específico. Na teologia latina estava pronta por dois séculos e meio a fórmula da fé em Cristo que se tornara o dogma de Calcedônia. Tertuliano tinha escrito: “Vemos duas naturezas, não confusas, mas unidas em uma pessoa, Jesus Cristo, Deus e homem[1]”. Depois de muita pesquisa, os autores gregos chegam, por conta própria, a uma formulação idêntica em substância; mas não porque eles tenham se atrasado ou perdido tempo, e sim porque só agora era possível dar àquela fórmula o seu verdadeiro significado, tendo eles evidenciado, enquanto isso, todas as implicações e resolvido as dificuldades. O Papa São Leão Magno é aquele que gerenciou o momento em que as duas correntes do rio – aquela latina e aquela grega – se uniram e com a sua autoridade de bispo de Roma favoreceu o acolhimento universal. Ele não se contenta em simplesmente transmitir a fórmula herdada por Tertuliano e retomada por Agostinho, mas a adapta aos problemas que apareceram nesse ínterim, entre o concílio de Éfeso do 431 e aquele de Calcedônia do 451. Eis, em grandes linhas, o seu pensamento cristológico, como foi exposto no famoso Tomus ad Flavianum[2]. Primeiro ponto: a pessoa do Deus-homem é idêntica à do Verbo eterno: “Aquele que se fez homem, sob a forma de servo, é o mesmo que na forma de Deus criou o homem”. Segundo ponto: a natureza divina e a humana coexistem nesta única pessoa que é Cristo, sem mistura ou confusão, mas cada uma mantendo suas propriedades naturais (salva proprietate utriusque naturae). Ele começa a ser o que não era, sem cessar de ser o que era[3]. A obra da redenção exigia que “o único e mesmo mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, tivesse que ser capaz de morrer em relação à natureza humana e não morrer com respeito à natureza divina”. Terceiro ponto: A unidade da pessoa justifica o uso da comunicação dos idiomas, pela qual podemos afirmar que o Filho de Deus foi crucificado e enterrado, e também que o Filho do homem veio do céu. Foi uma tentativa, em grande parte bem sucedida, de finalmente encontrar um acordo entre as duas grandes “escolas” de teologia grega, a de Alexandria e a de Antioquia, evitando os respectivos erros que eram o monofisismo e o nestorianismo. Os antioquenos tinham o reconhecimento, para eles vitais, das duas naturezas de Cristo, e portanto, da plena humanidade de Cristo; os alexandrinos, apesar de algumas reservas e resistências, podiam encontrar na formulação de Leão o reconhecimento da identidade da pessoa do Verbo encarnado e aquela do Verbo eterno, que estava nos seus corações por acima de tudo. Basta recordar o cerne da definição de Calcedônia para dar-se conta do quanto esteja presente nela o pensamento do Papa Leão: “Ensinamos por unanimidade que deve-se reconhecer o único e mesmo Filho Senhor nosso Jesus Cristo, perfeito na divindade e sempre o mesmo perfeito na humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem [...], gerado antes dos séculos pelo Pai segundo a divindade e nos últimos tempos, por nós homens e para a nossa salvação, gerado por Maria Virgem segundo a humanidade; subsistente nas duas naturezas de modo inconfuso, imutável, indivisível, inseparável, não sendo de forma alguma suprimida a diferença das naturezas por causa da união, pelo contrário, permanecendo preservada a propriedade tanto de uma quanto da outra natureza, elas combinam para formar uma só pessoa e hipóstase[4]“. Poderia parecer uma fórmula tecnicamente perfeita, mas árida e abstrata, porém, nela se baseia toda a doutrina cristã da salvação. Só se Cristo é homem como nós, o que ele faz, nos representa e nos pertence, e somente se ele também é Deus, aquilo que faz tem um valor infinito e universal, a tal ponto que, como se canta no Adoro te devote, “uma única gota de sangue derramado salva o mundo todo do pecado” (“Cuius una stilla salvum facere totum mundum qui ab omni scelere”) Sobre este ponto, oriente e ocidente, são unânimes. Esta era a situação da humanidade antes de Cristo, escrevem, com poucas diferenças entre eles, santo Anselmo entre os latinos e o Cabasilas entre os ortodoxos. De um lado estava o homem que tinha contraído a dívida pecando e que tinha que lutar contra satanás para livrar-se, mas não podia fazê-lo, sendo a dívida infinita e sendo ele escravo daquele que deveria ter vencido; por outro lado está Deus que podia expiar o pecado e vencer o demônio, mas não deveria fazê-lo, não sendo ele o devedor. Era preciso que se encontrassem unidos na mesma pessoa aquele que devia lutar e aquele que podia vencer, e é aquilo que aconteceu com Jesus, “verdadeiro Deus e verdadeiro homem, em uma pessoa[5]”. 2. Jesus da história e o Cristo do dogma novamente unidos Estas tranquilas certezas sobre Cristo, nos últimos dois séculos, foram atingidas por um ciclone crítico que tendia a tirar-lhes toda a consistência e a qualificá-las como puras invenções dos teólogos. A partir de Strauss, tornou-se uma espécie de grito de guerra entre os estudiosos do Novo Testamento: libertar a figura de Cristo dos grilhões do dogma, para reencontrar o Jesus histórico, o único real. “A ilusão de que Jesus possa ter sido homem no sentido pleno e que como única pessoa seja superior à toda a humanidade é a cadeia que ainda fecha a porta da teologia cristã ao mar aberto da ciência racional[6]”. E eis a conclusão à qual o estudioso chega: “A ideia do Cristo do dogma por um lado e o Jesus de Nazaré da história por outro estão separados para sempre”. Declara-se sem hesitação o pressuposto racionalista desta tese. O Cristo do dogma não satisfaz as exigências da ciência racional. O ataque continuou, com soluções alternativas, quase até os nossos dias. Tornou-se ele mesmo, a seu modo, um dogma: para conhecer o verdadeiro Jesus da história é preciso prescindir da fé nele posterior à Páscoa. Neste clima proliferaram reconstruções fantasiosas da figura de Jesus a benefício do espetáculo, algumas com pretensões de historicidade, mas que na verdade se baseavam em hipóteses de hipóteses, todas respondendo a gostos ou reivindicações do momento. Mas agora, eu acho, chegamos ao fim da parábola. É hora de tomar nota da mudança que aconteceu neste setor, a fim de sair de uma certa atitude defensiva e de vergonha que tem caracterizado os estudiosos crentes nos últimos anos, e ainda mais para fazer chegar uma mensagem a todos aqueles que nestes anos divulgaram profusamente imagens de Jesus ditadas por aquele anti-dogma. E a mensagem é que não é possível mais escrever na boa-fé “Investigações sobre Jesus” que fingem ser “históricas”, mas prescindem, ou melhor, excluem desde o início, a fé nele. Quem personaliza de modo mais claro a mudança em ato é um dos maiores estudiosos vivos do NT, o inglês James D.G. Dunn. Ele resumiu em um pequeno livro, intitulado “Mudar perspectivas sobre Jesus”, os resultados da sua monumental pesquisa sobre as origens do cristianismo[7]. O autor pôs a descoberto as raízes dos dois pressupostos em que se baseiam a contraposição entre Jesus histórico e o Cristo da fé: primeiro, que para conhecer o Jesus da história é necessário prescindir da fé pós-pascal; segundo, que para conhecer o que realmente disse e fez o Jesus histórico, é preciso libertar a tradição das camadas e das adições posteriores e voltar para a camada original, ou à primeira “redação”, de uma determinada perícope evangélica. Contra o primeiro pressuposto, Dunn demonstra que a fé começou antes da Páscoa; se alguns o seguiram e se tornaram seus discípulos é porque tinham acreditado nele. Tratase de uma fé ainda imperfeita, mas de fé. Nesta fé, o evento pascal marcará certamente um salto de qualidade, mas saltos de qualidade, embora menos importantes, já tinham acontecido antes da Páscoa, em momentos particulares, como a transfiguração, certos milagres sensacionais, o diálogo de Cesaréia de Filipe. A Páscoa não é um início absoluto. Contra o outro assunto, Dunn demonstra como, embora admitindo que as tradições evangélicas circularam por um certo tempo de forma oral, os estudiosos aplicavam sempre a tal tradição o modelo literário, como se faz hoje quando se quer voltar, de edição em edição, ao texto original de uma obra. Se levarmos em conta as leis que regularizam – até no presente, em certas culturas -, a transmissão oral das tradições de uma comunidade, veremos que não há necessidade de enxugar um dito evangélico, em busca de um hipotético núcleo originário, uma operação que abriu as portas a todo tipo de manipulação dos textos evangélicos, acabando por repetir aquilo que acontece quando se descasca uma cebola em busca do seu núcleo sólido que não existe. Algumas destas conclusões são aquelas que os estudiosos católicos desde sempre sustentaram[8], mas Dunn tem o mérito de tê-las defendido com argumentos dificilmente refutáveis a partir da mesma pesquisa histórico-crítica e com as suas próprias armas. O rabino americano J. Neusner, com o qual Bento XVI estabelece um diálogo em seu primeiro livro sobre Jesus de Nazaré, dá por suposto este resultado. Partindo de um ponto de vista autônomo e por assim dizer neutro, ele faz notar como é vã a tentativa de separar o Jesus histórico do Cristo da fé pós-pascal. O Jesus histórico, o dos Evangelhos, por exemplo do discurso da montanha, é já um Jesus que exige a fé na sua pessoa como alguém que pode corrigir Moisés, que é senhor do sábado, pelo qual também pode-se fazer uma exceção ao quarto mandamento; em suma como alguém que se coloca em pé de igualdade com Deus. É próprio por isso, diz o rabino, que embora fascinado pela figura de Jesus, ele não poderá mais ser um dos seus discípulos. O estudo sobre o NT termina aqui; chega a provar a continuidade entre o Jesus da história e o Cristo do querigma, não vai mais longe. Resta provar a continuidade entre o Cristo do querigma e o do dogma da Igreja. A fórmula de Leão Magno e de Calcedônia marca um desenvolvimento coerente da fé do Novo Testamento, ou representa, pelo contrário, uma ruptura com relação a ela? Este foi o meu principal interesse nos anos em que eu me ocupava de História das origens do cristianismo e a conclusão a que cheguei não difere daquela do Cardeal Newman, em seu famoso ensaio “Sobre o desenvolvimento da doutrina cristã[9]“. Houve certamente a mudança de uma cristologia funcional (o que Cristo “faz”) a uma cristologia ontológica (o que Cristo “é”), mas não se trata de uma ruptura porque o mesmo processo se dá já no interior do querigma, por exemplo, na passagem da cristologia de Paulo àquela de João, e em Paulo mesmo, na passagem das suas primeiras cartas àquelas da prisão, Filipenses e Colossenses. 3. Além da fórmula Desta vez o próprio argumento exigia fixar-se um pouco mais na parte doutrinal do tema. A pessoa de Cristo é o fundamento de todo o cristianismo. “Se a trombeta emite um som incerto, quem se preparará para a batalha?”, dizia São Paulo (1 Cor 14, 8): se não tem ideia clara sobre quem é Jesus Cristo, que força terá a nossa evangelização? Nos resta, no entanto, fazer agora uma aplicação prática para a vida pessoal e a fé atual da Igreja, que é o objetivo constante da nossa revisão dos Padres. Quatro séculos e meio de formidável trabalho teológico deram à Igreja a fórmula: “Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem; Jesus Cristo é uma só pessoa”. Mais sinteticamente ainda: ele é “uma pessoa em duas naturezas”. A esta fórmula se aplica perfeitamente o dito de Kiekegaard: “A terminologia dogmática da Igreja primitiva é como um castelo encantado, onde descansam em um sono profundo os mais graciosos príncipes e princesas. Basta somente acordá-los, para que se coloquem de pé em toda a sua glória[10]”. A nossa tarefa é, portanto, a de despertar e de dar sempre nova vida aos dogmas. A investigação sobre os Evangelhos – mesmo aquela que lembramos agora de Dunn – nos mostra que a história não nos pode levar ao “Jesus em si”, ao Cristo como é na realidade. O que alcançamos nos evangelhos é sempre, em todas as fases, um Jesus “lembrado”, mediado pela memória que dele conservaram os discípulos, embora se uma memória crente. É como a ressurreição. “Alguns dos nossos – dizem os dois discípulos de Emaús – foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito; mas não o viram” (Lc 24, 24). A história pode constatar que as coisas, com relação a Jesus de Nazaré, estão como disseram os discípulos nos evangelhos, mas ele não o vê. O mesmo acontece com o dogma. Ele pode levar-nos a um Jesus “definitivo”, “formulado”, mas Tomás de Aquino nos ensina que “a fé não termina com os enunciados (enuntiabile), mas na realidade (res). Entre a fórmula de Calcedônia e o Jesus real existe a mesma diferença que há entre a fórmula química H2O e a água que bebemos ou na qual nadamos. Ninguém pode dizer que a fórmula H2O é inútil ou que não descreve perfeitamente a realidade; somente não é a realidade! Quem nos poderá levar ao Jesus “real” que está além da história e por trás da definição? E eis que nos deparamos com a grande notícia reconfortante. Existe a possibilidade de um conhecimento “imediato” de Cristo: é aquele que nos dá o Espírito Santo enviado por ele mesmo. Ele é a única “mediação não-mediata” entre nós e Jesus, no sentido que não age como um véu, não constitui um diafragma ou um trâmite, sendo ele o Espírito de Jesus, o seu “alter ego”, da sua mesma natureza. Santo Irineu chega a dizer que “o Espírito Santo é a nossa mesma comunhão com Cristo[11]”. E nisso, aquela do Espírito é diferente de qualquer outra mediação entre nós e o Ressuscitado, seja eclesial que sacramental. Mas é a Escritura mesma que nos fala deste papel do Espírito Santo com o propósito do conhecimento do verdadeiro Jesus. A vinda do Espírito Santo em Pentecostes se traduz em uma repentina iluminação de todo o trabalho e a pessoa de Cristo. Pedro conclui o seu discurso com aquela espécie de definição “urbi et orbi” do senhorio de Cristo: “Saiba, portanto, com certeza toda a casa de Israel que Deus constituiu Senhor e Cristo aquele Jesus que vós crucificastes” (At 2, 36). São Paulo afirma que Jesus Cristo é revelado “Filho de Deus com poder pelo Espírito de santidade” (Rm 1, 4), isto é, por obra do Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser por uma iluminação interior do Espírito Santo (cf. 1 Cor 12, 3). O Apóstolo atribui ao Espírito Santo “a compreensão do mistério de Cristo”, que foi dada a ele, como a todos os santos apóstolos e profetas (cf. Ef 3, 4-5). Só se forem “fortalecidos pelo Espírito”, – continua o Apóstolo – os crentes poderão “compreender a largura e o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento” (Ef 3, 16-19). No Evangelho de João, o próprio Jesus anuncia esta obra do Paráclito com relação a ele. Ele tomará do que é seu e o anunciará aos discípulos; recordar-lhes-á tudo o que ele disse; os conduzirá à toda verdade sobre a sua relação com o Pai; lhes dará testemunho. Exatamente isso será, de agora em diante, o critério para reconhecer se se trata do verdadeiro Espírito de Deus e não de um outro espírito: se leva a reconhecer Jesus vindo na carne (cf. 1 Jo 4, 2-3). 4. Jesus de Nazaré, uma “pessoa” Com a ajuda do Espírito Santo, façamos então uma pequena tentativa de “acordar” o dogma. Do triângulo dogmático de Leão Magno e de Calcedônia – “verdadeiro Deus”, “verdadeiro homem”, “uma pessoa” – nos limitamos a tomar em consideração somente o último elemento: Cristo “uma pessoa”. As definições dogmáticas são “estruturas abertas”, capazes de acomodar novos significados, o que é possível graças ao progresso do pensamento humano. Na sua etapa mais antiga, pessoa (do latim personare, ressoar) indicava a máscara que o ator precisava para fazer ressoar a sua voz no teatro; disso passou a indicar rosto, portanto, indivíduo, até chegar ao seu significado mais elevado de “ser individual de natureza racional” (Boécio). No uso moderno, o conceito se enriqueceu de um significado mais subjetivo e relacional, favorecido sem dúvida pelo uso trinitário de pessoa como “relação subsistente”. Indica, portanto, o ser humano em quanto capaz de relação, de estar como um eu diante de um tu. Nisso a fórmula latina “uma pessoa” revelou-se mais fecunda do que aquela respectiva grega de “uma hispóstase”. Hipóstase se pode dizer de cada objeto particular existente; pessoa, somente do ser humano e, por analogia, do ser divino. Nós falamos hoje (e também os gregos falam) de “dignidade da pessoa”, não de dignidade da hipóstase. Aplicamos tudo isso ao nosso relacionamento com Cristo. Dizer que Jesus é “uma pessoa” significa também dizer que ressuscitou, que vive, que está diante de mim, que posso tratar-lhe por tu como ele me trata por tu. É necessário passar constantemente, no nosso coração e na nossa mente, do Jesus personagem ao Jesus pessoa. A personagem é alguém de quem se pode falar e escrever o que quiser, mas a quem e com quem, no geral, não se pode falar. Jesus, infelizmente, para a maioria dos crentes é ainda um personagem, alguém de quem se discute, se escreve muito, uma memória do passado, um conjunto de doutrinas, de dogmas ou de heresias. É um ente, mais do que um existente. O filósofo Sartre, em uma página famosa, descreveu a emoção metafísica que produz a súbita descoberta da existência das coisas e pelo menos nisto podemos dar-lhe crédito: “Eu estava no Jardim Público. A raiz da castanheira entrava na terra, exatamente sob o meu banco. Eu não me lembrava que era uma raiz. As palavras se desvaneceram e, com elas, a significação das coisas, a maneira de empregá-las, as frágeis referências que os homens tinham traçado na sua superfície. [ ...] E depois tive aquela iluminação. Fiquei sem respiração. [...] geralmente a existência esconde-se. Está presente à nossa volta; não se podem dizer duas palavras sem falar dela, e afinal não lhe tocamos [...] E depois sucedeu aquilo: de repente, ali estava, ali estava, era claro como a água: a existência dera-se subitamente a conhecer[12]”. Para ir além das ideias e palavras de Jesus e entrar em contato com ele, pessoa que vive, é necessário passar por uma experiência desse tipo. Alguns exegetas interpretam o nome divino “Aquele que é”, no sentido de “aquele que está”, que é presente, disponível, agora, aqui[13]. Esta definição aplica-se perfeitamente também ao Jesus ressuscitado. É possível ter Jesus como amigo, porque, depois de ter ressuscitado, ele está vivo, está ao meu lado, posso tratá-lo como um ser vivo a um ser vivo, um presente a um presente. Não com o corpo e nem sequer somente com a fantasia, mas “no Espírito” que é infinitamente mais íntimo e real de ambos. São Paulo nos assegura que é possível fazer tudo “com Jesus”: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa (cf. 1 Cor 10, 31; Col 3,17). Infelizmente, raramente pensamos em Jesus como um amigo e um confidente. No subconsciente domina a imagem dele ressuscitado, ascendido ao céu, distante em sua transcendência divina, que retornará um dia, no fim dos tempos. Esquecemos que sendo, como diz o dogma, “verdadeiro homem”, melhor, a mesma perfeição humana, ele possui no mais alto grau o sentimento da amizade que é uma das qualidades mais nobres do ser humano. É Jesus que deseja um tal relacionamento conosco. No seu discurso de despedida, dando plena vazão a seus sentimentos , ele diz: ” Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz; mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer todas as coisas que ouvi do meu Pai” (Jo 15 ,15). Já vi esse tipo de relacionamento com Jesus, não tanto nos santos, onde prevalece o relacionamento com o Mestre, com o Pastor, com o Salvador, o Esposo…, mas com os hebreus que, de modo semelhante a Saulo, chegam hoje a aceitar o Messias. O nome de Jesus, de repente, muda de uma obscura ameaça, ao mais doce e amado dos nomes. Um amigo. É como se a ausência de dois mil anos de discussões sobre Cristo jogasse a favor deles. O deles não é nunca um Jesus “ideológico”, mas uma pessoa de carne e sangue. Do sangue deles! Emociona ler os testemunhos de alguns deles. Todas as contradições se resolvem em um instante, todas as escuridões se iluminam. É como ver a leitura espiritual do Antigo Testamento se realizar totalmente e rapidamente sob os próprios olhos. São Paulo o compara à queda de um véu dos olhos (cf. 2 Cor 3,16). Durante sua vida terrena, embora amando a todos sem distinção, somente com alguns – com Lázaro e as irmãs e mais ainda com João, o “discípulo que ele amava” – Jesus tem um relacionamento de verdadeira amizade. Agora, porém, que ressuscitou e não está mais sujeito aos limites da carne, ele oferece a todo homem e a toda mulher a possibilidade de tê-lo como amigo, no sentido mais pleno da palavra. Que o Espírito Santo, o amigo do esposo, nos ajude a aceitar com alegria e maravilha esta possibilidade que preenche a vida. [Tradução Thácio Siqueira/ ZENIT] [1] Tertuliano, Adversus Praxean, 27, 11 (CC 2, p.1199) [2] Leão Magno, Carta 28 (PL 54, 755 s.). [3] Leão Magno, Sermo 27 (26),1 (PL 54, 749). [4] Denzinger, Enchiridion Symbolorum, 301-302. [5] N. Cabasilas, Vita in Cristo, I, 5 (PG 150, 313); Cf Anselmo, Cur Deus homo?, II, 18.20; Tomas de Aquino, Summa theologiae, III, q. 46, art. 1, ad 3. [6] D.F. Strauss, Der Christus des Glaubens und der Jesus der Geschichte, 1865. [7] J.D.G. Dunn, A New Perspective on Jesus. What the Quest for the Historical Jesus Missed, Grands Rapids, Michigan 2005 (Trad. ital. Cambiare prospettiva su Gesù, Paideia, Brescia 2011). [8] Dunn considera muito o estudo do exegeta católico alemão H. Schürmann sobre a origem pré-pascal de certos ditos de Jesus. ob.cit. p.28 [9] Cf. o meu estudo, Dal kerygma al dogma. Studi sulla cristologia dei Padri, Vita e Pensiero, Milano 2006, pp. 11-51. [10] S. Kierkegaard, Diario, II,A 110 (ed. a cura di C. Fabro, Brescia 1962, nr. 196). [11] S. Ireneo, Contra as heresias, III, 24, 1 [12] J.-P. Sartre, La Nausea, Milano 1984, p. 193 s. [13] Cf. G. Von Rad, Teologia dell‟Antico Testamento, I, Paideia, Brescia 1972, p. 212 Quinta pregação da Quaresma SÃO GREGÓRIO MAGNO E O ENTENDIMENTO ESPIRITUAL DAS ESCRITURAS Em um esforço por colocar-nos na escola dos Padres para dar um novo impulso e profundidade à nossa fé, não pode faltar uma reflexão sobre o modo em que eles liam a Palavra de Deus. Será o Papa São Gregório Magno a guiar-nos à “inteligência espiritual” e a um renovado amor pelas Escrituras. Aconteceu no mundo moderno, em relação à Escritura, a mesma coisa que aconteceu com a pessoa de Jesus. A busca do exclusivo sentido histórico e literal da Bíblia que dominou nos últimos dois séculos partia dos mesmos pressupostos e levou aos mesmos resultados da pesquisa sobre o Jesus histórico diferente do Cristo da fé. Jesus era reduzido a um homem extraordinário, um grande reformador religioso, mas nada mais; a Escritura era reduzida a um livro excelente, até mesmo o mais interessante do mundo, mas um livro como os outros, que devia ser estudado com os meios com os quais se estudam todas as grandes obras da antiguidade. Hoje se está indo inclusive além. Um certo ateísmo militante maximalista, anti-judaico e anti-cristão, tem a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, como um livro “cheio de abominações”, que deve ser retirado das mãos dos homens de hoje. Nesse assalto às Escrituras, a Igreja opõe a sua doutrina e a sua experiência. Na Dei Verbum, o Vaticano II reafirmou a perene validade das Escrituras, como palavra de Deus à humanidade; a liturgia da Igreja a coloca em um lugar de honra em cada celebração sua; tantos estudiosos, na crítica mais atual, unem também a fé mais convicta no valor transcendente da palavra inspirada. A prova talvez mais convincente é, no entanto , a da experiência . O argumento que, como vimos, levou à afirmação da divindade de Cristo em Nicéia, em 325 e pelo Espírito Santo em Constantinopla no 381, se aplica plenamente também à Escritura: nela experimentamos a presença do Espírito Santo, Cristo ainda nos fala, o seu efeito em nós é diferente do de qualquer outra palavra; portanto não pode ser simples palavra humana. 1. O velho se torna novo O propósito da nossa reflexão é ver como os Padres nos podem ajudar a reencontrar aquela virgindade de escuta, aquele frescor e liberdade ao aproximar-se da Bíblia que permitem experimentar a força divina que emana dela. O Padre e Doutor da Igreja que escolhemos como guia, eu disse, é São Gregório Magno, mas para poder compreender a sua importância neste campo temos que voltar para as fontes do rio do qual ele próprio faz parte e traçar, pelo menos no geral, o seu percurso antes de chegar até ele. Na leitura da Bíblia, os Padres só fazem continuar na mesma linha começada por Jesus e pelos apóstolos, e só esse dado nos deveria fazer mais cautelosos ao julgá-los. Uma rejeição radical da exegese dos Padres significaria uma rejeição da exegese do próprio Jesus e dos apóstolos. Jesus, aos discípulos de Emaús, explica tudo aquilo que se referia a ele nas Escrituras; afirma que as Escrituras falam dele, que Abraão viu o seu dia; muitos gestos e palavras de Jesus se dão “para que sejam cumpridas as Escrituras”; os primeiros dois apóstolos dizem dele: “Achamos aquele de quem Moisés e os profetas escreveram” (Jo 1 , 45). Mas todos estes eram resultados parciais. Ainda não aconteceu o transfert total. Isso se realiza na cruz e está contido na palavra de Jesus moribundo: “Tudo está consumado”. Também no Antigo Testamento, houve novidades, retomadas, transposições; por exemplo, o retorno da Babilônia era visto como uma renovação do milagre do Êxodo. Eram saltos quantitativos. Agora acontece um salto qualitativo, uma mudança de sinal: personagens, eventos, instituições, leis, templo, sacrifícios, sacerdócio, tudo de repente aparece em uma outra luz. Como quando em uma sala iluminada pela luz fraca de uma vela, se acende de repente uma forte luz de néon. Cristo que é “luz do mundo” é também luz das Escrituras. Quando se lê que Jesus ressuscitado “abre a mente dos discípulos para compreender as Escrituras” (Lc 24, 45), refere-se a esta nova inteligência, trabalhada pelo Espírito Santo. O Cordeiro quebra os selos e o livro da história sagrada pode finalmente ser aberto e lido (cf. Ap 5). Tudo permanece, mas nada é como antes. É um instante que unifica – e ao mesmo tempo distingue – os dois Testamentos e as duas alianças: “Clara e brilhante, aqui está a grande página que separa os dois Testamentos! Todas as portas são abertas ao mesmo tempo, toda a oposição se dissipa, todas as contradições são resolvidas”[1]. O exemplo mais claro para compreender o que acontece neste momento é a consagração na Missa, e, de fato, esta só é o memorial da outra. Aparentemente nada mudou no pão e no vinho sobre o altar, no entanto, sabemos que, após a consagração, eles já são algo completamente diferente e nós os tratamos de maneira muito diferente de antes. Os apóstolos continuam esta leitura, aplicando-a à Igreja, assim como à vida de Jesus. Tudo o que estava escrito no Êxodo era escrito para a Igreja (1 Cor 10, 11); a rocha que se seguia e tirava a sede dos judeus no deserto anunciava Cristo e o maná, o pão descido do céu; os profetas falaram dele (1 Pd 1, 10 ss), o que se diz do Servo Sofredor de Isaías foi cumprido em Cristo, e assim por diante. Passando do Novo Testamento ao tempo da Igreja, notamos dois usos diferentes dessa nova compreensão das Escrituras: um de tipo apologético e outro de tipo teológico e espiritual; o primeiro, usado no diálogo com os de fora, o segundo para a edificação da comunidade. Contra os judeus e os hereges que compartilham a Escritura compõem-se os assim chamados “testemunhos”, ou seja, coleções de frases ou passagens bíblicas a serem usadas para provar a fé em Cristo. Sobre isso se baseia, por exemplo, o Diálogo com Trifon judeu de São Justino, e tantos outros escritos. O uso teológico e eclesial da leitura espiritual começa com Orígenes, tido justamente como o fundador da exegese cristã. A riqueza e beleza das suas intuições sobre o sentido espiritual das Escrituras e das suas aplicações práticas é inesgotável. Elas farão escola seja no oriente que no ocidente, onde começa a ser conhecido ao mesmo tempo que Ambrósio. Junto com a sua riqueza e genialidade, a exegese de Orígenes introduz, porém, na tradição exegética da Igreja também um elemento negativo devido ao seu entusiasmo pelo espiritualismo de caráter platônico. Tomemos a sua seguinte afirmação de método: “Não se deve acreditar que os fatos históricos sejam figuras de outros fatos históricos e as coisas corpóreas de outras coisas corpóreas, mas, pelo contrário, que as coisas corpóreas são figuras de coisas espirituais e os fatos históricos de realidades inteligíveis[2]”. Desta forma, à correspondência horizontal e histórica, própria do Novo Testamento, pela qual um personagem, um fato, ou uma palavra do Antigo Testamento é visto como profecia e figura (typos) do que acontece em Cristo ou na Igreja, se substitui a perspectiva vertical, platônica, pela qual um fato histórico e visível, seja do Antigo como do Novo Testamento, se torna símbolo de uma ideia universal e eterna. A relação entre profecia e realização tende a se transformar na relação entre a história e o espírito[3]. 2. As Escrituras, pedras quadrangulares Por meio de Ambrósio e outros que traduziram as suas obras para o latim, o método e os conteúdos de Orígenes, entram plenamente nas veias da cristandade latina e continuarão a fluir por toda a idade média. Qual foi, então, na explicação da Escritura, a contribuição dos latinos? Podemos resumir a resposta em uma só palavra que é a que melhor expressa o seu gênio próprio: organização! Àquele de Orígenes se acrescenta, é verdade, a contribuição não menos criativa e audaz de um outro gênio, aquela de Agostinho que enriquecerá de intuições e aplicações novas e ousadas a leitura da Bíblia. Mas não é nesta linha que se coloca a contribuição mais significativa dos Padres latinos, ou seja, na descoberta de significados novos e escondidos na Palavra de Deus, mas na sistematização do imenso material exegético que tinha se acumulado na Igreja, no traçar uma espécie de mapa para orientar-se na sua utilização. Esse esforço organizativo – começado com Agostinho – foi levado à sua forma definitiva por Gregório Magno e consiste na doutrina do quádruplo sentido da Escritura. Neste campo, ele é considerado “um dos principais iniciadores e um dos maiores patronos da doutrina medieval dos quatro sentidos”, a ponto de se poder falar da Idade Média como da “época gregoriana[4]”. A doutrina dos quatro sentidos da Escritura é uma grade, uma forma de organizar as explicações de um texto bíblico ou de uma realidade da história da salvação, distinguindo nelas quatro campos ou níveis diferentes de aplicação: 1. O nível literal e histórico; 2. O nível alegórico (hoje prefere-se chamar tipológico) relacionado à fé em Cristo; 3. O nível moral, ou seja, em relação ao atuar do cristão; 4. O nível escatológico, que se refere ao cumprimento final no céu. Gregório escreve: “As palavras da Sagrada Escritura são pedras quadrangulares [...]. Em todo acontecimento do passado que narram [sentido literal], em cada coisa futura que anunciam [sentido anagógico], em cada dever moral que pregam [sentido moral], em cada realidade espiritual que proclamam [sentido alegórico ou cristológico], de cada lado se mantém de pé e são irrepreensíveis[5]”. Na Idade Média foi composto um famoso dístico que resumiu esta doutrina: Littera gesta docet / Moralis, quid agas; quo tendas anagogia. “A letra te ensina o que aconteceu; o que se deve acreditar a alegoria. / A moral, o que fazer; onde tender, a anagogia”. A aplicação talvez mais clara deste esquema se tem com relação à Páscoa. De acordo com a letra ou a história, a Páscoa é o rito que os judeus cumpriram no Egito; de acordo com a alegoria, referindo-se à fé, ela indica a imolação de Cristo verdadeiro cordeiro pascal; de acordo com a moral, indica a transição dos vícios para a virtude, do pecado à santidade; de acordo com a anagogia ou a escatologia, indica a transição das coisas terrenas às coisas celestiais, ou também a Páscoa eterna que se celebrará no céu. Não se trata de um esquema rígido e mecânico, mas flexível e passível de infinitas variações, começando com a ordem em que são listados os vários sentidos. Eis um texto de Gregório no qual se vê a liberdade com que ele mesmo usa o esquema do quádruplo sentido e como sabe, com ele, tirar várias harmonias da Escritura. Comentando a imagem de Ezequiel 2, 10, sobre o rolo “escrito dentro e fora” (“intus et foris”, de acordo com a Vulgata) diz: “O rolo da Palavra de Deus está escrito dentro, por meio da alegoria; fora, por meio da história. Dentro por meio da inteligência espiritual; fora por meio do simples sentido literal, adequado aos espíritos ainda fracos. Dentro porque promete os bens invisíveis; fora, porque estabelece a ordem das coisas visíveis com a retidão dos seus preceitos. Dentro, porque dá a segurança dos bens celestiais; fora, porque ensina como usar os bens terrenos, ou como escapar das suas atrações[6]”. 3. Por que ainda precisamos dos Padres para ler a Bíblia O que podemos tirar deste modo assim tão livre e corajoso de colocar-se diante da Palavra de Deus? Mesmo um admirador da exegese patrística e medieval como o padre de Lubac admite que não podemos nem retornar a ele, nem imitá-lo mecanicamente no nosso tempo[7]. Seria uma operação artificial, fadada ao fracasso porque não temos os pressupostos dos quais eles partiram, o universo espiritual no qual eles se moviam. Gregório Magno e os Padres no geral estavam certos sobre o ponto fundamental que é ler as Escrituras em referência a Cristo e à Igreja. Antes deles já o faziam, o vimos, Jesus e os apóstolos. A parte já superada das suas exegeses está no ter acreditado que podiam aplicar este critério a cada palavra particular da Bíblia, de modo muitas vezes imaginativo, levando ao simbolismo (por exemplo aquele dos números) a excessos que hoje nos fazem rir às vezes. Podemos ter certeza, observa de Lubac, que, se estivessem vivos hoje, eles seriam os mais entusiastas na utilização dos recursos críticos colocados à disposição pelo progresso dos estudos. Orígenes realizou um trabalho hercúleo no seu tempo deste ponto de vista, obtendo e comparando um com o outro e com o texto hebraico as várias traduções gregas existentes da Bíblia (a Exapla) e Agostinho não hesitava em corrigir algumas de suas explicações à luz da nova versão da Bíblia que Jerônimo estava fazendo[8]. O que então permanece válido da herança dos Padres neste campo? Talvez aqui, mais do que em qualquer outro lugar, eles têm uma palavra decisiva a dizer para a Igreja de hoje que temos de tentar descobrir. O que caracteriza a leitura da Bíblia dos Padres, além das suas elaboradas alegorias e ousadas aplicações, além da mesma doutrina dos quatro sentidos da Escritura? De cima para baixo e cada ponto seu é uma leitura de fé: partia da fé e levava à fé. Todas as suas distinções entre leitura histórica, alegórica, moral e escatológica se resumem hoje a uma só distinção: aquela entre uma leitura de fé da Escritura e uma leitura privada de fé, ou ao menos privada de uma certa qualidade de fé. Vamos deixar de lado os estudiosos da Bíblia não crentes que lembrei no início, para os quais ela é só um livro interessante, mas só humano. A diferença que eu gostaria de evidenciar é mais sutil e passa entre os mesmos crentes. É a distinção entre uma leitura pessoal e uma leitura impessoal da palavra de Deus. E tento explicar o que entendo. Os Padres se aproximavam da palavra de Deus com uma pergunta constante: o que ela diz, agora e aqui, à Igreja e a mim pessoalmente? Estavam convencidos de que ela sempre traz novas luzes e novos compromissos. “Toda a Escritura, está escrito, é inspirada por Deus ” (2 Tm 3, 16). A expressão que se traduz como “inspirado por Deus”, ou “divinamente inspirada”, na língua original, é uma palavra única, theopneustos, que contém os dois vocábulos de Deus (Theos) e de Espírito (Pneuma). Tais palavras tem dois significados fundamentais. O significado mais conhecido é aquele passivo, revelado em todas as traduções modernas: a Escritura é “inspirada por Deus”. Um outro passo do Novo Testamento explica assim este significado: “Movidos pelo Espírito Santo falam aqueles homens (os profetas) de parte de Deus” (2 Pd 1, 21). É, em definitiva, a doutrina clássica da inspiração divina da Escritura, aquela que proclamamos como artigo de fé no Credo, quando dizemos que o Espírito Santo é aquele “que falou pelos profetas”. Da inspiração bíblica se ilumina, normalmente, quase apenas um efeito: a infalibilidade bíblica, ou seja, o fato de que a Bíblia não contém nenhum erro (se entendemos “erro”, corretamente, como ausência de uma verdade possível humanamente, em um determinado contexto cultural e, portanto, exigível pelo escritor). Mas a inspiração bíblica fundamenta muito mais do que a simples infalibilidade da Palavra de Deus (que é uma coisa negativa); fundamenta, positivamente, a sua inexauribilidade, a sua força e vitalidade divina. A Escritura, dizia Santo Ambrósio, é theopneustos não só porque é “inspirada por Deus”, mas também porque é “inspirante Deus”, porque inspira a Deus[9]! Agora inspira a Deus! “Com o que podemos comparar as palavras da Sagrada Escritura – escreve São Gregório – se não com uma pederneira, na qual se esconde o fogo? Ela é fria quando se segura com a mão, mas atingida pelo ferro, solta faíscas e gera fogo[10]”. A Escritura não contêm só o pensamento de Deus fixado uma vez por todas; contém também o coração de Deus e a sua vontade viva que lhe indica o que quer de você em um certo momento, e talvez só de você. A constituição conciliar Dei Verbum recolhe também esta linha da tradição quando diz que “as sagradas Escrituras inspiradas por Deus [inspiração passiva!] e redigidas uma vez por todas, comunicam imutavelmente a palavra do mesmo Deus e fazem ressoar nas palavras dos profetas e dos Apóstolos a voz do Espírito Santo [inspiração ativa!][11]“. Portanto, não se trata só de ler a palavra de Deus, mas também de fazer-se ler por esta; não somente de perscrutar as Escrituras, mas de deixar-se perscrutar pelas Escrituras. Trata-se de não aproximar-se dela como os bombeiros entravam uma vez entre as chamas, ou seja, com ternos de amianto que os faziam passar incólumes entre o fogo. Retomando a imagem de São Tiago, muitos Padres, entre os quais o nosso Gregório Magno, comparavam a Escritura a um espelho[12]. O que dizer de alguém que passasse todo o tempo examinando a forma e o material de que é feito o espelho, a época em que remonta e tantos outros detalhes, mas não se olhasse nunca no espelho? Assim faria aquele que passasse o tempo resolvendo todos os problemas críticos que a Escritura coloca, as fontes, os gêneros literários etc, mas não se olhasse nunca no espelho, ou melhor, nunca permite que o espelho o olhe e o perscrute a fundo, até o ponto onde se dividem as juntas das medulas. A coisa mais importante, sobre a Escritura, não é resolver os seus pontos obscuros, mas colocar em prática os claros! Ela, diz ainda o nosso Gregório, “se compreende fazendo-a[13]”. Uma forte fé na palavra de Deus não é apenas essencial para a vida espiritual do cristão, mas também para todas as formas de evangelização. Há duas maneiras de preparar um sermão ou qualquer proclamação da fé, oral ou escrita. Eu posso, antes de sentar-me à mesa e escolher eu mesmo a palavra a ser anunciada e o tema a ser desenvolvido, baseando-me nos meus próprios conhecimentos, nas minhas preferencias, etc., e depois, uma vez preparado o discurso, colocar-me de joelhos para pedir apressadamente a Deus que abençoe o que escrevi e dê eficácia às minhas palavras. É já uma coisa boa, mas não é o caminho profético. Devemos seguir a ordem inversa: primeiro de joelhos, depois à mesa. Temos que começar da certeza da fé que, em todas as circunstâncias, o Senhor Ressuscitado tem no coração uma palavra sua que deseja fazer chegar ao seu povo. E ele não a deixa de revelar ao seu ministro, se humildemente e com insistência ele a pede. No começo se trata de um movimento quase imperceptível do coração: uma pequena luz que se acende na mente, uma palavra da Bíblia que começa a atrair a atenção e que ilumina uma situação. Verdadeiramente, “a menor de todas as sementes”, mas depois você percebe que dentro estava tudo; havia um trovão capaz de derrubar os cedros do Líbano. Depois você se coloca à mesa, abre os seus livros, consulta as suas anotações, consulta os Padres da Igreja, os mestres, os poetas… Mas já é outra coisa. Não é mais a Palavra de Deus à serviço da sua cultura, mas a sua cultura à serviço da Palavra de Deus. Orígenes descreve bem o processo que leva a esta descoberta. Antes de encontrar na Escritura o alimento – dizia – era preciso suportar uma certa “pobreza” dos sentidos; a alma é cercada pela escuridão em todos os lados, só se encontra em ruas sem saída. Até que, de repente, depois de trabalhosa pesquisa e oração, eis que ressoa a voz do Verbo e imediatamente algo se ilumina; aquele que ela procurava lhe vai ao encontro “pulando sobre as montanhas e saltando pelas colinas” (cf. Ct 2 , 8), ou seja, abrindo-lhe a mente para receber uma palavra sua forte e luminosa[14]. Grande é a alegria que acompanha este momento. Ela fazia dizer a Jeremias: “Quando as tuas palavras vieram a mim, as devorei com avidez; a tua palavra foi a alegria e o gozo do meu coração” (Jer 15, 16). Normalmente, a resposta de Deus vem na forma de uma palavra da Escritura que, no entanto, naquele momento revela a sua importância extraordinária para a situação e para o problema a ser tratado, como se tivesse sido escrita especificamente para ele. Ao fazer isso, ele fala, de fato, “como com palavras de Deus” (cf. 1 Pd 4, 11). Este método vale sempre: para os grandes documentos, como para a lição que o mestre deu aos seus noviços, para a douta conferência como para a humilde homilia dominical. Todos nós tivemos a experiência do que pode fazer uma única palavra de Deus profundamente acreditada e vivida primeiramente por aquele que a pronuncia e às vezes até mesmo sem o seu conhecimento; muitas vezes deve-se constatar que, entre tantas outras palavras, aquela foi a que tocou o coração e levou mais de um ouvinte ao confessionário. A experiência humana, as imagens, as histórias vividas, nada de tudo isso está excluído da pregação evangélica, mas deve ser submetida à palavra de Deus que deve estar por acima de tudo. Foi o que nos recordou o Santo Padre nas páginas dedicadas à homilia da “Evangelii gaudium” e é quase presunçoso de minha parte pensar que eu poderia acrescentar algo. Gostaria de terminar esta meditação com um pensamento de gratidão para com os irmãos judeus, até mesmo como uma felicitação pela próxima visita do Santo Padre a Israel. Se nos divide deles a interpretação que lhe damos, nos une o comum amor pelas Escrituras. No museu de Tel Aviv tem uma pintura de Reuben Rubin onde se veem dois rabinos que apertam, um no peito e outro na bochecha, os rolos da palavra de Deus, e os beijam como se beija a própria esposa. Com os irmãos hebreus é possível algo de análogo àquilo que é o ecumenismo espiritual entre cristãos, ou seja, um colocar juntos, em um clima de diálogo e de estima recíproca, aquilo que nos une, sem ignorar ou esconder o que nos separa. Não podemos nos esquecer que recebemos deles as duas coisas mais preciosas que temos na vida: Jesus e as Escrituras. Também neste ano, a Páscoa hebraica cai na mesma semana que a cristã. Desejamos a nós mesmos e a eles, Feliz Páscoa, Santo e Feliz Pesach. [Tradução Thácio Siqueira/ZENIT] [1] Paul Claudel, L‟épée et le miroir: Les sept douleurs de la Sainte Vierge , Paris: Gallimard, 1939), 74-75. [2] Orígenes, Comentário a João, 10, 110 (GCS, Origenes vol. 4, p. 189) [3] Cf. H. de Lubac, Histoire et Esprit. L‟intelligence de l‟Ecriture d‟après Origène, Aubier, Paris 1950. [4] H. de Lubac, Exegèse Mèdiévale. Les quatre sens de l‟Ecriture, Aubier, Paris 1959, vol. I,1, p. 189 ; vol. I,2, p. 537). [5] Gregorio Magno, Homilias sobre Ezequiel, II, IX, 8. [6] Gregorio Magno,Homilias sobre Ez. I, IX, 30. [7] H. de Lubac, História e Espírito, cit. , pp. 629 ss. [8] O faz por exemplo a propósito do significado da palavra “páscoa”, em Enarrationes in Psalmos 120,6 (CC 40, p. 1791). [9] Ambrosio, De Spiritu Sancto, III, 112. [10] Gregorio Magno, Homilias sobre Ezequiel, II,10,1. [11] Dei Verbum, n. 21. [12] Gregorio Magno, Moralia, I, 2, 1 (PL 75, 553D). [13] Ib. I, 10,31. [14] Cf Origene, In Mt Ser., 38 (GCS, 1933, p. 7); In Cant.,3 (GCS, 1925, p. 202). Pregação da Sexta – Feira da Paixão – 2014 ESTAVA COM ELES TAMBÉM JUDAS, O TRAIDOR Dentro da história divino-humana da paixão de Jesus existem muitas pequenas histórias de homens e de mulheres que entraram no raio da sua luz ou da sua sombra. A mais trágica delas é a de Judas Iscariotes. É um dos poucos fatos comprovados, com igual destaque, por todos os quatro Evangelhos e pelo resto do Novo Testamento. A primitiva comunidade cristã tem refletido muito sobre ele e nós faríamos mal se não fizéssemos o mesmo. Ela tem muito a nos dizer. Judas foi escolhido desde a primeira hora para ser um dos doze. Ao incluir o seu nome na lista dos apóstolos o evangelista Lucas escreve “Judas Iscariotes, que se tornou” (egeneto) o traídor” (Lc 6, 16). Portanto, Judas não tinha nascido traidor e não o era quando foi escolhido por Jesus; tornou-se! Estamos diante de um dos dramas mais obscuros da liberdade humana. Por que se tornou? Em anos não distantes, quando estava de moda a tese do Jesus “revolucionário”, tentou-se dar a seu gesto motivações ideais. Alguém viu no seu apelido “Iscariotes” uma deformação de “sicariota”, ou seja, pertencente ao grupo de zelotes extremistas que atuavam como “sicários” contra os romanos; outros pensaram que Judas estivesse desapontado com a maneira em que Jesus realizou a sua ideia do “reino de Deus” e que quisesse força-lo a agir no plano político contra os pagãos. É o Judas do famoso musical “Jesus Christ Superstar” e de outros espetáculos e novelas recentes. Um Judas muito semelhante a um outro célebre traidor do próprio benfeitor: Brutus, que matou Júlio César para salvar a República! São reconstruções que devem ser respeitadas quando contém alguma dignidade literária ou artística, mas não têm nenhuma base histórica. Os Evangelhos – as únicas fontes confiáveis que temos sobre a personagem – falam de um motivo muito mais terra-terra: o dinheiro. Judas tinha a responsabilidade da bolsa comum do grupo; na ocasião da unção em Betânia havia protestado contra o desperdício do perfume precioso derramado por Maria aos pés de Jesus, não porque se preocupasse pelos pobres, assinala João, mas porque “era um ladrão e, como tinha a bolsa, tirava o que se colocava dentro”(Jo 12, 6). A sua proposta aos chefes dos sacerdotes é explícita: “Quanto estão dispostos a dar-me, se vo-lo entregar? E eles fixaram a soma de trinta moedas de prata” (Mt 26, 15). *** Mas por que maravilhar-se desta explicação e achar que ela é banal? Não foi quase sempre assim na história e não é ainda assim hoje em dia? Mamona, o dinheiro, não é um dos muitos ídolos; é o ídolo por excelência; literalmente, “o ídolo de metal fundido” (cf. Ex 34, 17). E se entende o motivo. Quem é, objetivamente, se não subjetivamente (ou seja, nos fatos, não nas intenções), o verdadeiro inimigo, o rival de Deus, neste mundo? Satanás? Mas nenhum homem decide servir, sem motivo, a Satanás. Se o faz, é porque acredita que vai ter algum poder ou algum benefício temporal. Quem é, nos fatos, o outro patrão, o anti-Deus, Jesus no-lo diz claramente: “Ninguém pode servir a dois senhores: não podeis servir a Deus e a Mamona” (Mt 6, 24). O dinheiro é o “deus visível[1]“, em oposição ao verdadeiro Deus que é invisível. Mamona é o anti-Deus, porque cria um universo espiritual alternativo, muda o objeto das virtudes teologais. Fé, esperança e caridade não são mais colocados em Deus, mas no dinheiro. Ocorre uma sinistra inversão de todos os valores. “Tudo é possível ao que crê”, diz a Escritura (Mc 9, 23); mas o mundo diz: “Tudo é possível para quem tem dinheiro”. E, em certo sentido, todos os fatos parecem dar-lhe razão. “O apego ao dinheiro – diz a Escritura – é a raiz de todos os males” (1 Tm 6,10). Por trás de todo o mal da nossa sociedade está o dinheiro, ou pelo menos está também o dinheiro. Esse é o Moloch de bíblica memória, ao qual foram imolados jovens e crianças (cf. Jer 32, 35), ou o deus Azteca, ao qual era preciso oferecer diariamente um certo número de corações humanos. O que está por trás do tráfico de drogas que destrói tantas vidas humanas, a exploração da prostituição, o fenômeno das várias máfias, a corrupção política, a fabricação e comercialização de armas, e até mesmo – coisa horrível de se dizer – a venda de órgãos humanos removidos das crianças? E a crise financeira que o mundo atravessou e que este país ainda está atravessando, não é, em grande parte, devida à “deplorável ganância por dinheiro”, o auri sacra fames[2], de alguns poucos? Judas começou roubando um pouco de dinheiro da bolsa comum. Isso não diz nada para certos administradores do dinheiro público? Mas sem pensar nesses modos criminosos de ganhar dinheiro, por acaso, já não é escandaloso que alguns recebam salários e pensões cem vezes maiores do que daqueles que trabalham nas suas casas, e que já levantem a voz só com a ameaça de ter que renunciar a algo, em vista de uma maior justiça social? Nos anos 70 e 80, para explicar, na Itália, diante as imprevistas mudanças políticas, os jogos ocultos de poder, o terrorismo e os mistérios de todo tipo que atormentava a convivência civil, foi-se afirmando a ideia, quase mítica, da existência de um “grande Velho”: um personagem muito sagaz e poderoso que dos bastidores teria movido as fileiras de tudo, para finalidades somente conhecidas por ele. Este “grande Velho” existe realmente, não é um mito; chama-se Dinheiro! Como todos os ídolos, o dinheiro é “falso e mentiroso”: promete a segurança e, em vez disso, a tira; promete a liberdade e, em disso, a destrói. São Francisco de Assis descreve, com uma severidade incomum, o fim de uma pessoa que viveu somente para aumentar o seu “capital”. Aproxima-se a morte; chamam o sacerdote. Ele pergunta ao moribundo: “Queres o perdão de todos os teus pecados?”, e ele responde que sim. E o sacerdote: “Estás preparado para satisfazer os erros cometidos com os demais?”. E ele: “Não posso”. “Por que não podes?”. “Porque já deixei tudo nas mãos dos meus parentes e amigos”. E assim ele morre impenitente e, apenas morto, os parentes e amigos dizem entre si: “Maldita a sua alma! Podia ganhar mais e deixar-nos, e não o fez![3]“. Quantas vezes, nestes tempos, tivemos que refletir naquele grito dirigido por Jesus ao rico da parábola que tinha acumulado muitos bens e se sentia seguro pelo resto da vida: “Tolo, esta mesma noite a tua alma te será pedida; e o que tens acumulado, de quem será?” (Lc 12, 20). “Homens colocados em cargos de responsabilidade que não sabiam mais em qual banco ou paraíso fiscal acumular os proventos da sua corrupção encontraram-se no banco dos réus, ou na cela de uma prisão, justamente quando estavam pra dizer a si mesmos: “Agora goza, minha alma”. Para quem o fizeram? Valia a pena? Fizeram realmente o bem dos filhos e da família, ou do partido, se é isso que procuravam? Ou não acabaram destruindo a si mesmos e os demais? O deus dinheiro se encarrega de punir, ele mesmo, os seus adoradores. *** A traição de Judas continua na história e o traído é sempre ele, Jesus. Judas vendeu o chefe, os seus seguidores vendem o seu corpo, porque os pobres são membros de Cristo. “Tudo aquilo que fizestes a um só destes meus irmãos pequeninos, a mim o fizestes” (Mt 25, 40). Mas a traição de Judas não continua somente nos casos clamorosos aos quais me referi. Seria cômodo para nós pensar assim, mas não é assim. Ficou famosa a homilia que pronunciou numa Quinta-feira Santa o padre Primo Mazzolari sobre “Nosso irmão Judas”. “Deixem, dizia aos poucos paroquianos que tinha diante, que eu pense por um momento no Judas que tenho dentro de mim, no Judas que talvez vocês também tenham dentro”. É possível trair Jesus também por outros tipos de recompensa que não sejam as trinta moedas de prata. Trai a Cristo quem trai a própria esposa ou o próprio marido. Trai a Jesus o ministro de Deus infiel ao seu estado, ou que, em vez de apascentar o rebanho apascenta a si mesmo. Trai a Jesus quem trai a própria consciência. Posso traí-lo até mesmo eu, neste momento – e isso me faz tremer – se enquanto prego sobre Judas me preocupo pela aprovação do auditório mais do que de participar da imensa pena do Salvador. Judas tinha um atenuante que nós não temos. Ele não sabia quem era Jesus, considerava-o somente “um homem justo”; não sabia que era o Filho de Deus, nós sim. Como a cada ano, na iminência da Páscoa, quis reescutar a “Paixão segundo S. Mateus” de Bach. Há um detalhe que cada vez me faz estremecer. No anúncio da traição de Judas, ali, todos os apóstolos perguntam a Jesus: “Porventura sou eu, Senhor?” Herr, bin ich‟s?”. Antes, porém, de fazer-nos ouvir a resposta de Cristo, anulando toda distância entre o evento e a sua comemoração, o compositor insere um coro que começa assim: “Sou eu, sou eu o traidor! Eu tenho que fazer penitência!”, “Ich bin‟s, ich sollte büßen”. Como todos os coros daquela obra, esse expressa os sentimentos do povo que escuta; é um convite também a nós, de fazermos a nossa confissão de pecado. *** O Evangelho descreve o fim horrível de Judas: “Judas, que o havia traído, vendo que Jesus tinha sido condenado, se arrependeu, e devolveu as trinta moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, entregando-vos sangue inocente. Mas eles disseram: O que nos importa? O problema é seu. E ele, jogando as moedas no templo, partiu e foi enforcar-se” ( Mt 27 , 3-5). Mas não julguemos apressadamente. Jesus nunca abandonou a Judas e ninguém sabe onde ele caiu quando se jogou da árvore com a corda no pescoço: se nas mãos de Satanás ou naquelas de Deus. Quem pode dizer o que aconteceu na sua alma naqueles últimos instantes? “Amigo”, foi a última palavra que Jesus lhe disse no horto e ele não podia tê-la esquecido, como não podia ter esquecido o seu olhar. É verdade que, falando ao Pai dos seus discípulos, Jesus tinha falado de Judas: “Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição” (Jo 17, 12), mas aqui, como em tantos outros casos, ele fala na perspectiva do tempo, não da eternidade. Mesmo a outra palavra terrível referida a Judas: “Seria melhor para esse homem nunca ter nascido” (Mc 14, 21 ) é explicada pela enormidade do fato, sem a necessidade de se pensar em um erro eterno. O destino eterno da criatura é um segredo inviolável de Deus. A Igreja nos garante que um homem ou uma mulher proclamados santos estão na bemaventurança eterna; mas de ninguém a Igreja sabe com certeza que esteja no inferno. Dante Alighieri, que, na sua Divina Comédia, coloca Judas nas profundezas do inferno, fala da conversão, no último momento, de Manfred, filho de Federico II e rei da Sicília, que todos na sua época acreditavam que tinha sido condenado excomungado. Mortalmente ferido em batalha, ele confia ao poeta que, no último momento da vida, se arrependeu chorando àquele “que voluntariamente perdoa” e que do Purgatório envia para a terra esta mensagem que vale também para nós: Terríveis foram os meus pecados, mas a bondade infinita com seus grandes braços sempre acolhe aquele que se arrepende[4]. *** É a isso que deve levar-nos a história do nosso irmão Judas: a render-nos àquele que voluntariamente perdoa, a jogar-nos também nós, nos grandes braços do crucifixo. A coisa mais importante na história de Judas não é a sua traição, mas a resposta que Jesus dá a ela. Ele sabia bem o que estava amadurecendo no coração do seu discípulo; mas não o expôs, quis dar-lhe a chance até o último momento de voltar atrás, quase o protege. Sabe por que veio, mas não rejeita, no horto das oliveiras, o seu beijo gélido e até o chama de amigo (Mt 26, 50). Da mesma forma que procurou o rosto de Pedro depois de sua negação para dar-lhe o seu perdão, terá procurado também o de Judas em algum momento da sua via crucis! Quando da cruz reza: “Pais, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem” (Lc 23 , 34), não exclui certamente deles a Judas. Então, o que faremos, portanto, nós? Quem seguiremos, Judas ou Pedro? Pedro teve remorso pelo que ele tinha feito, mas também Judas teve remorso, tanto que gritou: “Eu traí sangue inocente!”, e devolveu as trinta moedas de prata. Onde está, então, a diferença? Em apenas uma coisa: Pedro teve confiança na misericórdia de Cristo, Judas não! O maior pecado de Judas não foi ter traído Jesus, mas ter duvidado da sua misericórdia. Se nós o imitamos, quem mais quem menos, na traição, não o imitemos nesta sua falta de confiança no perdão. Existe um sacramento no qual é possível fazer uma experiência segura da misericórdia de Cristo: o sacramento da reconciliação. Como é belo este sacramento! É doce experimentar Jesus como mestre, como Senhor, mas ainda mais doce experimentá-lo como Redentor: como aquele que te tira para fora do abismo, como Pedro do mar, que te toca, como fez com o leproso, e te diz: “Eu quero, seja curado!” (Mt 8, 3). A confissão nos permite experimentar em nós o que a Igreja diz sobre o pecado de Adão no Exultet pascal: “Ó feliz culpa que mereceu tal Redentor!” Jesus sabe fazer de todas as culpas humanas, uma vez que nos tenhamos arrependido, “felizes culpas”, culpas que não são mais lembradas a não ser pela experiência da misericórdia e pela ternura divina da qual foram ocasião! Tenho um desejo para mim e para todos vós, Veneráveis Padres, irmãos e irmãs: que na manhã da Páscoa possamos acordar e sentir ressoar no nosso coração as palavras de um grande convertido do nosso tempo, o poeta e dramaturgo Paul Claudel: “Deus meu, ressuscitei e ainda estou com você! Dormia e estava deitado como um morto na noite. Deus disse: “Seja feita a luz” e eu despertei como se dá um grito! […] Meu Pai, que me gerou antes da aurora, coloco-me na tua presença. O meu coração está livre e a minha boca está limpa, o corpo e o espírito estão de jejum. Sou absolvido de todos os meus pecados que confessei um por um. O anel das núpcias está no meu dedo e o meu rosto está limpo. Sou como um ser inocente na graça Que tu me concedestes[5]. Isso é o que nos pode fazer a Páscoa de Cristo. [Tradução do original italiano por Thácio Siqueira / ZENIT] [1] W. Shakespeare, Timão de Atenas, ato IV, sc. 3. [2] Virgílio, Eneida, 3. 56-57 [3] Cf. S. Francisco, Carta a todos os fieis 12 (Fontes Franciscanas, 205). [4] Purgatório, III, 118-123. [5] P. Claudel, Prière pour le Dimanche matin, in Œuvres poétiques, Gallimard, Paris, 1967, p. 377. Edição e compilação dos textos: Pascom Lapa – SP Fonte: Site Oficial do Padre Raniero Cantalamessa Vistite o site da Região Lapa onde o arquivo se encontra para download: Site: www.regiãolapa.org.br - Email: [email protected]
Download