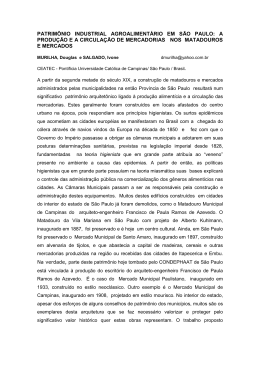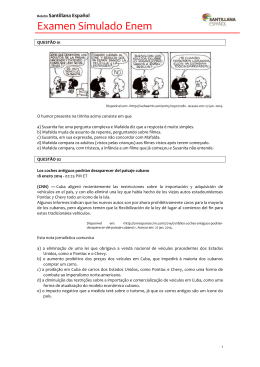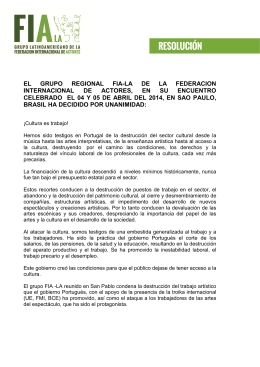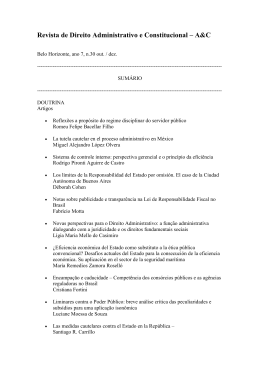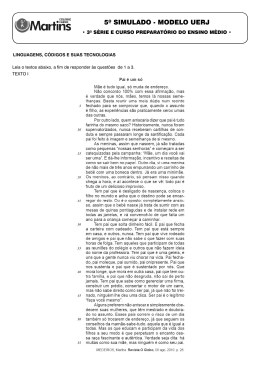LITERATURA Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Literatura 1. Los límites de lo legible. Ensayo y ficción en la literatura latinoamericana Ana Cecilia Olmos (USP)............................................................................3 2. Dos cafés, una cultura urbana (Lugares del “Polo Bamba” y el “Tupí-Nambá”: los hermanos San Román) Pablo Rocca (UR).....................................................................................17 3. A expressão católica na Literatura Francesa e Brasileira do início do século XX Cristina Porto (Unesp)..............................................................................29 4. A construção da heroína “romântica”: educação sentimental em “Miss Dollar”, de Machado de Assis Cilene Margarete Pereira (Unicamp)............................................................47 5. Joaquim Cardozo, crivo e deserto Manoel Ricardo de Lima (UFSC).................................................................61 6. “Na Cadeia de Sons da Vida”: Considerações sobre Música Popular e Literatura na Obra de Paulo Leminski Marcelo Sandmann (UFPR)........................................................................73 7. A valorização do “desqualificado” na poética de Manuel Bandeira Luciano Cavalcanti....................................................................................91 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE 2 Junho de 2009 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Volume 4 ◦ Número 1 Los límites de lo legible. Ensayo y ficción en la literatura latinoamericana ENSAIO Ana Cecilia Olmos* Resumen: Este texto propone una reflexión acerca de las relaciones entre ensayo y ficción en la obra literaria de tres autores latinoamericanos, Osman Lins, Diamela Eltit y Luis Gusmán. Nociones teóricas del pos-estructuralismo francés, tal como la de escritura y la de (i)legibilidad, son referencias inevitables para pensar el lugar del ensayo en obras literarias marcadas por la subversión de las fronteras de género. Lejos de presentarse como el simple reverso comunicativo de la ficción, el ensayo de estos narradores se ofrece como un espacio discursivo de indagación de las propias prácticas que permite colocar en evidencia el gesto crítico que toda palabra literaria supone ante los usos convencionales del lenguaje. Palabras clave: Ensayo; escritura; ficción. 1. Ensayo y escritura Un rápido pasaje por las reflexiones teóricas sobre el ensayo parece colocarnos ante una paradoja: su peculiaridad reside, precisamente, en la resistencia al gesto reductor de las tipologías del discurso. La forma híbrida del ensayo -afirman una y otra vez los estudios sobre el género- impide una delimitación precisa de sus rasgos característicos y de su dominio discursivo. En otras palabras, en su definición, el ensayo exige el abandono de las categorías discursivas establecidas, pero no para recortar un dominio ajeno a las mismas, sino para trazar un movimiento transversal por todas ellas. Como explica Gregorio Kaminsky (2000, p. 197), el ensayo resiste a una adecuación ajustada al orden lógico de la ciencia, de la filosofía o de la literatura para postularse como “el otro” de esos dominios discursivos sin distanciarse de ellos. En efecto, el conocimiento del mundo que persigue el saber científico, la búsqueda de una verdad que moviliza el pensamiento filosófico o la indagación de formas estéticas que sostiene la expresión literaria no son ajenos a los impulsos de la escritura del ensayo, sin embargo, no la definen. El rasgo que le es inherente reside en la adopción de una enunciación subjetiva directa que le otorga al texto ensayístico una unidad formal ante la multiplicidad de lo real y le permite postularse no sólo como una escritura que objetiva un determinado saber acerca del mundo, sino también como una escritura que da lugar al conocimiento de sí mismo. Este doble movimiento fundamenta al ensayo como un género literario que resiste al propósito de comunicar un saber al margen de la situación del sujeto que escribe. * Profa. Dra. Literatura Hispano-Americana, Universidade de São Paulo. 3 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 Es en este sentido que el ensayo despliega una escritura autoreflexiva que, conciente de sus propios procesos constructivos, activa el gesto crítico de la sospecha al asumir la instancia de enunciación subjetiva como su momento inicial y último. Como sugiere André Comte Sponville, escribir un ensayo es, entonces, escribir lo más cerca posible de sí mismo, “como escribía Montaigne, lo más cerca posible de la vida real, con sus angustias, sus incertidumbres, sus más o sus menos, lo más cerca de su esencial fragilidad, su esencial finitud, su esencial y definitiva improvisación” (1999, p. 9-10). Ajeno a los rigores metodológicos, las certezas categóricas y las evidencias conclusivas, el ensayo reproduce la “esencial y definitiva improvisación de la vida” al desplegar una escritura que se define por la apertura, la fragmentación, el dinamismo e, incluso, por una cierta arbitrariedad que evoca la disponibilidad infantil ante lo lúdico. Por cierto, estos rasgos del ensayo, la improvisación, el dinamismo conceptual y la ausencia de certezas categóricas, están directamente ligados al predominio de esa enunciación subjetiva directa. Una enunciación que desestabiliza la figura del autor como origen positivo y exterior al texto y lleva a pensar en una subjetividad que se construye en el propio proceso de escritura. En otras palabras, si aceptamos la idea de Comte Sponville de que escribir ensayo es escribir lo más cerca de sí mismo, podemos afirmar que esta forma discursiva hace evidente que la subjetividad no se configura en términos de sustancia sino de construcción del discurso. Tal como lo explicaba Barthes: el sujeto no es una “plenitud individual” ya dada que puede expresarse, o no, en el lenguaje, sino que, por el contrario, en una relación intrínseca con el lenguaje, el sujeto se constituye en la propia instancia de enunciación (2003, p. 225). Como un ejercicio de escritura en el que se configura la subjetividad, el ensayo no suele estar ausente en las prácticas literarias de los autores de ficción. Con frecuencia, ellos exploran esta forma discursiva para presentar una palabra suplementaria que, despojada aquí de las instancias mediadoras del narrador o del personaje, le permite interrogarse acerca de las motivaciones que incitan su práctica, de las singularidades poéticas que la definen o de la peculiar inserción en el devenir histórico que asume, sea con relación a una tradición literaria específica o en el contexto de procesos culturales y sociales más amplios. Pero quisiera insistir en lo que señalaba al comienzo: el ensayo de los escritores no se presenta como un discurso que, regido por una intención de comunicabilidad, apenas explique o justifique los fundamentos de una práctica literaria. Por el contrario, lejos de cualquier intención meramente comunicativa, el ensayo de los escritores se ofrece como un espacio discursivo de indagación que permite colocar en evidencia el gesto crítico que toda práctica literaria supone ante los usos convencionales del lenguaje. En este sentido pueden ser pensados los ensayos de los autores latinoamericanos que comentaré en esta oportunidad: el brasileño Osman Lins, el argentino Luis Gusmán y la chilena Diamela Eltit. Se trata de un conjunto de ensayos en los que estos autores reflexionan sobre sus propias prácticas literarias para, en un esfuerzo en apariencia siempre deficitario, interrogarse acerca de las leyes que organizan sus procesos de escritura o, más allá de esas leyes, simplemente indagar y desplegar, una vez más, el “deseo de 4 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE palabra” que los impulsa (ELTIT, 2000, p. 178). Por cierto, este recurso al ensayo como espacio de indagación de la propia práctica no ha sido desconocido por los escritores que lo frecuentan, por lo menos, desde el romanticismo, es decir, desde la inscripción de la modernidad en el ejercicio de una palabra literaria que se repliega sobre sí misma para asumir y ostentar su intransitividad. Aunque este recurso al ensayo por parte de los escritores sea casi un lugar común, creo que es posible reconocer usos peculiares del género que, si bien no neutralizan del todo la arbitrariedad que la elección de un corpus siempre supone, permiten reconocer elementos y estrategias en común que justifican la reunión de estos autores y textos. En este caso adquiere particular relevancia el hecho de que los nombres de Osman Lins, Diamela Eltit y Luis Gusmán se hayan incorporado al campo literario latinoamericano en el momento en que la apropiación de los presupuestos teóricos del posestructuralismo francés abría espacio para la noción de escritura pluralizando de forma significativa las opciones estéticas de la literatura del continente. Sabemos que, contra las ideas establecidas de literatura, esta noción de escritura se postulaba como una práctica estética subversiva que cuestionaba, deliberadamente, los presupuestos de universalidad e inteligibilidad de la institución literaria. En 1973, Osman Lins consolidaba su trayectoria con su novela Avalovara; en el mismo año, Luis Gusmán presentaba su primera ficción, El frasquito; en 1983, Diamela Eltit publicaba su primera novela, Lumpérica. Estos títulos irrumpieron en la literatura latinoamericana como textos portadores de una significativa radicalidad estética que, en sintonía con la subversión de las posiciones teóricas francesas, llevaban al extremo la desconfianza en la función referencial del lenguaje, incorporaban una multiplicidad de gramáticas sociales, disolvían las distinciones de género, desestabilizaban las jerarquías del universo cultural y apostaban a la fragmentación y a lo inacabado como estrategias de representación que postergan, al máximo, la alusión a un referente real. Concentrados en un trabajo sobre la materialidad significante de la lengua, estos textos afirmaban su intransitividad por medio de una operación radical de liberación de los sentidos que colocaba en jaque la idea de la existencia de un significado último y acabado en el discurso literario. En el límite de la legibilidad, estas novelas iban más allá de las posibilidades connotativas de la lengua para hacerla girar en el vértigo alucinado de una estructura descentrada que permitía vislumbrar el vacío de sentido o, como dice Barthes, “el sentido experimentado como vacío”(2007, p. 51). Más allá del desafío personal que toda búsqueda estética supone, la publicación de estos títulos no dejaba de ser una toma de posición política de los autores en el campo literario de la época. Una toma de posición que cuestionaba, con llamativa virulencia, los usos instituidos del lenguaje y las formas institucionalizadas de la literatura. En América Latina, por esos años, la inteligibilidad literaria se reconocía en la continuidad esclerosada del regionalismo, en la eficacia comunicativa de un realismo subordinado al compromiso político y en las versiones reiteradas hasta el cansancio de un realismo mágico que, aunque corroía la confianza en la transparencia referencial del lenguaje, no renunciaba a las certezas del fundamento mítico. Es contra estos presupuestos de inteligibilidad de lo literario 5 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 que se insubordinan las opciones de escritura de estos autores. Aunque en sus comienzos la obra de Osman Lins establece vínculos con el universo narrativo del noreste brasileño, el autor no demoró mucho en distanciarse de la impronta regionalista que ese vínculo suponía y en abandonar los temas sociales y cósmicos de una literatura que se concentraba en el registro realista de personajes en situación de exclusión social y en una relación de determinismo existencial con la geografía. En 1966, la publicación de Nove, Novena ya permite reconocer ese distanciamiento al ofrecer en los relatos que componen el libro un mundo “presentificado” que el autor describe como un mundo “sem passado e sem futuro, ou melhor, um imenso presente, que engloba o passado e o futuro” (LINS, 1979, p. 142), es decir, un universo narrativo que, liberado de cualquier anclaje referencial del lenguaje, despliega un juego de voces que abre de forma ilimitada las posibilidades interpretativas del texto. Esta opción de escritura, que marca el distanciamiento crítico de Lins con respecto al regionalismo brasileño, alcanzará formas más acabadas y radicales en sus dos últimas novelas: Avalovara y A Rainha dos Cárceres da Grécia. De carácter beligerante, la trayectoria literaria de Luis Gusmán comenzó, en los años 70, con la adopción de posiciones de ruptura en el campo literario argentino. Fundador de la revista Literal (1973-1977), este escritor adhirió, plenamente, a una concepción de la literatura que privilegiaba la materialidad significante de la lengua y afirmaba, de forma radical, la imposibilidad de lo real fuera de ella. El grupo de escritores que este título reunía colocó en circulación una concepción de la literatura que se sustentaba, con exclusividad, en la idea de que “el continuo de lo real es organizado por la discontinuidad del código” y que, por lo tanto, “para cuestionar la realidad en un texto es preciso comenzar por eliminar la prepotencia del referente, condición indispensable para que la potencia de la palabra se despliegue” (Libertella, 2002, p. 24). Las tres primeras novelas de Gusmán, El frasquito, Brillos y Cuerpo velado pueden ser pensadas como la materialización de esos presupuestos estéticos que se oponían, con no poca violencia, a los conformismos realistas que se aferraban a la seguridad de un referente aceptado como verdadero. Con una posición no menos provocadora, desde el comienzo, Diamela Eltit inscribió su literatura en una práctica artística que conjugaba un penetrante experimentalismo estético con la reconstrucción crítica de la memoria histórica. Fundadora, junto a otros artistas, del CADA (Colectivo de Acciones de Arte), Eltit intervino en la escena pública chilena a partir de los años 70 con una producción artística que privilegiaba la performance como estrategia de interpelación a las instituciones en una evidente crítica a la fijación de los sentidos en el arte y al congelamiento del acto creativo en una voluntad política militante. Es esta posición la que debemos reconocer cuando la autora se pronuncia a favor de “una literatura que problematice sus propias zonas de producción y que en el orden simbólico amplíe sentidos” (2000, p. 185) y también cuando afirma que deposita el “único gesto posible de rebelión política en una escritura refractaria a la comodidad, a los signos confortables” (2000, p. 173-174). 6 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Con esta rápida presentación de los autores pretendo apenas destacar la singularidad que comportaban sus opciones de escritura, puestas en evidencia con particular relevancia por sus ficciones, Avalovara, El frasquito y Lumpérica. Títulos que, contra las formas institucionalizadas de lo literario, cuestionaban con marcada virulencia la confianza de la representación realista, las ilusiones totalizadoras de la novela y los usos lingüísticos codificados. Pero más allá del carácter disruptivo de estos títulos, lo que me interesa destacar es que esa toma de posición suponía instaurar en el centro del texto de ficción una dimensión teórica que postulaba la ilegibilidad como horizonte último de una práctica literaria conciente de los límites constitutivos del propio lenguaje. Quiero decir que, incorporada al campo más amplio de la escritura, la ficción no dejaba de producir un “efecto teórico” que desestabilizaba los hábitos retóricos del saber al borrar las diferencias discursivas que separaban la teoría, la crítica y la ficción (cf. MOREIRAS, 1999). Para decirlo de otra manera, entre las posibilidades que abría esta opción estética, la ficción se ofrecía también como un espacio propicio para poner en escena el diálogo entre la palabra creativa y la reflexión crítica sobre ella. Lins, Eltit y Gusmán no desestimaron esa potencia teórica de la ficción y exploraron al máximo la labilidad de las fronteras discursivas que la noción francesa de escritura comportaba para extremar una política de ruptura frente a los modelos establecidos de la institución literaria. Sin embargo, el abandono de las pautas genéricas no fue absoluto y, en diversas oportunidades, asumieron la enunciación subjetiva, singular y provisoria del ensayo para reflexionar sobre sus propias prácticas. Si tenemos en cuenta la radicalidad de los presupuestos estéticos que las sostenían, cabe preguntarse acerca del lugar que el ensayo ocupa en ellas. 2. La otra voz de mi boca Un par de libros y una variada colección de artículos periodísticos dan cuerpo a la ensayística de Osman Lins en el marco más amplio de una escritura que se diversificó en la ficción, el teatro y los guiones televisivos. En esta oportunidad me detendré en uno de sus libro publicado en 1969 bajo el título Guerra sem testemunhas. O escritor, sua condição e a sua realidade. En este ensayo, el autor brasileño se propone reflexionar críticamente sobre la dimensión estética del acto de la escritura y los aspectos sociales que envuelve el proceso creativo o, como él lo describe, “a tarefa exaustiva – e de nenhum modo amena – de escrever”. A la indagación del acto secreto de la escritura se suma un cuestionamiento polémico de la inserción del escritor en la sociedad y sus relaciones no poco conflictivas con las instituciones de un país, por esos años, bajo dictadura. El título del libro condensa esas dos dimensiones: la soledad del acto de escribir supone una guerra del escritor consigo mismo, con la lengua y con las instituciones. Sobre todo, podríamos decir, con las instituciones. En efecto, en una primera lectura del ensayo se hace evidente la filiación sartreana de Lins que piensa la posición del escritor en la sociedad en términos de negatividad y hace del ejercicio de la literatura un escribir contra la dimensión institucional en que se inserta su práctica, a saber: 7 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 la industria editorial, la censura, la crítica académica y los medios masivos de comunicación. Esta concepción de la literatura como una práctica negativa se figura en términos de una misión cultural que el escritor lleva adelante en la sociedad a la manera de un combate implacable y sin retribución alguna ya que, como afirma Lins, “o mundo necessita de seus escritores na exata medida em que tende a negálos, pelo sacrificio ou pelo esquecimento”. La asignación de una misión para el ejercicio de la literatura le otorga al ensayo un cierto tono de prescripción que tiende a definir un deber ser de esta práctica ligado a un uso responsable y lúcido de la palabra. Si este aspecto combativo adquiere una importante relevancia en el conjunto del texto, no es menos interesante el matiz que, por momentos, el discurso asume al describir el ritual privado de la escritura buscando atenuar cualquier intención normativa y comunicativa del ensayo. Ante la parálisis que provoca la página en blanco, Lins afirma: A presente abordagem – longe de ser uma prédica, explanação dirigida aos leitores – transcende o objetivo original, ou antes se reduz, assume rápida um aspecto de interrogatório (íntimo, cerrado) formulado também para o meu proveito. Minhas incertezas, minhas imprecisões de julgamento sobre o verdadeiro caráter do escritor e da literatura o determinam. Tais imprecisões, tais incertezas, a partir do momento em que decidi não mais adiar o início da obra e enfrentá-la, revelaram a força, o peso, a intensidade com que existiam em meu espírito. (LINS, 1974, p. 14) El ardid de referir los propósitos del ensayo y, al mismo tiempo, confesar la imposibilidad de escribirlo imprime en el discurso un movimiento vacilante, de “exame e revisão” de lo dicho, que lleva a un desdoblamiento de la enunciación. Otra voz surge en el interior del discurso como forma de dramatizar la indagación del autor sobre el acto de la propia escritura: Outra voz ressoa em minha boca, a voz das perguntas, das retificações, a voz de outro, de outros, mas invocada por mim. Se existe outra voz, outra boca existe, e havendo outra boca, outra cabeça haverá, outros pés, outras mãos, outra figura, um cúmplice. Para que nenhum de nós pareça conduzir a obra, o que seria contrário aos meus projetos e à minha tendência, dividiremos ambos a plenitude do pronome “eu”. A partir dessa frase, serei então dual, bifronte, duplo, dois, inquiridor e inquirido, um par, o que procura e o que é observado. (1974, p. 17-18) Ese pliegue de la enunciación dibuja la silueta de Willy Mompou, “também ele não de todo real” -dice Lins, y hace borrosos los límites del ensayo con la ficción. Sin ser propiamente un personaje, Willy Mompou es un desdoblamiento del autor que instaura una suerte de mirada sobre sí mismo; un pliegue de la enunciación -se podría decir- que le permite a Lins verse escribir y admitir que la experiencia de la escritura se agota en el propio acto, que es en sí misma inaprehensible y que escapa a cualquier intencionalidad rectora. De hecho, Lins no escribe una novela 8 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE pero, en la enunciación subjetiva del ensayo, juega a enmascararse y a decir que se enmascara como una estrategia dramática que le permite traer a un primer plano el gesto interrogante o, mejor, la sospecha de que lo único que sostiene la escritura es el repliegue de la pregunta acerca del propio acto. En tensión con la exigencia de lucidez y responsabilidad que la filiación sartreana imprimía en su concepción de la literatura, esta puesta en escena de la intransitividad de la escritura y de la gratuidad del acto relativiza el peso de la palabra misionaria. En este punto, Lins se pregunta: Será então indevido destruir, ou pelo menos conservar inédito, este livro que, ao invés de destinar-se à leitura, se parece cumprir tão-só em ser escrito? Ou terá o autor a intenção de editá-lo, com o que de certo modo irá contradizer-se, divulgando, como se fosse obra dirigida a um público, esta que tem – ou dir-se-ia ter – finalidade diversa? (1974, p. 22) Si las primeras páginas del ensayo despliegan esta imagen de la escritura como un aventurarse por caminos imprevisibles que el autor apenas conoce al emprenderlos y que, en última instancia, se vuelven sobre sus pasos, el final del libro se cierra con un gesto afirmativo que, ajeno a esa incertidumbre inicial, neutraliza la deriva que supone toda escritura ensayística. En esas últimas páginas, Lins abandona el desdoblamiento de la enunciación, afirma haberse despojado de todas sus dudas, declara poseer un saber acerca de su oficio y asume un modo de enunciación que responde más al orden del diagnóstico y la prescripción que al de la indagación crítica. Sin embargo, en una nota preliminar redactada en 1974, por ocasión de la segunda edición del libro, Lins revisa esta posición y confiesa haber reformulado su visión del arte, antes “um pouco menos sutil e quem sabe mais orgulhosa”, por otra que lo figura “mais potente, mais irisado e mais rico em suas virtualidades” (1974, p. 12). Esta reformulación le permite admitir que, más allá de la prédica que se inscribía en el ensayo, “uma obscura noção de provisoriedade” se agazapaba en su idea del ejercicio literario. Por cierto, la elocuencia de esta nota preliminar nos recuerda que entre la primera y la segunda edición de Guerra sem testemunhas se inserta la radicalidad estética de Avalovara. 3. La otra de mí En el caso de Diamela Eltit, el ensayo responde a las pautas de género estableciendo una nítida diferencia con la ficción. Con una presencia menos significativa en el conjunto de su obra, el ensayo es poco frecuentado por esta escritora que afirma evadir todo tipo de declaración de autor para evitar los riesgos de parálisis de un discurso que, en su intención explicativa, acabaría ideologizado. Tal vez por eso, cuando asume la enunciación subjetiva del ensayo, ella insiste en la imposibilidad de dar cuenta de las leyes que organizan una escritura centrada en la materialidad de la letra y liberada al juego infinito de los sentidos. Sobre sus ficciones, Eltit afirma: 9 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 ...esos libros responden a un hacer creativo que tiene sus propias leyes de las que yo misma estoy ausente y, aún más, la mayoría del tiempo me siento totalmente irresponsable. De la misma manera que siento que no podría reescribir una sola página de un libro que ya he publicado, pienso que hay cuestiones contenidas en lo escrito que están dentro de un espacio que me sobrepasa. Y eso es, quizás, lo que mantiene vivo en mí el deseo de escritura; esa voz que se me escapa y que, muchas veces, me exalta o me avergüenza. (2000, p. 170) Aunque el ensayo se presente como espacio de indagación de la propia práctica de escritura, las reglas secretas que la organizan, sugiere Eltit, no pueden ser aprehendidas de forma inteligible. En ese sentido, el ensayo apenas puede dar cuenta de un desplazamiento entre posiciones de enunciación que diferencian la palabra creativa (“esa voz que se me escapa”) de la reflexión crítica acerca de ella. Al referirse a la relación que establece con sus ficciones, Eltit explica: No soy exactamente yo la responsable del libro /…/, es la otra de mí, aquella que escribe y escribe, por ello me siento como una representante difusa de un libro del que conozco parte de su proceso de elaboración. Sé que trabajé exhaustivamente el texto y, no obstante, ahora me cuesta reconstruir el cómo realicé los enlaces, en qué momento una frase o una palabra encontraron un sentido estético y cuándo se ordenó una trama posible que llevó la novela hasta el instante final de su clausura. (2000, p. 186) Las palabras de Eltit figuran un desplazamiento en las posiciones de enunciación al afirmar en el ensayo que es “la otra de mí” la que escribe ficción y que ella poco sabe de un proceso de escritura del cual es apenas una “representante difusa”. Aunque ese desdoblamiento busque diferenciar las posiciones de enunciación del ensayo y de la ficción, estas no están absolutamente escindidas; por el contrario, existe entre ellas un vínculo de difícil precisión que permite el desplazamiento de una a otra. Dice Eltit: Estas sensaciones, me parece, se las traspasé a la otra -a la que escribe- y se constituyeron en referentes literarios. En la novela Los vigilantes, le debo a Samuel Beckett, le debo a Faulkner, las lecturas tan antiguas y emocionadas de sus libros Molloy y El sonido y la furia, le debo al pintor Rufino Tamayo la imagen robada de un cuadro suyo. Textos e imágenes, imágenes y textos que transitan inesperadamente por el imaginario de la que escribe para conformar los materiales locales de una novela sudaca. (2000, p. 188) La insistencia en ese desdoblamiento pronominal (ella y yo / la otra y yo) no se reduce a un simple gesto de modestia. Por medio de ese juego de posiciones de enunciación, Eltit intenta hacer evidente la imposibilidad de desvendar y aprehender de forma inteligible las leyes secretas que ordenan el proceso de escritura. Quien enuncia en el ensayo sólo posee un saber impreciso acerca de la escritura de ficción que no la habilita a ocupar ese lugar de enunciación otro y que en todo caso sólo puede, eventualmente, usurparlo. En la obra de Eltit, 10 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE por lo tanto, el ensayo no debe ser pensado como el reverso comunicativo de la ficción, sino como una forma discursiva que interfiere en el trabajo creativo en favor de una palabra liberada al juego infinito de los significantes y que no deja de reconocer que, frente a la pura afirmación del texto literario, en última instancia, sólo resta el silencio. En ese sentido puede ser pensado el ensayo que Eltit escribe para El Padre Mio en 1989. Se trata de un libro raro en el conjunto de su obra que presenta el habla de un sujeto que vivía en la periferia de la ciudad de Santiago y que ella grabó durante tres encuentros. Eltit presenta el libro como el resultado de una investigación que realiza con Lotti Rosenfeld y que tenía por objetivo reconocer en la periferia de la ciudad una fisura estética que, a la manera de un negativo fotográfico, revelase el orden jerarquizado que las formas institucionalizadas del poder imprimían en la cartografía urbana. Excluidos del sistema de producción económica, explica la autora, los sujetos que habitaban esos márgenes repetían sin cesar un único trabajo “solitario y excesivo” que reconfiguraba sus cuerpos en la pesada acumulación de la ropa y en los residuos adheridos a la piel. Ese barroco visual con el que los cuerpos de estos sujetos desbordaban los límites disciplinados de la ciudad contrastaba de forma llamativa con la ausencia de lenguaje. No era el caso del Padre Mío, aclara Eltit: “Su vertiginosa circular presencia lingüística no tenía ni principio ni fin. El barroco se había implantado en su lengua móvil haciéndola estallar” (2000, p. 168). En efecto, desplazado ese exceso barroco del cuerpo hacia el habla, el discurso transcripto de El Padre Mío estalla en un delirio que se contorsiona en el retorno angustiante de la idea de la confabulación y de la amenaza de muerte como si fuese el vestigio siniestro de los controles represivos del poder. Sin embargo, desplegada en las páginas del libro, esa habla delirante se nos ofrece, en un primer momento, como una experiencia estética que, en su singularidad radical, subvierte los usos instituidos del lenguaje y postula que, en literatura, hay signos, pero no sentidos. Eltit sabe de esto y al intentar definir un modo de apropiación de esa habla que escape a los límites de la sanción psiquiátrica o de la diagnosis sociológica, afirma: “es literatura, es como literatura” (2000, p. 169). Pienso que en la ambigüedad de esa frase se define el lugar de interferencia del ensayo. Al afirmar que es literatura, Eltit proyecta en el habla descentrada de El Padre Mio una política de escritura en la cual ella se reconoce y, de esa forma, aproxima el libro al universo de sus ficciones que, como ya fue señalado, resiste a cualquier operación de coagulación del sentido. Al modalizar la expresión y decir que esa habla es “como literatura”, Eltit le restituye al libro el valor de un testimonio que, inserto en un proceso histórico que aún exhibe las marcas de la opresión dictatorial, trabaja por la construcción de una memoria crítica de lo acontecido. Pero lo hace en un sentido negativo en la medida en que socava los presupuestos del género al desplegar un testimonio sin contenido de experiencia que, como afirma Nelly Richard, no ofrece una verdad sino que figura una crisis de la verdad (2001, p. 77-92). El ensayo interfiere, entonces, en las posibilidades de significación del texto y lo hace oscilar entre el testimonio y la ficción, pero, 11 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 sobre todo, deja claro que ese desdoblamiento de las posiciones de enunciación, entre yo y la otra de mí, va más allá de un juego retórico. 4. Lo que va más allá de mí “Puedo contar mi vida, contar los libros que escribí. Es decir, contar mi vida a partir de lo que escribí”, afirma Luis Gusmán en La rueda de Virgilio (1988, p. 11), un ensayo de carácter autobiográfico en el cual propone contar su vida a partir de la lectura (o re-escritura, se podría decir) de sus primeros libros de ficción. En una relación casi simbiótica con sus tres primeras novelas, en ese ensayo, Gusmán conjetura una estilística de la propia escritura. Una escritura que, según el autor, se funda en la experiencia decisiva de la agonía y muerte de su padre, pero que despliega una estilística pautada en las tres religiones de su madre. El frasquito, Brillos y Cuerpo velado se suceden en la exposición de un deseo de escritura que parece querer ordenarse en la referencia a la confesión católica, al ritual del apostolado y al culto a los muertos del espiritismo. Este desplazamiento de la posición de enunciación, de esas ficciones al ensayo, permite que Gusmán revele la proximidad biográfica que sostuvo la escritura de las tres primeras novelas. Esto llevaría a pensar que la enunciación subjetiva del ensayo acaba reorganizando los relatos y, por tanto, neutralizando, la potencia crítica que encerraba la ilegibilidad de cada texto de ficción. Por cierto, este podría ser el efecto de lectura de La rueda de Virgilio, sobre todo si tenemos en cuenta las palabras del autor cuando en la introducción afirma que va a escribir sobre sus libros, desplegando “el movimiento de esa rueda, en el estilo tan teresiano que permite que el cruce de los sentidos, las metáforas sinestésicas, se ofrezcan en una intensidad menos abrupta, en una violencia más atenuada del contraste” (1988, p. 11). Creo que aunque se atenúe la intensidad de las imágenes y se disminuya la violencia del contraste, la escritura del ensayo tampoco se presenta aquí como el reverso comunicativo de la ficción; por el contrario, ella se expande en la materialidad significante de la lengua, es decir, en una secuencia abierta en la cual cada significante es el significado de otro significante que lo lleva más lejos, en la búsqueda de un significado último, siempre inalcanzable. En lugar de proponerse como el otro legible de la ficción, La rueda de Virgilio, explica Gusmán, “será el movimiento inverso por el que ese mucho de realidad que tienen mis primeros libros de ficción se convertirán, por la autobiografía, en una ficción perdida” (1988, p. 12). Aunque ese movimiento de la escritura apunte a la disolución de las fronteras entre el ensayo y la ficción, Gusmán no puede evitar la alusión a la diferencia que esas formas del discurso en última instancia comportan. Con relación a esto él relata que, en sus primeras publicaciones, la grafía de su apellido variaba según colocase o no un acento ortográfico inexistente: Gusman sin acento, Gusmán con acento. Él dice: Primero fue en los artículos de crítica literaria. ¿Aquellos en los que podía fundamentar alguna lógica que iba más allá de mí? Allí se originó el fundamento de algo que se transformó 12 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE en una práctica que ya me resultaba divertida. /…/ La literatura sin acento, la crítica con acento. Esto era paradójico ya que por la literatura, la ficción, me había podido crear esa otra ficción: como siempre, la escritura de la imaginación aparecía en un lugar de rezago en relación a un sentido. Nunca, en verdad, me he puesto a comprobar si esta distribución de la economía ortográfica es verdaderamente así, pero para mí se trataba de una separación tajante entre la ficción y la crítica donde se renovaba un antiguo debate entre los ruidos, las imágenes y el sentido. (1988, p. 18). A partir de la grafía del nombre, Gusmán diferencia las posiciones de enunciación y coloca la pregunta acerca de la posibilidad de fundamentar en la escritura del ensayo una lógica secreta que organiza la escritura de ficción: “alguna lógica -se pregunta- que iba más allá de mí?”. Como en el caso de Osman Lins y de Diamela Eltit, en Gusmán esa lógica tampoco puede ser aprehendida de forma inteligible, dado que la escritura de ficción siempre posterga la coagulación del sentido, es decir, impone un movimiento alucinado sobre la materialidad de la lengua que impide que el sentido se estabilice. Esa distinción entre el ensayo y la ficción, apenas insinuada en la pregunta, se disuelve enseguida cuando Gusmán admite que, paradójicamente, fue la escritura de imaginación la que dio lugar a la ficción del nombre de autor que se inscribe en el ensayo. Como el propio Gusmán afirma, al comienzo de su trayectoria, él “padeció”, “usurpó” y “aprovechó” al máximo el movimiento expansivo que la noción francesa de escritura comportaba estableciendo una relación de inseparable intimidad entre las diferentes formas que puede asumir el discurso (2000, p. 46-47). Posteriormente, revisó esas posiciones y recuperó para el ensayo literario una pauta discursiva específica que mantiene un grado de absoluta diferencia con la ficción y que, por lo tanto, debe asumir su condición de enunciación subjetiva, singular y provisoria. La ficción calculada, libro de ensayos críticos publicado diez años después, en 1998, recupera las pautas del género para presentar una genealogía literaria en la cual aún es posible reconocer la radicalidad estética de la concepción de literatura que sostiene la obra de Gusmán. La tarea del artista, afirma el autor en este libro, es interrogar a su época en cuanto a la verdad y hacerlo según un cierto método que él denomina “política de la lengua”; un método que le permite al escritor no sólo cuestionar a su época sino, también, insertarse en una tradición literaria determinada (1998, p. 3150). Esta es la problemática que organiza tanto el libro de ensayos como la genealogía en la que se reconoce el autor. Entre otras, Gusmán reúne aquí sus lecturas de Musil, Kafka, Joyce, Flaubert y, en todas ellas, coloca la pregunta que moviliza su escritura: cuál es el uso que se hace de una lengua en una época determinada. A partir de ese interrogante, Gusmán intenta desvendar “la política de la lengua” que orientó la práctica de escritura de estos autores y, en una nítida referencia a su propia práctica, rescata y valora los usos subversivos del lenguaje, aquellos que, en palabras de Joyce, cuestionan “el lenguaje de la vigilia, la gramática estereotipada y la trama continuada”(1998, p.34). Al leer estos ensayos de Gusmán, es inevitable pensar en sus ficciones que cuestionan 13 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 los usos estereotipados de la lengua y de los modos de representación literaria de su época. Podríamos decir, retomando las palabras de Joyce, que, para Gusmán, representar el “lenguaje del sueño” es el modo de hacer literatura, es decir, activar “una operación poética que les haga perder [a las palabras] su significación obvia para hacer entrar [a la lengua] en otra circulación” (1998, p. 40). 5. La potencia crítica de la ilegibilidad Para terminar, quisiera señalar que la referencia a las categorías barthesianas de legibilidad e ilegibilidad del texto literario aludidas aquí, apunta, sobre todo, a destacar el eje histórico que atraviesa todo proyecto de escritura, dado que siempre se escribe a partir de un determinado estado del lenguaje. En otras palabras, esas categorías sirven para subrayar que la potencia subversiva de las políticas de escritura asumidas por Osman Lins, Luis Gusmán y Diamela Eltit es históricamente relativa y que se modifica en función de los modelos establecidos de la institución literaria. En el caso de Osman Lins, procuré señalar una cierta tensión que se establece entre la radicalidad estética de sus dos últimas novelas y la misión cultural que, siguiendo una filiación sartreana, le atribuye al escritor cuando escribe su libro de ensayos. De hecho, la figura del misionero aparece en varias oportunidades para figurar el ejercicio de la literatura como una “verdadeira catequese” que hace que, según Lins, “em cada escritor brasileiro existe um Anchieta, pregando, com alegria e desespero, o seu evangelho” (1979, p. 22). Sin embargo, esta concepción de lo literario no demoró en verse socavada por una reformulación de las estrategias de resistencia que Lins lleva a cabo al asumir en sus últimas novelas una política de escritura que, centrada en el trabajo artesanal con la palabra y en el dispendio estético del ornamento, lo llevaba a abandonar definitivamente la transitividad del lenguaje. Por su parte, Diamela Eltit insiste en la fascinación que ejerce en ella “el hábito de escribir con la palabra”. Colocando una nítida distancia con las formas inteligibles de lo literario, ella afirma: “la espléndida actividad condensada en contar historias, no está en las líneas de mis aspiraciones, y por ello permanece fuera de mis intereses centrales” (2000, p. 172). Aunque con esa declaración ella aproxime su ficción a una política de escritura que privilegia el trabajo sobre la materialidad significante de la lengua y se aleja de la obviedad referencial, una de sus últimas novelas (me refiero a Mano de obra) atenúa de forma significativa la experimentación formal que dominaba la escritura de Lumpérica, reduce el efecto teórico de la ficción que destacaba El Padre Mio y da lugar a una configuración más nítida de secuencias, voces y personajes narrativos. Diseñando otra trayectoria, Luis Gusmán explicó, en reiteradas oportunidades, que es posible reconocer tres etapas en su obra por las cuales se aleja gradualmente del horizonte de ilegibilidad que dominó sus primeras ficciones. En este sentido, él admite: Al principio lo importante para mí era la escritura. Después, a partir de En el corazón de 14 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE junio, quise empezar a narrar historias y, desde La música de Frankie, empecé a darle más peso a la trama y a los dilemas éticos de los personajes /.../. Luego, desde Villa, además de una buena trama, lo que más me interesa es construir personajes (2008). Ciertamente, estos cambios en las prácticas de escritura de Eltit y Gusmán inciden en el lugar que le es concedido al ensayo con relación a la ficción. Más distantes de aquellas posiciones estéticas radicales que borraban las jerarquías discursivas y asumían la escritura como una práctica intransitiva en la cual se despliega, como una pulsión ajena a cualquier vigilancia, el deseo de escribir, estos autores recuperaron, en los últimos años, las pautas específicas del ensayo. No se trata, sin embargo, de asumir una enunciación subjetiva que reduzca el ensayo al reverso comunicativo de la ficción; por el contrario, el ensayo establece con la ficción una relación de interferencia, de sobreimpresión, diría Barthes, que deja adivinar en él una ficción de escritura (2007, p. 185). Bibliografía: BARTHES, Roland. Crítica e verdade. São Paulo: Perspectiva, 2003. _____. Variaciones sobre la escritura. Buenos Aires: Paidós, 2007. COMTE SPONVILLE, André. Impromptus. Santiago de Chile: Ed. Andrés Bello, 1999. Eltit, Diamela. Emergencias. Escritos sobre literatura, arte y política. Planeta/ Ariel: Santiago, 2000. GUSMAN, Luis “A escrita visceral”. Entrevista de Adrián Cangi. Cult. Revista brasileira de literatura, Nº 45. Ano IV, p. 45-47, 2000. _____. Entrevista Revista Teína número del 17 de febrero, 2008. www.revistateina. com _____. La rueda de Virgilio. Buenos Aires: Conjetural, 1988. _____. “Joyce, la lengua de los proscriptos” In: La ficción calculada. Buenos Aires: Norma, 1998. KAMINSKY, Gregorio. “El alma y las formas del ensayo”. In: Escrituras indefinidas. Singularidad, resonancias, propagación. Buenos Aires: Paidós, 2000. LIBERTELLA, Héctor (comp.). Literal (1973-1977). Buenos Aires: Santiago Arcos ed., 2002. Lins, Osman. Evangelho na taba. Outros problemas interculturais brasileiros. São Paulo: Summus, 1979. _____. Guerra sem testemunhas. O escritor, sua condição e a realidade social. São Paulo: Ática, 1974. MOREIRAS, Alberto. “La traza teórica en Tununa Mercado”. In: Tercer espacio: literatura y duelo em América Latina. Santiago: Lom Ediciones, 1999. RICHARD, Nelly. “Desechos neobarrocos: costras y adornos”. In: Residuos y metáforas. (Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la transición). Santiago: Ed. Cuarto Propio, 2001. 15 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 Abstract: The present text advances a reflection about the relations between essay and fiction in the literary work of three Latin-American writers, namely Osman lins, Diamela Eltit and Luis Gusmán. Theoretical notions of the French poststructuralism as that of écriture and that of (il)legibility constitute inevitable references for one to think of the essay in literary works marked by the subversion of the frontiers of genre. Far from presenting itself as merely the communicative reserve of fiction, the essay by these narrators offers itself as a discursive place for questioning practices themselves, which allows evincing the critical gesture that every literary word supposes in face of the conventional uses of language. Keywords: Essay, écriture, fiction. Recebido em 15/05/2009. Aprovado em 06/06/2009. 16 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Dos cafés, una cultura urbana (Lugares del “Polo Bamba” y el “Tupí-Nambá”: los hermanos San Román) ENSAIO Pablo Rocca* Resumen: A partir de la experiencia de dos inmigrantes españoles que sostuvieron, a lo largo de muchos años en el cruce de los siglos XIX y XX, dos cafés, donde se reunió gran parte de la vida cultural montevideana, este artículo examina la dimensión cultural de la tertulia y del café más allá de la anécdota a la que las crónicas de época habitualmente nos tienen acostumbrados. Palabras-clave: Cafés; Literatura y vida cultural; Montevideo 1. De la anécdota al campo de trabajo Quisiera llamar la atención sobre el Café,1 un factor que hacia el Novecientos en las ciudades latinoamericanas empieza a desbordar las prácticas y los discursos culturales y, en consecuencia, altera el lugar mismo de los bienes simbólicos en ese campo así como sus formas de circulación material. Pero, para pisar firme, será necesario un rodeo previo. Con la revolución liberal, en el siglo XVII, se origina el concepto de “opinión pública”, denominación que pasa a abrazar todo un dominio de instituciones sociales (clubes, diarios, Cafés, revistas), a partir de los cuales la burguesía en ascenso postula el libre y equitativo intercambio del discurso, y a través de los que consigue legitimarse como fuerza política (HABERMAS, 1994). Para que esa “opinión pública” pudiera cimentarse, por toda Europa se tuvo que multiplicar el Café, donde el canje de las ideas adquirió una intensidad productiva mayor a la que mostraba en otros espacios difusores de la novedosa socialización. Desde entonces, en Europa se hizo posible caminar hacia la autonomización del campo cultural, y la irrupción de la figura del intelectual fuera del territorio sociodiscursivo del Estado, meta que pudo alcanzarse a mediados del siglo XIX. En América Latina el proceso fue más lento. A pesar del gran esfuerzo de mimetismo con las sociedades europeas, “la modernización, en todos sus aspectos fue –y continúa siendo– un fenómeno muy desigual” (RAMOS, 1989, p. 12).2 Nada más ilustrativo de estos desencuentros que hacia fines del siglo XVIII sólo * Prof. Doctor, Universidad de la República, Uruguay 1 Un poco arbitrariamente, para asignarle mayor relevancia visual y ejercer cierta violencia personificante, digamos, consigno con mayúsculas este vocablo que no sólo viene a aludir al espacio de reunión sino que busca constituirse en una metonimia de sus contertulios. En virtud de estos desequilibrios, Julio Ramos propone explorar en el siglo XIX latinoamericano “la literatura como un discurso que intenta autonomizarse”, y analizar “las condiciones de imposibilidad de su institucionalización”. 2 17 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 en Londres había más de tres mil Cafés (EAGLETON, 1991, p. 7), mientras setenta años más tarde, una guía de Montevideo publicada por Jean Jacques Liefrink da cuenta de una nómina de 130 establecimientos del ramo (BARRIOS PINTOS, 1973, p. XIX). Contra lo que puede suponerse, las asimetrías no eran sólo de escala o de densidad demográfica. Otros factores para la diferenciación del campo cultural debieron cumplirse: la aparición del artista independiente de la política, la especialización profesional, la conquista de medios y de públicos.1 En las ciudades de nuestra modernidad descompensada, desde los albores del siglo XIX el Café vino a cumplir la misma función dinamizadora que en París o en Londres. Pero nunca tuvo tanta fuerza como a comienzos del siglo XX,2 cuando se convirtió en un elemento decisivo para la constitución del campo literario, transformándose en refugio primordial de los intelectuales y no apenas un marco para el esparcimiento o la charla menuda, donde quemar las muchas horas muertas durante la Colonia o de la primera independencia.3 En el Novecientos, los Cafés fueron territorios en pugna o en tensa vecindad. El primer tipo, recibió a un público en franca pelea con el establishment: el artista bohemio, el militante ácrata, a quienes las triunfantes evocaciones adormecedoras han tratado de recrear como sujetos excéntricos e inofensivos al sistema, finalmente amansados por la ponderación de la edad madura. El segundo tipo fue capaz de acoger un amplio espectro de clases y de grupos, muchas veces antagónicos, siempre estableciendo ubicaciones para unos y otros –como si se tratase de un pacto jurisdiccional–, todos moderados por la sabiduría amortiguadora del propietario. Las crónicas y los testimonios sobre este período reconstruyen esa geografía del Café montevideano del Novecientos: la mesa de los poetas decadentes, la de los burócratas, la de los obreros de tal o cual gremio, la de los miembros de este o aquel segmento burgués, la de los músicos, la de los actores al término de la puesta en escena. En estos ámbitos se desarrolló una performance compuesta por una dramatización de gestualidades, indumentarias características, entradas y salidas más o menos estudiadas de algunos parroquianos. Esto se fijó en la memoria y hasta se reprodujo de generación en generación. Para estudiar la incidencia del Café en la cultura urge convertir la evocación anecdótica en campo de trabajo, el mito en espacio de reflexión. Esta sería la premisa fundamental. Hasta donde sabemos, en el Río de la Plata se sigue recorriendo estos núcleos de encuentro cultural en las fronteras de la memoria parcial o de la nostalgia.4 Esas piezas de la memoria son fuentes destacadas, a Sobre la noción de campo cultural y sus derivaciones (campo intelectual, campo literario, etcétera), cfr. Pierre BOURDIEU. Las reglas del arte, 1992/1997. Con todo, hay que prevenirse sobre el traslado excesivamente mecánico del concepto a la situación latinoamericana o, si se quiere, más específicamente rioplatense o aun montevideana. 1 2 Para repasar el problema, además del fundamental folleto citado de Aníbal Barrios Pintos, véase Alejandro MICHELENA, Los Cafés montevideanos, 1986 y Pablo ROCCA, Montevideo Altillos Cafés Literatura, 1991. 3 Formas de la sociabilidad rústica no faltaron en estos territorios, ni siquiera en la campaña, donde los centros de encuentro llamados “pulperías” –comercios que alternaban la venta de alimentos con el despacho de bebidas– se multiplicaron desde el siglo XVII. Cfr. Aníbal BARRIOS PINTOS, “Pulperías de la Cisplatina”, 1963, p. 175-206. 18 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE veces ricas y hasta disfrutables, y de ellas puede extraerse alguna piedra preciosa para el análisis. Alguien que durante la primera mitad del siglo XX fue asiduo de cuanto Café, boliche, fonda y vinería montevideanas, alguien que dejó la mayor cantidad de apuntes memoriosos sobre estos locales de socialización, el escritor Manuel de Castro, intuyó que debían ser entendidos de otra manera: mis frecuentaciones en el Café Tupí Nambá con Alberto Zum Felde y Eduardo Dieste, influyeron poderosamente en mi formación intelectual. Alrededor de estas dos figuras de las letras, muchos poetas jóvenes de aquella época, trabajábamos con fervor en una especie de noble emulación. Los cenáculos eran centros de actividad intelectual y no perdederos de tiempo.5 El Café vino a ser, de ese modo, la ruidosa trinchera donde se abroquelaron los intelectuales del Novecientos, los primeros que pretendieron vivir de lo que hacían, rebelándose –como ha dicho Ángel Rama– “contra un sistema socio-económico que no concedía ningún lugar al artista” (RAMA, 1985, p. 121). Allí se hacían lecturas en alta voz, se escribía entre el vocerío y el humo del tabaco. Desde allí se salía hacia el periodismo, la polémica, la exposición de pintura en salones para cofradías, a las mismas que estaba destinado el libro.6 Toda esta agitación, como en un reflujo de olas, tornaba al Café, donde volvía a ser discutida, criticada o silenciada. Por eso, cuando la letra hegemoniza la cultura, y cuando las clases medias empiezan a apropiarse de esa herramienta, el Café es el foro y el taller. No por azar esto sucede entre 1890 y 1910 cuando –como dice Martin Lyons–, se vive la etapa de oro del impreso y la lectura con “la primera generación que accedió a la alfabetización masiva, que también fue la última en considerar al libro como un medio de comunicación que no tenía que rivalizar ni con la radio ni con los medios de comunicación electrónicos del siglo XX” (LYONS, 1998, p. 476). Hace dos décadas Robert Darnton advertía sobre la urgencia de “reconstruir el contexto social de la lectura”. Para el cumplimiento de ese programa –que en Uruguay sigue siendo un inmenso vacío–, Darnton proponía que no había que limitarse a los aportes diversos de la teoría literaria sobre la obra y el lector, sino que era menester prestar oído a los pasos que llevan el objeto libro a su consumidor. Dicho de otro modo: antes del abordaje hermenéutico de un texto, cualesquiera sean las perspectivas, conviene revisar los factores materiales que hicieron posible ese objeto (el libro) y las que modelaron a su destinatario (el lector). Porque si estos elementos básicos son olvidados, podría caerse en una 4 Con excepción de estos trabajos pioneros, aunque parciales: Jorge B. RIVERA, La bohemia literaria, 1981. Ángel RAMA, Las máscaras democráticas del modernismo, 1985, p. 116-124. Ángel RAMA, “Encuesta literaria de Marcha: Respuesta de Manuel de Castro”, 1960, p. 31. Una selección de crónicas sobre el tema: Manuel de CASTRO, La vida bohemia (Cronicones montevideanos), 2005. El archivo de Manuel de Castro está depositado en Sección de Archivo y Documentación del Instituto de Letras (SADIL, FHCE, UDELAR), desde 2004. 5 6 Si es que el libro llegaba a publicarse, ya que se multiplican por decenas los escritores de revistas y de periódicos. Prueba de la sinergia entre periodismo, literatura y Café son las polémicas mantenidas por los miembros de la minoría cultural de esa modernidad emergente. Sobre el caso uruguayo véase los textos reunidos en Pablo ROCCA, 2001 19 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 suerte de metafísica de la lectura. La instigante propuesta de Darnton abría el camino para estudiar el “circuito de comunicación que va del autor al editor (si no al librero que asume ese papel), al impresor, al distribuidor, al vendedor, para llegar al lector”.7 Quisiera dar un pequeño paso más, y proponer que no sólo se lee o se aprende a leer o a ver pintura o a escuchar música por la formación académica que pudimos recibir. Propongo que cuando el Café se vuelve una institución del sistema cultural, se empieza a leer de “oídas”, es decir, por lo que otros cuentan, sugieren, enseñan a conocer y a pensar. Muchos libros fueron “leídos” de este modo, muchas películas y obras de teatro “vistas” y recordadas, mucha música y mucha política “aprendida” de una voz ajena o de un conjunto voces otras en la dialéctica oral del Café. En una cultura de fuertes tonalidades autodidácticas, ese capital simbólico se integra al sujeto, que se forma complementaria o adversativamente a los saberes académicos. 2. Dos vueltas de tuerca: los hermanos San Román En un artículo de 1920 que luego refundió en Proceso intelectual del Uruguay (1930) (ZUM FELDE, 1920), Alberto Zum Felde advirtió que en el traspaso de los siglos anteriores nació el “intelectual de Café”, y que el “Polo Bamba” fue la capital del estremecimiento nuevo: [La] clientela [del “Polo Bamba”] llegó a componerse casi exclusivamente de escritores, poetas y propagandistas […] en torno a cuyas mesas de mármol se reunían noche a noche, a discutir arduos temas de sociología o de estética, los jóvenes en quienes había brotado con encendido brío, la semilla de las ideas revolucionarias. (ZUM FELDE, 1967, II, p. 31) La moral burguesa ordenaba que las mujeres se detuvieran en la puerta de tan peligroso recinto. Esta censura fue quebrada por la anarquista española Juana Buela, quien concurría a la mesa de sus compañeros en el “Polo Bamba”, antes o después de participar en alguno de los numerosos círculos anarquistas que pululaban por Montevideo hacia 1900 (ZUBILLAGA, 1988, p. 11-39). Unos años después, hasta en el más “serio” Café “Tupí-Nambá” no era bien visto el ingreso de una mujer, algo que cotidianamente desafió la jovencita Blanca Luz Brum, “la única poetisa que se animaba a entrar sola al Café, siempre mordisqueando un membrillo, y en pos de Parra del Riego, con quien estaba de novia”. Con todo, y si le creemos al narrador- testigo, la osadía de la poeta no era tanta porque iba en su condición de mujer de.8 Sea como fuere, en el ciclo que nos importa 7 Cito –y retraduzco– de Robert DARNTON, O beijo de Lamourette. Mídia, cultura e revolução, 1991, p. 112. Los estudiosos de la historia de la lectura han llamado además la atención sobre los lugares en que esta se ejerce (bibliotecas públicas y privadas, clubes sociales, etc.) y sobre la función del periodismo y de sus agentes materiales (desde los tipógrafos a los linotipistas). Véase, al respecto, Armando PETRUCCI, “Bibliotecas y lectura: entre progreso y conservación”, 1999. Marc BARATIN y Cristian JACOB, O poder das bibliotecas, 2000. La cuestión ha ocupado a un equipo nutrido y competente de investigadores en Brasil más que en cualquier otra parte de América Latina. En este campo son fundamentales los trabajos reunidos en Márcia ABREU, Leitura, história e história da leitura, 2000. Márcia ABREU e Nelson SCHAPOCHNIK, Cultura letrada no Brasil: objetos e práticas, 2005. Debo al doctor Schapochnik el conocimiento de estos aportes sobre el punto. 20 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE detenernos, entre 1900 y 1915, las fotografías supervivientes de las mesas de estos dos Cafés montevideanos sólo muestran grupos de hombres con mostachos de puntas alzadas, trajes oscuros, corbatines, sombreros aludos o galeritas, y cigarrillos casi unánimes. La mayoría de los retratados en este período son escritores, músicos, pintores. Y contrariamente a lo que ha dicho Alfredo Mario Ferreiro, y se ha repetido, no por obra de ningún “misterio” después de 1904 en el Café dominaron los intelectuales.9 Justamente porque esa era su hora histórica, y ese su único dominio. Los dueños de esos dos Cafés emblemáticos del Novecientos, los hermanos Severino y Francisco San Román, llegaron a Montevideo en el año 1872. Los dos habían nacido en 1861 en Santa Eulalia de Camos, Ayuntamiento de Nigrán, en Valle Miñor. Radicados en Montevideo, donde hicieron su vida, su familia y su trabajo, Francisco morirá en 1932 y Severino en 1941.10 Antes de echar raíces en la capital uruguaya, Francisco trabajó unos años en el estado de Santa Catarina (Brasil), donde “había sido empleado de casas que se ocupaban de la manipulación del aromático grano”.11 Es harto probable que su hermano lo haya acompañado, pero no pudimos corroborar este dato, que por lo tanto queda en el campo de la hipótesis.12 El “Polo Bamba” se inauguró el 25 de julio de 1885, fundado por Francisco San Román en la calle Colonia Nºs. 6 y 8. Cuatro años después, Francisco se lo vendió a su hermano Severino. El escritor y periodista Alberto Lasplaces, quien llegó a concurrir a este Café en los últimos tiempos, observa que esa ubicación entre las calles Florida y Ciudadela le permitía atraer numeroso público, ya que estaba en un enclave fundamental: “a pocos metros de la Plaza Independencia, cerca de la Casa 8 Sobre la presencia de Juana Buela en el “Polo Bamba”, véase Aníbal BARRIOS PINTOS, 1973, pp. XIIXIII. La referencia a Blanca Luz Brum en Manuel de CASTRO, “Cafés y cenáculos literarios en un cuarto de siglo (1918-1945)”, p. 136. Originalmente en “El País”, Montevideo, setiembre de 1959. De fines de los años veinte debe ser el recuerdo un poco deshilachado de este mismo cronista, quien evoca el pasaje circunstancial de la escritora española Mercedes Pinto por su mesa del “Tupí-Nambá” (Manuel de CASTRO, “Evocaciones del Viejo Tupí”, p. 36. Originalmente en “La Mañana”, Montevideo, 18 de febrero de 1956). 9 Alfredo Mario FERREIRO, “El «Polo Bamba» se vino desde la calle Colonia hasta la Plaza Independencia para mostrarle a Montevideo la sin par calidad de su clientela”, en “La Razón”, Montevideo, 23 de enero de 1945, p. 1 y 6. La reiteración de esta invocación al misterio, sin referir la fuente, en Aníbal BARRIOS PINTOS, op. cit., p. XXII. 10 Los datos precisos sobre la fecha y el lugar de origen de Francisco San Román, en Carlos ZUBILLAGA, “Galicia y los gallegos en la cultura uruguaya”, 1997, p. 13, n. 6. La fecha de su muerte, ocurrida el lunes 22 de febrero de 1932, en Aníbal BARRIOS PINTOS, op. cit., p. XXVI. Por gentileza del profesor Alción Cheroni, bisnieto de Severino San Román, entré en contacto con otros descendientes directos: la señora Gladys San Román, quien me conectó con su primo, el señor Severino San Román. Según información que maneja sobre su homónimo ancestro, este habría nacido en el mismo lugar que Francisco, también en el año 1861, aunque no pudo precisarme el día y el mes. De ser exacto este dato, es razonable pensar que fueran mellizos. La muerte de don Severino ocurrió en diciembre de 1941, según Alberto LASPLACES, art. cit. SIN FIRMA, “Mañana cumple años el Café Tupí Nambá”, en “El Plata”, Montevideo, 7 de mayo de 1927, en Autores Varios, Tupí & Nambá. F. San Román e hijos. Montevideo, s/e, 1927, p. 35. En el texto citado, Zubillaga da una versión levemente diferente a la este cronista anónimo: en Brasil, Francisco se desempeñó “en una fazenda y casa exportadora de café de Santa Catarina”. Nada informa sobre Severino en estos menesteres (loc. cit). 11 Al día de la fecha (24 de julio de 2006), en el aparentemente todopoderoso universo de internet, hallé sólo dos referencias a Severino San Román, que glosan superficialmente lo dicho por Zum Felde en su libro citado de 1930. 12 21 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 de Gobierno, de las Cámaras Legislativas, de los teatros Solís y Urquiza y de las redacciones de los diarios El Día, El Siglo, La Razón y El Tiempo, que constituían a prensa metropolitana de aquella época”. Mejoró su situación en los primeros años del siglo XX, cuando se mudó a un local “más adecuado y más estratégicamente colocado, en la esquina de la Plaza Independencia y calle Ciudadela”, donde en 1914 cerró definitivamente. Estaba en “una casa vieja de dos pisos, bastante abandonada, [que tenía] un amplio salón que se abría en amplios ventanales […] por los que se veía todo lo que pasaba afuera” (LASPLACES, 1941).13 En esta última locación, el “Polo Bamba” alcanzó la plenitud de la bohemia y el seguro camino hacia la ruina económica. Manuel de Castro lo ha reconstruido con la dorada memoria de un tiempo pasado que, para el cronista, siempre fue mejor: el viejo Polo-Bamba [tenía] bulliciosas tertulias ideológicas y estéticas, salpicadas con la lectura de los dramas de su dueño Severino San Román, con menoscabo del consabido chocolate con que obsequiaba a sus auditores. [Allí] el poeta Ángel Falco, uno de los iniciadores de la llamada “poesía social” en el Uruguay, con sus mostachos mosqueteriles, la corbata volandera, el sombrero de amplias alas y una flor roja en el ojal, representaba el afiche del bardo revolucionario, lo que no le impedía, desdoblando su personalidad, componer sonetos amorosos para su Breviario galante. (DE CASTRO, 1955, p. 20-21) Lasplaces describe el Café de un modo más verosímil (o menos “literario”) que Zum Felde y Manuel de Castro, identificando en ese amplio salón iluminado tres regiones distintas: la de los poetas, al Este; la de los anarquistas, al Sur y, en el centro, “el país de los tranquilos burgueses […] que bebían su café a pequeños sorbos, sin asustarse, sin alarmarse jamás”. La desmesura se atemperaba en el “Tupí-Nambá”, que Francisco San Román abrió al público el 8 de mayo de 1889 en la esquina de Buenos Aires y Juncal, con frente al Teatro Solís. Una exacta semana después de su apertura, un periodista del diario El Popular, le preguntó: “Diga, Sr. San Román, en qué librajo encontró usted el título con que ha bautizado su café?”. Y obtuvo la siguiente respuesta: “¡Librajo! Está usted equivocado. Oiga usted: Los Tupí Nambá fueron tribus oriundas del Brasil, en la provincia de Bahia, bravos guerreros que unidos pelearon por su suelo, hasta que fueron dominados por los portugueses…”. Como muestra suplementaria de erudición, Francisco San Román recomienda la lectura del capítulo 28 del libro Indígenas americanos, de Hans Staden, y cita cuatro versos del poema “I Juca Pirama”, del romántico brasileño Antônio Gonçalves Dias, que el periodista transcribe en un errático portugués.14 Pese a esta respuesta que no parece anunciar la existencia de un pragmático empresario, Francisco San Román manejó su negocio con habilidad y pericia. En lugar de privilegiar a los clientes fragorosos y poco lucrativos, mantuvo un clima más reservado. Algo de esto notó el andaluz montevideano José Mora Guarnido, testigo de su última hora, quien Ignoramos a qué otra actividad se dedicó Severino, si es que no se acogió a la jubilación. Como sea, para la fecha de cierre del “Polo Bamba” –si es que la fecha de 1861 es la correcta para su nacimiento– tenía 53 años. Y tendría tres décadas de vida por delante 13 22 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE lo calificó como “un hombre amplio y cortés, pero práctico” (MORA GUARNIDO, 1991, p. 108).15 Su mirada vigilante le permitía estar “en todas partes impuesto de todo lo que ocurre por todo un estado mayor de mozos y dependientes, que a su autoridad superior ocurren en consulta”, como se lee en una crónica del diario Época de 1892 (BARRIOS PINTOS, 1973, p. XXIV). En cambio, Severino se adosaba a las discusiones sobre la filosofía de Marx o de Bakunin, o estimulaba a los hacedores de versos, y él mismo solía treparse a una silla y recitaba pasajes de alguna de sus cuatro piezas dramáticas, que llegó a editar en sencillos y delgados folletos (SAN ROMÁN, 1913-1914-1922).16 Así, sus balances tenían que cerrar con déficit. En efecto, mientras languidecía el “Polo Bamba”, el “Tupí Nambá” se vigorizaba.17 Tanto que, luego de un trimestre de cierre por reparaciones, el 12 de abril de 1912 reabrió sus puertas totalmente renovado, inaugurando otra entrada por Juncal y mucho más, según una nota aparecida en La Razón de Montevideo: Del antiguo café no queda más que el local. Todo lo demás es nuevo y magnífico. Lo visitamos esta tarde y quedamos sorprendidos de lo que San Román ha hecho allí. Nada de lo que hemos visto en la capital argentina o brasilera puede igualarse. Es un café único en esa parte del continente sudamericano. El principal salón ha sido decorado a estilo Imperio. […] El otro salón, de mayor amplitud que el antiguo, tiene un color claro, que contrasta con el primero, poniendo una nota de alegría en el conjunto del decorado. Los frisos constituyen un detalle artístico, tanto en una como en la otra sala. […] El cristal abunda, en los espejos, que se multiplican a lo largo de las paredes, en las mesas, en las puertas y ventanas, en el mostrador, etc., etc.18 Contrasta este lujo con la abrumada casa que ocupaba el “Polo Bamba”, lo que habla de un comercio que no era mantenido por bolsillos flacos, sino por una oferta diversificada y que pretende capturar la atención de los que sí pueden conversar menos y pagar más. Como si fuera una metáfora del Uruguay batllista, el “TupíNambá” era un espacio democratizador de la convivencia de diferentes tribus. Hasta en el propio don Francisco se podría concentrar esa tolerancia moderatista: “Yo que soy blanco –solía decir–, he tenido la honra de servirle muchas veces el café a don José Batlle y Ordóñez”.19 En setiembre de 1926 abandonó ese local al que, desde entonces, todo Montevideo pasó a denominar el “Tupí Viejo”. Aun 14 Cfr. Tupí & Nambá…, p. 7-8. 15 Originalmente en “Revista Nacional”, Montevideo, nº 202, octubre-diciembre 1959. 16 Todas estas publicaciones, sin constancia de casa editorial, seguramente fueron financiadas de su peculio. 17 No hay espacio aquí para tratar los Cafés y las fondas alternativas a la bohemia desenfrenada del “Polo Bamba”, aunque conviene recordar al “Sarandí” y, sobre todo, al “Británico”, fundado en 1914, el mismo año que desaparece el “Polo Bamba” y, previsiblemente, heredero de sus parroquianos. Para mayor información véanse los libros antes citados. 18 SIN FIRMA, “La renovación del Tupí-Nambá”, en “La Razón”, Montevideo, 12 de abril de 1912. Incluido en Autores Varios, Tupí & Nambá…, 1927, p. 23-24. 23 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 desprovisto del aura de su predecesor, el “Tupí Nuevo” de 18 de julio entre Rio Branco y Herrera y Obes, no obstante ocupó un local palaciego, “de buen gusto, confort y riqueza decorativa”.20 Cerró en 1959, y pronto reabrió en Colonia entre Rio Branco y Convención. Pero fue una mera supervivencia, ya que perdió el brillo de antaño, y se fue apagando hasta desaparecer en 1968. También en esta última frontera parece regir la metáfora: nacido y crecido en tiempos de progreso, prudencia y tolerancia, el “Tupí” se despeña violentamente junto con el país. Los hermanos San Román fueron como las dos caras posibles de la misma dinámica cultural. Francisco, el sensato comerciante que acoge a los artistas siempre y cuando no espanten a los clientes más convencionales; Severino, el aspirante a intelectual, que se formó como tal –y como pudo– en las tertulias que él mismo prohijó. El “Tupí” obtendría el reconocimiento de las autoridades municipales en 1926,21 y hasta Francisco y sus herederos buscarían escribir una historia oficial espigando las crónicas más amables que se les había dedicado, juntándolas en un elegante folleto el mismo año en que dejaron su lujoso local. El Café de Francisco San Román gozaría también del beneplácito retrospectivo de los intelectuales que lo habían frecuentado. Al revés, cuando los antiguos clientes del “Polo Bamba” autoevaluaban su juvenil radicalismo con un dejo irónico, este Café pasa a ser objeto de la recordación casi folclórica, en el borde de la piedad y la parodia. Con mejor eficacia que nadie, esta perspectiva la representa Alberto Zum Felde:22 Un propietario celoso de su negocio, trataría de ahuyentar a tertulianos tan poco convenientes; pero el viejo Severino, como todos llamábanle familiarmente, era uno de los más animados contertulios de su propia parroquia. Encantado de respirar aquella atmósfera cargada de electricidad mental, iba de un grupo a otro, participando de las discusiones, escuchando las lecturas, emitiendo sus opiniones absurdas, prodigando sus frases funambulescas. Porque Severino hizo de la incongruencia el cetro de su reino extraño. Escribía y leía dramas en los que el disparate llegaba a convulsionar de risa a los oyentes. [...] Con frecuencia, subido sobre una mesa, arengaba a los concurrentes con discursos inverosímiles, que en su lenguaje llamaba pelipondias, entre aplausos y carcajadas. (ZUM FELDE, 1967, p. 35-39)23 19 Testimonio de José MORA GUARNIDO, art. cit, p. 109. “Acompañó a don Pancho desde la fundación del «Tupí-Nambá» hasta el año 1911, en que se retiró de los negocios, su sobrino don Casiano Estévez. Socio leal, trabajador, honrado y lleno de iniciativas, fue durante todo ese tiempo su brazo derecho. Y hoy mismo, apartado ya de las actividades comerciales, sus consejos de hombre experimentado no dejan de pesar en la buena marcha de la casa. Debemos citar, también, en estricta justicia, a los actuales socios de don Pancho, sus hijos Francisco, Juan José y Luis María. Activos, laboriosos e inteligentes, han heredado las mejores condiciones de su padre y son invalorables auxiliares de este, por su identificación absoluta de ideas y la compenetración mutua que entre ellos existe” (Sin Firma, “Mañana cumple años el Café Tupí Nambá”, en “El Plata”, Montevideo, 7 de mayo de 1927, en Autores Varios, Tupí & Nambá…, 1927, p. 37-38). Una lista de los empleados más antiguos de la casa, la mayor parte de ellos de origen gallego, en Aníbal BARRIOS PINTOS, 1973, p. XXV. 20 Un diploma otorgado por el Concejo de Administración de Montevideo, el 24 de setiembre de 1926, le reconoce a Francisco San Román e hijos, su “elevado espíritu progresista”, con el que “han incorporado a los valores edilicios de la ciudad una obra de positivo mérito cultural”. La reproducción facsimilar de este diploma en Tupí & Nambá…, 1927, s/n. 21 Dandy y anarquista hasta las márgenes de la veintena, batllista orgánico desde su precoz madurez y católico progresista en la ancianidad. 22 24 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE No pretendo reivindicar en Severino San Román a un Alfred Jarry hispano-criollo ni apreciarlo como si fuera el atrevido protosurrealista Jacques Vaché. Ni siquiera postularlo para el panteón nacional. Está claro que no fue un escritor muy apto, y un rápido ejemplo puede mostrarlo. La familia oriental, brevísima pieza que subtituló “drama histórico nacional en tres actos”, de 1913, moviliza más de dos decenas de personajes, que se acumulan sin mucho concierto. El lenguaje dramático tropieza de continuo con inconsecuencias y la introducción de una cadena de deux ex machina, que fracturan lo verosímil. Sin embargo, aunque no logre el adecuado ajuste expresivo, hay una pretensión joco-burlesca que podría fundar estos quiebres y que, por el absurdo, conecta el discurso de San Román con las propuestas más sofisticadamente provocativas de su época y su contorno. Si se contrasta esta pieza con la carta-ultimatum de Roberto de las Carreras a Batlle Ordóñez,24 en la que lo emplaza a nombrarlo embajador en París o con el “Epílogo wagneriano de La política de fusión”, en que Julio Herrera y Reissig se mofa de la rusticidad de los uruguayos, se verá que las diferencias de lenguaje son enormes (DE LAS CARRERAS, 1968; HERRERA Y REISSIG, 1998, p. 664697): donde los refinados modernistas encuentran el justo término y la frase alambicada, Severino coloca la palabra obvia, el ataque sin mediaciones. Pero, en sustancia, hay una común tarea demoledora de la moral filistea y burguesa: en los mencionados escritores de “buenas familias” late la nostalgia de un proyecto patricio que se derrumba, mientras que el inmigrante que ha adquirido en estas tierras nuevas el pleno sabor de la cultura letrada, está más cerca del futuro que del pasado. De ahí la práctica de una denuncia explícita del poder, que bien pudo aprender de las mesas ácratas de su Café. La familia oriental consiste en una cruda burla, más que en una elusiva parodia, del presidente Batlle y Ordóñez y los suyos. En rigor, el presidente aparece al principio de la obra como un hombre autoritario, rodeado de adulones –en especial de militares–, como si fuera un monarca absolutista, y de pronto se concentra en lograr la exclusiva felicidad de su hija. La sola trascripción del último aparte desnuda dónde quiere golpear el autor: Aparece una joven simbolizando la Patria, rodeada de una junta de hombres honorables, de barba y cabellos blancos, colocándose á la derecha del Presidente. Todos los personajes miran con sorpresa esta escena.– El Presidente toma de la percha la banda y el bastón presidencial y se lo entrega á la joven que representa la Patria, colocándole la banda en el pecho y entregándole un ramo de flores. Todos los personajes ofrecen flores al Presidente. La Patria apoya su mano derecha en el hombro del Presidente. La orquesta ejecuta el En otro pasaje ilustrativo, alojado en la última edición (1967), y que por lo tanto sobrevivió a las últimas mutaciones ideológicas de ese autor-protagonista, Zum Felde dice: “Al «Polo Bamba» convergen la parroquia del Centro Internacional [de Estudios Sociales] y la de los cenáculos decadentes. Por sus veladas bohemias pasan casi todos los jóvenes de esa generación. Los más, pasan… perdiéndose después en el anónimo colectivo de la adaptación burguesa, cortados el pelo y los ideales por la misma tijera fría del desengaño; los menos, camino de una posteridad gloriosa” (p. 37). 23 24 La mencionada carta insertada en el texto mayor, p. 121. 25 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 Himno Nacional). TELÓN LENTO. (SAN ROMÁN, 1913, p. 31) Tras la voz de Severino San Román se agitan, confusos, los combativos discursos anarquistas contra la parafernalia nacionalista y el intento de erosionar a quien las masas trabajadoras e inmigratorias perciben como el salvaguarda de sus intereses. Visto de este modo, no sólo por sus arranques histriónicos ni por su arte menor, el dramaturgo de Café podía ser despreciado y carnavalizado en el recuerdo nada cordial o no muy respetuoso de Zum Felde. En el fondo, la escritura del gallego –y comerciante al fin– que se autoerige en intelectual, subvertía un caro principio para la elite: el arte para los que saben; para los otros, los recién llegados al festín de la alta cultura, paciencia y barajar. ¿Quién, si no, iba a ocupar el lugar del espectador? Nota: Una versión de este texto se publicó en el Anuario del Centro de Estudios Gallegos, Montevideo, Universidad de la República/ Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación/ Centro de Estudios Gallegos, 2006, p. 125-137. Bibliografia: ABREU, Márcia (org.), Leitura, história e história da leitura. Campinas/São Paulo: Mercado de Letras/Fapesp/ALB, 2000. _______ e SCHAPOCHNIK, Nelson (orgs.), Cultura letrada no Brasil: objetos e práticas. Campinas, Mercado de Letras/Fapesp/ALB, 2005. AUTORES Varios. Tupí & Nambá. F. San Román e hijos. Montevideo, s/e, 1927. BARATIN, Marc y JACOB, Cristian, O poder das bibliotecas. A Memória dos livros no Ocidente. Rio de Janeiro, EdUFRJ, 2000. BARRIOS PINTOS, Aníbal, Pulperías y Cafés. Instituciones substanciales del vivir oriental. Montevideo, Ed. Acción, 1973. BOURDIEU, Pierre, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. Barcelona, Anagrama, 1997. (Traducción de Thomas Kauf). [1992] CASTRO, Manuel de, La vida bohemia (Cronicones montevideanos). Montevideo, Banda Oriental, 2005 (Antología, prólogo y notas de Pablo Rocca). _______. “Una vida henchida de interés al servicio del país: El editor Orsini Bertani y la cultura uruguaya”, en “Suplemento Femenino” de “La Mañana”, Montevideo, 12 de junio de 1955. DARNTON, Robert, O beijo de Lamourette. Mídia, cultura e revolução. São Paulo, Companhia das Letras, 1991. (Tradução de Denise Bottman). DE LAS CARRERAS, Roberto, “Interview político con Roberto de las Carreras”, en Psalmo a Venus Cavalieri y otras prosas. Montevideo, Arca, 1968. (Antología y prólogo de Ángel Rama). [1903]. EAGLETON, Terry, A função da crítica. São Paulo, Martins Fontes, 1991. (Tradução de Jefferson Luiz Camargo). [1984] FERREIRO, Alfredo Mario, “El «Polo Bamba» se vino desde la calle Colonia hasta 26 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE la Plaza Independencia para mostrarle a Montevideo la sin par calidad de su clientela”, en “La Razón”, Montevideo, 23 de enero de 1945. HABERMAS, Jürgen. Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública. México, Ed. G. Gili, 1994. (Versión castellana de Antonio Doménech con la colaboración de Rafael Grasa). [1962/ 1990]. HERRERA Y REISSIG, Julio, “Epílogo wagneriano de La política de fusión. Con surtidos de psicología sobre el imperio de Zapicán”, en Poesía completa y prosas. Madrid, Alca XX/Scipione Cultural, 1998. (Edición crítica de Ángeles Estévez) [1909]. LASPLACES, Alberto, “Los cafés literarios: Recuerdos del «Polo Bamba»”, en “Suplemento Dominical” de “El Día”, Montevideo, Nº 466, 21 de diciembre de 1941. LYONS, Martin, “Los nuevos lectores del siglo XIX: mujeres, niños, obreros”, en Historia de la lectura en el mundo occidental, Guglielmo Cavallo y Roger Chartier (coordinadores). Madrid, Taurus, 1998 [1997]. MORA GUARNIDO, José. “Panorámica y postrimerías del Tupí-Nambá”, en ROCCA, P. (ed.). Montevideo altillos cafés literatura. Montevideo, Arca, 1991. PETRUCCI, Armando, “Bibliotecas y lectura: entre progreso y conservación”, en Alfabetismo, escritura, sociedad. Barcelona, Gedisa, 1999. RAMA, Ángel, Las máscaras democráticas del modernismo. Montevideo, Arca, 1985. _______, “Encuesta literaria de Marcha: Respuesta de Manuel de Castro”, en “Marcha”, Montevideo, Nº 1.006, 29 de abril de 1960 RAMOS, Julio, Desencuentros de la modernidad en América Latina. Literatura y política en el siglo XIX. México, Fondo de Cultura Económica, 1989. RIVERA, Jorge B., La bohemia literaria (Vol. 4 de La vida de nuestro pueblo. Una historia de hombres, cosas, trabajos, lugares). Buenos Aires, CEDAL, 1981. ROCCA, Pablo (antología y prólogo), Montevideo Altillos Cafés Literatura. Montevideo, Arca, 1991. _______ (Recopilación, prólogo y notas), Polémicas literarias del Novecientos. Montevideo, Banda Oriental, 2001. SAN ROMÁN, Severino. Obra dramática de Severino San Román: El chimpancé. Hoy amapola (Drama en cuatro actos). Montevideo, Imprenta Sans y Martínez, 1913. [Folleto de 36 págs.] La familia oriental (Drama histórico nacional en tres actos). Montevideo, Imprenta Sans y Martínez, 1913. [Folleto de 32 págs.] El llanto literario (Comedia dramática en cuatro actos). Montevideo, Imprenta Sans y Martínez, 1914. [Folleto de 36 págs.] Alma francesa (Comedia dramática en tres actos). Montevideo, Imprenta G.V. Marino, 1922. [Folleto de 38 págs]. ZUBILLAGA, Carlos. “Luchas populares y cultura alternativa en Uruguay. El Centro Internacional de Estudios Sociales”, en “Siglo XX. Revista de Historia”, Monterrey, Nº 6, Facultad de Filosofía y Letras - Universidad Autónoma de Nuevo León, juliodiciembre 1988. ZUM FELDE, Alberto, “Crítica literaria: Tres épocas”, en “El Día. Edición de la Tarde”, Montevideo, 17 de junio de 1920. 27 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 _______, Proceso intelectual del Uruguay. Montevideo, Ediciones del Nuevo Mundo, 1967, II. _______. “Galicia y los gallegos en la cultura uruguaya”, en “Anuario del Centro de Estudios Gallegos”, Montevideo, FHCE, UDELAR, 1997, p. 13, n. 6. Abstract: From the experience of two Spanish immigrants, who maintained along many years durings the turn of the nineteenth through the twentieth century, two cafés in which would happen a significant part of the cultural life of Montevideo, this essay examines the cultural dimensio of those gatherings and the café itself beyond the anecdotes that we grew familiar to thanks to the chronicles of that time. Keywords: Cafés, literature and cultural life, Montevideo Recebido em 11/04/2009. Aprovado em 01/06/2009. 28 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Volume 4 ◦ Número 1 A expressão católica na Literatura Francesa e Brasileira do início do século XX ENSAIO Cristina Francisca de Carvalho Porto* Resumo: Breve discussão sobre a formação do grupo de escritores católicos na França e no Brasil, na década de 20 e 30. Esta discussão tem como principais tópicos: elencar alguns temas recorrentes na narrativa destes escritores; e, detectar algumas afinidades que vinculam estes romancistas, atentando sempre para a expressão religiosa de seus textos. Espera-se que tais reflexões permitam-nos compreender o surgimento de textos tão próximos em diferentes culturas. Palavras-chave: Literatura, França, Brasil, romance, religiosidade 1. Introdução No início do século XX, o mundo era tomado por um sentimento de angústia gerado pelo pós-guerra (Primeira guerra mundial), era preciso reconstruir não apenas o material, mas, sobretudo, o espiritual. Nesta época, a maioria dos países se defrontou com um período de crises, cuja conseqüência foi o radicalismo e a violência. A literatura não podia ficar alheia a estes acontecimentos. Na França, um grupo de escritores guiado por Maurras e Jaques Maritain era cada vez mais lido, tendo seu apogeu no final da década de 20 e início da década de 30. Por retratarem em seus textos as angústias e sofrimentos da época, a literatura produzida por eles foi designada “literatura do entre-guerras”; nela se inserem ainda François Mauriac, Georges Bernanos e Julien Green, todos católicos. Muitos intelectuais brasileiros trouxeram da Europa, mais especificamente da França, além dessa literatura mais voltada para o sofrimento do ser, outros ideais revolucionários de movimentos que lá surgiam, um desses nomes foi Jackson Figueiredo, simpatizante da Action Française e católico fervoroso. A união do nacionalismo com a ação católica era também objetivo do movimento francês, daí o interesse de Jackson, intelectual de espírito combativo e praticante de uma literatura revolucionária dirigida por um princípio: “a Arte, para ser realmente Arte, tem que ser moral, tem que ser católica” (MARTINS, 1979, p. 322). Com seu engajamento chamava a atenção de colegas lembrando que faltava à crítica literária uma doutrina social e consciente inspirada nos ensinamentos da Igreja. Ele arrebanhou para seu grupo vários nomes da literatura brasileira, entre eles Octávio de Faria, Lúcio Cardoso e Cornélio Penna, todos envolvidos com o catolicismo. Motivada pela densidade dos temas que esses autores apresentavam iniciei a * Departamento de Letras Modernas – Ibilce/Unesp, Doutora em Teoria Literária – UNESP. 29 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 leitura de seus romances, dando origem assim à intenção de trabalhar com os mesmos, sobretudo Cornélio Penna e Julien Green, cujas obras apresentaram maior similaridade. Um dos críticos que evidencia esta ligação entre os dois escritores é Tristão de Athayde, em seu comentário sobre Fronteira (1935). Nas notas preliminares aos romances completos de Cornélio Penna, o estudioso afirma: Ora, justo na hora em que toda a atenção se voltava para o romance social, que parecia tão de acordo com o novo estado de espírito em que a Revolução de 30 colocara a nova geração – aparece o romance do Sr. Cornélio Penna. – E aparece com a coragem de sua perfeita inatualidade, como um verdadeiro desafio à moda dominante. E nisto está o primeiro dos seus méritos. Foi, aliás, o que se passou em França com o romancista moderno, de cuja figura mais se aproxima o Sr. Cornélio Penna, a ponto de podermos chamá-lo o Julien Green brasileiro. Pois bem, a impressão de grata surpresa que tive ao ler Le voyageur sur la terre que marcou, a meu ver, o fim do modernismo fogo de artifício em França – foi a mesma que tive lendo Fronteira. Neste livro também tudo é estranho e inatural. (ATHAYDE, 1958, p. 3-4) Salientando o lugar de Julien Green e Cornélio Penna na produção literária no Brasil e na Europa e comparando suas obras, o crítico nos indica um dos primeiros elementos comuns entre os dois escritores: a ousadia em inovar não aderindo ao padrão literário da época. Outro crítico também percebe ligações entre o autor francês e o brasileiro: tratase de Sérgio Milliet. Na nota preliminar a Repouso lemos: Por certo deparamos em Adonias Filho, ou nos primeiros romances de Lúcio Cardoso com concepções análogas. Análogas mas não idênticas, porque ainda fazem ambos concessões à orientação nordestina, tanto no estilo como na técnica. Cornélio Penna esquece as lições do Nordeste, e vai procurar modelos fora do país, possivelmente em certas páginas de Kafka, ou de Julien Green, autores bem diferentes e que no entanto se conciliam no escritor brasileiro. (MILLIET, 1958, p. 379) Milliet aponta o sentido inovador do estilo de Cornélio Penna e a busca de um novo campo temático, ainda inédito na literatura brasileira. Como Tristão de Athayde, o autor faz aproximações entre Cornélio Penna e escritores estrangeiros, entre eles Julien Green, sugerindo a possibilidade de o romancista brasileiro ter lido textos do escritor francês. Ambos os críticos, de alguma maneira, ofereceram-nos sugestões no sentido de realizar um confronto entre a prosa introspectiva produzida nas décadas de 20, 30 e 40, no Brasil, realizada ainda por Lúcio Cardoso e Octávio de Faria, e aquela efetuada na França por autores como François Mauriac, Georges Bernanos e, em especial, Julien Green. Cornélio Penna, Octávio de Faria e Lúcio Cardoso, todos voltados para a problemá30 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE tica existencial da personagem, incidiram particularmente sobre o lado tenebroso ou sobre as regiões interditadas da alma, com uma visão cristã marcada pelas concepções de Pascal e São João da Cruz a respeito da angústia, da humildade e do desespero humano. Julien Green estreou em 1926, com Mont-Cinère; já nessa época, foi recebido pela crítica francesa como “herdeiro da mais terrível tradição ‘gótica’”, por abordar em seus romances histórias de pecados e crimes secretos, traço comum com Cornélio Penna, que recebeu de muitos críticos brasileiros a denominação de escritor “gótico”, por realizar a mesma abordagem, sobretudo em Fronteira. Outra particularidade do romance de Julien Green é a busca da libertação por meio da morte, coincidentemente a única saída encontrada pelas personagens cornelianas em sua busca pela liberdade. É, pois, em uma existência monótona de desejos insatisfeitos que seres greenianos desenvolvem uma vida subterrânea, fora do controle da consciência racional em que a comunicação só se realiza por meio do sonho e do inconsciente. Ao explorar o domínio do sonho, do campo onírico, Julien Green situa seus romances em um campo sobrenatural, como ocorreu também em Cornélio Penna. Cornélio Penna marca uma reviravolta na ficção brasileira ao lançar, em 1935, seu primeiro romance, Fronteira, cuja abordagem principal é o tema do homem com seus problemas interiores, sua angústia, suas meditações sobre o destino, a morte e o além, realizando-se, portanto, uma temática alheia ao regionalismo em voga no período, cujos temas predominantes eram problemas sociais como a seca nordestina e a situação sócio-político-econômica dela decorrente. O escritor não era explicitamente engajado em batalhas políticas, como católico praticante marcou seus escritos por profunda religiosidade e seu sentimento religioso chegou mesmo a ser associado ao fascismo que fermentava a década de 30, o que lhe causou complicações e talvez tenha mesmo impedido maior repercussão de sua obra. A possibilidade de um paralelo entre estes dois grupos de escritores, que a partir da leitura dos dois textos já se revelava viável, concretizou-se sobretudo após o contato com o texto de Teresinha Arco e Flexa (1990), cuja tese de doutorado também compara a obra de um escritor brasileiro, Lúcio Cardoso, a do escritor francês, Julien Green. Em sua pesquisa, ela já atentava para a temática espiritual. A estudiosa salienta que em seu trabalho não interessa a “catolicidade” destes autores, mas sim, “verificar como tal temática se mostra resolvida ao nível estético: conflitos do indivíduo com Deus em suas várias manifestações, seja a aspiração à santidade ou o exercício quase ilógico da monstruosidade, na ausência de Deus” (ARCO E FLEXA, T., 1990, p. 21-22). Para ela, dentre estes escritores, Cornélio Penna parece ser o mais singular com o seu mundo ficcional feito de inquietações, de atos ilógicos e de uma atmosfera atravessada pelas premonições. Esperamos, após essa reflexão, chegar a alguns fatores que tenham possibilitado trabalhos tão semelhantes em culturas diferentes, como a do Brasil e a da França, 31 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 e em uma época tão próxima. 2. Escritores católicos na França e no Brasil. As obras de Cornélio Penna, escritor brasileiro, e de Julien Green, escritor francês, apresentam muitos pontos em comum, dentre os quais podemos destacar: o tema abordado, a base de inspiração para seus romances, além do envolvimento com o catolicismo comum a todo um grupo de escritores que se formou na mesma época no Brasil e na França e cujas marcas foram a introspecção, a reflexão e a sondagem do ser. Para melhor entender a formação desses grupos e as idéias de seus integrantes, farei uma apresentação de seus representantes, bem como uma breve introdução sobre a expressão do catolicismo na literatura da época, sem, no entanto, debater sobre a questão específica da fundamentação da religião católica. Um dos fatores comuns à formação dos grupos de escritores católicos na França e no Brasil é a reflexão sobre um determinado momento histórico, pois nos dois países ocorreram, no período do entre-guerras 1, transformações sociais e políticas, assim como transformações de ordem moral. A religião foi, para alguns, um refúgio ante a ruína dos valores morais após a primeira Guerra Mundial. O catolicismo conheceu, então, uma renovação que se traduz por um grande número de conversões em toda sociedade e isto ocorreu também no meio literário; daí o surgimento dos grupos de “escritores católicos”. A adoção do catolicismo e o engajamento religioso levaram autores a transformarem suas inquietudes religiosas em temática literária. 3. O catolicismo e seus representantes na literatura francesa Na França, o catolicismo ressurge com força singular na literatura por volta da década de vinte após a primeira Guerra Mundial. Nesse período, surgem vários escritores “católicos”, que tinham como objetivo marcar suas obras pelo testemunho da convicção cristã. O período do entre-guerras leva, assim, o meio literário a uma forte tendência à religiosidade, às vezes radical e sincera, outras superficial. Em meio a este “fulgor religioso” surgem as obras de Julien Green, François Mauriac e Georges Bernanos. Com a publicação de Sous le soleil de Satan, de Bernanos, em 1926, o debate sobre a literatura e a fé tem seu apogeu, dele participando escritores, filósofos, padres e leitores em geral. Podemos dizer que a tendência religiosa-católica iniciou-se com duas importantes conversões: a de Paul Claudel em 1886 e a de Huysmans em 1893. Outras conversões importantes são as de Jacques e Raïssa Maritain em 1906, a de Charles Péguy em 1908 e a de Max Jacob em 1909, que se tornaram defensores de uma religiosidade considerada, por muitos, excessiva. Julien Green, ainda jovem, deixa a Igreja Presbiteriana para juntar-se aos católicos durante a primeira Guerra Mundial e publica Mont-Cinère em 1926, Adrienne 1 O termo “entre-guerras” refere-se, neste trabalho, ao período compreendido entre a primeira e a segunda guerras mundiais. 32 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Volume 4 ◦ Número 1 Mesurat em 1927 e Léviathan em 1929. Ao grupo junta-se François Mauriac, com a publicação de Désert de l’amour em 1925, Thérèse Desqueyroux em 1927 e Le noeud de vipères em 1932, romance no qual a questão da graça aparece de maneira muito evidente. Não devemos deixar de incluir neste grupo André Gide, considerado, após o lançamento de Les Nourritures terrestres (1897), L’immoraliste (1902), La porte étroite (1909) e Les faux-monnayeurs (1925), um mestre por sua geração. Gide é um escritor ambíguo no que concerne à religião. Como Green, também era de origem protestante, converte-se na fase adulta ao catolicismo sem, no entanto, engajar-se como os demais escritores. Outro escritor ambíguo mas representativo entre os católicos foi Charles Maurras, fundador do movimento “Action Française” e do jornal com o mesmo nome, cujo pensamento era essencialmente anti-republicano, baseado no ideal da restauração monárquica. Esse intelectual parece ter exercido uma considerável influência intelectual e política no início do século XX. Ele fundamentava suas concepções políticas sobre dois princípios: o nacionalismo e o socialismo, a pátria vindo antes de tudo. Apesar de ter sido o chefe de um dos mais ardorosos movimentos apoiados pelos católicos no século XX, ele se manteve incrédulo até a morte. O movimento “Action Française” nasceu em 20 de junho de 1899, o documento de lançamento incluía quatro pontos fundamentais, dentre os quais se destaca o segundo: De todas as formas sociais comuns no gênero humano, a única completa, a mais sólida e a mais vasta, é evidentemente a nacionalidade. Desde que se viu dissolvida a antiga associação conhecida como Cristandade e que dava continuidade, em alguns aspectos, à unidade do mundo romano, a nacionalidade constitui a condição rigorosa, absoluta, de toda humanidade. O nacionalismo não é portanto uma questão apenas de sentimento: é uma obrigação racional e matemática. (CHIRON, La vie de Maurras. In: FEDELI, p. 16, Tradução nossa) O nacionalismo radical do movimento exigia que seus membros se comprometessem a defender a monarquia francesa de todos os meios possíveis e o fato desse movimento ter conquistado a simpatia de muitos católicos explica-se, em parte, nesta declaração de Maurras: Todas nossas idéias favoritas, ordem, tradição, disciplina, hierarquia, autoridade, continuidade, unidade, trabalho, família, corporação, descentralização, autonomia, organização operária, foram conservadas e aperfeiçoadas pelo catolicismo. Como o catolicismo da Idade-Média se compôs na filosofia de Aristóteles, nosso naturalismo social tomava do catolicismo um de seus pontos de apoio mais sólidos e mais queridos. Vejamos a impor- tante distinção: as idéias foram conservadas e aperfeiçoadas pelo catolicismo, elas não se originaram dele. (JF, In: FEDELI, p. 20, Tradução nossa) A “Action Française” também defendia a Igreja das perseguições democráticas promovidas pelo governo maçônico e republicano da França; por estas idéias, 33 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 Maurras é defendido com ardor por muitos católicos que o consideram um belo defensor da fé, apesar de seu passado pagão e agnóstico. Maurras via no cristianismo apenas um valor humano e naturalista, e o valor do catolicismo era considerado em sua coincidência com o bem da nação francesa. Na França, o catolicismo foi um dos componentes da identidade nacional, nesse sentido é que Maurras se coloca como defensor da Igreja e não por fé religiosa. Os anos vinte marcaram, na França, a espera por uma obra literária católica de qualidade. O meio intelectual exigente e comprometido com a questão religiosa, bem como seu público, anseiam por uma produção eficientemente católica: daí o sucesso da obra de Bernanos, Sous le soleil de Satan (1926). Bernanos satisfaz assim os críticos literários sensíveis às questões espirituais. Seu primeiro romance é aclamado igualmente por críticos hostis ou indiferentes ao catolicismo, e sobretudo pelos leitores. Sem ilustrar nem defender uma causa católica, ele descreve uma vida cristã em toda sua profundeza, evidenciando até suas contradições. O autor, que recusa a etiqueta de escritor católico por preferir a de católico escritor, declara que sua primeira produção é um dos livros nascidos da guerra. Trata-se, sem dúvida, do primeiro a evocar uma outra guerra: a luta pela santidade. No decorrer dos anos trinta, os escritores católicos continuam a ter importância no conjunto da produção literária francesa. Mauriac, Claudel e Bernanos mantêm um grande número de leitores. Após a segunda Guerra Mundial a influência católica na literatura começa a diminuir, mas não desaparece, havendo sempre um retorno do espiritual do pensamento religioso nas artes em geral. François Mauriac, novelista, ensaísta, poeta e jornalista, recebeu o prêmio Nobel de literatura em 1952. Suas novelas um tanto sombrias, constituem dramas psicológicos e analisam aspectos da vida moderna, com personagens que lutam com dilemas como o pecado, a graça e a salvação. Mauriac pertenceu a uma família católica de classe média, daí herdando o gosto pelo catolicismo. Seus primeiros romances publicados foram L’Enfant chargé de chaînes (1913), e La Robe prétexte (1914). Após um período de interrupção devido à guerra, ele se afirmará como romancista com as obras La Chair et le Sang (1920), e Préséances (1921), momento em que tem início um período de intensa produção literária e Mauriac escreve alguns de seus melhores romances, como Thérèse Desqueyroux (1927). Em 1932, surge Le Noeud de vipères, considerado por muitos críticos sua obra-prima, trata-se de um drama que narra o ódio de um velho advogado contra sua família, sua paixão por dinheiro e sua conversão final. Nessa obra, como em outras de Mauriac, as personagens buscam, em vão, o amor nas relações humanas, amor este que somente será encontrado na relação com Deus. François Mauriac foi um escritor polêmico: protestou contra o totalitarismo e denunciou o fascismo na Itália e na Espanha, também trabalhou com os escritores da Résistance durante a segunda Guerra Mundial. Outro escritor que pertencia a este grupo de escritores franceses guiados pela fé católica foi Julien Green. Educado pela mãe na fé evangélica, Julien Green 34 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Volume 4 ◦ Número 1 converteu-se ao catolicismo aos 15 anos após ler um livro escrito por um jesuíta francês sobre a fé católica e outro do Cardeal de Baltimore que respondia a todas as suas inquietudes. O próprio Green narra o momento de sua conversão com as seguintes palavras: Pareceu-me, então, que, morrendo de sede, uma água fresca me fora vertida de uma fonte inesgotável, uma água deliciosa que espadanava alegria. O que eu desejava saber, sabia-o enfim, o que desejava crer fora-me dado em profusão. Essa água mais embriagadora que o vinho me transformou de súbito e me tornei católico de vontade, sem hesitação alguma, num imenso ímpeto para Deus. (GREEN, In: O itinerário religioso de Julien Green. Silveira, Alcântara. Supl. Cultura. O estado de S. Paulo. 12/08/84, p. 9) Julien Green iria considerar, mais tarde, o ano de 1916 como o tempo mais feliz de sua vida. Essa felicidade, no entanto, não perdurou, porque sua fé não tinha ainda raízes profundas e a cruz lhe parecia por demais pesada. Os primeiros diários de Green refletem seu terrível estado de espírito nessa época, suas hesitações entre os prazeres do mundo e os sacrifícios da religião. Green não se conformava com o comportamento dos freqüentadores da Igreja Católica que, segundo ele, não viviam o catolicismo como era devido, e a fé começou a abandoná-lo. Para manifestar seu descontentamento ele resolveu publicar um Pamphlet contre les catholiques de France, sob o pseudônimo de Théophile Delaporte. Esse panfleto foi a expressão daquilo que o autor pedia aos católicos; escrito no leito, por motivos de doença, suas páginas denunciam o conformismo da carolice francesa: ‘Afinal, o que você acha o mais interessante de tudo? – A religião!’ Esta palavra que vinha das profundezas do meu ser, eu a digo com uma voz que a emoção abafava um pouco. ‘Você é católico? – Católico romano.’ Eu estava tão orgulhoso por sê-lo que este fato impunha uma distância considerável entre mim e aqueles que não gozavam do mesmo privilégio. Meu companheiro, que era perspicaz, queria saber se eu estava totalmente de acordo com os católicos de minha época. Foi como se ele me tivesse dado meu livro inteiramente escrito, da primeira à última linha. (GREEN, 1982, p. 17-18, Tradução nossa) Nestas palavras, Green nos confidencia o nascimento de seu panfleto. Como ele, outros escritores também deram o testemunho sobre seu surgimento no meio literário. Maritain analisou as condições em que apareceu o panfleto, exprimindo sua admiração de escritor pela “dureza desses belos contornos pascalinos”, expressou a alegria que pressentia no autor da obra – “uma alma excepcionalmente profunda”. O filósofo não se enganou pois os textos escritos por Julien Green durante sua crise religiosa revelaram o aparecimento de um grande romancista. “Coragem, Green! Sua obra é boa”, escrevia Bernanos ao saudar o aparecimento de MontCinère em 1926. A esse romance, seguiram-se Le voyageur sur la terre, Adrien35 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 ne Mesurat, Léviathan, L’autre sommeil, Épaves, Le visionnaire, entre outros, cada qual revelando uma faceta da angústia, da reflexão e das assombrações que rodeavam o autor. Seres que vivem entre a loucura e a lucidez, assim podem ser classificadas as personagens de Julien Green. É na religião, e em conseqüência dela, que Green passará os momentos mais conturbados de sua vida. Um acontecimento triste foi o da morte da mãe, era ela quem com ele rezava todas as noites incentivando a contemplação religiosa, como ele mesmo narra: ... quando ia deitar-me, minha mãe se aproximava para fazer-me rezar. Nós nos colocávamos de joelhos, eu no leito, ela sobre o assoalho e bem próxima de mim, a ponto de nossos rostos se tocarem; eu passava, então, os braços em torno de seu pescoço e repetia, após ela, as palavras da oração dominical, como se encontra na versão inglesa do Novo Testamento. [...] Com a cabeça sobre seus ombros, eu sentia grande prazer em repetir as palavras, cujo sentido me parecia obscuro, mas cuja doçura atingia as mais misteriosas regiões da alma. Parecia-me, quando eu tinha os braços em torno do pescoço da minha mãe e rezava com ela, que nada no mundo poderia aborrecer-nos. (SILVEIRA, 1984) Assim, nascia na cumplicidade com a mãe a construção da fé e desenvolvia-se nele o gosto pela religião. A partir da morte da mãe desencadearam-se suas dúvidas e angústias em relação à sua religiosidade. Para Barcellos (2001, p 82) é impossível falar de Green e de sua obra sem nos referirmos ao problema da identidade. O crítico lembra que vida e obra são um longo percurso de busca, construção e reconstrução de identidade lingüística, nacional, religiosa, sexual e literária; busca de si, encontro com o outro, encontro de si, busca do outro. 4. O catolicismo e seus representantes na literatura brasileira Em 1921 tem início no Brasil um período de harmonia entre Igreja e Estado, de aprofundamento do pensar religioso pelos princípios da doutrina católica. Nesse período houve uma retomada da busca religiosa, surgiram novos centros de estudos teológicos e filosóficos, evidenciados pelo interesse dos leigos no aprofundamento da sua fé. Surgem as Universidades Católicas e difundem-se os colégios católicos, formando alunos responsáveis pela difusão do pensamento da igreja em suas futuras profissões. Assim como na França, podemos dizer que o recrudescimento do pensamento católico começa a atingir seu apogeu aqui no Brasil. Por outro lado, no início do século XX, havia movimentos políticos mal vistos pela Igreja, entre eles a Action Française, por sugerirem um novo sistema religioso, moral e social. Esses movimentos tiveram repercussão também no Brasil, onde Jackson de Figueiredo tornou-se representante dos ideais da Action Française. Às idéias tomadas à Action Française filiaram-se, no Brasil movimentos como a Aliança Nacional Libertadora, e, em 1932, a Ação Integralista Brasileira. Os ca36 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Volume 4 ◦ Número 1 tólicos, de modo geral, e, dentre eles vários intelectuais, posicionaram-se contra o comunismo, mas mostraram-se simpatizantes do integralismo. A atração exercida pelo integralismo deveu-se a sua posição espiritualista, bem como à valorização das tradições cristãs e ao combate ao comunismo. Entretanto, esse movimento não tardou a ser visto como um perigo para o catolicismo. Muito envolvente, dada a constância dos rituais semelhantes à ritualística religiosa, poderia, portanto, tornar-se um substituto para a religião e angariar a dedicação que os fiéis deveriam ter com a Ação Católica. Na década de 30, difundiram-se também no Brasil as idéias filosóficas de Jacques Maritain, crítico e pensador cristão de grande atuação na França. Sua visão trouxe grandes contribuições para o pensamento católico e despertou o interesse dos intelectuais brasileiros católicos e não-católicos pelas transcendentes questões da metafísica tomista. A difusão do catolicismo no Brasil nos anos 30, no entanto, não é facilmente justificável, suas raízes, aqui, vêm de diversas fontes e não podemos, portanto, afirmar que a influência francesa tenha sido a mais forte entre nossos escritores dessa época. Mário de Andrade, ao referir-se ao catolicismo, expõe suas dúvidas e tristezas em relação à maneira como os brasileiros o praticam: O problema da catolicidade brasileira é dos mais delicados da entidade nacional e, por mim, jamais cheguei a uma verdade nítida. Confesso que não consigo verificar bem na gente brasileira um catolicismo essencial, digno do nome de religião. Principalmente como fenômeno social. Digo isso com tristeza porque me parece mais outra miséria nossa, porém o que tenho percebido em nós é uma tradição ou costume católico, vindo de fora pra dentro, na infinita maioria dos eruditos e semi-eruditos, muito deturpado pelo carinho sentimental às memórias de infância e tradição. Nada ou quase nada essencial. Por meio desse costume que tem quatro séculos de raízes, era natural que existisse em nós uma espontaneidade católica. Ela existe. Mas reage a infinita maioria das vezes como fenômeno individualista: não funde mais a gente em movimentos de ataque ou de defesa coletiva. (ANDRADE, 1972, p. 13) Esse catolicismo de “costume” a que faz referência Mário de Andrade será criticado também pelos vários escritores que citaremos a seguir. Apesar de admitirem ter recebido o catolicismo como herança de seus pais, eles demonstraram, em seus textos, uma aversão àqueles que o praticavam apenas como hábito, sem realmente engajar-se na causa Católica. Um escritor católico de grande influência intelectual na década de 30 foi Jackson de Figueiredo. Nascido em Aracaju, herdou de sua mãe a fé católica, mas somente aos 27 anos converteu-se ao catolicismo. Podemos conhecer melhor o perfil deste jovem pensador por um dos trechos da carta de seu amigo Farias Brito: Como Pascal, filósofo torturado pela nostalgia do infinito, é com estes dois grandes espíritos (Pascal e Novalis) que o acho parecido, sobretudo com Pascal, considerando a complexidade extrema do seu espírito assim, feito para a independência e para a divindade, 37 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 certamente afinidades profundas: fato este de que experimentamos o sentimento vivo e palpitante. E foi talvez isto o que, desde logo, tão profundamente nos uniu. (MOURA, 1978, p. 148) Farias Brito traça não apenas o retrato psicológico de Jackson, como também, as linhas principais de sua trajetória intelectual. Seus livros de temas filosóficos não podem ser considerados representativos do pensamento cristão, mas são testemunhos de sua evolução para o catolicismo: Algumas reflexões sobre a filosofia de Farias Brito (1919) e Pascal e a Inquietação Moderna (1922). Por ser seu ideal “catolicizar a inteligência brasileira”, Jackson foi considerado um apóstolo dos intelectuais. Ele foi literato, poeta e jornalista; não é possível considerá-lo um filósofo católico, mas seu pensamento foi de grande importância para o grupo de escritores engajados ao catolicismo, devido às lutas que abraçou em defesa da Igreja e da política governamental. Alceu Amoroso Lima discordava das idéias de Jackson, pois, enquanto este era simpatizante de Maurras, chefe da “Action Française”, Alceu preferia a linha libertária de Maritain. Em comum com Jackson ele terá somente o traço de apóstolo da inteligência católica. Alceu iniciou sua crítica literária em 1919, escrevendo em O Jornal, com o pseudônimo de Tristão de Ataíde, mas, após sua conversão ao catolicismo, praticamente abandonou a crítica literária e guiou-se em sua produção sobretudo pelas linhas ideológicas de Jacques Maritain. Ainda sobre sua contribuição para os intelectuais católicos Mário de Andrade acrescenta: Tristão de Ataíde é talvez o exemplo mais útil que se possa apresentar à mocidade brasileira, covarde e indecisa. Não apenas aos católicos, mas a todos em geral, que, na ordem das usas crenças e destinos desejados, teem a copiar dele o desassombro, a cultura coordenada, a nobreza de intenção, o incorruptível do caráter. (ANDRADE, 1972, p. 7) O crítico deixa evidente sua admiração pelo caráter de Alceu Amoroso Lima (designado por seu pseudônimo), mas também lamenta o fato de sua conversão ao catolicismo tê-lo distanciado da crítica literária: “... Perdemos um excelente crítico literário, apesar dos defeitos, excelente; ganhamos um pensador católico. (Ibid., p. 10)” Neste grupo de escritores católicos, também merece destaque Octávio de Faria. Nascido no Rio de Janeiro, foi crítico, ensaísta, romancista e tradutor. Apesar de sua personalidade introspectiva, ele se impôs como líder desde a época de estudante, tomando parte em vários trabalhos culturais e jurídicos. Bacharel em Direito, nunca exerceu a profissão, dedicando-se somente à literatura. Em 1927 inicia suas atividades literárias colaborando em A Ordem, órgão do Centro D. Vital, bem como em diversas outras revistas literárias e políticas. O ensaísta de Maquiavel e o Brasil (1931), Destino do socialismo (1933) e Dois poetas (1935), logo cede lugar ao romancista, em cujo estilo predominam a aná38 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE lise das idéias e dos acontecimentos sociais. Em 1937, Octávio de Faria publica seu primeiro romance, intitulado Mundos mortos, ponto de partida para o grande projeto literário A tragédia burguesa. Dos vinte volumes projetados, apenas treze foram publicados. O escritor apresenta, na Tragédia burguesa, um painel da vida carioca, mesclando os problemas sociais do processo de formação da burguesia aos grandes problemas do homem. Trata-se de uma obra que se destaca pela continuidade, exploração psicológica dos tipos e entrosamento familiar, comparável apenas à Comédia humana de Balzac. Outro escritor de destaque neste grupo foi Lúcio Cardoso, este inicia sua carreira com a publicação de Maleita, apenas possível devido às suas relações com Augusto Frederico Schmidt, que se lançava como editor. Nesse primeiro romance revela-se o pendor do autor para a criação de atmosferas de pesadelo mas, com a publicação, em 1936, de A Luz no Subsolo, o escritor define-se pelo romance de sondagem interior. Lúcio manteve-se até à morte ligado a alguns escritores que, na década de 30, eram denominados “espiritualistas e católicos”, entre eles Otávio de Faria e Cornélio Penna, sendo o último o que dele mais se aproxima, como podemos constatar nas palavras de Bosi: Lúcio Cardoso e Cornélio Penna foram talvez os únicos narradores brasileiros da década de 30 capazes de aproveitar sugestões do surrealismo sem perder de vista a paisagem moral da província que entra como clima nos seus romances. A decadência das velhas fazendas e a modorra dos burgos interioranos compõem atmosferas imóveis e pesadas onde se moverão aquelas suas criaturas insólitas, oprimidas por angústias e fixações que o destino afinal consumará em atos imediatamente gratuitos, mas necessários dentro da lógica poética da trama. O leitor estranha, à primeira leitura, certa imotivação na conduta das personagens. É que os vínculos rotineiros de causa e efeito estão afrouxados nesse tipo de narrativa, já distante do mero relato psicológico. Lúcio Cardoso não é um memorialista, mas um inventor de totalidades existenciais. Não faz elencos de atitudes ilhadas: postula estados globais, religiosos, de graça e de pecado. (BOSI, 1972, p. 414) Bosi sintetiza aqui o estilo de Lúcio Cardoso, apontando a característica das obras. Em seguida, o crítico ressalta a superação do romancista ao dedicar-se a reconstrução de um clima de morbidez envolvendo os ambientes e os seres. A Crônica da Casa Assassinada, de 1959, revela as angústias de um amor que se crê incestuoso; nesse romance, cuja estrutura é semelhante a de Le voyageur sur la terre, de Julien Green, nos deparamos com cartas, diários e confissões das pessoas que conheceram a protagonista. A coexistência destas formas de escrita caracterizam ambos os livros. Segundo Bosi, ao redigir a Crônica da Casa Assassinada, Lúcio caminhava para uma forma complexa de romance em que o introspectivo, o atmosférico e o sensorial não mais se justapõem mas se combinam como uma escritura cerrada, capaz de converter o descritivo em onírico e adensar o psicológico no existencial. Vejamos agora Cornélio Penna, cuja identidade literária vem de sua infância, pois 39 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 daí nasce a principal marca de suas obras; são as informações recebidas durante este período que, além de moldar sua personalidade, darão forma a seu estilo. Cornélio Penna usará a cidade de seus avós, onde passou parte da infância, como cenário para seus enredos. A esse cenário unem-se fatos reais acontecidos na época em que se passa a história, como a Revolução da Armada, e, ainda o clima de mistério sugerido pelas cidades mineiras, o que fortalece o clima gótico de sua obra. Os que se deparam com a obra de Cornélio Penna, sempre questionam esse total desconhecimento em relação ao escritor. Apesar de seu estilo renovador e audacioso, trata-se de um autor pouco lido, e, praticamente, esquecido na atualidade. A crítica, de modo geral, coloca algumas razões para tal esquecimento, por exemplo, eles apontam como principal razão do desprestígio literário de Cornélio Penna o fato de o escritor ter feito sua estréia literária na década de trinta, época de domínio do romance social de corte regionalista. E, também, ser identificado como católico, quando nos meios intelectuais brasileiros, não era rara a confusão entre “catolicismo” e “carolismo”, talvez tenha agravado ainda mais a situação de Cornélio Penna. Nesse sentido, convém recordar que a década de 30 foi um período político conturbado. Cornélio Penna, nessa época, tinha amizade com um grupo de escritores formado por Tristão de Athayde, Lúcio Cardoso e Octávio de Faria que não era bem visto politicamente, devido a ligação com o Integralismo, muito identificado com o fascismo. Talvez isso tenha dificultado a ascensão de Cornélio Penna enquanto escritor, conforme podemos constatar abaixo: Roberto Schwarz apontou certa vez que, nos anos 60, a despeito de estarmos numa ditadura de direita, o pensamento de esquerda dominou a intelectualidade brasileira. Coincidiu com esse período o início do esquecimento da obra de Cornélio Penna: ainda em 1958 ela era considerada suficientemente relevante para merecer uma edição integral pela Aguilar. É certo que contribuiu muito para esse esquecimento o fato de o autor de Fronteira ter sido católico e próximo a artistas de ligação histórica com o pensamento político mais reacionário (bastaria lembrar o Otávio de Faria dos anos 30 e 40). (BUENO, 1998, p. 6) Outro crítico a discutir esta questão do envolvimento político de Cornélio Penna, porém sob uma perspectiva mais estrutural do que poética, é Adonias Filho. Para ele, a “linguagem” tem uma posição dominante na obra e à sombra dela fundemse ficcionista e escritor que se completam na sua homogeneidade. Para o crítico, outro fator de extrema importância é a “mensagem” do romancista: Pode-se assegurar que, em obra novelística como a de Cornélio Penna, não será difícil o reconhecimento crítico da mensagem. Inteiriça, como acabamos de verificar, - no processo técnico de construção, na problemática especulativa, na linguagem como um elemento clássico, - projeta-se na mensagem como em um campo aberto. Na mensagem, e porque estabelece as relações entre a obra novelística, seu momento histórico e a literatura brasileira, é que se deve buscar a própria significação dos romances. (ADONIAS FILHO, 1958, 40 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE p. 15-16) A essas palavras seguem-se seis capítulos, sendo o primeiro sobre o envolvimento, em termos político e social, do escritor com sua época, ressaltando sua participação ativa na História. Cornélio Penna fez parte de uma geração revolucionária, herdeira das conseqüências da primeira guerra mundial e que se dividiu em três círculos: político, militar e intelectual, tendo como objetivo comum a reforma nacional. Apesar de se abrir em aspectos distintos, trata-se de um único movimento, cujo traço é o nativismo. Os círculos político e militar serão os responsáveis pela série de movimentos armados que se iniciam em 1922 e atingem seu auge com a revolução de 1930. No círculo intelectual, haverá a “revolução modernista” que prosseguiu até 1930. Após a vitória das duas revoluções, em 1930, inicia-se o que Adonias Filho designa “a fase construtiva” da arte: “É a partir desse ano, ao lado da reforma da organização política, que as conseqüências modernistas se convertem em experiências literárias e plásticas assegurando nova configuração à poesia, à ficção em prosa, à arquitetura, à escultura, e à pintura” (Ibid., p.19). Cornélio Penna participa das duas fases, a anterior e a posterior a 1930, atuando plenamente e servindo-se de seu trabalho para condenar o conformismo das gerações anteriores. O crítico aponta, ainda, um fator que justifique, talvez, a importância de Cornélio Penna para a literatura brasileira. Ele salienta que, enquanto todos os seus companheiros de geração literária ampliavam o documentário (sobretudo no círculo nordestino) e o realismo psicológico (sobretudo no círculo sulista), Cornélio Penna seguia por um caminho diferente: “É a partir de Fronteira que a renovação se inicia. O romancista, desprezando a revolução lingüística – e na linguagem estabelecendo o contato com o romance superado – ingressa no território temático para enriquecê-lo com um novo afluente” (Ibid., p. 21). O mesmo ocorre na França com Julien Green que rompe com o modismo literário da época e adentra no que a crítica literária francesa designou pré-existencialismo. Além do rompimento com os estilos dominantes, Cornélio Penna e Julien Green buscam inspiração em lembranças da infância. Ambos encontram na memória do passado temas ou ambientes para a composição de seus romances. Bueno afirma que as personagens cornelianas vivem à exaustão um clima intenso de pecado, são seres que se encontram numa margem indefinida entre a loucura e a lucidez. Esta seria a substância de Fronteira - a vida de Maria Santa morta às vésperas de revelar ao mundo sua santidade: “Isolada em um casarão mineiro de Itabira, sem contato com o movimento de vida da pequena cidade, Maria Santa consome a si mesma e a sua santidade, por não dar a ela real existência” (BUENO, 1996, p. 5). Cornélio Penna ingressa na Literatura Brasileira apresentando ao mundo sua estranha personagem que, apesar de solitária em sua história, não está só no seu drama existencial. Aí também se inserem várias outras personagens das obras 41 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 tanto de Penna quanto de Green. Ao repassarem, ambos, por meio da narrativa, a experiência que trouxeram do passado, a memória que buscaram no fundo de suas lembranças da infância, resgatam também histórias de vários povos, da sociedade a que pertenceram suas famílias. Reavivando tantos fatos, mantiveram acesa a cultura de uma nação, por meio da obra desses autores aspectos da identidade de grupos diferentes foram resgatados na literatura. Relatando suas memórias, esses escritores não o fizeram apenas por profissão, mas sobretudo por doação, quase como uma necessidade de revelar ao próximo suas experiências. Julien Green bem define: Eu estou na terra por uma razão que só posso entrever. O senhor conhece essa palavra maravilhosa de D’Annunzio: ‘Eu tenho o que eu dei?’ Eu diria, quanto a mim, que dou o que recebi, ou pelo menos eu tento. Alguma coisa me foi dada e me é muito difícil resistir ao desejo de traduzir em palavras o que me foi dado. Não posso não escrever. (Julien Green) (BARCELLOS, 2001, p. 81) Mais do que uma profissão, escrever significava, portanto, a possibilidade de desabafar, de divulgar as informações recebidas. Também para Cornélio Penna, se lembrarmos as várias declarações de suas entrevistas, o ato de escrever era um desabafo, uma necessidade constante e muito forte. Talvez isto ocorra por terem vivido ambos em períodos historicamente conturbados, em que o mundo todo se deparava com inúmeras revoltas, sobretudo, as duas grandes guerras mundiais. As guerras não deixam apenas marcas físicas, mas também mentais, das quais as mais profundas ficam na alma daqueles que, de alguma forma, presenciaram os acontecimentos. Cornélio Penna e Julien Green dividem, além da angústia deixada pelas guerras, as dúvidas implantadas pela religião, a busca da fé e a busca por Deus. A busca constante por Deus é uma forte marca não apenas nos dois escritores como também em suas personagens. Assim como essa busca, o resgate da infância, do fato histórico, das histórias contadas por seus familiares são elementos que podem ser encontrados nas obras destes escritores. 5. Conclusão Aliado à tensão política temos também o Modernismo, com suas questões inovadoras, seu projeto de modernização da linguagem e idéias vanguardistas; era preciso, portanto, que os mais tradicionais se unissem contra um projeto que poderia colocar em risco a moral cristã. Há, no entanto, quem veja nestes romances de 30 uma continuação do projeto Modernista. Segundo Bueno (2006, p. 56) a literatura de 30 é vista como um alargamento do espírito de 22, indicando a presença de um momento a partir do qual algo de mais consistente pudesse ter lugar, mostrando que o que nega e o que afirma acabam se encontrando. Isso é denominado pelo crítico “manifestação de um espírito de época”, e segundo ele, levar em conta esse espírito de época 42 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE é admitir que, para a intelectualidade de 30, há uma tensão forte entre dois momentos: o modernismo e o pós-modernismo. Bueno acrescenta que a sustentação da proposição segundo a qual as transformações sofridas pela forma de fazer literatura no Brasil entre os decênios de 20 e 30 não constitui dois momentos diferentes, mas duas fases de um só momento a se diferenciarem por uma ênfase maior no projeto estético ou no ideológico, depende da compreensão da existência de um mesmo projeto estético e um mesmo projeto ideológico. Para ele é inegável que a geração dos autores que participaram da Semana de Arte Moderna preocupava-se sobretudo com uma revolução estética, enquanto os que estrearam nos anos 30 centravam sua atenção nas questões ideológicas. Assim, segundo ele, não é fácil admitir uma continuidade dos projetos estético e ideológico de uma geração para outra de forma que a ênfase num ou noutro abarque os desacordos que separam essas gerações. Essa movimentação artística entretanto não elevou o mérito do Brasil diante dos países desenvolvidos, conforme aponta o crítico: Se a distância que nos separa dos países ricos não se modificou, a mudança de perspectiva sobre o país corresponde a um deslocamento no plano ideológico: mudou a visão de Brasil. [...] Essa diferença de visão dominante do país é elemento central nas diferentes formas de ação privilegiadas pelos modernistas e pelos romancistas de 30. Ora, a idéia de país novo, a ser construído, é plenamente compatível com o tipo de utopia que um projeto de vanguarda artística sempre pressupõe: ambos pensam o presente como ponto de onde se projeta o futuro. Uma consciência nascente de subdesenvolvimento, por sua vez, adia a utopia e mergulha na incompletude do presente, esquadrinhando-o, o que é compatível com o espírito que orientou os romancistas de 30. (BUENO, 2006, p. 59) Com tal colocação ele amplia a formulação de João Luiz Lafetá de o romance de 30 ser o momento da “literatura na revolução” e o modernismo de 22 o da “revolução na literatura”; o que ambos desejam mostrar é o fato desse pequeno deslocamento de sentido poder ser visto como demonstração de um afastamento dos projetos de cada geração e não de uma aproximação entre eles. O estudo de Bueno revela-nos também que o romance de 30 nasceu realmente da fermentação revolucionária da década; acrescentamos ainda que se deve a essas revoluções a busca de alguns escritores pelo catolicismo, mas do catolicismo tomado aos escritores franceses como Mauriac e Bernanos, em cuja obra inscreviam-se os sofrimentos da guerra, a crise do mito do progresso assim como a formação intelectual e moral dada pela educação católica. As guerras e as revoluções deixavam no homem da época um total sentimento de abandono, a sensação de estar só em meio à multidão, daí o sentimento de desamparo; era preciso, portanto buscar refúgio e muitos encontraram na religião católica este amparo. O rigor da religião vai ressoar na literatura de diversas maneiras, uma delas Bueno nos mostra na obra de Octávio de Faria: 43 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 De toda maneira, é certamente essa luta do homem contra as forças da imoralidade, do seu próprio instinto sexual, que atraiu a atenção de Octávio de Faria em Sob o Olhar Malicioso dos Trópicos. Anos antes do inquérito ele já havia se referido elogiosamente ao romance em artigos, como o célebre “Excesso de Norte” ou numa resenha de Salgueiro, de Lúcio Cardoso. Mas o interesse do livro, quando posto em confronto com a produção dos anos 30, não reside aí, onde Octávio de Faria o encontrou. Está muito mais no método narrativo, introspectivo até à medula, que ressoará indiretamente em obras posteriores, como as de um Cornélio Penna, por exemplo, ajudando a estabelecer um certo padrão de romance psicológico que terá grande desenvolvimento no período. (BUENO, 2006, p. 99) Ao lado de Octávio de Faria e Lúcio Cardoso, Cornélio Penna desenvolve seu romance que, além da forte marca da introspecção e do psicológico, trará ainda as marcas do engajamento religioso do autor, que o conduzirá para um lado paralelo ao de seu colega católico, Jackson de Figueiredo: enquanto este misturou a questão espiritual com a política, Penna construiu sua produção literária mais voltada para a evangelização. Todo esse processo que até então delineamos foi parecido ao ocorrido na Europa, e por que não afirmar, importado, principalmente da França. Assim poder-se-ia compreender o aparecimento de produções tão próximas nos dois países, bem como a constituição dos grupos de escritores católicos. O fator histórico, englobando guerras, e a religião católica, são a primeira marca comum recebida por estes escritores. Por terem a mesma religião e terem sofrido os mesmos dilemas, iniciaram sua produção literária desenvolvendo os mesmos temas, o mesmo clima, os mesmos dramas. No caso do Brasil, não podemos negar que algumas influências tenham vindo também de leituras importadas da França, pois neste período era comum homens de posse fazerem seus estudos na Europa e, ao retornarem, trazerem para nosso país as idéias lá difundidas. Porém, apesar da proximidade não podemos negar que cada escritor atribuiu a sua produção um elemento nacional, imbuindo seu trabalho de algum elemento individual que o distinguirá dos demais. Assim, ainda que todos esses escritores católicos, brasileiros e franceses, escrevessem sobre um mesmo tema e revelassem em suas obras sua religiosidade e seu catolicismo, eles focaram indivíduos diferentes, concretizados na figura das personagens, possibilitando uma distinção em relação ao fator enfatizado. Se em Green o foco está na fé, no falso cristão, em Mauriac está no pecado, na tentação; em Bernanos, naquele que tentava: o próprio Satã; e, em Penna, na reconciliação com Deus. A religiosidade desses escritores aponta para uma produção que responde a preocupações metafísicas destoando assim de obras do mesmo período voltadas para o social, a política e os manifestos modernistas; seus textos realizam um retorno à tradição da vertente religiosa. O misticismo da espiritualidade dos romances católicos produz imagens de um sobrenatural ilusório, sem lógica, apropriado ao universo angustiante das narrativas. Essas obras colaboram, não como instrumento didático ditando procedimentos 44 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Volume 4 ◦ Número 1 éticos, mas como instrumento de reflexão a respeito de questionamentos e dúvidas sobre a nossa existência, sobre política e religião, inquietações, portanto, comuns a todos os seres humanos. Bibliografia: ADONIAS, Filho. Os romances de Lúcio Cardoso. In: Modernos Ficcionistas Brasileiros. Rio de Janeiro: Edições O Cruzeiro, 1958. ARCO E FLEXA, T. de A. Lúcio Cardoso e Julien Green: Transgressão e culpa. São Paulo, 1990, 377f, (Doutorado em Estudos Literários) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. ATHAYDE, T. Nota preliminar. In: PENNA, C. Romances completos. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1958. p. 3-5. BARCELLOS, J. C. Literatura e Espiritualidade. Bauru: EDUSC, 2001. BOSI, A. Lúcio Cardoso. In: História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Editora Cultrix, 1978. BUENO, L. Uma história do romance de 30. São Paulo: Ed. Da Universidade de São Paulo; Campinas: Ed. da Unicamp, 2006. ______. Um desbravador original. Folha de S. Paulo, São Paulo, 22 fev 1998. Mais!, p. 6. ______. A intensidade do pecado. Folha de S. Paulo, São Paulo, 29 dez 1996. Mais!, p. 5. CÂNDIDO, A. A Educação pela Noite. São Paulo: Ática, 1987. FEDELI, O. Existência de Deus. MONTFORT Associação Cultural. Disponível em: http://www.montfort.org.br/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&arti go=existencia Acesso em: 08/09/2005 às13:44h. ______. Maurras. MONTFORT Associação Cultural. Disponível em: http://www. montfort.org.br/index.php?secao=cadernos&subsecao=religiao&artigo=maurras 1&lang=bra Acesso em: 01/10/2005 às10:36h. GREEN, J. Le voyageur sur la terre. (Le voyageur sur la terre, Les clefs de la Mort, Christine, Léviathan). Paris: Plon, 1997. ______. Pamphlet contre les catholiques de france. Paris: Gallimard, 1982. LAFETÁ, J. L. 1930: a crítica e o modernismo. 2. ed. São Paulo: Duas Cidades, 2000. MARTINS, W. A crítica literária no Brasil. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983. 2v. MILLIET, S. Nota preliminar. In: PENNA, C. Romances completos. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1958. p. 377-81. MOURA, O. As idéias católicas no Brasil: direções do pensamento católico do Brasil no século XX. São Paulo: Convívio, 1978. PENNA, C. Romances completos. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1958 SILVEIRA, A. Reflexões provocadas por um novo livro de um escritor antigo. Convivium, p. 69-77, jun. 1984. 45 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 TRINDADE, H. Integralismo: o fascismo brasileiro na década de 30. São Paulo: Editora Difel, 1979. Abstract: This work is a brief analysis on the creation of a group of catholic writers both in France and Brazil in the twenties and thirties. Such analysis has two prime objectives: (1) to list some of the recurring themes in the fiction of these writers and (2) to reveal some resemblance which establishes a connection among these novelists, always taking into account the expression of religiosity in their texts. We hope these reflections will permit us to understand the emergence of texts which are so close within different cultures. Keywords: Literature, France, Brazil, novel, religiosity Recebido em 11/05/2009. Aprovado em 01/06/2009. 46 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Volume 4 ◦ Número 1 A construção da heroína “romântica”: educação sentimental em “Miss Dollar”, de Machado de Assis ENSAIO Cilene Margarete Pereira* Resumo: Este artigo analisa os aspectos de composição da principal personagem feminina do conto “Miss Dollar”, de Machado de Assis, discutindo o papel da literatura para a formação sentimental da mulher machadiana. Palavras-chave: Personagem feminina, literatura, educação sentimental. Em fins de 1869, Machado de Assis publica sua primeira coletânea de contos, gênero ao qual se dedicava desde 1864. Contos Fluminenses, nome singelo dado ao conjunto de seis textos, tem como porta de entrada a narrativa “Miss Dollar”. O destaque não era gratuito, já que o conto ocupava uma posição de destaque dentro da coletânea, sendo o único inédito e fonte de inspiração para o primeiro romance do autor, Ressurreição (1872). Muitas são as semelhanças existentes entre as duas narrativas, sobretudo em relação à construção das principais personagens. Margarida, a figura feminina mais importante do conto, apresenta alguns indícios importantes na construção de um modelo de mulher nessas primeiras histórias de Machado de Assis. A descrição que o narrador de “Miss Dollar” faz da composição física da personagem evidencia, inicialmente, a enorme distância que ela guarda do mundo amoroso: Era uma moça que representava vinte e oito anos no pleno desenvolvimento da sua beleza, uma dessas mulheres que anunciam velhice tardia e imponente. O vestido de seda escura dava singular realce à cor imensamente branca de sua pele. Era roçagante o vestido, o que lhe aumentava a majestade do porte e da estatura. O corpinho do vestido cobria-lhe todo o colo; mas adivinhava-se por baixo da seda um belo tronco de mármore modelado por escultor divino. Os cabelos castanhos e naturalmente ondeados estavam penteados com essa simplicidade caseira, que é a melhor de todas as modas conhecidas; ornavam-lhe graciosamente a fronte como uma coroa doada pela natureza. A extrema brancura da pele não tinha o menor tom de cor-de-rosa que lhe fizesse harmonia e contraste. A boca era pequena, e tinha uma certa expressão imperiosa. Mas a grande distinção daquele rosto, aquilo que mais prendia os olhos, eram os olhos; imaginem duas esmeraldas nadando em leite. (CF, 58) A personagem é descrita como plácida e virginal, de pele extremamente alva e * Doutora em Teoria e História Literária/Unicamp. 47 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 porte majestoso, sublinhada, sobretudo, pelo detalhe elegante da toalete e por seu tom escuro. Há uma considerável insistência em buscar nessa composição social da mulher a ressonância da simplicidade e da natureza, o que tende a marcar uma visão distorcida de sua beleza. A descrição sugere mesmo o “apagamento” da personagem se retirados os adereços da elegância.1 Não há, aqui, um único elemento que expresse vivacidade, até mesmo o “tom cor-de-rosa” é subtraído da composição da mulher. Talvez o “olhar romântico” de Mendonça conduza a imagem feminina para esse tom caricatural e frígido, como se ele estivesse a “descrever” a perfeição singela de uma deusa recatada e virginal, idealizando-a desde já. A atenção dada pelo narrador à sobriedade do vestido realça a alvura da pele da moça e serve para caracterizá-la como uma personagem romântica por excelência, espécie de símbolo da morte.2 Em nada Margarida se distancia da imagem inatingível de uma estátua bela e perfeita, mas ausente de vida. O olhar do narrador, associado ao de Mendonça, revela a imagem feminina como um simples objeto estético, “estatualizando-a”.3 Se a viúva não chega a ser de fato uma figura absolutamente frágil e delicada, está também longe da altivez de outras viúvas machadianas, por mais de que sua resolução amorosa a faça uma mulher determinada. Sua imagem está ainda muito presa a uma construção romântica e circunscrita a padrões morais bem limitadores, tanto que se ausentam, apesar da sugestiva nudez estatuária, quaisquer elementos de eroticidade. De modo geral, a imagem das heroínas românticas corrobora certas características de Margarida, já que elas são sempre “... graciosas, delicadas. O (...) rosto, espelho da alma, exprime tempestades interiores. Os sofrimentos do eu romântico traduzem-se nele por meio de uma palidez lânguida, que se apresenta, se possível, com cabelos negros, olheiras e uma nuvem de pó de arroz.” (KNIBIEHLER, s/d: pg. 352). De fato, Margarida é sugerida como uma mulher em crise, que se reflete tanto na palidez acentuada e nos gestos contraditórios quanto no isolamento e nas conseqüências físicas da tensão interior: dores de cabeça e moléstias passageiras.4 Luiz Filipe Ribeiro examina as heroínas de José de Alencar mostrando o quanto elas são idealizadas e puras, conforme as regras da escola romântica, a partir da 1 Esse aspecto pontua o elogio da beleza composta socialmente como traço de elegância de uma burguesia em ascensão: “essa beleza feita de busca, de meditação e de preparo constituiria para Baudelaire a ‘beleza moderna que pode surgir por intermédio do encanto convencional do artifício e da moda’. Ela seria mesmo uma característica central da modernidade...”, explica Georges Vigarello (2006: 106). 2 Em A Moreninha (1844), Augusto ironiza o esquema descritivo da mulher na literatura: “... que coleção de belos tipos!... uma jovem com dezessete anos, pálida... romântica e, portanto, sublime; uma outra, loira... de olhos azuis... faces cor-de-rosa... e ... não sei que mais; enfim, clássica e por isso bela...” (MACEDO, 1989: 13). 3 A descrição se assemelha muito à de Lívia, em Ressurreição, feita também pelos “olhos narradores” da personagem masculina, que a trata tal qual uma estátua, compondo idéias bem diversas. (OC, I, 130). 4 As moléstias da moça podem ser vistas como resultado do conflito entre sentimento e razão, intensificando a luta, e não como o enquadramento da personagem nos pressupostos da estética romântica. 48 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE dissociação ao casamento (e da perda da virgindade) e de sua distância dos seres humanos normais. Em Alencar o que há não são mulheres, são imagens de mulheres – como em qualquer ficção –, mas imagens idealizadas e distantes da chã e comezinha humanidade cotidiana. Suas heroínas, mesmo quando contraditórias, pairam num plano de idealização que as distancia dos seres humanos normais. Elas são convocadas a desempenhar um papel: serem exemplos de comportamento social aceitável e inatacável. Mesmo quando pecadoras, como nossa Lúcia, têm uma essência ética incorruptível que as fazem superiores à média cotidiana da vida real. (RIBEIRO, 1996: pg. 102). É possível, a partir das palavras de Ribeiro e de suas considerações a respeito do casamento nos romances românticos, observar que Machado enquadra e desloca ao mesmo tempo sua heroína das concepções românticas, fazendo com que esta lhe sirva (simultaneamente) de meio de adesão e crítica à escola. Isso ocorre porque da mesma forma que ele confere características tidas como românticas à sua personagem (idealização física e moral), a faz também viúva, com experiência amorosa (e sexual), distante, portanto, da imagem de pureza inacessível representada pela mulher no Romantismo. É certo que se Machado quisesse realmente enquadrar sua personagem nos estereótipos da mulher romântica, não a faria viúva e sim uma mocinha virginal, desconhecedora do mundo masculino e do casamento (e de suas obrigações práticas). Um ano antes da publicação de “Miss Dollar”, Machado trazia a público sua “Pálida Elvira” (1869), apresentando outra versão da figura feminina romantizada. Ao longo do poema, o escritor ironiza alguns tópicos da Literatura Romântica, dos quais destacamos a costumeira palidez das heroínas, atormentadas pelo amor. Não me censure o crítico exigente O ser pálida a moça; é meu costume Obedecer à lei de toda a gente Que uma obra compõe de algum volume. Ora, no nosso caso, é lei vigente Que um descorado rosto o amor resume. Não tinha Miss Smolen outras cores; Não as possui quem sonha com amores. (OC, III, pg. 70/1) Para Marisa Lajolo e Regina Zilberman, as ironias do poema não se dirigem nem à leitora comum, nem ao crítico especializado, mas àqueles que, “conhecendo as regras do gênero ultra-romântico sentimental e de aventuras, não mais acredita nelas, podendo então se distanciar o suficiente para se divertir com os efeitos obtidos por quem as critica e desconstrói.” (LAJOLO; ZILBERMAN, 1998: pg. 33). Esse procedimento de adesão crítica ao Romantismo aparece pontualmente nas primeiras narrativas escritas por Machado nas décadas de 1860-70, sobretudo quando relacionado à caracterização das personagens e de aspectos do 49 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 casamento. Ainda que “carregada” de alguns traços românticos, como os expressos na composição física de Margarida e de outras moças, a viúva é o tipo feminino mais comum na prosa de ficção machadiana.5 A freqüência dessa personagem acarreta, ao menos, duas conseqüências importantes para o texto: em primeiro lugar, rompe com o ideal de pureza inacessível da mulher, o que possibilita esmiuçar os detalhes íntimos da personagem e do casamento. Lúcia Miguel-Pereira concorda que essa predileção do autor aponta para uma “desvalorização da virgindade, da inocência, da pureza intocada, e, por extensão, da criança.” (MIGUEL-PEREIRA, 1958: pg. 2021). Isso parece realmente corresponder à verdade quando percebemos a freqüente “esterilidade” (biológica ou simbólica) da viúva na obra machadiana, como no caso em que as “mães viúvas” anulam a existência dos filhos, ora mandando-o à guerra (Iaiá Garcia), ora destinando-o ao sacerdócio (Dom Casmurro). A segunda conseqüência da utilização da viúva – talvez mais importante – refere-se a uma maior dinamização da mulher na trama. Silviano Santiago observa, a esse respeito, que esta é a personagem feminina mais carregada de dramaticidade, pois tendo experimentado a razão e o sentimento, só ela é que pode, diante de um novo pretendente, viver o dilema em toda sua extensão. Tem a possibilidade de escolha: ou a fidelidade ao defunto (crença no casamento, razão, é superior ao sentimento, amor) ou a aceitação de novo marido (a crença no amor, sentimento, é superior ao casamento, razão). (SANTIAGO, 1978: p. 34). A dramatização do dilema matrimonial torna mais complexa a personagem feminina, dando-lhe o direito de escolha de sua inserção (ou não) no mundo masculino do casamento e da família. Essa liberdade teórica potencializa o poder de ação feminino, possibilitando além da anulação do jugo social (do pai e do marido), a capacidade de gestão e influência sobre a vida de outros, como é o caso da “viúva patriarcal”.6 Mas é preciso observar que as considerações feitas por Silviano Santiago não se encaixam perfeitamente na configuração inicial da viúva em “Miss Dollar”, justamente porque a recusa a um novo casamento não equivale em crença na instituição, mas o contrário. Por não acreditar no casamento (e nos acordos que levam a ele) é que Margarida nega seu possível papel 5 Essa “fórmula” será tão usual na ficção machadiana que seus primeiro e último romances exploram a temática: Lívia (Ressurreição) – personagem irmanada a Margarida – é uma espécie de esboço da situação amorosa de Fidélia (Memorial de Aires), sendo invertidos de uma narrativa para a outra os elementos que caracterizam o final irônico de cada uma das viúvas. 6 Chamamos aqui de “viúva patriarcal” aquela que depois da morte do marido assume o papel de “chefe de família”, velando pelos seus interesses e tendo autoridade sobre seus membros. São os casos de Valéria, de Iaiá Garcia (1878), D. Antônia, de “Casa Velha” (1885/6) e D. Glória, de Dom Casmurro (1899). Para maiores informações ver os respectivos ensaios de GLEDSON, 1986 e 1991; SCHWARZ, 1977 e STEIN, 1982. 50 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE conjugal. De certo modo, a negativa da viúva a um novo enlace é deslocada dos pólos crença e descrença na instituição, servindo como forma de revelar os dissabores femininos quanto aos modos de constituição do casamento na sociedade brasileira oitocentista. A imagem distanciada e inacessível da moça vai se arrefecendo ao longo do conto, sem que o narrador deixe de realçar sua contenção gestual e emocional: Margarida parecia indiferente às interpretações do mundo como à assiduidade do rapaz? Seria ela tão indiferente a tudo mais neste mundo? Não; amava a mãe, tinha um capricho por Miss Dollar, gostava da boa música, e lia romances. Vestia-se bem, sem ser rigorosa em matéria de moda; não valsava; quando muito dançava alguma quadrilha nos saraus a que era convidada. Não falava muito, mas exprimia-se bem. Tinha o gesto gracioso e animado, mas sem pretensão nem faceirice. (CF, 66). Sua descrição é mediada pelo equilíbrio e pelo bom senso. A pouca adesão aos hábitos sociais e mundanos marcam definitivamente a imagem da viuvez perpetuada e se harmonizam bem com a recusa a um novo casamento, realçando (no plano das aparências) a fidelidade feminina. O mundo sentimental da moça centra-se em alguns caracteres que, não por acaso, estão ausentes na narrativa: não sabemos nada a respeito da mãe da personagem ou sobre seus dotes musicais. O romance, no entanto, está em destaque. Evidentemente, a leitura é o meio encontrado pela moça de se isentar das emoções reais, partilhando com personagens fictícias as sensações amorosas que nega a si mesma. À medida que seu amor por Mendonça se intensifica (e a corte masculina se torna mais “agressiva”), ela se agarrará ao mundo dos livros: - É verdade que a prima também lá anda com livros, e não creio que pretende ir à câmara. - Ah! sua prima? - Não imagina; não faz outra cousa. Fecha-se no quarto, e passa os dias inteiros a ler. Informado por Jorge, Mendonça supôs que Margarida era nada menos que uma mulher de letras, alguma poetisa, que esquecia o amor dos homens nos braços das musas. A suposição era gratuita e filha mesmo de um espírito cego pelo amor como o de Mendonça. Há várias razões para ler muito sem ter comércio com as musas. - Note que a prima nunca leu tanto; agora é que lhe deu para isso, disse Jorge ... (CF, 70/1). Conquanto o narrador tente nos convencer de que a leitura excessiva de Margarida nada tem a ver com o assédio firme de Mendonça; fica claro, nas palavras de Jorge, que o ato feminino é o deslocamento de suas emoções para a vivência vicária das impressas pelos romances, justificada exatamente pela introdução da figura masculina em seu mundo. Não se trata aqui de “comércio com as musas”, mas de uma maneira encontrada pela viúva de “domesticar” o sentimento amoroso 7 As palavras finais de Jorge enaltecem a distinção do amor da moça, revelando-o mais forte que o atribuído aos outros pretendentes. A mesma distinção marca o amor da personagem masculina: “A ausência diminui as paixões medíocres e aumenta as grandes como o vento apaga as velas e atiça as fogueiras” (CF, 65). O empréstimo de La Rochefoucauld revela a intensidade do amor do moço e marca também sua predileção pela “prevenção literária”. 51 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 despertado por Mendonça.7 É digno de nota o modo como o narrador ironiza a conclusão do médico, mesmo sabendo-a, em parte, verdadeira, pois o comércio de Margarida é com a prática romântica dos diários íntimos – uma forma também de se adequar à experiência poética e literária. A atitude da moça é arriscada, já que o clima romântico das histórias de amor poderia levá-la a romper de vez com a lógica celibatária imposta pela razão. Mas se a viúva permanece resoluta em seu propósito até o final do conto, é que certamente a leitura cumprira suas funções, servindo como uma estratégia de domesticação dos sentimentos amorosos, seja por meio da experiência vicária, seja pela imitação de artifícios das personagens literárias como a escrita do diário. Se Margarida é uma leitora voraz por que, ao longo do conto, não são citados os livros lidos por ela? E como podemos afirmar que se tratam, de fato, de romances? O narrador, numa estratégia de generalização, nos aponta a existência do mundo romanesco na vivência da moça por meio de algumas informações difusas (e complementares): sua predileção por romances; isolamento no quarto quando lê; a escrita de um diário – imitação das heroínas romanescas –; aspectos que sugerem uma leitura intensiva e que derivam uma série de atitudes associadas ao romance. Mas como se comporta uma leitora de romances e quais são os efeitos que estes produzem nela? Se em “Miss Dollar” Machado ensaia sutilmente a pergunta, ele mesmo nos dá a resposta em outro conto, escrita provavelmente anos antes das práticas de leitura de Margarida. O interessantíssimo fenômeno é caracterizado em “O anjo das donzelas” (1864): Cecília lê um romance. É o centésimo que lê depois que saiu do colégio, e não saiu há muito tempo. Tem quinze anos (...). Que ela lê neste momento? Não sei. Todavia deve ser interessante o enredo, vivas as paixões, porque a fisionomia traduz de minuto a minuto as impressões aflitivas ou alegres que a leitura lhe vai produzindo. Cecília corre as páginas com verdadeira ânsia, os olhos voam de uma ponta da linha à outra; não lê; devora; faltam só duas folhas, falta uma, falta uma lauda, faltam dez linhas, cinco, uma... acabou. Chegando ao fim do livro, fechou-o e pô-lo em cima da pequena mesa que está ao pé da cama. Depois, mudando de posição, fitou os olhos no teto e refletiu. Passou em revista na memória todos os sucessos contidos no livro, reproduziu episódio por episódio, cena por cena, lance por lance. Deu forma, vida, alma, aos heróis do romance, viveu com eles, conversou com eles, sentiu com eles. (CA, 11). O comportamento da menina sugere não só sua completa deserção da realidade, mas também uma estranha identificação com o mundo do romance, como se personagens e cenários fizessem parte de sua própria vivência. Não é difícil perceber que a cena, minuciosamente descrita aqui, é um reflexo do que pode ocorrer com Margarida em sua própria leitura. Aquilo que no quarto da viúva estava vetado ao leitor, é desvelado por Machado em “O anjo das donzelas”. Nesse sentido, um conto serve de complemento ao outro, revelando detalhes aos quais temporariamente não temos acesso. Os sentimentos de evasão e compensação 52 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE encenados por Cecília são, certamente, os mais evidentes quando se trata dos possíveis efeitos da leitura de romances, considerados por muitos críticos e detratores do gênero como nocivos, sobretudo às mulheres, “ordinariamente governadas pela imaginação, inclinadas ao prazer, e sem ocupações sólidas que as afastassem das desordens do coração.” (ABREU, 2003: p. 79). A adolescente que se entrega à leitura de romances – mas a poesia pode ser igualmente perniciosa – renega a sua inocência original e fabrica para si mesma um paraíso artificial. Todavia, esta antecipação da vida através dos romances não é em nada comparável, aos olhos de alguns, à nocividade, ou mesmo à perversidade, que pode levar uma mulher (mal) casada a abusar da leitura romanesca. Madame Bovary pertence a todas as províncias e todos os países. O livro, simples instrumento de evasão, torna-se então ersatz, fuga face ao quotidiano e fim da tranqüilidade doméstica. A sociedade está em perigo, porque a leitora não cumpre nem o seu ofício de esposa e de mãe, nem a sua missão de mulher, portanto evadir-se, portanto escapar às contingências, às normas e às convenções; é fazer exactamente o contrário do que é permitido a uma mulher na (boa) sociedade do século XIX. (HOOKE-DEMARLE, s/d: p. 181). O efeito de evasão é justamente o que fica sugerido no comportamento de Margarida, que se utiliza da leitura como meio de alcançar outras vivências, não possíveis, segundo crê, de se realizar com os homens de carne e osso e por meio do casamento. Aliás, as palavras acima parecem descrever a própria experiência da viúva, ressaltando as negativas da moça quanto aos papéis femininos conjugal e materno. Ironicamente, os críticos do gênero teriam razão: o romance é mesmo um perigo social! A descrição do efeito evasivo e o comportamento de Cecília ajudam a evidenciar melhor o material lido por Margarida, especialmente se insistirmos na idéia de tentativa de domesticação dos sentimentos femininos. Por outro lado, é possível pensar que o narrador ausentando os livros lidos pela personagem8 dispõe seu leitor ao uso da imaginação e afirma a crença de que este sabe bem de que material se trata: apela, nesse sentido, para o arsenal de leitura do próprio leitor.9 Não é à toa que Machado, via seu narrador, introduz seu conto buscando alcançar um perfil de seu público e da experiência de leitura deste na identificação de Miss Dollar. Se o jogo de adivinhação serve para encenar uma atitude narrativa exclusiva, sugere também a ligação entre autor e leitores e seus gostos literários, 8 Apenas um dos autores é citado: George Sand (escritora do século XIX que adotou o pseudônimo masculino), que serve a Mendonça como espécie de pombo correio. “... Mendonça meteu a carta dentro de um volume de George Sand, mandou-o pelo moleque a Margarida.” (CF, 67). Poderia ser Lélia (1833)? Nesse romance, a escritora “cria um personagem feminino que se assemelha aos heróis românticos masculinos. Sua aparente insensibilidade corresponde a uma vontade de defender-se da emotividade para não ser fraca, mas, destinada à incapacidade de sentir e de amar, a forte Lélia sofre tragicamente por ser diferente das outras mulheres.” (VICENT-BUFFAULT, 1988: 181). 9 Vale aqui acrescentar as já conhecidas experiências do menino Alencar, como espécie de símbolo do público leitor do século XIX: “Nosso repertório romântico era pequeno; acompanha-se de uma dúzia de obras, entre as quais primavam a Armanda (sic) e Oscar, Saint-Clair das Ilhas, Celestina e outros de que já não me recordo. Esta mesma escassez, e a necessidade de reler uma e muitas vezes o mesmo romance, quiçá contribuiu para mais gravar em meu espírito os moldes dessa estrutura literária, que mais tarde deviam servir aos informes esboços do novel escritor.” (ALENCAR, 1959: 134). 53 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 mesmo que para criticá-los implicitamente, a propósito dos padrões femininos que suscitam. Aliás, essa crítica não reporta somente aos hábitos de leitura de seu público, mas estende-se também às suas próprias “personagens-leitoras” e a seus equívocos de interpretação. Para Silvia Azevedo, essa atitude crítica do narrador de “Miss Dollar” tenciona fazer com que o leitor tome consciência da forma como se relaciona com a literatura, ou seja, através de clichês. Daí que a função do narrador (...) é a de desautomatizar sua relação com a literatura. Por isso mesmo, Miss Dollar é concebida na perspectiva de frustrar as expectativas do leitor. (AZEVEDO, 1990: p. 230-231). Parte do processo de adensamento sentimental se fará, portanto, mediado pela leitura de romances e dos exemplos advindos de suas personagens femininas a propósito da prática da escrita: “D. Antônia contou a Mendonça que, curiosa por sabe a causa das vigílias de Margarida, descobrira no quarto dela um diário de impressões, escrito por ela, à imitação de não sei quantas heroínas de romances...” (CF, 75). Com a estratégia de imitação a viúva pode revelar seu drama, deslocando suas forças amorosas tanto para a leitura de romances quanto para o exercício da escrita. O diário, mas do que qualquer meio de expressão, tem a função de servir de depositário de suas emoções, selando seu limite com o mundo exterior e, não por acaso, foi prática corrente das mulheres do século XIX. O diário íntimo é outra afirmação de si mesma. (...) ... a diarista se exercita na meditação, na descoberta de si mesma, na introspecção (...). As jovens exprimem a sua angústia face ao futuro, ou a sua revolta, o seu desejo de independência (...). Quando mulheres adultas se mantêm fiéis ao seu diário é frequentemente para preencher uma espécie de vazio interior, para recuperar dias que se escoam sem deixar rasto... (KNIBIEHLER, s/d: p. 383-384).10 Margarida transforma, assim, o ato da escrita (confissão amorosa) e da leitura de romances em instrumentos de catarse, satisfazendo provisoriamente seu desejo a partir da simulação amorosa. A personagem leitora na ficção inicial de Machado parece antever este propósito em relação à literatura, sublinhando uma espécie particular de leitura que se irmana à vivência existencial. Os livros (e a escrita decorrente dos hábitos de leitura) são alçados a substituir ou oferecer outra vida às personagens, sendo em muitos momentos a única forma de aprendizagem possível. É revelador o fato de que, em “Miss Dollar”, Machado construa sua personagem feminina silenciosa e que apenas no acesso à leitura e à escrita ela “fale” ao leitor. Mesmo assim, suas atitudes comunicativas não são apontadas pelo narrador, mas por outras personagens: a leitura é tarefa do primo, a escrita, da tia. Margarida é, apesar dos inúmeros esforços do escritor de “modernização” da mulher, uma M. Perrot lembra que a escrita dos diários íntimos era uma prática “recomendada para as moças por seus confessores, e mais tarde pelos pedagogos, como meio de controle de si mesmas...”. (PERROT, 2005: 35). 10 54 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE personagem tradicional, em que a postura normal “é a escuta, a espera”; e o silêncio, “imposto pela ordem simbólica, não é somente o silêncio da fala, mas também o da expressão, gestual ou escriturária.” (PERROT, 2005: pg. 10). Esse silêncio feminino no conto revela, no entanto, outras formas de expressão, das quais o diário é evidentemente a mais importante, apesar de inexistir textualmente na história. É um meio velado de dar voz à mulher sem que seja necessário transformá-la em narradora de sua própria história. Parece mesmo que Machado está dramatizando a experiência do silêncio feminino, e o fato do diário existir como objeto, mas não ser “lido” diretamente pelo leitor, expõe de maneira clara o apagamento social da mulher no século XIX. Assim, se “a narrativa histórica tradicional lhes dá pouco espaço, justamente na medida em que privilegia a cena pública (...) onde elas aparecem pouco” (PERROT, 2005: p. 33), é a literatura (e a prática imitadora de suas leitoras), em contrapartida, que abre as portas para os dramas pessoais e para a memória privada da mulher. Os segredos desvelados pela leitura parcial do diário da viúva referem-se tanto à existência do desejo feminino quanto à razão particular de sua recusa ao amor. O diário lido furtivamente por D. Antônia abstém os detalhes da união frustrada, mas evidencia o interesse econômico do homem. Se essa associação entre matrimônio e patrimônio é um dos motivos da frustração amorosa da mulher, a tensão levará Machado a compor uma imagem feminina duplicada entre a realidade do casamento (conveniência e interesse) e sua idealização através das imagens amorosas vindas da literatura. Diante das perguntas de Mendonça sobre o primeiro casamento, a viúva mente e anula a possibilidade de um passado negativo. Mas por quê? Trata-se, em primeiro lugar, de um assunto íntimo, só possível de ser abordado no diário. Ademais, a confissão da viúva revelaria ao homem estratégias capazes de dissuadila de sua resolução sentimental. A estagnação emocional da mulher em “Miss Dollar” deve-se à sua própria incapacidade de lidar com a experiência passada, transformando-a, de maneira radical, em combate ao amor. O valor da experiência realça aí a imaturidade emocional da personagem,11 que se aprisiona na razão (e na atribuição financeira do casamento) e reproduz a mesma visão negativa que associa ao mundo masculino que tanto condena: “... Margarida adquiriu a certeza de que nunca será amada por si, mas pelos cabedais que possui...” (CF, 75). Se por um lado, Machado se preocupa, em “Miss Dollar”, com os limites tênues entre casamento e interesse e escolhe uma viúva rica e bonita para movimentar a trama e a ambição masculina; por outro, utiliza a experiência frustrada dessa mulher para romper com a lógica da acomodação feminina ao casamento, isto é, com a ideia de que a realização integral da mulher se dá através do desempenho dos papeis conjugal e materno. A decisão de Margarida revela essencialmente sua insatisfação emocional em relação ao marido e, logo, sua negativa à acomodação aos valores vigentes do contrato matrimonial. Em certo sentido, a figura “romantizada” e “silenciosa” da heroína machadiana abre caminho para a 11 Machado se aproveitará desse tema para compor outra personagem, agora masculina, em “A segunda vida”, de Histórias sem data/1884, elaborando a idéia da experiência como não aprendizagem. 55 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 construção de uma nova imagem feminina, distante dos padrões sociais da época e da própria literatura. Se o casamento arranjado é uma regra que quase sempre rege os contratos matrimoniais; Margarida revela com sua resistência amorosa todo o seu inconformismo e inadequação a essas condições. As lacunas femininas existentes em relação a este tipo de casamento modelar são preenchidas pela recusa da moça ao amor comprado, distante dos ideais amorosos propostos pelos “romances sentimentais e românticos”, onde o “verdadeiro” amor ocorre por meio de afetos recíprocos e passa longe de acordos econômicos e sociais. São duas as principais idéias de amor veiculadas pela literatura da época: a impossibilidade amorosa – normalmente mediada pela intervenção da morte e do trágico – ou seu inverso, o amor que vence tudo e todos, “vence sobretudo o interesse econômico no casamento.” (D´INCAO, 2002: p. 234). Se observarmos, por exemplo, o enredo excessivamente romanesco de uma das leituras clássicas do século XIX, Amanda e Oscar (1796) – livro que emocionou a família do menino Alencar –, vamos encontrar a idéia de que apenas o sentimento verdadeiro é capaz de triunfar sempre, até mesmo sobre os preconceitos sociais e econômicos mais ferrenhos.12 É possível pensar que a leitura desses romances poderia ajudar Margarida a insistir na negação do amor, já que “as histórias de heroínas românticas, langorosas e sofredoras (...) [acabariam] por incentivar a idealização das relações amorosas e das perspectivas de casamento” (D´INCAO, 2002: p. 229), já conhecidas pela viúva. Lidando com expectativas muito superiores às existentes no mundo real, a mulher inexperiente no amor se deixaria levar, assim, pelas ambições amorosas veiculadas pelos romances, transformando ideais romanescos em frustração, diante da realidade do casamento, ou convertendo-os, através de um processo vicário da leitura, em negação dessa própria realidade insatisfatória. Essa equação desequilibrada só parece apontar para a insatisfação feminina, pois é possível se perguntar até quanto a mulher (...) conseguiu realizar os sonhos prometidos pelo amor romântico tendo de conviver com a realidade de casamentos de interesse ou com a perspetiva de ascensão social? Depois de tantas leituras sobre heroínas edulcoradas, depois de tantos suspiros à janela, talvez lhe restasse a rotina da casa, dos filhos, da insensibilidade e do tédio conjugal... (D´INCAO, 2002: p. 236). Já conhecedora da realidade matrimonial, Margarida não quer reproduzir a existência frustrada de seu primeiro casamento, muito distante da afetividade O romance é resumido por Marlyse Meyer assim: “... o romance narra, sob emocionante fundo de fantasmas, abadias, ruínas, noites escuras, raptos, perseguições, a dupla corrida da sensível e perseguida heroína, que foge do vil sedutor Belgrave e procura seu desaparecido irmão, Oscar, destituídos ambos de seus legítimos bens; criados por pai plebeu e bom, órfãos de mãe, a young lady, quando finalmente refugiada no humilde e bucólico cottage da ama, situado nas terras do belo e rico lord Mortimer, tem a virtude de recusar o amor do dito lord, já que ‘só trazia a vulgar honradez dos plebeus’ e era, provisoriamente, pobre. Final feliz quando recobra a fortuna e pode revelar que também é nobre, por parte de mãe: a lady Malvina que morrera infeliz, justo castigo para quem desobedecera os pais, tivera o mau gosto de se apaixonar e casar escondida com um homem bom, mas plebeu de nascença.” (MEYER, 2001: 55). 12 56 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE espontânea desejada pela mulher e idealizada pelos romances. É preferível não ceder a essa ilusão romanesca, negando a vivência conjugal, mas vivenciando o amor de modo menos perigoso e traumático através da leitura. É o mesmo procedimento adotado por Cecília, a mocinha devoradora de romances que vimos páginas atrás. Cecília só conhecia o amor pelos livros. Nunca amara. (...) O pressentimento natural e as cores sedutoras com que via pintado o amor nos livros, diziam-lhe que devia ser uma coisa divina, mas ao mesmo tempo diziam-lhe também os livros que dos mais auspiciosos amores pode-se chegar aos mais lamentáveis desastres. Não sei que terror se apoderou da moça; apoderou-se dela um terror invencível. O amor, que para as outras mulheres apresenta-se com aspecto risonho e sedutor, afigurou-se a Cecília que era perigo e uma condenação. A cada novela que lia mais lhe cresciam os sustos, e a pobre menina chegou a determinar em seu espírito que nunca exporia o coração a tais catástrofes. (CA, 11/2). Se Cecília sela um contrato consigo mesma de não ceder às paixões veiculadas pelos romances; não se dispõe, no entanto, a deixar de lê-los, consumindo diariamente uma boa dose de idealização romântica e, também, seu antídoto (a realidade). A literatura, aqui, tem uma dupla e contraditória função, pois ao mesmo tempo em que funda imagens amorosas ideais, também as combate. Cecília evidencia, assim, o procedimento (secreto) adotado por Margarida, já que em momento algum de “Miss Dollar” o narrador nos põe em contato direto com os pensamentos reais da moça em relação a Mendonça: são apenas os aspectos objetuais (a leitura de romances e o diário) e o exílio voluntário para a roça que nos sugerem a correspondência amorosa entre as personagens. O diário, nesse sentido, é a única forma de penetração mais direta no universo íntimo da mulher e se dá de maneira velada e às escondidas pela própria tia da moça. Como vemos, os desejos e aspirações amorosas da viúva têm que ser arrancados à força dela, sugerindo, via o ato violento da tia, a agressividade moral da conquista e “violação” masculina finais (invasão do quarto da moça). As duas personagens, cada uma ao seu modo, violam os direitos femininos, abstendo Margarida, ela mesma, de ceder ao mundo sentimental. Não é por acaso que as duas personagens invasoras se comportam de modo semelhante em relação à moça, invadindo-lhe o quarto, lugar de intimidade e de vazão particular dos sentimentos. A própria divisão dos espaços da casa, no conto, sugere uma necessária duplicidade feminina, já que os externos e públicos (sala de jantar e de visitas) dão margem a um receituário comportamental básico, onde a mulher não pode revelar seus sentimentos e deve, em nome da boa educação, aprisioná-los. Já a alcova, espaço feminino por excelência, funciona como local adequado às “manifestações mais íntimas das personagens. (...) Enquanto nas salas desenvolviam-se as cortesias e usava-se a máscara, na alcova desenvolviase a imaginação e eram feitas as revelações”. (LEITE; MASSAINI, 1989: p. 7576). É isolada no conforto íntimo do quarto que a viúva se refugia na leitura dos romances e na escrita do diário. A leitura para a moça serve não apenas para o 57 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 preenchimento do ócio13 – atitude comum às mulheres oitocentistas da elite –, mas funciona, sobretudo, como espécie de válvula de escape, deslocadora de seus sentimentos reais em relação à figura masculina e um modo particular de educação emocional. Referências bibliográficas ABREU, Márcia. A leitura do romance; A leitura das Belas-Letras. Os caminhos dos livros. Campinas/SP: Mercado de Letras, ALB; São Paulo: Fapesp, 2003. ALENCAR, José de. Como e porque sou romancista. Obra completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1959. (volume I). ASSIS, Joaquim Maria Machado de. Contos Fluminenses. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: INL, 1977. _____. Histórias da meia noite. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: INL, 1977. _____. Obra Completa. COUTINHO, Afrânio (org.). Rio de Janeiro: Ed. Nova Aguilar, 1997. (Volumes I, II e III). _____. “O anjo das donzelas”. Contos Avulsos. MAGALHÃES JR., Raimundo (org.). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1956. AZEVEDO, Sílvia Maria. A trajetória de Machado de Assis: do Jornal das famílias aos contos e histórias em livro. São Paulo: USP, 1990. (Tese de doutorado). D´INCAO, Maria Angela. Mulher e família burguesa. In: DEL PRIORE, Mary (org.); BASSANEZI, Carla (coord. de textos). História das mulheres no Brasil. 6ª ed. São Paulo: Contexto, 2002. GLEDSON, John. Machado de Assis: impostura e realismo. Trad. Fernado Py. São Paulo: Companhias das Letras, 1991. _____. Machado de Assis: ficção e história. Trad. Sônia Coutinho. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. HOOKE-DEMARLE, Marie-Claire. Ler e escrever na Alemanha. Trad. Egito Gonçalves. In: DUBY, Georges; PERROT, Michelle (direção). História das Mulheres no Ocidente: o século XIX. Porto: Edições Afrontamento; São Paulo: Ebradil, s/d. LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. A construção do leitor; A leitura no banco dos réus. A formação da leitura no Brasil. 2ª ed. São Paulo: Ática, 1998. LEITE, Míriam Moreira; MASSAINI, Márcia Ignez. Representações do amor e da família. In: D´INCAO, Maria Angela (org.) Amor e família no Brasil. São Paulo: Contexto, 1989. KNIBIEHLER, Yvonne. Corpos e corações. Trad. Egito Gonçalves. In: DUBY, Georges; PERROT, Michelle (direção). História das Mulheres no Ocidente: o século XIX. Porto: Edições Afrontamento; São Paulo: Ebradil, s/d. “O público leitor, por excelência, era o feminino. Primeiro porque o romance – como a literatura, de modo geral – encontra seu espaço, em nossa sociedade aristocrática e iletrada, no lazer das mulheres das classes altas. Os homens estão voltados para seus negócios; as mulheres, ociosas, precisam encontrar formas de preencher seu tempo, já que o trabalho doméstico está a cargo das escravas, que não entram na história...”. (RIBEIRO, 1996: 57). 13 58 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE MACEDO, Joaquim Manuel de. A moreninha. 17ª ed. São Paulo: Ática, 1989. MEYER, Marlyse. Mulheres romancistas inglesas do século XVIII e romance brasileiro; Estações. Caminhos do imaginário no Brasil. 2ª ed. São Paulo: EDUSP, 2001. MIGUEL-PEREIRA, Lúcia. Relações de família na obra de Machado de Assis. In: Revista do Livro. Rio de Janeiro: ano III, setembro de 1958, n.º 11. PERROT, Michelle. As mulheres ou os silêncios da história. Trad. Viviane Ribeiro. Bauru/SP: EDUSC, 2005. RIBEIRO, Luis Filipe. Mulheres de papel: um estudo do imaginário em José de Alencar e Machado de Assis. Niterói: EDUFF, 1996. SANTIAGO, Silviano. Retórica da verossimilhança. Uma literatura nos trópicos. São Paulo: Perspectiva/Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, 1978. SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas. São Paulo: Duas Cidades, 1977. STEIN, Ingrid. Figuras femininas em Machado de Assis. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. VICENT-BUFFAULT, Anne. História das lágrimas: séculos XVIII e XIX. Trad. Luiz Marques e Martha Gambini. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. VIGARELLO, Georges. A beleza “desejada” (século XIX). História da beleza. Trad. Léo Schlafmn. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006. Abstract: This article analyzes the aspects of composition of the main feminine character of the short story “Miss Dollar”, by Machado de Assis, arguing the role of literature for the sentimental formation of the machadian woman. Keywords: Feminine character, literature, sentimental education. Recebido em 13/05/2009. Aprovado em 1/06/2009. 59 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE 60 Junho de 2009 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Volume 4 ◦ Número 1 Joaquim Cardozo, crivo e deserto ENSAIO Manoel Ricardo de Lima* Resumo: O artigo apresenta o procedimento de Joaquim Cardozo com o poema através de uma idéia da linguagem como imagem desviante, aberta, a partir da imagem do crivo, para cumprir o seu próprio deserto. O artigo parte do pensamento crítico de Joaquim Cardozo e de um poema seu intitulado Prelúdio e Elegia de uma Despedida, publicado pela primeira vez em 1952, num livro chamado TRIVIUM, para verificar as relações de sua poesia com esta questão. Palavras-chave: Poema, deserto, espaço, experiência, Joaquim Cardozo No trem, pelo deserto Mário Faustino Um Joaquim Cardozo diz numa entrevista de 1971, comentando sobre as possibilidades gráficas de se compor um poema, que tinha alguns poemas que se desenhavam como árvores, árvores lógicas, tecidos, favos, crivos etc. Diz que partia de uma palavra, abria ramos nela e provocava a leitura da esquerda para a direita, de baixo para cima, da direita para a esquerda, de cima para baixo; diz também que isto era “um fenômeno a que já aludi, quando surgiu o Concretismo”. Que, com isso, acreditava apresentar, então, “a possibilidade de se ler um poema como se vê uma pintura: não se pode vê-la toda de uma vez. Ela é percorrida pela vista e assim a pessoa pode seguir para a direita, para a esquerda, percorrê-la em todos os sentidos.” Acrescenta dizendo que um poema pode ser feito assim, “usando-se árvore ou tecidos” e que “nos tecidos como nas árvores, a leitura não é linear. Há outras maneiras, como crivos ou grafos. Os grafos poderão ser como uma rede de linhas ligadas por pontos ou nós.” O fato é que Joaquim Cardozo aponta para um devir do poema como uma preocupação a uma outra proposição do espaço, outra concepção de pensamento do espaço, através de uma idéia do deserto, que se engendra no tempo, como um crivo que coloca em jogo o destino dos homens no mundo, pelo deserto. O deserto como um espaço intensivo de distâncias e sem medidas, o Spatium intenso em vez de Extensio – como uma paisagem íntima de afecções para interromper a catástrofe, para interromper a história. O crivo, a que se refere Joaquim Cardozo, é o que recupera a imagem de uma peneira, ou de um escoador, daquilo que vaza pelos furos. Um dos maiores * Doutor em Literatura UFSC. 61 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 impasses do poema de Joaquim Cardozo é armar um ponto furo na imagem. E isto tem a ver diretamente com a imagem do crivo, que é uma espécie de labirinto; ou seja, um espaço informal, aberto, contingente, como aquilo que ocupa o espaço liso, como as intensidades, os ventos e ruídos, as forças e as qualidades tácteis e sonoras que, por exemplo, atravessam um deserto, como superfície, como território íntimo e como lugar sem. O crivo tem a ver também com o labirinto das rendas que são feitas no Agreste, em quase todo o Nordeste, porque os principais fios usados na produção deste artesanato das rendeiras são provenientes do algodão, e as peças são feitas a partir do fio que é trançado no labirinto ou no crivo, o fio precisa vazar o tecido para ser visto. Com o tempo, as rendeiras que trabalham com o labirinto, são acometidas de cegueira devido ao branco alucinatório do tecido e desse movimento repetitivo dos fios que escoam. Assim, a partir do crivo, ao comentar uma retrospectiva de Goeldi, no MAM do Rio de Janeiro, em 1958 (Para Todos: Rio de Janeiro, São Paulo, v. 1, n. 11, p. 9, 2ª quinz. out. 1956), Joaquim Cardozo diz que reconhece o esforço de alguns que buscam reformar a gravura, que não se coloca como os que detestam as gravuras à feição de Jean Michel Papillon ou Thomas Bewich – de fins do século XIX – nem muito menos dos que negam todo o merecimento ao Holzstich, ou seja, dos que são contra o uso de madeira dura (que precisa ser tratada pelo buril) e a favor de uma mais branda e fácil de cortar; mas isto é apenas para dizer que compreende a importância de um impulso generoso para uma nova espacialidade: “reconheço nesta as qualidades originais de uma ‘espacialidade’ que não existia nas gravuras de época anteriores”, muito por causa do uso do “cunho, o sinete da matéria: a reprodução das próprias linhas e nervuras da madeira, certos amortecimentos e turvações de colorido, motivados pela complacência das células vegetais”. Estas turvações, para Joaquim Cardozo, comparecem nas gravuras de Goeldi, por exemplo, de uma maneira que interessa particularmente ao seu poema, como “se na atmosfera pairasse uma névoa seca, envolvendo, abrumando o espaço, e tornando as cores mais amortecidas, em virtude do deslocamento das raias do espectro luminoso”. Em diante, aponta para uma impressão que vem provocada como segredo, o que ele diz ser o segredo dos pontos, das linhas, e das superfícies das coisas interiores e pesadas, “das coisas inertes que fazem cansar e adormecer, e que repousam no seio de vizinhanças permanentes, ou então mergulhadas no sono de contigüidades tão íntimas e ilimitadas, tão próximas e infinitas como se fossem os ‘números surdos’ de um espaço mágico constituído de sombra benfazeja e luz corrompida”. Muito próximo a imagem do crivo e seu efeito no olho das rendeiras. Depois, chama atenção para o que na gravura de Goeldi é seu próprio interesse, como uma poética de um espaço de sombras, ao dizer que ela carrega o silêncio das casas desertas, da chuva, do vento, o silêncio deserto da vida, uma aceitação cordial do silêncio e do deserto da vida: Nem tudo, porém, é noite – noite cósmica – na obra de Goeldi, mas está quase tudo inscrito numa lousa escura, tudo nos vem refletido do fundo negro de um poço, em linhas e crispamentos de luz fugidia: manhãs de pescadores, raios ardentes de meios-dias, 62 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE caminhos abandonados, pátios de casas solitários. Em tudo há o silêncio, há um silêncio na chuva e no vento, há um “silêncio no mar”, e ainda tudo é deserto; há o silêncio das casas desertas, há o silêncio deserto da vida, mas em tudo há também uma aceitação cordial, aceitação do silêncio e do deserto da vida. A sua atitude diante do mundo não é de luta e revolta, mas também não é a do vencido e desesperado. Oswaldo Goeldi sentiu tão bem como seu amigo Alfredo Kubin a poesia das casas fechadas e dos pátios desertos, e é esta a aproximação mais sensível entre o artista alemão e o gravador brasileiro. A questão de Joaquim Cardozo aponta em Goeldi é a sua própria: o quanto o deserto se fulgura como aquilo que não é uma imagem, que não é apenas um sentido para o sentido, mas sim também uma ambivalência no espaço da forma, como informe, como forma formante (expressão sua), como uma contingência que interfere radicalmente nas brechas de uma geografia do ser, como um crivo. O deserto, se é um espaço aberto para as oscilações das formas de linguagem, é também um espaço aberto para a aventura com a linguagem, uma imposição de uma presença na ausência do sentido para que através de uma penumbra poética, como uma política para o confim e para o comum, uma presença na ausência do ser-no-mundo. O poema, para Joaquim Cardozo, se arma como um começar no instante em que a palavra, como imagem desviante, a do crivo, se lança em sua mais dolorosa impotência e no ponto mais crítico de sua inoperância: no deserto da linguagem. Como uma volta em torno da questão de Joaquim Cardozo, é possível pensar com Deleuze quando ele diz que no deserto não se enxerga de longe, que não se enxerga o deserto de longe, que nunca se está diante do deserto e, tampouco, se pode estar dentro dele. Deleuze lembra Cézanne, que falava da necessidade de perder-se sem referência: para pintar um campo de trigo, ficar muito próximo dele a ponto de não vê-lo mais. Perder-se sem referência é mover-se num espaço liso que por sua vez se move e faz mover um espaço estriado, o que detém a medida das coisas no mundo. Deleuze diz ainda que se pode recuar em relação às coisas, mas que não é um bom pintor aquele que recua do quadro que está pintando: “Um quadro é feito de perto, mesmo que seja visto de longe” (DELEUZE, 1997, p. 204) Assim como para o escritor, acrescenta, é possível escrever com uma memória curta, mas se presume que o leitor seja dotado de uma memória longa. Conclui dizendo então que a maneira de enxergar o deserto é “está-se nele” (DELEUZE, 1997, p. 204), e que estar nele é então uma incorporação, não como organismo ou organização, mas como intensidade; porque o deserto é um espaço nômade, sem tempo, sem memória, sem peso, sem leveza, háptico (que seria uma sobreposição do sentido, entre o tátil e o ótico, quando até mesmo o olho pode não ser apenas ótico), nem começo nem termo, aquilo que se desenha numa linha também nômade, “que nada delimita, que já não cerca contorno algum, que já não vai de um ponto a outro, mas que passa entre os pontos, que não pára de declinar da horizontal e da vertical, de desviar da diagonal mudando constantemente de direção”. (DELEUZE: 1997, p. 210) 63 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 Dois Assim, é no primeiro poema do TRIVIUM1, Prelúdio e Elegia de uma Despedida (publicado em 1952 numa pequena edição de 100 exemplares), um longo poema dividido em três partes, que Joaquim Cardozo promove uma espessura no espaço para ao mesmo tempo provocar na linguagem uma espessura de duração; que não é o indivisível, como sugere Deleuze, mas aquilo que só se divide ao mudar de natureza a cada divisão. Daí, a imagem desviante do crivo. E isto pode ser remetido àquilo que Bergson chamou de uma “percepção pura”, ou seja, “uma percepção que existe mais de direito do que de fato, aquela que teria um ser situado onde estou, vivendo como eu vivo, mas absorvido no presente, e capaz, pela eliminação da memória sob todas as suas formas, de obter da matéria uma visão ao mesmo tempo imediata e instantânea.” (BERGSON: 1999, p. 32) O que Bergson aponta é que uma imagem – numa durèe – pode ser sem ser percebida, que uma imagem pode estar presente sem ser representada, e que a “distância entre estes dois termos, presença e representação, parece justamente medir o intervalo entre a própria matéria e a percepção consciente que temos dela.” (BERGSON, 1999, p. 32) O fato é que para Bergson a nossa representação das coisas do universo vem do que estas coisas refletem contra a nossa liberdade, e é esse o ponto que parece interessar nesse poema de Joaquim Cardozo, como um crivo: PRELÚDIO E ELEGIA DE UMA DESPEDIDA I No seio dessa noite ouvi um choro prolongado. Pareceu-me, a princípio, que era o vento Agitando as árvores do jardim, Ou que eram vozes distantes, em serenata; Mas era um pranto, um pranto tão sentido, Tão perfeito e derramado Como se descesse das estrelas Como se viesse das montanhas Como se subisse da terra fria ou da noite das águas. Mas, por que choravam? Tão longe eu me sentia, tão lento e ilimitado Descendo das vertigens, das vertentes solitárias Para a planície estagnada, deserta e comovida, Por uma noite sem mancha; E então, de mim ou a mim somente Por que sabida ou revelada essa modulação de dor? 1 O TRIVIUM é um livro composto de três poemas: Prelúdio e Elegia de uma Despedida, Visão do Último Trem Subindo ao Céu e Canto da Serra dos Órgãos, publicado em 1970. 64 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Essa névoa de angústia esgarçada na altura? Densa lamentação fugindo sobre o vento, Talvez aspirações de surtos e renovos, Desejos de acender nos céus infindos Fanais de aurora. Cresceram, cresceram as árvores da noite, Subiram das cavernas, dos poços e das minas, Sobre mortas raízes renasceram, sobre pétreas raízes E as frondes elevaram além dos círculos celestes. Em vão estendo as minhas mãos na treva Para colher o fruto do contato imaturo, Para alcançar a flor da exigente esperança, Das primícias da forma o antecipado alcance E do contorno exul a urgência da lembrança. Em vão concentro o olhar nesse negro tecido E busco distinguir as sombras disponíveis Aos apelos do dia, aos êxtases da cor: Variedades de escuro na imanência de azuis e de vermelhos, A própria, a mesma, a lídima e pressaga substância Que do opaco e do fecundo da amplidão telúrica As flores trazem em suas mãos de pétalas. Oh! Noite de terra vegetal, de húmus e de estrume! Em vão! Por toda a parte o vulto da recusa, O Avesso, o Detrás, o Por baixo, o De permeio, Multidão de velados rostos, luz voltada. Mas há germinação nesse tranqüilo seio de negrume, Vegetação de pranto que ascende e se articula Em palavras; e floresce e frutifica e amadurece. Vozes em fim cantando; tarde finda da colheita; Vozes depois fluindo entre paisagem e caminho. É noite! É noite! e o sono vem sobre os telhados; Uma tropa de cavalos campolinos Em trajetória e agitação de caudas e de crinas Batendo as patas surdas e macias; É noite! É noite! e o sono vem sobre os telhados. Que linguagem há de vir desse pranto perfeito e derramado Nessa noite das noites, nessa noite sem mancha? Noite fecunda de gravitações e metamorfoses, 65 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE De palavras repercutindo em prelúdio e despedida, De números comprimidos entre Ínfimo e Supremo, De música infreqüente, inconforme, nutrida Na síncopa e no soluço de vozes infantis. II No seio dessa noite de turfa e de antracito O fogo sempre a abrir em súbitas corolas Das luzes minerais as dálias amarelas; As dálias dos jardins de adormecidas anilinas. . . Mas de tudo e de mim prossegue essa agonia Em que procuro ouvir, em que busco saber Da imensa Queda universal – e os anjos dessa Queda? No mundo provocando as ondas luminosas! Eis a face sem brilho, eis a boca em silêncio Eis o vulto sem forma, eis a forma em tumulto, Eis o pranto a escorrer dentre as fendas noturnas, Eis a noite – o que é bem noite e o que é mais noite – a noite. . . a noite. . . A noite é o negro diamante, o carbonado Abrindo no cristal as praias estelares. E lâmpada de Korf, suspensa dos abismos, Rompe os muros do dia, apaga o rastro da morte E de dentro da luz os náufragos retira Como seres sepultos em profundos espelhos. Livre expansão do olhar sobre o dia hemisférico Exercício dos ciclos na grande feira celeste: Ciclo das estrelas – moscas de Azul, de Branco e de Vermelho – contra a vidraça. Ciclo das águas – sempre as mesmas, sempre as mesmas – Onde nascem, onde morrem peixes sempre outros. Ciclo das estações abafando em folhagens o coração dos homens! Ah! ciclo do sangue nas artérias dos amantes! Ciclo da matéria frágil, severa e obstinada! Matéria do mundo grande, Rosa de quatro elementos, Rajada de quatro ventos, 66 Junho de 2009 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Quatro cães que estão ladrando, Quatro nuvens derramando Água, fogo, terra e ar. Ciclo – o que é dado logo após de possuído – e apenas provado é devolvido. Ciclo – ilusão do regresso! Se a noite é total e completa, por que não nos revela o mistério? Por que não nos integra na sua amplidão libertária? Inutilmente deixamos os nossos rastros, inutilmente cortamos na rocha [os nossos nomes Como se marcássemos na argila do tempo as nossas pegadas Como se inscrevêssemos na cortiça da noite as curvas de nosso grito. Sobre dínamos, turbinas e locomotivas A inércia-primavera irromperá de novo E uma seiva nascerá do sangue e da saliva, Da lágrima e do leite materno, De mel, de suor e de vinho; Primavera onde eternamente vibrará, de nós, a ausência e o vazio. Pois esse choro noturno e prolongado Das estrelas – como se descesse Da terra fria – como se subisse E, por si mesmo, como se chorasse, Não dará linguagem. III É preciso partir enquanto é noite, Enquanto é aspiração de absoluto. É preciso voar no vórtice das lendas, das histórias antigas. Viajar, circular, além das águas, além do ar. Do ar – plâncton do espaço, alimento das asas. – casulo da luz – crisálida. A treva que desvenda e que liberta Com seu poder noturno a pulsação não doma Dos planetas escuros na mais densa matéria nuclear, Nem a noite maior das negras nebulosas. Se as coisas do mundo se encadeiam e implacáveis gravitam Do calor das estrelas ao pesado frio derradeiro, Por que há na infância uma doçura simples e primeva? E as cores espectrais por que se alongam 67 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 Em ruivo e moreno, em zaino e rosilho, E na explosão reside o acontecimento de uma flor? Água, água de chuva – presença unânime da Queda – Aura da esperança; sombra do castigo; Água pesada, água de chincho – Água da chuva – Chuva! Cabelos brancos, cabelos frios Dessa noite velha, dessa noite fria Que me apaga a vista, que me extingue a voz. Chuva em que vou com a alma embuçada E o coração molhado e vazio. Ouço os teus passos ligeiros de fantasma, O teu fragor funesto, o teu rumor sombrio Chuva da eterna morte! Se é impossível voltar e possível não é perdurar Na hora intensa da espera, no espaço da demora, É partir! É partir e partir para o fim das memórias. . . Arcturus, Antares, Altair! Capitâneas Dessa navegação taciturna e para sempre E para além da verdade e grandeza da vida. É partir e partir para o fim das idades. . . Já a eterna luz com os seus dedos de rosa Estende o azul do dia; É partir e partir para além da saudade. Das vinhas de orvalho instante da vindima, Meandros matinais de frondes vaporosas E os galos proclamando de próximo a longínquo, Nas úmidas distâncias, o canto da aventura. Rio, 1952 O deserto é, assim, no poema de Joaquim Cardozo, uma possibilidade de espaço que vem nessa noite inconforme quando o universo não se divide, e abre uma possibilidade de liberação da linguagem como potência e desejo, como um começar de uma paisagem, profundamente, onde a linguagem se amalgama como uma ‘questão profunda’ do inexpresso da imagem, que vem do crivo. Isto 68 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE vai comparecer por todo o TRIVIUM numa espécie de palavra-imagem, ou de palavra-contra-maquinização, que subverte o que seria o real, ou o realismo, aquilo que aparentemente funciona bem, numa escavação da experiência com a linguagem que atinge o acidente e também o mistério através de um rumor, como um gozo e um jorro de desejo para a graça, ampliando-os. Esta escavação da experiência com a linguagem feita por Joaquim Cardozo é um aberto para poder dispor do espaço de uma outra forma, que seria a da forma formante; o espaço – que é o deserto – como uma quebra no tempo e uma maneira aberta de aguçar a percepção. Algo como aquilo que Bergson disse num movente da percepção, que “Todo realismo fará portanto da percepção um acidente, e por isso mesmo um mistério.” (1999, p. 23) Ele acresce ainda que “a percepção dispõe do espaço na exata proporção em que a ação dispõe do tempo.” (BERGSON, 1999, p. 28) O procedimento de Joaquim Cardozo toca a suspensão da imagem para que ela possa tocar a sua assombração, como um crivo, através do deserto, através de uma liberdade do ser-no-mundo, como um canto de aventura, numa percepção que só conserva da matéria o seu fantasma: é partir e partir, diz ele. O poema cumpre a travessia de uma planície deserta, comovida, de luz mineral numa noite sem mancha, com modulações de dor e névoas de angústia, para distinguir as sombras disponíveis, como sugere: “Para alcançar a exigente flor da esperança”. É um poema que insere uma duração num aprendizado para partir, a vida sempre como um curso, a partida como um morrer; como diz Maria da Paz Ribeiro Dantas: “o canto da aventura – o Prelúdio fundindo-se à Despedida, o começo prolongando-se no fim –, para daí retornar ao ponto de partida, cumprindo a viagem ao absoluto, à totalidade, já que é preciso partir enquanto é aspiração de absoluto.” (DANTAS, 2003, p. 85) Três O poema monta um tempo circular e sem limite, aberto, confim, comum, um tempo que se move numa circunferência sem começo e sem termo e plena de elipses para as várias faces da antimatéria. Este tempo desenha pelas três partes do poema um ato de bondade para o ser-no-mundo numa aura de esperança, é um ato de bondade de um coração molhado pela água pesada da chuva, a “água de chincho”: que se acumula numa planta frágil como o gravatá. A imagem se transfere no correr do poema até um coração vazio, o coração que é por onde há um outro saber, o coração-ouriço, de um ser que sabe que pode morrer. É uma arqueologia comovida que se dá numa dilatação de seu procedimento poético, até fazer com que a realidade tome o sentido deserto numa contemplação ausente e num espaçamento desse sentido deserto. No dizer de Antonio Houaiss, a poesia de Joaquim Cardozo é carregada de um tônus afetivo, melancólico, “mas de uma melancolia sábia, a melancolia do humor, a melancolia do belo aceitar da vida, mas com resignação provisória ante sua feiúra conjuntural, já que a vida era – e é, mesmo como preparação para a morte – essencialmente digna de viver-se.” (HOUAISS, 1976, p. 89) O poema, então – nesta presença de um sentido ausente –, diz de um mundo anterior ao homem, de um mundo que é também fora do 69 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 homem e que é nosso único mundo: o da revelação. Jean-Luc Nancy diz que é a este mundo que pertencemos como seres desejantes, porque o desejo é a falta e é a falta que modula a relação com o sentido. (2003, p. 74, 75 e 76) Esta arqueologia da percepção do sentido ausente, uma imagem ausente proposta na figuração do crivo, e no deserto, está no que Lélia Coelho da Frota também chama de revelação, uma revelação das ausências: “Pelo desfolhamento da matéria, por uma arqueologia não obstante amorosa e comovida com a beleza do mundo, Joaquim Cardozo vai retirando as pedras do real para chegar à corola da revelação.” (FROTA, 1979) Diz ainda que a poesia de Joaquim Cardozo implica e solicita uma meditação do transcendente, do que nos outra como iluminação e concentração de espírito: “A sua poesia, iniciada num regional sem regionalismos, alheia ao anedótico, atinge agora as notas da meditação transcendental. Tornase reduto de concentração e espírito, intelectualidade e iluminação.” (FROTA, 1979) Se seguirmos Blanchot, temos o argumento que numa relação entre o pensamento e a literatura um escritor tem todos os direitos e pode atribuir-se todas as maneiras de ser e de dizer, com exceção à palavra habitual que tenha pretensão de sentido e de verdade. Que é o no ‘ainda não’ – como se o mundo da verdade só devesse começar amanhã, como propõe Robert Musil – que o ser pode se revelar na arte, porque este ser que se revela na arte é sempre anterior à revelação; diz ele que vem “daí a sua inocência (pois não tem que ser resgatado pela significação), mas daí a sua inquietude infinita”. (MUSIL, 1994, p. 159) Assim, o comentário de Antonio Houaiss acerca de Joaquim Cardozo e do procedimento em sua poética reitera a questão, porque entre um “transitório individual” e um “transitório exemplar” para “além da verdade e grandeza da vida” (como está dito no poema acima) sobra uma ingenuidade, uma inocência e uma inquietude infinitas numa tentativa de tocar a experiência falhada do ser-no-mundo: Desde então Joaquim Cardozo vem sendo o que fora sempre, esse poeta da dignidade humana, da fraternidade humana, que nos revelava, antes, o matizado vário da vida, com cheiro de maresia e tremores de noites estreladas ou chuvosas, enluaradas ou opacas, em que a concupiscência mesma era – e poderosa – expressão do amor e do vínculo específico de continuidade, no transitório individual, em que o localismo pernambucano era o veículo de amor telúrico para os homens de todos os outros localismos, e que nos revela, a partir de então, em despojando-se do transitório exemplar, o eterno da vocação humana – o amor, a paz, a vida, em acentos que ficarão como lapidares provas de uma personalidade rica de humanidade, porque essencialmente solidária com os homens, inconformada com a deformação da vida, a cantar a vida que deveria ter sempre sido, para ser eterna na espécie, com ser eterno no cosmos – e para além da verdade e grandeza da vida. (HOUAISS, 1976, p. 93/94) Joaquim Cardozo transporta para seu poema, como sugere Houaiss, um corpo contínuo temporal que propõe uma ética inconformada, uma ética que rege sua postura como aquilo que ele pode e tem que ser como poeta e como homem, num movimento de passagem e transitório. Agamben, ao escrever sobre a ética, 70 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE diz que há algo de fato que o homem é e tem de ser, “mas este algo não é uma essência, não é propriamente uma coisa: é o simples fato da sua própria existência como possibilidade ou potência.” (AGAMBEN, 1993, p. 39) Se a experiência do homem moderno leva em conta que se está diante de um corpo contínuo da vida, um tempo em que um eu profundo articula experimentar alguma liberdade de ação como uma ética possível, Joaquim Cardozo refaz isto em seu poema para tentar tocar e chegar o mais perto possível daquilo a que chamamos de real. O eu profundo e trágico no poema de Joaquim Cardozo é aquilo a que estou chamando deserto, como o mais íntimo do ser, do ser-no-mundo; e da imagem do crivo, que é de onde se parte e se erma o espaço como lugar e sombra. Bergson, por sua vez, usa a imagem do cone para tentar representar o que ele chama de movimento, ou de duração do tempo, que seria para ele uma forma legítima deste eu profundo estar no mundo e na vida. Num incessante alargamento do cone, o movimento que vai do vértice para a base, que é quando as experiências presentes passam pelo inconsciente, e depois, quando saem da base para o vértice, que é quando o inconsciente emerge atuando sobre o plano da consciência, é que ele se pergunta o quanto da realidade do movimento vai até a consciência, como desejo ou sentido, enquanto ele é produzido. A conclusão a que Bergson chega é a de que tocamos a realidade do movimento quando ele nos aparece, em nosso interior, como uma mudança de estado ou qualidade. A duração do movimento decompondo-se em momentos espaciais, como o da experiência interior, ou do eu profundo, é a linha de trajeto que interessa a Bergson. Ele fala de uma continuidade movente. E afirma que “estabelecer relações muito particulares entre porções assim recortadas da realidade sensível é justamente o que chamamos viver”. (BERGSON, 1999, p. 233) O viver é, para ele, um movimento, uma duração, como uma força entre átomos, como uma matéria, um corpo, que não se define pela solidez, mas provavelmente por um estado fluido da ação livre, uma ética. Como se um fluido perfeito, contínuo, homogêneo e incompreensível que preenche o espaço, o tempo, com sua individualidade, seu movimento. O que Bergson tenta é estreitar a ligação existente entre tempo, espaço e experiência e coloca, sub-repticiamente, como potência, um eu profundo interior como ponto de partida para a experiência, para o que podemos chamar de começo, começar. O que está se impondo como um começar, agora, no poema de Joaquim Cardozo é um espaço de demora, uma mora ampliada, suspensa, intervalada. Ou seja, um começar que possa tocar através do “infinito possível da poesia” (LIMA, 1996, p. 203) o descentramento de alguma imagem no espaço, para ermar o espaço, para tornar-se ela mesma espaço. Bibliografia: AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Trad. António Guerreiro. Lisboa: Presença, 1993. BERGSON, Henri. Matéria e Memória. Ensaio Sobre a Relação do Corpo com Espírito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 71 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 CARDOZO, Joaquim. Para Todos: Rio de Janeiro, São Paulo, v. 1, n. 11, p. 9, 2ª quinz. out. 1956. DANTAS, Maria da Paz Ribeiro. Joaquim Cardozo – Contemporâneo do Futuro. Recife: Ensol, 2003. DELEUZE, Gilles. Mil Platôs – Capitalismo e Esquizofrenia – 5. Trad. Peter Pál Pelbart e Janice Caiafa. São Paulo: 34, 1997. FROTA, Lélia Coelho. Sombra e claridade em Joaquim Cardozo. Cultura, Brasília, v. 8, n. 31, p. 63, jan./mar. 1979. HOUAISS, Antônio. Seis poetas e um problema. Rio de Janeiro: MEC, 1960. LIMA, José Lezama. A dignidade da poesia. Trad. Josely Vianna Baptista. São Paulo, Ática, 1996. NANCY, Jean-Luc. El sentido del mundo. Trad. Jorge Manuel Casas. Buenos Aires: La Marca, 2003. Abstract: The article shows how Joaquim Cardozo works the poem through the idea of language as a deviant image, open, from the image of the crivo, to achieve its own desert. The article comes from Joaquim Cardozo’s critical thought and from a poem called “Prelúdio e Elegia de uma Despedida”, first published in 1952, in a book called TRIVIUM, to verify the relations of his poetry with that matter. Keywords: Poem, desert, place, experience, Joaquim Cardozo. Recebido em 14/05/2009. Aprovado em 01/06/2006. 72 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE “Na Cadeia de Sons da Vida”: considerações sobre Música Popular e Literatura na obra de Paulo Leminski ENSAIO Marcelo Sandmann* Resumo: Tomando como exemplo a obra do escritor curitibano Paulo Leminski, o presente artigo investiga o lugar ocupado pela música popular na cultura brasileira nas últimas décadas do século XX, bem como algumas de suas relações com a produção literária do período. Palavras-chave: Paulo Leminski, Música Popular Brasileira, Poesia Brasileira. 1. Canção popular brasileira: anos 60 e 70 Em publicação recente, Elos de melodia e letra, que reúne análises semióticas de canções de Caetano Veloso, Chico Buarque e da parceria Tom Jobim e Vinicius de Moraes, Luiz Tatit e Ivã Lopes sintetizam, nos seguintes termos, o lugar que a canção popular acabou por ocupar na vida cultural do Brasil a partir de meados do século XX: Desde a eclosão do movimento bossa-nova, em 1958, a canção brasileira vem atraindo a atenção, não apenas da forte indústria do entretenimento instalada no país, mas também de boa parte da elite cultural que hoje lhe reserva o papel artístico e social anteriormente concedido apenas à literatura e às artes eruditas em geral. Essa condição especial não pode evidentemente ser desvinculada dos grandes artistas que emprestaram ou vêm emprestando o seu talento para a criação de um repertório cancional cuja originalidade e qualidade já são reconhecidas em todo o mundo. (TATIT e LOPES, 2008, p. 51) A canção popular (a música popular), em sua múltipla manifestação, é matéria de amplo interesse. Por sua própria natureza, é realização cara a grande parte da população brasileira, esteja ela concentrada nos centros urbanos, ou dispersa no meio rural, agora definitivamente conectado aos mesmos centros, numa malha cerrada e de trocas várias. Circulando pelos meios de massa, permeia o cotidiano das pessoas, integra os momentos de trabalho, lazer e celebração, emoldura o quadro dos afetos e paixões entre os sujeitos. É ainda elo identitário, marcando a fronteira entre territórios, grupos e condições. E em momentos de grande tensão social e política, surge como arma de questionamento crítico (como em algumas manifestações do samba carioca ao longo de toda sua história, ou da MPB dos anos 60 e 70 durante os anos do regime de exceção, ou ainda no rap dos dias * Doutor em Teoria e História Literária pela UNICAMP 73 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 que correm). Ao mesmo tempo, tornou-se assunto relevante para parte significativa da intelligentsia do país, objeto de investigação acadêmica nos mais variados campos do conhecimento (história, sociologia, antropologia, musicologia, literatura, semiótica, estudos culturais etc.). Revela-se, ainda, objeto de interesse para criadores situados em pontos privilegiados do espectro artístico (p. ex., em músicos “sofisticados”, de Tom Jobim a Benjamin Taubkin; no cinema, das ficções de Cacá Diegues aos documentários ou ficcionalizações da vida de compositores e músicos, como nos recentes Cazuza, Os Filhos de Francisco, Viva São João; na dança e na performance, do trabalho de pesquisa e difusão de um Antônio Nóbrega aos projetos experimentais do grupo Corpo; etc.). Por vezes, atrai a si os tantos esforços de definição e representação de uma identidade nacional, como ocorreu com o samba urbano durante a Era Vargas ou com a MPB dos anos 60/70, com destaque para a canção de protesto ou, na contramão desta, as realizações do Tropicalismo. Este, a despeito das tantas ambiguidades e de uma maior abertura para o internacional, não deixou de postular um lugar de centralidade e representação (ou seja: também propôs, à sua maneira, uma “interpretação do Brasil”). E se podemos desconfiar sempre das tentativas de estabelecer uma identidade nacional (única, coesa, formulada a partir de um centro evidente), não há como negar que, ao olhar estrangeiro, a música popular brasileira, ao lado de uma ou outra manifestação (o futebol, com seus astros e mitos), aparece como encarnação fundamental da “brasilidade” (samba, carnaval, Carmem Miranda, Bossa Nova etc., já tornados clichês pela indústria do entretenimento). Com a exceção de um ou outro filme ou diretor de cinema, ou do fenômeno Paulo Coelho (cuja nacionalidade, ao que tudo indica, não parece ser ingrediente de especial apelo na recepção de sua obra), nenhuma outra manifestação artística do país terá tido a visibilidade fora do Brasil que tem esta manifestação. O interesse de “boa parte da elite cultural” pela canção popular (ou melhor: por um “certo tipo” de canção) desde a Bossa Nova e seus desdobramentos (aquilo que iria, dos anos 60 em diante, ser chamado abreviadamente de MPB) pode ser claramente conferido a partir de algumas publicações que marcaram época, produzidas por intelectuais pertencentes a diferentes campos da produção cultural. Em 1968, o poeta Augusto de Campos, protagonista da agitação vanguardista na arte brasileira dos anos 50/60, nome central do movimento de Poesia Concreta, tradutor, ensaísta e um crítico e melômano especialmente interessado nas vertentes mais radicais da música de concerto do século XX (de Anton Webern a John Cage), organizou o pioneiro Balanço da bossa, posteriormente ampliado e rebatizado de Balanço da bossa e outras bossas. Nele, o autor reunia artigos saídos esparsamente na imprensa ao longo da década de 1960, escritos no calor da hora por nomes como Brasil Rocha Brito, Júlio Medaglia, Gilberto Mendes, além de textos seus, artigos a respeito do efervescente cenário da música popular daqueles anos, do surgimento da Bossa Nova de João Gilberto e Tom Jobim ao 74 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Tropicalismo de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Na “Introdução” do volume, de março de 1968, seu organizador sintetizava nos seguintes termos o perfil dos colaboradores e a perspectiva crítica em comum que os unia então: Embora escritos em épocas diversas e por autores diversos, esses estudos – de um musicólogo, um regente, um compositor e um poeta “eruditos” mas entusiastas da música popular – têm uma perspectiva comum que os solidariza. Estão, todos, predominantemente interessados numa visão evolutiva da música popular, especialmente voltados para os caminhos imprevisíveis da invenção. Nesse sentido, estou consciente de que o resultado é um livro parcial, de partido, polêmico. Contra. Definitivamente contra a Tradicional Família Musical. Contra o nacionalismonacionalóide em música. O nacionalismo em escala regional ou hemisférica, sempre alienante. Por uma música nacional universal. (CAMPOS, 2005, p. 14) Augusto de Campos projetava sobre o campo da música popular conceitos e categorias caros às vanguardas históricas (“visão evolutiva”, “invenção”) e tomava partido num debate que opunha os defensores de uma “legítima” e “tradicional” música popular brasileira, infensa à influência estrangeira (seja do jazz, seja do rock), bem como à experimentação, aos “modernizadores” dessa mesma música popular (bossa-novistas e tropicalistas). E era ao lado deste último grupo que o poeta “erudito” e de vanguarda vinha, naturalmente, se alinhar.1 Tal polarização viria a se desvanecer ao longo dos anos, mas as intervenções críticas presentes no volume marcaram época e certamente ajudaram a sedimentar o lugar de prestígio que compositores como Caetano Veloso e Gilberto Gil, por exemplo, vieram a ocupar junto a um público “mais letrado”, público em parte coincidente com aquele atingido pelos meios de comunicação de massa em que a música daqueles circulava, mas não restrito a eles.2 Em diferente linha de investigação, outro estudo importante no processo de recepção acadêmica da música popular daqueles anos, agora com destaque para o Tropicalismo, é Tropicália: alegoria, alegria, de Celso Favaretto, originalmente uma dissertação de mestrado em filosofia, apresentada na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e publicada em livro em 1979. Mobilizando um amplo leque de conceitos (extraídos da sociologia, da 1 A propósito de tal deslocamento de conceitos da arte de alto repertório para a arte popular, num dos ensaios contidos no mesmo volume, “Viva a Bahia-Ia-Ia!”, Augusto de Campos recuperava algumas noções taxonômicas do poeta modernista norte-americano Ezra Pound, além de citar fragmento do poeta futurista russo Vladimir Maiakóvski: “Se formos aplicar a classificação de Pound (“Inventores”, “Mestres”, “Diluidores” etc.), restritamente, ao quadro atual da música popular brasileira, é possível que a Chico Buarque de Hollanda caiba o título de um jovem “mestre”. Mas o risco e a coragem da aventura (“A poesia – toda – uma viagem ao desconhecido”, como queria Maiakóvski), estes pertencem a Caetano e Gil, “inventores”, como pertenceram antes a Tom [Jobim] e a João [Gilberto].” (CAMPOS, 2005, p. 159-160) Sobre tais conceitos poundianos, consultar ABC da literatura. 2 Sobre as muitas trocas e possíveis aproximações entre a Poesia Concreta e o Tropicalismo, consultar o volume Convergências, de Lúcia Santaella, estudo já clássico sobre o assunto. Caetano Veloso, no seu livro de memórias, Verdade tropical, dedica todo um capítulo da Parte 2 do volume, justamente intitulado “A Poesia Concreta”, para tratar da questão, reconhecendo a importância desse diálogo, mas assinalando os pontos de tensão. 75 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 psicanálise, da estética, da linguística, da teoria musical e literária), Favaretto centrava-se numa abordagem geral da intervenção crítico-criativa do Tropicalismo e na análise de canções surgidas nos anos históricos do movimento (entre 1967, com a polêmica entrada em cena de Caetano Veloso e Gilberto Gil defendendo, respectivamente, “Alegria, Alegria” e “Domingo no Parque”, no III Festival da Música Popular Brasileira da TV Record de São Paulo; ao disco coletivo Panis et circensis, de 1968, com colaborações, além dos já citados, de Rogério Duprat, Capinam, Torquato Neto, Tom Zé, Gal Costa, Nara Leão e os Mutantes). No processo de análise, o autor destaca a operação paródica frequente nas canções, bem como o processo de justaposição de elementos arcaicos e modernos, que criam imagens estranhas e tensas, alegorias da própria situação do Brasil e sua inserção no mundo. Passa em revista os tantos diálogos com a Antropofagia de Oswald de Andrade, a Poesia Concreta, a música experimental, a própria tradição da música popular brasileira, e outras manifestações culturais (do cinema de Joaquim Pedro de Andrade ao Teatro Oficina de José Celso Martinez Correia). E aborda, ainda, os tantos embates entre crítica estética e comportamental e crítica social e política, sublinhando a ambígua inserção do movimento na indústria do espetáculo e do consumo. A certa altura do texto, Favaretto equipara as realizações musicais do grupo à produção cultural geral daquele momento: (...) o tropicalismo levou à área da música popular uma discussão que se colocava no mesmo nível da que já vinha ocorrendo em outras, principalmente o teatro, o cinema e a literatura. Entretanto, em função da mistura que realizou, com os elementos da indústria cultural e os materiais da tradição brasileira, deslocou tal discussão dos limites em que fora situada, nos termos da oposição entre arte participante e arte alienada. O tropicalismo elaborou uma nova linguagem da canção, exigindo que se reformulassem os critérios de sua apreciação, até então determinados pelo enfoque da crítica literária. Pode-se dizer que o tropicalismo realizou no Brasil a autonomia da canção, estabelecendo-a como um objeto enfim reconhecível como verdadeiramente artístico. (FAVARETTO, 1996, p. 27-28) Na sequência, o autor toca na questão da canção como gênero específico, para além da música e da literatura: “Por ser inseparavelmente musical e verbal, é difícil tanto compor a canção como analisá-la. Ela remete a diferentes códigos e, ao mesmo tempo, apresenta uma unidade que os ultrapassa (...).” (FAVARETTO, 1996, p. 28). E, mais adiante, indica justamente aquele que será o ponto de partida, em anos subsequentes, para os estudos de Luiz Tatit sobre a canção popular no Brasil (e para além do próprio Tropicalismo): “Os tropicalistas realizaram a vinculação de texto e melodia, explorando o domínio da entoação, o deslizar do corpo na linguagem, a materialidade do canto e da fala, operados na conexão da língua e sua dicção, ligados ao infracódigo dos sons que subjazem à manifestação expressiva.” (FAVARETTO, 1996, p. 32)3 Nas análises que desenvolve, parece claro que Favaretto dá às canções tropicalistas um estatuto que as põe em pé de igualdade com outras manifestações da arte de 76 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE alto repertório, reconhecendo-as como passíveis de análises estéticas sofisticadas e em sintonia com as grandes questões da cultura e da sociedade de seu tempo. Do mesmo ano de 1979, é o ensaio “O Minuto e o Milênio ou Por Favor, Professor, Uma Década de Cada Vez”, de José Miguel Wisnik, escrito originalmente para o volume Música, da coleção Anos 70, dirigida por Adauto Novaes. Neste breve (posto que concentrado) estudo, Wisnik discute a produção de música popular ao longo da década de 1970 no Brasil, centrando o foco, a certa altura, em alguns nomes centrais da canção brasileira, surgidos na década imediatamente anterior e que consolidaram sua trajetória por aqueles anos, como Roberto Carlos, Caetano Veloso e Chico Buarque de Holanda. Tomando como ponto de partida o chamado “vazio cultural” vivido então, para o qual duas realidades contribuíam especialmente – o crescimento dos meios de comunicação de massa e a censura à produção artística durante o Regime Militar – , o autor procurava evidenciar de que modo a música popular, por meio de uma espécie de “poética da malandragem”, conseguia driblar a censura política e de costumes e resistir à simples e pura padronização imposta pela indústria do entretenimento. Segundo Wisnik, dois modos de produção musical conviviam e se interpenetravam então no país: o “industrial”, intensificado com o crescimento da indústria do disco e dos meios de comunicação; e o “artesanal”, “que compreende os poetas-músicos criadores de uma obra marcadamente individualizada, em que a subjetividade se expressa lírica, satírica, épica e parodicamente.” (WISNIK, 2004, p. 169) Nesse lugar limítrofe, conceitos como os da Escola de Frankfurt utilizados para entender a produção da “indústria cultural”, como “estandardização” e “regressão da audição”, se mostrariam insuficientes: A má vontade para com a música popular em Adorno é grande. Podemos entendê-la num europeu de formação erudita. Por um lado, o uso musical para ele é a escuta estrutural estrita e consciente de uma peça, a percepção da progressão das formas através da história da arte e através da construção de uma determinada obra. Por outro, o equilíbrio entre a música erudita e a popular, num país como a Alemanha, faz a balança cair espetacularmente para o lado da tradição erudita, porque a música popular raramente é penetrada pelos setores mais criadores da cultura, vivendo numa espécie de marasmo kitsch e digestivo (...). Ora, no Brasil a tradição da música popular, pela sua inserção na sociedade e pela sua vitalidade, pela riqueza artesanal que está investida na sua teia de recados, pela sua habilidade em captar as transformações da vida urbano-industrial, não se oferece simplesmente como um campo dócil à dominação econômica da indústria cultural que se traduz numa linguagem estandardizada, nem à repressão da censura que se traduz num controle das formas de expressão política e sexual explícitas, nem às outras pressões que se traduzem nas exigências do bom gosto acadêmico ou nas exigências de um engajamento 3 Entre os muitos estudos publicados por Luiz Tatit, trabalhos sem dúvida centrais na sua produção são O cancionista: composição de canções no Brasil e O século da canção. 77 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 estreitamente concebido. (WISNIK, 2004, p. 176-177) Wisnik insiste nos usos da música no país, entre os quais o puramente “estéticocontemplativo” (fundamental dentro da tradição culta européia) nunca se impôs. No Brasil, a música erudita nunca teria conseguido formar plenamente um “sistema” (no sentido que Antonio Candido dá para o termo no seu Formação da literatura brasileira), congregando autores, obras e público. Aqui, a música sempre teria estado fortemente vinculada às práticas rituais e mágicas, às atividades do cotidiano, às festas populares etc. Com o processo de urbanização ao longo do século XX e com o advento dos meios de massa, tais usos iriam amplificar-se e complicar-se ainda mais. O autor sublinha o caráter impuro, híbrido, miscigenado da produção musical brasileira, e dos problemas que surgem na sua compreensão: O fenômeno da música popular brasileira talvez espante até hoje, e talvez por isso mesmo também continue pouco entendido na cabeça do país, por causa dessa mistura em meio à qual se produz: a) embora mantenha um cordão de ligação com a cultura popular nãoletrada, desprende-se dela para entrar no mercado e na cidade; b) embora se deixe penetrar pela poesia culta, não segue a lógica evolutiva da cultura literária, nem se filia a seus padrões de filtragem; c) embora se reproduza dentro do contexto da indústria cultural, não se reduz às regras da estandardização. Em suma, não funciona dentro dos limites estritos de nenhum dos sistemas culturais existentes no Brasil, embora se deixe permear por eles. (WISNIK, 2004, p. 178) Wisnik evidenciava assim o lugar limítrofe, privilegiado e problemático ocupado pela canção popular no Brasil àquela altura. A partir da definição desse lugar (“um lugar entre”), pode-se compreender melhor por que motivo algumas canções de apelo popular, veiculadas no rádio e na televisão para o consumo de massa, poderiam surgir também como local de debates estéticos, sociais e políticos, e interessar fortemente ao mundo letrado.4 No início dos anos 80, a Editora Abril Cultural lançava a série Literatura Comentada, com pequenos volumes dedicados a nomes fundamentais da literatura brasileira do passado e do presente, com informações biobliográficas e apreciações críticas da parte dos seus organizadores, bem como uma antologia de textos dos escritores escolhidos. Entre os autores àquela altura mais recentes, além do já consagrado Vinicius de Moraes (nome de trânsito evidente entre o mundo literário e o da canção popular), iria dedicar volumes específicos a Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso e Gilberto Gil.5 Se o primeiro destes três, ao lado do trabalho com música, havia enveredado pela novela de ficção (Fazenda modelo) e pelo teatro (Calabar, Gota d’água e Ópera do malandro), os dois últimos 4 Outros três volumes escritos àquela roda por nomes importantes do meio universitário brasileiro e que dão amplo destaque para a música popular dentro da produção cultural são Música popular: de olho na fresta, de Gilberto Vasconcelos (1977); Música popular e moderna poesia brasileira, de Affonso Romano de Sant’Anna (1978); Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde – 1960/70, de Heloísa Buarque de Hollanda (1980). 78 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE eram fundamentalmente compositores de canções. Tratava-se, vale lembrar, de uma série que circulava em bancas de jornais e revistas, voltada, portanto, para o grande público, especialmente sensível aos apelos de nomes de maior visibilidade nos meios de comunicação. Por outro lado, não deixava de ser uma espécie de “canonização” precoce de tais criadores, sua incorporação ao universo da “literatura” (da cultura séria e letrada, portanto). De qualquer forma, parece evidente que tais artistas da canção (e não quaisquer outros, como Roberto e Erasmo Carlos, por exemplo) rasuravam os limites entre os campos, podendo ser reivindicados por este ou aquele, a depender dos critérios de avaliação (os mesmos nomes integravam a série Nova história da música popular brasileira, de alguns anos antes e pela mesma editora, publicação com fascículo e disco de vinil em anexo, igualmente com ampla circulação nas bancas).6 2. Paulo Leminski: música popular e literatura É dentro desse quadro que se pode entender melhor os interesses de Paulo Leminski pela canção popular brasileira ao longo de sua trajetória literária. Um estudo de maior fôlego sobre seu trabalho como compositor e letrista ainda está por ser feito.7 O que se pretende abordar a seguir é o modo como o escritor curitibano percebia certa música popular produzida à sua época, como ele avaliava o papel de alguns nomes significativos da produção musical do período e de que maneira a própria música surgia como orientação e assunto em sua obra, especialmente na poesia. As trocas entre música (canção) popular e literatura no Brasil atravessam o século XX. Vinicius de Moraes será sempre lembrado como um nome fundamental, de atuação vigorosa nos dois campos, ponto de referência e partida para tantos letristas e poetas-letristas subsequentes. Mas, antes dele, outros transitaram da música para a literatura (ou vice-versa), como Catulo da Paixão Cearense e Orestes Barbosa, por exemplo, que escreveram letras para canções memoráveis 5 Noel Rosa, único dentre os compositores da “Velha Guarda”, iria receber igualmente um fascículo dedicado à sua produção. 6 Em anos recentes, Chico Buarque enveredou de vez pela prosa de ficção (com os romances Estorvo, Benjamim, Budapeste e Leite derramado), de modo que sua inserção no campo da literatura é coisa inequívoca. Quanto a Caetano Veloso, a incorporação de seu nome dentro da Antologia comentada da poesia brasileira do século 21, organizada pelo crítico Manuel da Costa Pinto, não deixa de ser curiosa e sinal de que esse lugar que o compositor veio a ocupar desde os anos 70 permanece mais ou menos intocado. Há outros autores dentro dessa mesma antologia cuja obra transita entre a poesia e a canção, como por exemplo Hermínio Bello de Carvalho, Antonio Cícero, Paulo Neves, Waly Salomão e Rodrigo Garcia Lopes, mas Caetano é o único que teve letras de canção (“Tropicália”, “Fora da Ordem” e “Livros”), e não poemas, inseridos no volume. O organizador justifica sua presença nos seguintes termos: “Caetano Veloso é autor de clássicos da música popular que aspiram à incorporação ao cânone da poesia brasileira. Sempre será polêmica a questão de decidir quais de suas letras musicais podem ser lidas de modo autônomo, como artefatos estritamente literários ou mesmo decidir se essa questão se coloca. O que não parece estar em questão é sua importância na continuação das poéticas que surgiram antes dele, ao final dos anos 1950. (...)” (PINTO, 2006, p. 363) Se suas canções “aspiram à incorporação ao cânone da poesia brasileira” ou não é questão controversa. O fato é que o crítico as incorpora, e dá motivos para fazê-lo, motivos que poderiam, aliás, justificar a presença de outro nome, Gilberto Gil, que ficou de fora da antologia. 7 Um dos raros estudos é “No corpo da voz: a poesia-música de Paulo Leminski”, do poeta Ricardo Aleixo. Sobre o papel da música popular em Leminski, redigi há uns bons anos já o artigo “Nalgum lugar entre o experimentalismo e a canção popular: as cartas de Paulo Leminski a Régis Bonvicino”. 79 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 do cancioneiro brasileiro e desenvolveram, igualmente, carreira como escritores.8 Mário de Andrade deixou sempre claro seu grande interesse pela cultura popular (especialmente pelas manifestações mais tradicionais, menos tocadas pelo ambiente urbano). E Manuel Bandeira teve muitos poemas seus musicados, tanto por compositores eruditos quanto populares, além de ter escrito letra para alguma música, e revelar, em muitas de suas crônicas, interesse pela música brasileira, seus gêneros, criadores e intérpretes.9 No entanto, os poetas canônicos de boa parte do século XX (com exceção de Bandeira e sobretudo Vinicius) são essencialmente poetas do livro, poetas-poetas, não-letristas: Oswald de Andrade, Drummond, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Cecília Meireles, João Cabral, Ferreira Gullar, Augusto e Haroldo de Campos etc. O quadro parece mudar a partir de fins dos anos 50, e não por acaso a partir da Bossa Nova e de Vinicius de Moraes. Alguns nomes significativos da poesia e da literatura do final do século XX no Brasil tiveram forte ligação com a produção de canções, sobretudo como letristas: Torquato Neto, Capinam, Jorge Mautner, Wally Salomão, Cacaso, Antonio Cicero, Geraldo Carneiro, Paulo Leminski, Alice Ruiz, Arnaldo Antunes etc. Leminski, portanto, não é exceção. Pelo contrário, confirma toda uma tendência geral da época, de ruptura de limites entre a arte culta e a arte popular e de massa, entre a poesia informada e a letra de canção, entre a experimentação formal e o desejo de comunicação. Produz sua obra a partir de certas coordenadas, que delimitam um campo de boa tensão interna, coordenadas que vão da Poesia Concreta, passam pela Contracultura internacional (sobretudo na sua vertente anglo-americana: beat generation, hippies, rock) e chegam à expressão dessa mesma Contracultura em termos brasileiros, com o Tropicalismo e o Póstropicalismo. Nesse campo, a música popular surge como gênero da maior importância, seja como objeto de fruição e referência estéticas, seja como lugar de atuação criativa. Numa carta ao antropólogo e poeta Antônio Risério, datada de 1975 (provavelmente o primeiro contato epistolar entre os dois), o escritor curitibano registrava: muito interessado nisso que parece ser a post-literatura entre nós: textos/semioses, malditos a todos os títulos. traços: estruturas concretas + pirações psicodélicas + desvarios tropicais + sei lá o quê. localização: entre São Paulo e/&/ Bahia. característica: música no centro. o trabalho de gil, caetano, gal, macalé, duda, capinam, waly (não esquecer o roque Mutantes/Rita Lee, via Duprat, mais um casamento sul/norte, eletrônico/Amaralina, Rita: “Serginho e Arnaldo deram dicas de guita para Gil e aprendemos com os baianos a Sobre o assunto, conferir a tese de doutorado de Benito Rodriguez, Luar da cidade, sertão de neon: literatura e canção nas obras de Catulo da Paixão Cearense e Orestes Barbosa, defendida na USP em 1998. 8 9 A esse respeito, conferir Itinerário de pasárgada, de Manuel Bandeira, autobiografia intelectual do poeta. 80 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE musicalidade da língua portuguesa”). muito interessado nisso de post-literatura. (DICK e CALIXTO, 2004, p. 363) Importante destacar essa idéia de uma “post-literatura”, que parece englobar qualquer produção textual criativa para além do suporte “livro” (sobretudo o livro como produto industrial, o meio de veiculação da produção literária na Modernidade), bem como dos tradicionais espaços de inserção e validação dos artistas da palavra (o mercado editorial, a crítica literária, a universidade). Tratase, numa mão, de um “flerte” com a produção dos poetas marginais do período (“malditos a todos os títulos”); e noutra, sobretudo, na valorização da canção como espaço propício e legítimo para a criação – e criação verbal. Em outra carta do escritor curitibano, agora endereçada ao então jovem poeta paulistano Régis Bonvicino (carta datada de 6 de novembro de 1978), surge uma formulação que se conecta com a anterior: tenho dois neutralizadores da literatura (2 anti-ambientes: - música popular / composição - publicidade / lay-out / arte. (LEMINSKI e BONVICINO, 1999, p. 120)10 Outra vez aqui a palavra “literatura” vem impregnada de sentidos negativos. Tratase de ir além da “literatura” (no sentido cristalizado do termo), procurar estímulos de criação e espaços de circulação fora dos meios literários mais tradicionais. Por aquela época, posteriormente à publicação do Catatau (1975), Paulo Leminski havia se envolvido bastante com a publicidade como opção profissional, e o contato com artistas gráficos vinha ao encontro de suas próprias investigações no campo da poesia informada pelo Concretismo. Por aqueles anos, seu trabalho como cancionista também se intensificara, seja nas composições individuais, seja nas parecerias, especialmente com os curitibanos Ivo Rodrigues e Marinho Gallera. As cartas a Bonvicino documentam ainda os encontros com músicos e compositores populares de passagem por Curitiba (Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Jorge Mautner, Jards Macalé, Tom Zé, Lucinha Turnbull), e o caráter positivo dessa interlocução.11 O papel da canção popular e de alguns dos seus principais nomes àquela altura fica ainda inequivocamente explicitado em alguns depoimentos do escritor, como nesta entrevista para Almir Feijó, no mesmo ano de 1978: (...) na nossa geração o centro da poesia se deslocou do livro pra música popular. Com a geração que produziu Caetano e Chico Buarque, viu se deslocar o pólo da poesia, do Aprofundei uma discussão desses tópicos no artigo “Nalgum lugar entre o experimentalismo e a canção popular”. 10 Sobre a vida de Leminski, consultar a biografia Paulo Leminski: o bandido que sabia latim, de Toninho Vaz. 11 81 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 suporte livro pro suporte disco. De repente os dois poetas da nova geração não estão editando livros. São músicos que fazem letras e estão gravando discos. Realmente, não existe nenhum poeta escrito que você possa contrapor a Caetano e Chico na música popular. Com Caetano e Chico aconteceu uma coisa na música brasileira. Uma coisa muito grande, uma mudança de códigos. E isso prosseguiu. A associação entre poesia e música tende a se tornar cada vez maior em termos de Brasil. Os poetas mais bem dotados, mais talentosos vêm, pelo menos, prestando muita atenção na poesia dos letristas da música popular. (LEMINSKI, 1994, p. 28) Noutro depoimento, de meados dos anos 80, um terceiro nome vem se somar aos dois já referidos: “Os três grandes poetas que a minha geração (tenho 40 anos agora) produziu são para mim Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque.” (LEMINSKI, 1985, p. 23) A consideração dos limites formais e pragmáticos entre canção e poesia é assunto controverso, e só recentemente tem recebido tratamento teórico adequado. Celso Favaretto, em passagem atrás abordada, fazia questão de sublinhar a “autonomia da canção” tropicalista frente a outras manifestações, o seu estatuto de “objeto artístico” diferenciado. Boa parte da produção acadêmica de Luiz Tatit, a partir de modelos oriundos da Semiótica, destina-se a investigar esse caráter autônomo da canção popular diante da música e da literatura, a despeito de sua clara vinculação ao verbal e ao sonoro. As formulações do escritor curitibano têm, portanto, muito de frase de efeito, muito de provocação, e antes de elidir, de fato, as fronteiras entre os gêneros “canção” e “poesia”, parecem indicar a existência de trocas várias entre eles, e, mais do que isso, reconhecer o papel referencial da música popular àquela altura para os autores mais estritamente ligados ao universo literário. Além de meio para a criação, na passagem dos anos 70 para os 80, a música popular se afigura a Leminski como estratégia clara de inserção de sua produção num contexto mais amplo. Em outra carta a Bonvicino, sem data, mas ao que tudo indica do ano de 1979, o escritor comenta recentes encontros com Gil e Caetano, e o desejo deste último de gravar a canção “Verdura” (efetivamente gravada no LP Outras palavras, de 1981), para grande satisfação do poeta. E conclui: “minha passagem para a MPB está para se completar: operação mass-mídia”. (LEMINSKI e BONVICINO, 1999, p. 156) De fato, a partir do início dos anos 80, o escritor verá canções suas, só e em parceria, gravadas por nomes de maior ou menor projeção na música popular brasileira, como o já citado Caetano Veloso, Paulinho Boca de Cantor, Moraes Moreira, Blindagem, A Cor do Som, Itamar Assumpção, Guilherme Arantes, MPB4, Ângela Maria, entre outros. Nos mesmos anos 80, sua poesia começa a circular de modo mais amplo, agora sob a chancela da Editora Brasiliense, que publica Caprichos e relaxos (1983), Distraídos venceremos (1987) e o póstumo La vie en close (1991). Assim, por um lado, a maior presença de material seu no rádio, no show e no disco alicerça sua visibilidade como escritor; e, em contrapartida, seu crescente prestígio como poeta, tradutor e crítico chama a atenção para essa sua outra faceta criativa, numa espécie de círculo que se retroalimenta. 82 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Mas dentro da produção literária restritamente voltada para o meio impresso, também a música popular tem presença relevante, como uma rápida apreciação dos seus três livros saídos pela Brasiliense revela. Logo no texto introdutório de Caprichos e relaxos, o poeta explicita a gama dentro da qual, a seu ver, sua poesia se realiza, bem como o papel do leitor em sua variada recepção: Aqui, poemas para lerem, em silêncio, O olho, o coração e a inteligência. Poemas para dizer, em voz alta. E poemas, letras, lyrics, para cantar. Quais, quais, é com você parceiro. (LEMINSKI, 1983, p. 8) Vale lembrar que este primeiro volume de poesia por uma grande editora, além de poemas mais recentes, reunia parte significativa da produção do escritor realizada nas duas décadas anteriores, desde suas experimentações mais marcadamente visuais nas páginas da Revista Invenção, do grupo concretista de São Paulo, ao longo dos anos 60, até aqueles textos publicados nos volumes não fosse isso e era menos / não fosse tanto e era quase e Polonaises, de circulação restrita a Curitiba, saídos em 1980. Tratava-se de material bastante heterogêneo, com poemas visuais ao lado de haicais; epigramas e poemas-piada ao lado de outros um pouco mais extensos, de versos polimétricos e linguagem coloquial; além de alguns textos escritos rente à prosa. O autor, sem reproduzir o título, incluía ainda o texto da letra da canção “Verdura”, gravada um pouco antes tanto por Caetano Veloso quanto pelo grupo curitibano Blindagem, numa sugestão de que não reconhecia claros limites entre poema e letra de música. Uma rápida passagem por poemas de Caprichos e relaxos revela a presença da música popular em vários deles, sobretudo referências a alguns ícones do rock anglo-americano e músicos brasileiros caros e próximos a Leminski. Num poema todo escrito em inglês, à maneira de fragmento de uma protest song de sabor tipicamente sessentista, cita-se canção de Lennon & McCartney, “Strawberry Fields Forever”, do LP dos Beatles Magical mystery tour (1967): business man make as many business as you can you will never know who i am your mother says no your father says never 83 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 you’ll never know how the strawberry fields it will be forever (LEMINSKI, 1983, p. 29) Logo adiante, em poema sem título, numa espécie de prédica endereçada ao deus “Dia”, Caetano Veloso figura ao lado do cineasta Glauber Rocha e do poeta e semioticista Décio Pignatari: dia dai-me a sabedoria de caetano nunca ler jornais a loucura de glauber ter sempre uma cabeça cortada a mais a fúria de décio nunca fazer versinhos normais (LEMINSKI, 1983, p. 58) Em “féretro para uma gaveta”, Jimi Hendrix surge referido ao lado de dois nomes axiais da modernidade literária: “esta gaveta do vício / rimbaud tinha uma / muitas hendrix / mallarmé nenhuma”. (LEMINSKI, 1983, p. 68) Em “riso para gil”, além da homenagem ao compositor baiano, o poeta cita verso de conhecida canção de Bob Marley, “No Woman No Cry”, celebrizada em versão para o português pelo mesmo Gil em contexto brasileiro no final da década de 1970 (“Não Chore Mais”): “everything is gonna be allright”. (LEMINSKI, 1983, p. 82) E noutro poema logo adiante, um simples brinquedo verbal, nova referência a Gilberto Gil, agora por intermédio da canção e do LP homônimo Realce (1979), o mesmo que trazia a versão da canção de Marley: “QUE TAL SE / FOSSE REAL / ESSE REALCE / QUE GIL SE / VIU VIAJOU / SE VIA GIL?” (LEMINSKI, 1983, p. 92) Em outro poema em inglês, paródia de uma letra ou refrão de rock, surge a referência a uma conhecida canção de Jagger & Richards, “It’s only Rock’n’Roll (But I like I)”, de LP homônimo dos Rolling Stones de 1974: it’s only life but I like it let’s go baby let’s go 84 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Volume 4 ◦ Número 1 this is life it is not rock and roll (LEMINSKI, 1983, p. 96) E noutro brinquedo verbal, de sabor bem trocadilhesco, nova referência a nome importante da cena musical brasileira, agora numa contraposição entre literatura e canção popular, com vantagem para a segunda: tudo que li me irrita quando ouço rita lee (LEMINSKI, 1983, p. 123) Ainda outros poemas se referem à música popular, como “desmontando o frevo” (p. 16), ou este outro, em que o despojamento de certo tipo de canção revela-se como aspiração para o poeta: “à pureza com que sonha / o compositor popular // um dia poder compor / uma canção de ninar”. (LEMINSKI, 1983, p. 96) Nos livros seguintes, as referências são bem menos frequentes. Mas não deixa de ser eloquente a dedicatória de Distraídos venceremos, endereçada a poetas de sua geração que são também letristas (Alice Ruiz e Antonio Cicero), a um poetacompositor-letrista (Arnaldo Antunes), e a um compositor igualmente habilidoso no trato das palavras (Itamar Assumpção): “Em direção a Alice, / cúmplice nesse crime de lesa-vida / chamado poesia. / Para Antonio Cicero, Arnaldo “Titã” Antunes / e – sobretudo – para Itamar Assumpção.” (LEMINSKI, 1987, p. 5) No mesmo livro, no poema “Diversonagens Suspersas”, o poeta parodia a “Canção do Expedicionário”, em rápida digressão metaliterária: “Por mais prosas que eu perverta, / não permita Deus que eu perca / meu jeito de versejar.” (LEMINSKI, 1987, p. 83) Em La vie en close, no poema “Limites ao Léu”, arrola-se conhecidas definições de poesia por diferentes autores – filósofos, poetas e críticos do meio da alta cultura quase todos (Dante, Maiakóvski, Ezra Pound, Goethe, Jakobson, Paul Valéry, Heidegger, Novalis, Coleridge, Wordsworth, Alfred de Vigny, Mallarmé, RicardoReis/Fernando Pessoa, Mathew Arnold, Sartre, Octavio Paz, Décio Pignatari, García Lorca, Roberto Frost), com exceção de um dos nomes centrais da música 85 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 pop norte-americana, Bob Dylan, e sua definição: “poetry is to inspire”. A lista se fecha com uma formulação do próprio Paulo Leminski, certamente desejoso de adentrar em tal panteão: “a liberdade da minha linguagem”. (LEMINSKI, 1991, p. 10) E finalmente, no mesmo livro, um haicai sintetiza bem o papel da música para Leminski: “nu como um grego / ouço um músico negro / e me desagrego”. (LEMINSKI, 1991, p. 151) O “grego” remete à tradição européia, culta, letrada, erudita, clássica. O vocábulo “nu” propõe justamente o ideal da beleza entre os gregos antigos, o corpo masculino despido, representado amiúde nas artes. A nudez aqui também pode ter o sentido de desvelamento, de despojamento, de entrega (inclusive erótica), ou ainda indicar a própria circunstância em que o “eu” do poema se encontra no momento em que a música o surpreende, em plena intimidade. O “negro”, por sua vez, remete à tradição africana, afro-brasileira, afro-americana, à cultura popular, à música popular, ao samba, ao blues, ao jazz. Trata-se, justamente, de um “músico negro”, que surge como um “outro” em relação ao “eu”, e que age incisivamente sobre ele, alterando radicalmente seu estado original. “Grego” e “negro” são vocábulos de sonoridades afins, nos sons vocálicos e nas combinações consonantais. Estabelecem uma rima toante, o que, curiosamente, instaura a semelhança no próprio âmago da diferença. O verbo em primeira pessoa ao final do poema, que indica as consequências da aproximação entre os dois termos, ou melhor, da ação do segundo sobre o primeiro, traz em seu bojo a palavra “grego”, que por sua vez trazia a palavra “ego”, posto que com o “ê” ainda fechado. Mas o “ego” latente em “grego” ficará evidente agora no “é” aberto do verbo “desagrego”, que conclui o poema. O movimento descendente da língua dentro da boca na passagem do som fechado para o aberto como que iconiza a ação que se representa aí (o vir abaixo, o desmontar-se, o desagregarse). É o próprio “eu” (“ego”) o que se “desagrega”, e esse movimento acontece paralelamente no plano dos sons e dos sentidos. A aproximação de elementos a princípio antitéticos é operação cara ao autor, como o título de um de seus mais conhecidos livros, Caprichos e relaxos, de imediato evidencia. Em clave autobiográfica, Leminski sempre fez questão de sublinhar sua origem miscigenada, européia e africana – “mestiço de polaco com negro”, como reza o pequeno texto “Sobre o Autor”, presente ao final de todos os seus livros de poemas pela Brasiliense. O haicai em questão acaba por se configurar também como uma espécie de miniatura que concentra em si um motivo ou assunto que o escritor já tratara caudalosamente num dos livros que lhe fez a fama como prosador experimental, o Catatau (1975). Vale lembrar que lá Leminski imaginava a vinda do filósofo René Descartes ao Brasil, acompanhando Maurício de Nassau, na 1ª metade do século XVII, durante a Invasão Holandesa. Em Olinda/PE, Descartes (ou Renatus Cartesius, no nome alatinado que está no livro) fuma maconha e observa, através de uma luneta, em delírio alucinatório, a fauna e a flora brasileiras num horto que Nassau mandara construir. O filósofo da razão perde a razão por intermédio 86 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE do alucinógeno e do contato com a exuberante natureza dos trópicos, elementos que subvertem as categorias do seu pensamento. A linguagem se desarticula, mimetizando os processos mentais do mesmo filósofo. Trata-se, em boa medida, do “grego” que se “desagrega” do haicai em questão. Mas neste é a música (e a música negra, e não qualquer outra) o que tem o poder de desestabilizar o pensamento e a razão, de desmontar o ego (e eventualmente a própria noção de subjetividade), portanto de pôr em xeque uma certa tradição ocidental (se se quiser insistir nessa possível conexão com o Catatau). Voltando ao texto de José Miguel Wisnik, trata-se menos de uma fruição “estéticocontemplativa” a que se representa aqui, como na música de concerto de extração européia, e mais de uma fruição “mágico-ritualística”, que põe o corpo no centro da cena. É ele que sofre a ação desse tipo de música, vigorosamente, e se transforma. A música, assim, acaba por vincular-se diretamente à sensação, ao sentimento, à emoção (muito mais do que à razão). O eu que se desagrega é certamente o do sujeito que sente e se emociona com o que ouve. Inevitável não lembrar de um breve poema do autor: “prazer / da pura percepção / os sentidos / sejam a crítica / da razão”. (LEMINSKI, 1987, p. 57) Num depoimento de 1985 (uma conversa entre Paulo Leminski, Guilherme Mansur, Alice Ruiz e Otávio Ramos, publicada em Poesia livre), o autor, numa visada diacrônica, procurava explicitar a transformação da sua obra ao longo do tempo, da visualidade fortemente influenciada pelo Concretismo no início da carreira à maior discursividade de sua poesia posterior. São formulações bastante agudas sobre o papel da voz e do canto em sua produção, e soam como bom acorde no desfecho deste artigo: Durante muito tempo, escrevi no espaço, no espaço branco da página, a página do livro, da revista, a página do pôster. Agora, eu poeto no tempo, na substância fugaz da voz, na música, na cadeia de sons da vida. Sobretudo, no corpo da voz, essa coisa quente que sai de dentro do corpo humano, para o beijo ou para o grito de guerra. (...) (DICK e CALIXTO, 2004, p. 290-291) Referências bibliográficas: ALEIXO, Ricardo. “No corpo da voz: a poesia-música de Paulo Leminski”. In: DICK, André e CALIXTO, Fabiano (orgs.). A linha que nunca termina: pensando Paulo Leminski. Rio de Janeiro: Lamparina, 2004. BANDEIRA, Manuel. Itinerário de pasárgada. 3ª ed. 8ª imp. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; Brasília: 1984. CAMPOS, Augusto de. Balanço da bossa e outras bossas. 2ª reimpr. da 5ª ed. de 1993. São Paulo: Perspectiva, 2005. (Coleção Debates, vol. 3) DICK, André e CALIXTO, Fabiano (orgs.). A linha que nunca termina: pensando Paulo Leminski. Rio de Janeiro: Lamparina, 2004. FAVARETTO, Celso. Tropicália: alegoria, alegria. 2ª ed. rev. São Paulo: Ateliê Editorial, 1996. 87 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde – 1960/70. 3ª ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1992. LEMINSKI, Paulo. Catatau. Curitiba: Grafipar. 1975. _____. Caprichos e relaxos. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1985. _____. Um escritor na biblioteca. Curitiba: Biblioteca Pública do Paraná, 1985. _____. Distraídos venceremos. São Paulo: Brasiliense, 1987. _____. Paulo Leminski. Série Paranaenses nº 2. Curitiba: Scientia et Labor, 1988. _____. La vie en close. São Paulo: Brasiliense, 1991. LEMINSKI, Paulo e BONVICINO, Régis. Envie meu dicionário: cartas e alguma crítica. Organização de Régis Bonvicino, com a colaboração de Tarso M. de Melo. São Paulo: Ed. 34, 1999. PINTO, Manuel da Costa. Antologia comentada da poesia brasileira do século 21. São Paulo: Publifolha, 2006. POUND, Ezra. Abc da literatura. Trad. de Augusto de Campos e José Paulo Paes. 5ª Ed. São Paulo: Cultrix, 1986. RODRIGUEZ, Benito Martinez. Luar da cidade, sertão de neon: literatura e canção nas obras de Catulo da Paixão Cearense e Orestes Barbosa. São Paulo, 1998. Tese de doutorado. USP - FFLCH. SANDMANN, Marcelo. “Nalgum lugar entre o experimentalismo e a canção popular: as cartas de Paulo Leminski a Régis Bonvicino”. Revista Letras. Curitiba: Editora da UFPR, n° 52, 2° semestre de 1999. SANTAELLA, Lúcia. Convergências: poesia concreta e tropicalismo. São Paulo: Nobel, 1986. SANT’ANNA, Affonso Romano de. Música popular e moderna poesia brasileira. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 1986. TATIT, Luiz. O cancionista: composição de canções no Brasil. São Paulo: EDUSP, 1996. _____ . O século da canção. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004. TATIT, Luiz e LOPES, Ivã Carlos. Elos de melodia e letra: análise semiótica de seis canções. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008. VASCONCELOS, Gilberto. Música popular: de olho na fresta. Rio de Janeiro: Graal, 1977. VAZ, Toninho. Paulo Leminski: o bandido que sabia latim. Rio de Janeiro, São Paulo: Record, 1991. VELOSO, Caetano. Verdade tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. WISNIK, José Miguel. “O Minuto e o Milênio ou Por Favor, Professor, Uma Década de Cada Vez”. In: _____. Sem receita: ensaios e canções. São Paulo: Publifolha, 2004. 88 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Abstract: Taking the work of the Curitiban writer Paulo Leminski as example, this paper investigates the place occupied by popular music in Brazilian culture in the last decades of the 20th century. Also, it investigates some relations of popular music with the literary production of the period. Keywords: Paulo Leminski, Brazilian Popular Music, Brazilian Poetry. Recebido em 15/05/2009. Aprovado em 01/06/2009. 89 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE 90 Junho de 2009 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Volume 4 ◦ Número 1 A valorização do “desqualificado” na poética de Manuel Bandeira ENSAIO Luciano Marcos Dias Cavalcanti* Resumo: Este trabalho tem como objetivo principal constatar a valorização do “pequeno” (entendido como: o detalhe, o humilde, e as coisas consideradas simples e banais do cotidiano) e do “desqualificado” na obra poética de Manuel Bandeira. Palavras-chave: Manuel Bandeira, poesia, “desqualificado”. Uma das coisas mais importantes da ficção literária é a possibilidade de poder “dar voz”, de mostrar em pé de igualdade os indivíduos de todas as classes e grupos, permitindo aos excluídos exprimirem o teor da sua humanidade que de outro modo não poderia ser verificada. Antonio Candido O início da produção poética de Manuel Bandeira foi influenciado pela estética parnasiano-simbolista, que usava da linguagem de estilo elevado e das metáforas penumbristas para se expressar. Logo após A cinza das horas, já percebemos, em Bandeira, um processo de libertação de sua herança parnasiano-simbolista; sua linguagem começa a se desvincular do estilo elevado da poética tradicional incorporando a esta elementos da cultura popular. Em Manuel Bandeira, o grande é encontrado sutilmente no pequeno. E para isso, o poeta utiliza as palavras do dia-a-dia, o verso livre e valoriza o que é comumente considerado desqualificado como matéria poética. Posteriormente ao primeiro momento modernista, em que seus ideólogos assumiram uma posição iconoclasta, negando o sublime e questionando as classificações e concepções de arte culta, principalmente a partir de 1924, os modernistas tendem a uma atitude mais conciliatória para com a tradição. No entanto, uma das características básicas de todo o modernismo brasileiro é a tendência a recuperar a cultura popular, tradicionalmente excluída pelo conceito de cultura elitista tradicional. O que havia no país, antes do modernismo, era predominantemente a separação entre o erudito e o popular, o elevado e o baixo, e assim por diante. Representando o panorama cultural brasileiro de forma homogênea e sem originalidade, muito mais preocupado em copiar o modelo “civilizado” do que em criar sua própria concepção artística e cultural. * Doutor em Teoria e História Literária – IEL/UNICAMP. 91 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 Os modernistas, combatendo essa perspectiva submissa à cultura européia, passam a valorizar o popular e também a incorporá-lo a sua proposta estética. Esta nova atitude, provinda das estéticas vanguardistas como a futurista, a cubista e a surrealista, etc., derruba as categorias até então consideradas símbolos do valor artístico, como a do “sublime” e do “vulgar”, da “alta” e da “baixa cultura”. É, sem dúvida, a emergência do Modernismo, como um valor questionador de toda uma tradição que historicamente via como “arte superior” somente a arte associada à cultura branca européia, que coloca em pauta todo um repertório popular anteriormente desqualificado, nesse momento posto como matéria artística. Uma prática corrente nos anos 20 e 30, no modernismo brasileiro, era a da valorização da simplicidade (como a utilização da linguagem do dia-a-dia e a valorização da cultura popular) para a concepção de obras artísticas. Esta simplicidade pode ser notada nos poemas e romances de Oswald de Andrade, em parte da obra literária de Mário de Andrade, nos poemas de Manuel Bandeira, entre outros autores. Manuel Bandeira, em seu poema “Testamento”, nos diz: “Sou poeta menor, perdoai!/Não faço versos de guerra”. Nestes versos, Bandeira fala de sua impossibilidade de fazer “versos de guerra”, ou seja, versos engajados. Quando estes versos foram escritos, a maioria dos poetas brasileiros, como Drummond, com “Carta a Stalingrado”; Cecília Meireles com “Jornal, Longe”; Murilo Mendes com “Aproximação do Terror”, entre outros, estavam escrevendo poemas engajados, relacionados ao contexto histórico-social da época, em que estava havendo mortes, massacres e destruição por causa da Segunda Guerra Mundial. Manuel Bandeira nos diz que a emoção social aparece pela primeira vez em sua poesia em “Chanson des petits esclaves” e “Trucidaram o rio” e, posteriormente, reaparecerá em “O martelo” e “Testamento” (Lira dos Cinquent’Anos), em “No vosso e em meu coração” (Belo Belo), e na “Lira do Brigadeiro” (Mafuá do Malungo). Bandeira também nos diz que por estes poucos poemas de carga social não podemos considerá-lo um poeta maior, mesmo tendo ele desejo de participação mais efetiva. Para Bandeira, só Carlos Drummond de Andrade era capaz de exprimir com propriedade tais emoções sociais, como o fez em Sentimento do Mundo e a Rosa do Povo. (ver BANDEIRA,1984: 102) Manuel Bandeira não é um poeta engajado, não fez poesia participante. Vejamos o que nos diz o poeta em seu Itinerário de Pasárgada: “Tomei consciência de que era poeta menor; que me estaria para sempre fechado o mundo das grandes abstrações generosas; que não havia em mim aquela espécie de cadinho onde, pelo calor do sentimento, as emoções maiores se transmudam em emoções estéticas: o metal precioso ou teria que sacá-lo a duras penas, ou melhor, a duras esperas, do pobre minério das minhas pequenas dores e ainda menores alegrias.” (BANDEIRA, 1984: 30) Para Péricles da Silva Ramos, em Itinerário de Pasárgada (1954), livro em que Bandeira historia sua vida literária, Bandeira comete um equivoco “em sua excessiva modéstia: por exemplo, quando perfilha a arbitrária caracterização da 92 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE poesia lírica e da poesia social (ou solidária) como menor e maior. O critério que preside a essa distinção nada tem de comum com a História nem com a Teoria da Literatura, que não podem sequer levá-la a sério.” (RAMOS, 1980: 141) Apesar de Manuel Bandeira não ser um poeta engajado, não quer dizer que ele viveu em uma “torre de marfim”, isolado do mundo e de tudo, contemplando a si mesmo. Muito pelo contrário. Manuel Bandeira tem os pés no chão. É solidário com as pequenas coisas e com a miséria social em que as pessoas humildes vivem, como podemos ver pelo fato do poeta se utilizar do popular como matéria de sua poesia, assim transparecendo uma potencialidade política visível em seus poemas. Mas não com a intenção revolucionária de mobilização das massas para a revolução como faria um poeta engajado. Em Andorinha, Andorinha Bandeira nos diz: “... o poeta não é um sujeito que vive no mundo da lua, perpetuamente entretido em coisas sublimes. É, ao contrário, um homem profundamente misturado à vida, no seu mais limpo ou mais sujo cotidiano” (BANDEIRA, s/d: 18). Com isso, podemos notar a inserção do poeta na existência real, no mundo misturado do cotidiano. Bandeira retira no dia-a-dia de seu povo a matéria de sua poesia na qual o “eu” se acha situado, portanto “a pobreza se revela como condição real de dar forma ao poema (...). Para nosso poeta, a poesia não está no mundo da lua, mas na terra dos homens, no chão do cotidiano” (ARRIGUCCI, 1987: 11). Sobre a valorização que Bandeira dá aos humildes e aos desqualificados, é importante notarmos que o poeta não vê a pobreza ou a miséria como algo poético e bom, reforçando assim a condição de miséria e exploração em que vive o povo brasileiro por causa dos descuidos e dos desmandos dos governantes. Bandeira retira do dia-a-dia de seu povo a matéria de sua poesia, no qual o “eu” se acha situado. Vejamos o que diz o poeta, a esse respeito, no seu Itinerário de Pasárgada: “Da janela do meu apartamento em Moraes e Vale podia contemplar a paisagem, não como fazia do morro do Curvelo, sobranceiramente, mas como que dentro dela: as copas das árvores do passeio público, os pátios do convento do Carmo, a baía, a capelinha da Glória do Outeiro (...) No entanto, quando chegava à janela, o que me retinha os olhos, e a meditação, não era nada disso: era o becozinho sujo em baixo, onde vivia tanta gente pobre - lavadeira e costureiras, fotógrafos do Passeio Público, garçons de cafés.” (BANDEIRA, 1984: 81) Manuel Bandeira nega a trivialidade da vida burguesa, lança um olhar crítico à rotina tediosa do dia-a-dia burguês. E busca no popular a matéria de sua poesia. Bandeira também busca sua inspiração na rua e no bar, entre salões literários, prostíbulos, livrarias, cabarés e cafés-cantantes, locais que constituíam uma via de comunicação real e efetiva do poeta com seu povo. Nestes lugares – o Amarelinho, a Lapa e a José Olympio, no Rio de Janeiro; o Franciscano, a Rua Lopes Chaves (endereço de Mário de Andrade, outro poeta que manteve uma relação estreita com a música e a cultura popular), em São Paulo –, como ressalta Arrigucci foram locais onde “travavam-se relações variadas entre mundos heterogêneos. Salões da alta burguesia, da aristocracia paulista do café e movimentados focos da vida 93 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 boêmia carioca, em meio à gente pobre da Lapa. Salões, cafés, restaurantes, livrarias, cabarés e botequins não foram apenas pontos de encontro da roda literária dos anos 20 e 30; foram cadinhos de relações importantes, pessoais e sociais de classe, de raça, relações intersubjetivas, que acabaram por integrar a nova matéria artística, com sensível aguçamento da consciência do escritor com respeito à realidade em volta e evidente ampliação do próprio conceito de literatura.” (ARRIGUCCI, 1990: 64) Outro aspecto importante a se ressaltar em Manuel Bandeira é o seu relacionamento estreito com a música; sua obra é marcadamente musical. Bandeira leva sua poesia ao sentido primitivo, que é o canto. O poeta é amante da música, autor de vários poemas musicados. Notadamente, o poeta mais musicado do país. Letrista, colaborador e amigo de vários músicos importantes e crítico bissexto. O fato de ser tão marcadamente musical com certeza é o motivo de sua poesia ter sido preferencialmente musicada pelos compositores brasileiros. Bandeira é um poeta que se identifica com a música, ele próprio nos diz: “sinto que na música é que conseguiria exprimir-me completamente.” (BANDEIRA, 1984: 50) O poeta chegou a estudar música, teoria musical e tocar instrumentos como o piano e o violão. Esta aproximação com a música pode ser vista também como um meio de aproximação da tradição popular. A música, para Bandeira, é um objeto usado para construção de seus poemas, para isso o poeta fez uso de técnicas musicais na estrutura dos poemas, buscando efeitos semelhantes aos da música. Unindo, assim, as duas artes irmãs. Uma “personagem” freqüente na poesia de Manuel Bandeira é a do poeta e músico Jaime Ovalle. Há várias referências a seu nome em poemas, no Itinerário de Pasárgada, nas crônicas e nas cartas do poeta. Manuel Bandeira chegou até mesmo a escrever vários poemas em que notamos a presença de Ovalle. Um deles tem o nome do compositor em seu título. Considerado de grande importância para o entendimento de sua obra é o “Poema só para Jaime Ovalle”. Um poema que valoriza o cotidiano e que tem no título o nome de um compositor de música popular brasileira. Jaime Ovalle, considerado representante do ambiente boêmio da Lapa, tinha em seu círculo de amizades sambistas consagrados, hoje mitológicos, como Sinhô, Donga, João da Baiana, Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Catulo da Paixão Cearense, entre outros. Além de músicos, a Lapa também concentrava outras personalidades que fizeram desta não somente um centro de zona boêmia e da música, mas também um espaço literário. Eram poetas, artistas e intelectuais como Raul de Leoni, Ribeiro Couto, Dante Milano, Manuel Bandeira, Sérgio Buarque, Caio de Mello Franco, Osvaldo Costa, Di Cavalcanti, Cícero Dias e VillaLobos. A Lapa foi mitificada por todas estas pessoas com suas “histórias”, suas memórias, seus desejos, suas verdades e suas paixões. Lembra-nos a própria Pasárgada bandeiriana, como o próprio poeta diz sobre a roda boêmia e cultural da Lapa: “o ambiente, de resto, favorecia as iluminações...” (Apud ARRIGUCCI, 1990: 67) Uma presença garantida na obra poética de Manuel Bandeira é a dos desvalidos. Em 94 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE sua obra, se configura uma galeria de desqualificados, tanto socialmente quanto moralmente, como por exemplo, as pessoas pobres, trabalhadores assalariados, como o pedreiro e o operário; trabalhadores autônomos de baixa renda, como os camelôs e vendedores ambulantes; as pessoas que não seguem a moral e os bons costumes da tradição pequeno-burguesa e cristã, como malandros, prostitutas, travestis; além das pessoas humildes moradoras dos subúrbios. Manuel Bandeira nos declara, em seu Itinerário de Pasárgada, que foi na sua infância, na casa de Larangeiras, que travou contato com as pessoas simples: “nunca faltava pão, mas a luta era dura. E eu desde logo tomei parte nela, como intermediário entre minha mãe e os fornecedores – vendeiro, açougueiro, quitandeiro, padeiro. Nunca brinquei com os moleques da rua, mas impregnei-me a fundo do realismo da gente do povo.” (BANDEIRA, 1984: 22) E inclusive este contato com o povo lhe fornece um importante recurso lingüístico utilizado em sua poética, posteriormente: a linguagem popular. Outra declaração de Bandeira, em seu Itinerário, nos ajuda a perceber a importância dessa linguagem: “essa influência da fala popular contrabalançava a minha formação no Ginásio, onde em matéria de linguagem eu me deixava assessorar por meu colega Sousa da Silveira, naquele tempo todo voltado para a lição dos clássicos portugueses.” (BANDEIRA, 1984: 22) Posteriormente, Bandeira declara que foi na Rua do Curvelo que o elemento do humilde cotidiano começou a se manifestar em sua poesia. Para o poeta, este elemento não resultava de nenhuma intenção modernista, mas simplesmente do ambiente do morro do Curvelo. Manifestação que não pode ser encarada como exclusiva, pois, como sabemos, encontramos além dessa manifestação do popular que o poeta diz provir da Rua do Curvelo, a presença de várias manifestações da estética modernista em sua poética. De acordo com Davi Arrigucci, a compreensão da “atitude humilde” de Manuel Bandeira, é um dos problemas mais complexos de sua obra. Configurada no despojamento e na redução ao essencial, tanto nos temas quanto na linguagem, esse tipo de atitude pode ser encarada de diversas maneiras. Uma decisiva é a da sua relação com a pobreza. “Trata-se, antes de mais nada, de uma postura depurada do espírito. E também de uma disposição para agir e significar, que acaba implicando um modo específico de conceber o poético e fazer concretamente o poema. Uma atitude estilística, enfim, em que o modo de ser se converte num modo de ver a vida e a poesia, numa concepção do fazer – fundação de uma poética. É este o termo que, na sua acepção do original, parece caber à noção que Bandeira tem do fazer poético: uma atividade do espírito, em momentos de súbita iluminação, concretizada em obras feitas de palavras. E trata-se de uma poética centrada num paradoxo: o da busca de uma simplicidade em que brilha oculto o sublime.” (ARRIGUCCI,1987:106-7) Estas relações empreendidas por Manuel Bandeira com o elemento humilde se tornam constituintes de uma concepção poética, se materializando na construção do poema, que, como diz Arrigucci, na verdade, “corresponde a uma inserção do poeta na existência real, no mundo, no mundo misturado do cotidiano. Ao 95 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 contrário de que se poderia pensar, o poeta, ao construir o poema, não estará poetizando o cotidiano.(...) Não se trata absolutamente de elevar o que se capta no plano comum do dia-a-dia, mas de desentranhar aqui o poético, junto às circunstâncias em que o Eu se acha situado. A pobreza se revela então como condição real de dar forma ao poema.” (ARRIGUCCI,1987:108) O que demonstra a clara relação entre o artista e seu meio, como exprime SainteBeuve: “o poeta não é um resultante, nem mesmo um simples foco refletor; possui o seu próprio espelho, a sua mônada individual e única. Tem o seu núcleo e o seu órgão, através do qual tudo o que passa se transforma, porque ele combina e cria ao devolver à realidade.” (Apud CANDIDO, 1985: 18) Portanto, será da rua e do povo simples que Manuel Bandeira irá retirar os elementos essenciais para construção de sua poética, como bem demonstra seus depoimentos e seus poemas que passamos a analisar. Vejamos o poema “Estrela da Manhã”. Eu quero a estrela da manhã Onde está a estrela da manhã? Meus amigos meus inimigos Procurem a estrela da manhã Ela desapareceu ia nua Desapareceu com quem? Procurem por toda parte Digam que sou um homem sem orgulho Um homem que aceita tudo Que me importa? Eu quero a estrela da manhã Três dias e três noites Fui assassino e suicida Ladrão, pulha, falsário Virgem mal-sexuada Atribuladora dos aflitos Girafa de duas cabeças Pecai por todos pecai com todos Pecai com os malandros Pecai com os sargentos Pecai com os fuzileiros navais Pecai de todas as maneiras Com os gregos e os troianos Com o padre e o sacristão 96 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Volume 4 ◦ Número 1 Com o leproso de Pouso Alto Depois comigo Te esperarei com mafuás novenas cavalhadas [comerei terra e direi coisas [de uma ternura tão simples Que tu desfalecerás Procurem por toda parte Pura ou degradada até a última baixeza Eu quero a estrela da manhã. Este poema abre o livro de mesmo nome e, inicialmente, nos mostra uma busca incessante à “estrela da manhã”: uma prostituta. Vindo de três dias e três noites (provavelmente as noites do carnaval) de buscas e auto-humilhação, sem se preocupar com a censura ou vergonha, o eu lírico invoca a “estrela da manhã”; ao se relacionar com vários tipos “desvalidos” é considerada uma depravada sexual, como bem demonstram as suas quatro últimas estrofes. Outro ponto importante a se ressaltar é a presença constante dos elementos rosa e estrela tão presente na poética bandeiriana, como bem observaram Antonio Candido e Gilda de Melo e Souza, em ensaio introdutório à Estrela da Vida Inteira. A “estrela da manhã” é uma mulher extremamente ativa, no que diz respeito à sua sexualidade, que chega mesmo a escapar ao domínio masculino, sem vergonha e sem censura: “Digam que sou homem sem orgulho/Um homem que aceita tudo/Que me importa?/Eu quero a estrela da Manhã”. Dessa forma, o amante apaixonado não se importa com o envolvimento amoroso-sexual de sua amada com outros amantes. Depois do relacionamento da “estrela da manhã” com os tipos mais desqualificados possíveis, o amante “enfeitiçado” ainda a quer e a recebe com presentes e carinho. Depois comigo Te esperarei com mafuás novenas cavalhadas [comerei terra e direi coisas [de uma ternura tão simples Que tu desfalecerás Procurem por toda parte Pura ou degradada até a última baixeza Eu quero a estrela da manhã. Outro poema que revela a estreita relação de Manuel Bandeira com os “desvalidos” é o “Poema tirado de uma notícia de jornal” no qual a matéria básica é a vida de um trabalhador humilde: João Gostoso. 97 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 João Gostoso era carregador de feira-livre e morava no [morro da Babilônia num barracão sem número Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro Bebeu Cantou Dançou Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. O nome da personagem do poema refere-se a uma pessoa comum, do povo, indica a condição social do sujeito, generalização do povo brasileiro. Todos são Joões. Há uma substituição do sobrenome por um apelido comum porque não pertence à família importante. João Gostoso tem um emprego sem nenhum prestígio social é carregador de feira-livre. Este emprego implica o uso da força física e a baixa remuneração, reforçando assim a condição humilde deste sujeito. Outro fator que é também importante observarmos, o qual reforça ainda mais as condições precárias da “personagem” do poema, é a sua origem: João Gostoso mora em uma favela carioca, no morro da Babilônia em um barracão sem número. João Gostoso é um indivíduo humilde de uma grande cidade, onde se chocam as contradições do desenvolvimento moderno e do atraso. O poeta, ao nos revelar esse retrato da pobreza, se solidariza com ela e nos mostra a poesia no “baixo” onde o sublime se oculta, numa vida humilde e simples. Outro ponto importante presente no poema é o fato deles extraírem a poesia de onde menos se espera. A poesia aqui é retirada do mais humilde cotidiano, da vida de uma pessoa humilde e trabalhadora. Ao retirarem a poesia deste meio “baixo”, não “elevado”, o poeta se afasta da matéria da poesia tradicional na qual o poético significa o nobre e o raro. Para o poeta, a poesia está no chão, no mais humilde cotidiano. Mais um elemento importante presente neste poema é o da modernidade, acentuado pela poesia prosaica (produção poética moderna), na qual o homem está na grande cidade, inserido no seu espaço, em seu cotidiano, em suas ruas, em suas multidões de anônimos. Sofrendo as degradações a que o mundo moderno sujeita os homens com suas experiências, como também nos mostra outro poema de Manuel Bandeira denominado “Tragédia Brasileira”. Este poema se assemelha profundamente ao “Poema tirado de uma notícia de um jornal. “Tragédia Brasileira” foi retirado de uma notícia de um crime passional de um jornal. Sua estruturação é muito próxima à da prosa, o que nos sugere modernamente um “poema em prosa”. Talvez por ter sido tirado de uma notícia de jornal, Bandeira tenha preferido construí-lo formalmente desse modo, diferenciando-se assim, (nesse sentido) de seu poema de mesmo nome. O poema trata da história de Misael, um funcionário da fazenda, de 63 anos, que tirou Maria Elvira, uma prostituta, da Lapa. Pagou médico, dentista, manicura, mudou de vários lugares 98 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Volume 4 ◦ Número 1 por causa dos namorados que a moça arranjava. Estes locais por onde Misael e Maria Elvira passaram são uma espécie de peregrinação a vários subúrbios carioca, demonstrando assim mais um elemento humilde presente na poética bandeiriana: “Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, rua General Pedra, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, rua Marquês do Sapucaí, Niterói, Encantado, rua Clapp, outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavradio, Boca do Mato, Inválidos...”. Ironicamente, “Misael” acabou matando Maria Euvira vestida com seu organdi azul, com seis tiros, na Rua da Constituição, privado da razão e dos sentidos. Retomando o poema que vínhamos analisando, podemos notar que o poeta se inspira num drama de um João–ninguém e o transformam em uma experiência humana, densa e complexa. Um destino particular é transformado em um valor geral, abstrato e universal do indivíduo angustiado, tanto é que João Gostoso acaba por dar fim à sua vida. Em “Poema tirado de uma notícia de jornal” é exposto de forma emblemática o destino de uma pessoa humilde de uma grande cidade, mostrando a condição de incerteza da vida moderna. O elemento social presente no poema não é tomado como um simples engajamento político, mas ao contrário, a referência ao social revela nelas próprias algo de essencial, algo que fundamenta sua qualidade poética. O que para Adorno “[Essa referência] não deve levar embora da obra de arte, mas levar ao mais fundo dela. (...) pois o conteúdo de um poema não é a mera expressão de emoções e experiências individuais. Pelo contrário, estas só se tornam artísticas quando, exatamente em virtude da especificação do seu tomarforma estético, adquirem participação no universal.” (ADORNO, 1980: 193) Manuel Bandeira mostra que é possível encontrar a poesia no “mais humilde cotidiano, de onde o poético pode ser desentranhado, à força da depuração da linguagem, na forma simples e natural do poema.” (ARRIGUCCI, 1990: 15) Outro topos importante, no que diz respeito à presença do “desqualificado” e do humilde na poética bandeiriana, se revela na valorização da vida simples, configurada na rotina e na forma de vida dos subúrbios. A paz que é passada pela vida destas pessoas se contrapõe à vida agitada e conturbada dos grandes centros urbanos considerados comumente como desconfortáveis, pela falta de harmonia entre seus cidadãos que, agitados, já nem mesmo se cumprimentam. É a perda de um modo de vida mais lento e tranqüilo, visto pelo poeta como saudável e prazeroso. Assim o demonstram bem os poemas de Manuel Bandeira, “Evocação do Recife” e “Recife”. No primeiro poema, podemos notar a estreita relação do poeta com o cotidiano que é elevado a mais alta emoção poética. O que importa, para o poeta, não é o Recife glorificado, mas sim o Recife de sua infância, sem história, sem importância para outras pessoas, senão para ele. Recife Não a Veneza americana Não a Mauritsstad dos armadores das Índias Ocidentais 99 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 Não o Recife dos Mascates Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois – Recife das revoluções libertárias Mas o Recife sem história nem literatura Recife sem mais nada Recife da minha infância A Rua da União onde eu brincava de chicote-queimado e [partia as vidraças da casa de Dona Aninha Viegas Totônho Rodrigues era muito velho e botava o pincenê na [ponta do nariz Depois do jantar as famílias tomavam a calçada com cadeiras, [mexericos, namoros, risadas (...) Recife... Rua da União... A casa de meu avô... Nunca pensei que ela acabasse! Tudo lá parecia impregnado de eternidade Recife... Meu avô morto. Recife morto, recife bom, Recife brasileiro como a casa de meu avô. É neste Recife que se forma a mitologia bandeiriana, constituída de elementos verdadeiramente populares, portanto, opondo-se à mitologia clássica. Bandeira nos fala a respeito da formação de sua mitologia: “construiu-se minha mitologia, e digo mitologia porque os seus tipos, um Totônho Rodrigues, uma D. Aninha Viegas, a preta Tomásia, velha cozinheira da casa de meu avo Costa Ribeiro, têm para mim a mesma consistência heróica das personagens dos poemas homéricos. A Rua da União, com os quatro quarteirões adjacentes limitados pelas ruas da Aurora, da Saudade, Formosa e Princesa Isabel, foi a minha Troada; a casa de meu avo, a capital desse país fabuloso.” (BANDEIRA, 1984: 21). “Evocação do Recife” é um poema fundamental para o entendimento da poética bandeiriana, pois nele podemos notar a presença das principais temáticas de sua poesia, como por exemplo: a linguagem coloquial, a infância, a morte, a humildade, etc. No entanto, o que no presente momento pretendemos mostrar, com o fragmento deste poema, é a presença marcante e nostálgica do Recife provinciano e interiorano onde as famílias após o jantar “(...) tomam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas”, remetendo-nos a um ambiente bom de extrema simplicidade e felicidade como o próprio final do poema nos afirma: “Recife morto, Recife bom, Recife brasileiro como a casa de meu avô.” Desse modo, o poema mostra perfeitamente o ambiente nostálgico que o poeta diz ser bom, 100 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Volume 4 ◦ Número 1 o Recife interiorano de sua infância onde as pessoas podiam com tranqüilidade e paz viver num ambiente agradável e até mesmo mágico, já que o mundo infantil é cheio de imaginação. É este Recife, de 1925, ano em que foi escrito o poema, que está morto, que o poeta busca rememorar em seus versos. O poema “Recife” reitera esta busca da vida agradável e simples levada nos subúrbios e no interior. Há que tempo que não te vejo! Não foi por querer, não pude. Nesse ponto a vida me foi madrasta, Recife Mas não houve dia em que te não sentisse dentro de mim: Nos ossos, nos olhos, nos ouvidos, no sangue, na carne, Recife. Não como és hoje, Mas como eras na minha infância, Quando as crianças brincavam no meio da rua (Não havia ainda automóveis) E os adultos conversavam de cadeiras nas calçadas (Continuavas província Recife) Eras um Recife sem arranha-céus, sem comunistas, Sem Arraias, e com arroz, Muito arroz, De água e sal, Recife. Um recife ainda do tempo em que meu avô materno Alforriava espontaneamente A moça preta Tomásia, sua escrava, Que depois foi nossa cozinheira Até morrer, Recife. Como podemos perceber, o poema “Recife” parece uma reafirmação do poema “Evocação do Recife”, já que naquele podemos notar a presença dos mesmos elementos presentes na evocação do poeta. O Recife do passado é novamente rememorado “Não como és hoje,/mas como eras na minha infância”. No entanto, esse Recife (que não existe mais), mitificado pelo poeta, esta sempre presente em sua vida, como se estas lembranças tão marcantes para ele estivessem entranhadas em seu corpo: “Mas não houve dia em que não te sentisse dentro 101 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 de mim:/Nos ossos, nos olhos, nos ouvidos, no sangue, na carne,”. Portanto, este Recife funciona como uma substância revivescente e que dá força e alegria ao poeta para poder suportar sua “vida madrasta.” A obra de Manuel Bandeira nos apresenta uma espécie de galeria dos “desvalidos”. A constância desses personagens é tão grande que, em certos textos, vamos encontrar diversos representantes dessa categoria de personagens, concentrados em apenas um poema, como podemos ver no poema “Mangue”. Mangue mais Veneza americana do que o Recife Cargueiros atracados nas docas do Canal Grande O Morro do Pinto morre de espanto Passam estivadores de torso nu suando facas de ponta Café baixo Trapiches alfandegados Catraias de abacaxis e de bananas A Light fazendo crusvaldina com resíduos de coque Há macumbas no piche Eh cagira mia pai Eh cagira E o luar é uma coisa só Houve tempo em que a Cidade Nova era mais subúrbio do [que todas as Meritis da Baixada pátria amada idolatrada de empregadinhos de repartições [públicas Gente que vive porque é teimosa Cartomantes da Rua Carmo Neto Cirurgiões-dentistas com raízes gregas nas tabuletas avulsivas O Senador Eusébio e o Visconde de Itaúna já se olhavam [com rancor (Por isso Entre os dois Dom João VI mandou plantar quatro renques de palmeiras imperiais) Casinhas tão térreas onde tantas vezes meu Deus fui funcionário [público casado com mulher feia [e morri de tuberculose pulmonar Muitas palmeiras se suicidaram porque não viviam num [píncaro azulado. Era aqui que choramingavam os primeiros choros dos carnavais [cariocas. Sambas da tia Ciata Cadê mais tia Ciata Talvez em Dona Clara meu branco Ensaiando cheganças para o Natal 102 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Volume 4 ◦ Número 1 O Menino Jesus – Quem sois tu? O preto – Eu sou aquele preto principá de centro do [cafange do fundo do rebolo. Quem sois tu? O Menino Jesus – eu sou o fio da Virge Maria. O preto – Entonces como é fio dessa senhora, obedeço. O Menino Jesus – Entonces cuma você obedece, reze [aqui um terceto pr’esse exerço vê. O Mangue era simplesinho Mas as inundações dos solstícios de verão Trouxeram para Mata-Porcos todas as uiaras da Serra da Carioca Uiaras do Trapicheiro Do Maracanã Do rio Joana E vieram também sereias de além-mar jogadas pela ressaca [nos aterrados da Gamboa Hoje há transatlânticos atracados nas docas do Canal Grande O Senador e o Visconde arranjaram capangas Hoje se fala numa porção de ruas em que dantes ninguém acreditava E há partidas para o Mangue Com choros de cavaquinho, pandeiro e reco-reco És mulher És mulher e nada mais OFERTA Mangue mais Veneza americana do que o Recife Meriti meretriz Mangue enfim verdadeira Cidade Nova Com transatlânticos atracados nas docas do canal Grande Linda como Juiz de Fora! O ambiente deste poema é povoado pelos mais diversos tipos de pessoas desqualificadas socialmente. Como o próprio lugar já o indica, o Mangue é onde vemos perambular entre “catraias de abacaxis e bananas” estivadores de torsos nus e suados, trapiches, meretrizes, empregadinhos de repartições públicas, cartomantes, macumbeiras, etc., gente que o poeta diz – como ainda é costume dizer até hoje: “Gente que vive porque é teimosa”. Teimosos porque suas condições de vida são extremamente precárias, desprovidos de qualquer requisito de vida saudável, condições de higiene e moradia. Ambiente, portanto, caracterizado como baixo, onde até mesmo as palmeira imperiais suicidam, pois não poderiam viver ali, já que são nobres. Mas este ambiente não é desqualificado pelo poeta, muito pelo contrário; é um lugar que, com a mudança vinda com a construção da “Cidade Nova”, perde sua áurea, pois foi nesse local que surgiram os primeiros choros de carnaval, onde se 103 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 podiam escutar os sons do pandeiro, do cavaquinho e do reco-reco, sons provindos deste ambiente e também da famosa casa de Tia Ciata, incentivadora do samba no seu nascimento e que também recebia, em sua casa, os sambistas pobres e as pessoas da classe alta e política do Rio de Janeiro. Portanto, é de forma saudosa que o poeta fala deste “Mangue”, como um lugar poético e bom. Como pudemos ver a figura do desqualificado está sempre presente na poética de Manuel Bandeira. Poderíamos ainda nos estender nas análises de muitos outros poemas em que este tema está presente. Por exemplo, podemos constatar ainda a presença do camelô em seu poema de mesmo nome, do ferreiro que bate seu martelo com “seu cântico de certezas”, em seu poema “O martelo”, das mulheres prostitutas, negras e pobres da Lapa boêmia, no poema “Última canção do beco” entre outros. O discurso literário em grande parte de sua tradição representou e associou o pobre, predominantemente, ao pitoresco e ao rústico. Portanto, o pobre normalmente não chega a ser representado em si, mas sim por um imaginário que normalmente vai caricaturá-lo ou utilizá-lo como passaporte para uma pseudo-realização literária legitimada muitas vezes pelo engajamento político, ou até mesmo, como fez o Naturalismo, que utilizou a ideologia positivista para associar os pobres a um inevitável destino ao fracasso. O que podemos notar na representação dos desqualificados feita por Manuel Bandeira é que a pobreza “aparece como objeto da representação literária, isto é, como assunto a que não se pode furtar um poeta com os olhos voltados para a realidade brasileira, onde a miséria é o prato de cada dia. Mas não é como tema que a pobreza aqui importa. É essencialmente no modo de representação que se afirma sua importância fundamental: concebida como um valor ético de base, um modo de ser exemplar, a humildade se converte ainda num princípio formal de estilo. É, então, no modo de ser mais íntimo da linguagem poética, no coração da lírica, que o social surge como uma dimensão decisiva: a relação com a pobreza passa ser um fator interno da estruturação com a obra.” (ARRIGUCCI, 1987: 113) Manuel Bandeira em sua obra reconhece o outro, resgata sua experiência tanto da dor quanto da alegria, que na verdade pertencem a todos os seres humanos e não somente a uma classe privilegiada. O indivíduo está inserido no mundo, sujeito a todas prováveis situações que possam ocorrer. Com o sentimento de solidariedade confraternizam-se numa igualdade universal. Como bem definem Antonio Candido e Gilda de Mello e Souza em introdução a Estrela da Vida Inteira, a poesia de Bandeira pode ser pensada de vários modos: um deles seria pensá-la com referência aos dois pólos da Arte, isto é, “o que adere estritamente ao real e o que procura subvertê-lo por meio de uma deformação voluntária. Ambos são legítimos, e tanto num quanto noutro Manuel Bandeira denota maestria que faz aceitá-los como expressões válidas da sua personalidade literária.” A partir desta consideração podemos notar que tanto o lírico quanto o social estão presentes na poética de Manuel Bandeira. Os críticos continuam nos dizendo que, “a mão que traça o caminho dos pequenos carvoeiros na poeira da tarde, ou registra a mudança do pobre Misael pelos bairros do Rio, é a mesma que descreve as piruetas do cavalo 104 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE branco de Mozart entrando no céu, ou evapora as carnes das mulheres em flores e estrelas de um ambiente mágico ou saturado das paixões da terra.” (CANDIDO; GILDA MELLO E SOUZA, 1986: lx) A simplicidade aparente dos poemas de Manuel Bandeira, nos quais não é percebido o “estranhamento poético” que comumente é o critério utilizado para admitir a qualidade poética do texto literário é, paradoxalmente, o que caracteriza e dá qualidade excepcional ao poeta. Poemas como “Irene no céu”, “Porquinhoda-Índia”, “Poema só para Jaime Ovalle”, “Tragédia Brasileira”, entre outros, são exemplos que nos mostram que Manuel Bandeira retira do cotidiano mais banal o sublime que se encontra oculto. A propósito dessa simplicidade em Bandeira, os críticos Antonio Candido e Gilda de Mello e Souza acrescentam: “Como os clássicos, [Manuel Bandeira] possui a virtude de descrever diretamente os fatos sem os tornar prosaicos. O caráter acolhedor do seu verso importa em atrair o leitor para essa despojada comunhão lírica no cotidiano e, depois de adquirida a sua confiança, em arrastá-lo para o mundo das mensagens oníricas. Poucos terão sabido, como ele, aproximar-se do leitor, fornecendo-lhe um acervo tão amplo de informes pessoais desataviados, que entretanto não parecem bisbilhotice, mas fatos poeticamente expressivos. O seu feitiço consiste, sob este ponto de vista, em legitimar a sua matéria –, que são as casas onde morou, o seu quarto, os seus pais, os seus avós, a sua ama, a conversa com os amigos, o café que prepara, os namorados na esquina, o infeliz que passa na rua, a convivência com a morte, o jogo ondulante do amor.” (CANDIDO; MELLO E SOUZA 1986: lxii) Portanto, a simplicidade que notamos nos poemas de Manuel Bandeira é aparente e produto de sua experiência poética. É o resultado de um trabalho árduo e permanente da busca do poético nas coisas mais simples que o cercam e de si mesmo. Manuel Bandeira busca a simplicidade absoluta, uma simplicidade que está presente na estética do modernismo brasileiro, mas que como ele, nenhum outro poeta de sua geração conseguiria conquistar tão plenamente. A poesia da simplicidade e do cotidiano realizada por Bandeira contraposta à poesia do sublime e do excepcional é uma vitória sobre a poética antiquada, que não nos servia como expressão poética do mundo moderno. Como bem disse Otávio de Faria, ao lado de nossos melhores poetas, a figura poética de Manuel Bandeira nos dá: “qualquer que seja o ângulo de que se esteja vendo, um grande exemplo de poesia, da altura a que a sinceridade e a espontaneidade poéticas podem elevar um homem.” (FARIA, 1980: 133) Essa postura diante do mundo e da poesia percebida na poética e na vida de Manuel Bandeira pode ser vista antes de tudo como uma atitude estética, conquanto apresente inevitavelmente um aspecto social. Seja através da renúncia ao academicismo, ao privilegiar os “desvalidos”, como também pela valorização da cultura popular e das expressões encontradas em sua linguagem. 105 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 Referências bibliográficas: ADORNO, Theodor W. Lírica e Sociedade. In: BENJAMIN, Walter et alii. Textos escolhidos. São Paulo: Nova Cultural, [s/d.] _____. Engagement. Notas de literatura. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1980. ARRIGUCCI JR., Davi. Humildade, paixão e morte: A poesia de Manuel Bandeira. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. _____. O humilde cotidiano de Manuel Bandeira. Enigma e comentário. São Paulo: Companhia das Letras, 1983. BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira: poesias reunidas e poemas traduzidos. Rio de Janeiro: José Olympio, 1991. _____. Itinerário de Pasárgada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; Brasília: INL, 1984. _____. Manuel Bandeira: Seleta de prosa. (Org: Júlio Castañon Guimarães) Rio de Janeiro: Nova Fronteira, s/d. BRITO, Mário da Silva. História do Modernismo brasileiro: antecedentes da semana de arte moderna. 3ªed. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1971. CANDIDO, Antonio. Carrossel. Na sala de aula: caderno de análise literária. São Paulo: Ática, 1985. CANDIDO, Antonio e Mello e Souza, Gilda. Introdução a Estrela da Vida Inteira. In: BANDEIRA, Estrela da vida inteira: poesias reunidas e poemas traduzidos. Rio de Janeiro: José Olympio, 1991. CAVALCANTI, Luciano Marcos Dias. Música Popular Brasileira e Poesia: a valorização do “ pequeno” em Chico Buarque e Manuel Bandeira. Belém – Pará: Editorara Paka-Tatu, 2007. FARIA, Otávio de. Estudo sobre Manuel Bandeira. In: Homenagem a Manuel Bandeira. Rio de Janeiro, Tip. Jornal do Comércio, 1936. Também In: Fortuna Crítica, Rio de Janeiro; Civilização Brasileira; Brasília: INL,1980. FRIEDRICH, Hugo. Estrutura da lírica moderna. São Paulo: Duas Cidades, 1978. RAMOS, Péricles da Silva. A poesia de Manuel Bandeira. Folha da Manhã, 8 e18 dez., 1957. Também In: Fortuna Crítica, Rio de Janeiro; Civilização Brasileira; Brasília: INL,1980. PAZ, Octavio. O arco e a lira. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. Abstract: This essay seeks to verify how Manuel Bandeira’s poems emphasize “smallness”, (as a category including humbleness, love of detail and the representation of simple and trivial everyday things), and privilege “disqualified” objects. Keywords: Manuel Bandeira, poetry, “disqualified”. Recebido em 25/04/2009. Aprovado em 29/06/2009. 106 IMAGEM Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Imagem 8. Anamnese de Cabeças cortadas José Gatti (UFSCar).................................................................................109 9. Jean-Luc(s) Luiz Felipe Soares (UFSC).......................................................................127 10. Autor fotográfico y obrero del progreso: notas sobre el trabajo de Christiano Junior en la Argentina Veronica Tell (UBA)................................................................................151 11. A lente fotográfica enquanto crítica cultural: escritas do corpo em Cicatriz, de Rosangela Rennó Ricardo Araújo Barberena (PUC-RS)..........................................................171 12. El grabado, una producción híbrida como problema para el relato modernista Silvia Dolinko (UBA)...............................................................................193 13. Arte Concreto entre Argentina, Brasil y Suiza. Max Bill y sus conexiones latinoamericanas Maria Amalia Garcia (UBA)......................................................................209 107 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE 108 Junho de 2009 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Anamnese de Cabeças cortadas ENSAIO José Gatti* Resumo: Reunindo reminiscências pessoais e exegese crítica, este ensaio recupera a trajetória de exibição de Cabeças Cortadas (1970), um dos filmes menos conhecidos de Glauber Rocha. Palavras-chave: Cabeças Cortadas, Glauber Rocha, Cinema Novo. Eu perdi a fé. Que enfermidade mais terrível. Diaz II A primeira vez que vi Cabeças Cortadas foi em julho de 1972, em Buenos Aires, numa sessão trasnoche, altas horas de uma madrugada de inverno. Uma amiga tinha conhecido o ator argentino Carlos del Burgo, que gentilmente nos hospedou e apresentou a uma troupe de artistas que faziam performances em palcos e telas. Carlos tinha estrelado o censuradíssimo Alianza para el Progreso, dirigido por Julio César Ludueña, e os debates acalorados corriam por conta de uma arte política inserida na luta revolucionária – quase sempre no antigo Café Giralda, famoso pelos churros com chocolate quente. Cabeças Cortadas é um dos longas-metragens menos vistos e menos criticados de Glauber. Como peça de cinema político, Cabeças Cortadas pode parecer, hoje, remoto como as conversas no Café Giralda. Os ecos de 1968 e a expectativa por um cinema de militância política talvez não tenham mais a mesma importância; no entanto, esses eram temas centrais naquele momento em que Glauber Rocha mais uma vez contribuía para o debate que se estendia naquele e em muitos outros cafés. Por outro lado esse filme, possivelmente o maior fracasso de crítica e público da carreira de Glauber, marca também um período de depressão, em que o cineasta cumpria um errante auto-exílio depois de ter vivido seus anos de jovem celebridade nos festivais. A partir desse fragmento de memória, este texto examinará alguns registros espectatoriais de Cabeças Cortadas, reunindo reminiscências pessoais e referências aos poucos textos críticos publicados sobre o filme. Quero explorar aqui algumas possibilidades de diálogo que o filme enseja com diferentes audiências, em diferentes momentos. * Doutor em Cinema Studies (NYU) 109 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 1. A Revolução Arcaica Glauber realizou Cabeças Cortadas na Espanha, com elenco multinacional e diálogos em espanhol. Foi a segunda experiência internacional do cineasta, tendo sido filmado após Der Leone Have Sept Cabeças, realizado no Congo. Cabeças Cortadas abre com um plano geral de um Castelo, onde Diaz II amarga seu exílio após ter sido expulso de Eldorado, seu país de origem – possivelmente o mesmo país fictício de Terra em Transe. O personagem é vivido pelo ator espanhol Francisco Rabal,1 e a referência ao Don Porfirio Diaz criado por Paulo Autran não é gratuita.2 A cena muda para o interior do Castelo e mostra Diaz II falando em dois telefones ao mesmo tempo, enquanto afaga um cãozinho. Em conversa simultânea com Alba Moreno e Freddy Bull, personagens que permanecem em off, ouvem-se trechos que revelam o passado de Diaz II como ex-ditador de Eldorado, suas propriedades no país, suas contas na Suíça e a idolatria do povo de Eldorado por Beatriz, sua falecida esposa: Deseoso O Panteon de Beatriz, as pessoas continuam indo todos os domingos?... Levar flores ao seu túmulo? O povo de Eldorado sabe que tudo o que eu fiz foi graças a ela?... Para beneficiar o povo?... Porque tu sabes, Alba, que o filho que ela mais queria, seu filho mais amado era o povo, o povo soberano… A referência ao Eldorado de Terra em Transe é efetivamente confirmada mais adiante, pela narração em voz over, que faz um relato da história de Eldorado e da carreira da família Diaz. Assim, Cabeças Cortadas parece narrar eventos que teriam ocorrido após a ditadura de Diaz em Eldorado. Explint, a abominável empresa multinacional que apóia Diaz em Terra em Transe, também é citada em Cabeças Cortadas. Desse modo, Cabeças Cortadas pode ser visto como uma continuação de Terra em Transe, apesar de todas as evidentes diferenças entre as estratégias narrativas e os contextos de produção dos dois filmes. Há, evidentemente, um forte elo entre as cenas de coroação de Diaz (em Terra em Transe) e Diaz II (em Cabeças Cortadas), ambas em tom de opera buffa. Entretanto, apesar da encenação grotesca dessa cena, Terra em Transe é marcado por um tom trágico, acentuado pela recorrente figura agonizante – e nada buffa – de Paulo Martins. Cabeças Cortadas, por sua vez, permanece com forte acento pícaro e caricatural. E se Terra em Transe ainda apresenta uma narrativa que permite a recuperação de certa linearidade cronológica e causal, Cabeças Cortadas é pontuado por personagens hieráticos e ações enigmáticas, aparentemente descolados de qualquer linearidade possível. Mesmo assim, parece razoável afirmar que o filme começa com Diaz no exílio e que termina com eventos que ocorrem após sua morte. A saga final de Diaz II é pontuada pela presença de outros personagens, etnicamente diversificados: Soledad, sua esposa, um Pastor místico (atuação 1 Rabal (1926-2001) teve uma prolífica carreira, tendo atuado em obras de Buñuel como Nazarín e Viridiana. 2 A gênese desse nome leva à figura histórica do ditador mexicano Porfirio Diaz (1830-1915). 110 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE do francês Pierre Clémenti3), um Mendigo, um Indígena (Mexicano? Andino?), uma Cigana, grupos de camponeses cantores e Dulcinéia, uma jovem camponesa (Rosa Maria Penna4), também referida por Santa no roteiro publicado por Glauber (1985).5 O Pastor surge munido de uma foice de cabo longo – a mesma que popularmente evoca o Destino e a Morte. Sua presença sugere a ação revolucionária, que levaria à libertação do povo do sistema opressivo estabelecido pelas elites. Ele compõe, assim, a figura que antagoniza Diaz II. Etnicidades e culturas se confrontam com a presença do Ameríndio, que veste um poncho estampado com a figura do sol e que, exoticamente, penetra no espaço diegético ibérico. Seu figurino evoca os ícones populares de Juan Diego, o mexicano que teve uma visão da Virgem Morena de Guadalupe no século XVI e que simboliza a aceitação “oficial” do cristianismo pelos indígenas do México.6 Ele é encontrado no campo por Diaz II, que cavalga acompanhado por dois cavaleiros medievais. O Índio é imediatamente espancado e escravizado por Diaz II. Não há outros personagens indígenas no filme; não há sinais claros de rebelião por parte do personagem. O Índio por sua vez, subjuga e escraviza um Homem Calvo, branco, e ambos servem a Diaz. E apesar da ausência de personagens negros no filme, surgem referências explícitas noutro bizarro telefonema duplo de Diaz: Que estás dizendo, Beatriz? Alba, o que dizes? Um incêndio? Incendiaram o Banco? A anarquia, eu bem disse... Os índios o incendiaram... Sempre te disse, Alba, que os índios deviam ter sido catequizados, todos eles deviam ter sido cristianizados... Sim... Como?... Os negros também, tal e qual. Não têm nada que ver conosco, nem a cor da pele, nem os ossos, nem a constituição do cérebro. Está escrito isso... Que dizes? Também os estudantes? Não, os estudantes não! São os meus rapazes, têm uma universidade, uma cultura e não podem se parecer com esses pobres índios! O que dizes, Beatriz? Que ficas com os índios?... Não podes estar do lado deles, nem dos negros, nem dos hippies, nem de ninguém!... Tens que fugir, Beatriz... Assim, em conversa simultânea com Alba e com Beatriz (que, estranhamente, já estaria morta), Diaz II expressa ideologias que alimentam o imaginário das elites latino-americanas, que valorizam a superioridade racial européia. Ao mesmo tempo, realinha grupos sociais num mesmo campo, deixando clara sua 3 Clémenti era celebridade na época, tendo atuado em A Bela da Tarde, de Luís Buñuel. 4 Atriz brasileira, Penna havia atuado como a Santa em O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro e foi parceira de Glauber. Essas escolhas de elenco produzem um diálogo interessante entre as duas personagens, ambas ligadas ao mundo religioso e arcaico. E a referência à personagem de Cervantes marca ainda mais o tom delirante das imagens. 5 Trata-se de Roteiros do Terceyro Mundo. As falas e descrições de cena citados aqui foram retirados desse volume. 6 Em 1531, a Igreja Católica no México publicou o milagre de Diego, um indígena que teve uma visão da Virgem Maria. Sua imagem morena se imprimiu milagrosamente no poncho de Diego. O povo mexicano relutava em aceitar o catolicismo até esse momento. Agradeço ao prof. Rafael Camorlinga, da UFSC, pela informação.. 111 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 oposicionalidade a etnicidades e movimentos (contra)culturais. * A diegese de Cabeças Cortadas cria um trajeto transtemporal que se estende da Europa pré-cristã à Idade Média à Idade Contemporânea. O filme produz uma narrativa de conflitos entre classes sociais e etnias que, para usar um conceito de Lezama Lima, pertencem a uma era imaginária, uma era em que o campesinato medieval, organizado por um místico, pode tomar o poder em pleno século XX (1988, p. 32).7 E, no caso de Cabeças Cortadas, uma era em que camponeses representantes do arcaísmo triunfam, prevenindo qualquer possibilidade de lê-los como alegoria de um povo revolucionário contemporâneo inserido num processo histórico dialético.Dentro de uma perspectiva histórica, Cabeças Cortadas (assim como Der Leone Have Sept Cabeças) lida com a problemática das lutas revolucionárias num plano internacional e, nessa perspectiva de era imaginária, explora as “raízes” que informam as culturas brasileira e latino-americana, por tudo que contêm de indígena, ibérico e africano. Por outro lado, seria improdutivo considerar Cabeças Cortadas uma exploração de raízes como numa busca pelas “origens reais” de (nossas) nacionalidades. Os filmes de Glauber não são sinais de uma busca por evidências para demonstrar ligações genealógicas ou evolutivas que possam ter se desenvolvido em práticas culturais “brasileiras” (ou “latinoamericanas” ou “africanas”). Pelo contrário: os filmes de Glauber podem ser vistos como veículos nos quais significantes dos dois lados do Atlântico (e dos dois lados do Mediterrâneo) se chocam e adquirem novos significados, num processo que pode frustrar quem busca por raízes ou por indícios de autenticidade. Por isso mesmo, parece difícil conciliar qualquer projeto político com a ousadia libertária e mística dos personagens de Glauber. Por isso mesmo, os confrontos que se configuram na tela têm resultados desiguais e inesperados, não seguindo nenhum roteiro preestabelecido – histórica, política ou cinematograficamente. Esse vasto panorama transcultural é enriquecido pela trilha sonora, em que convivem temas flamencos, corridos mexicanos, tangos trágicos e boleros malemolentes. Há números musicais bastante carregados de ironia, por exemplo, quando Diaz II faz serenata a Soledad com o bolero “Sabor a mi”, de Alvaro Carillo, ou quando cita “Cuesta Abajo”, de Le Pera e Gardel. No final, que mostra a derrota de Diaz II, ouve-se o bolero “Fallaste, corazón”, de Cuco Sánchez. * O final do filme apresenta uma característica até então inédita nos filmes anteriores de Glauber. Em Cabeças Cortadas os eventos não sugerem a possibilidade de uma transformação que poderia se considerada progressista, como alegorizam a partida de Aruan para a cidade em Barravento, a corrida de Manuel para o mar em Deus e o Diabo na Terra do Sol, a figura de Paulo Martins empunhando a metralhadora em Terra em Transe, ou a marcha do latino-americano Pablo com as tropas africanas colina acima em Der Leone Have Sept Cabeças. Os finais de todos esses filmes apontam para um movimento “revolucionário” extra7 Lezama Lima define as eras imaginárias como transgeográficas, transculturais e trans-históricas, em A Expressão Americana, articulando elementos ficcionais e factuais. 112 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Volume 4 ◦ Número 1 fílmico, encapsulado por uma narrativa teleológica, como apontou Ismail Xavier a propósito de Barravento e Deus e o Diabo na Terra do Sol, os dois primeiros longas-metragens assinados por Glauber (1983). Em Cabeças Cortadas a luta não é mais sugerida como algo inacabado, que teria prosseguimento fora da tela; em Cabeças Cortadas ela se realiza plenamente. Diaz II se declara único rei de Eldorado, empunha uma espada e usa uma coroa. Ele, o Índio e o Homem Calvo são finalmente mortos pelo Pastor. Este personagem, como se revela no filme, é um dos filhos de Diaz II, evocando, assim, uma conquista edipiana do poder. E, finalmente, a ação do Pastor leva ao poder uma comunidade extática, em que Dulcinéia é sagrada com a coroa retirada do cadáver de Diaz II. Assim, no final do filme o que se vê é o retorno a práticas arcaicas. O roteiro transcrito descreve o final desta forma: Campo. O Pastor mostra a coroa ao povo camponês, que canta marcando o ritmo com palmas. Dulcinéia está de branco, com um véu branco em torno da cabeça, como uma Santa. O Pastor põe a coroa sobre a cabeça de Dulcinéia, a camponesa. O povo canta. A conclusão de Cabeças Cortadas parece estar mais próxima daquela de O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, em que o latifundiário é morto pela lança de um místico Negro Antão/São Jorge. Por outro lado, nesse filme Antão e a Santa seguem seu rumo além-filme, puxados pelo Padre com um rifle às costas,8 enquanto um atormentado Antonio das Mortes vagueia por uma estrada asfaltada cheia de caminhões e automóveis.9 Em Cabeças Cortadas apenas o mundo arcaico sobrevive: estamos muito longe de sonhos utópicos e progressistas prometidos por tantas revoluções. A “revolução”, celebrada com festa popular nas últimas imagens, é um retorno ao passado. Se o final do filme sugere uma transformação, ela é retrógrada, em que um castelo ocupado por um ditador exilado é conquistado por camponeses místicos. Se o filme desafia aqueles que buscam decifrar (inutilmente?) a intricácia de sua narrativa cinematográfica, ele desafia também aqueles que buscam uma coerência política sintonizada com as lutas consideradas “corretas”, “modernas” ou mesmo “justas”. Na mobilizada Argentina de 1972, Cabeças Cortadas podia ser uma experiência espectatorial frustrante. E assim parecia naquela madrugada fria, no Café Giralda. 2. Forneça Tesouras O filme estreava num momento turbulento. Vivia-se na Argentina mais uma 8 Numa referência à teologia da libertação e, possivelmente, ao padre-guerrilheiro colombiano Camilo Torres. 9 Descrevo essa cena com mais detalhes em “(In)visibilidade Racial em ‘O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro’”, Cinemais nº 13, set.-out. 1998. 113 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 ditadura militar (1966-1973), em que as pessoas se exilavam ou simplesmente desapareciam. As forças políticas peronistas – de esquerda ou direita – articulavam a oposição ao regime. Ao mesmo tempo, o movimento cultural era intenso e a censura era menos rígida do que no Brasil. As livrarias estavam cheias de títulos marxistas e a canção de protesto vivia dias de glória. Nos palcos portenhos a peça Torquemada, de Augusto Boal, denunciava a tortura nas prisões brasileiras. O Chile democrático era ainda uma esperança. Em torno das velhas mesas de mármore do Café Giralda, o cuidado com que se cercava qualquer conversa a respeito de Glauber Rocha revelava pelo menos duas coisas: respeito pela estatura do Glauber artista-ativista e embaraço diante de um filme que não se ajustava a nenhum padrão conhecido de cinema político ou militante – nem mesmo dos filmes anteriores de Glauber. Percebo naquele debate o que Mikhail Bakhtin define como tato, isto é, o conjunto de códigos que estruturam e definem qualquer interação dialógica. Não se trata do tato do campo da etiqueta e da diplomacia; Bakhtin refere-se àquilo que estrutura as interações discursivas, à soma de todas as relações sociais dos dialogantes, seus contextos ideológicos e a situação concreta da interlocução. Desse modo, o grupo que debatia Cabeças Cortadas no Café Giralda partia do pressuposto de que a obra de Glauber se inseria, naquele momento, num projeto internacional de luta anti-imperialista e isso já definia um certo rumo para qualquer análise que pudesse ser feita. Como escreveria Sylvie Pierre, após o sucesso no Festival de Cannes de 1969: Glauber é, então, no auge de sua glória internacional, considerado pelos cinéfilos do mundo inteiro como o cineasta revolucionário responsável do Terceiro Mundo, aquele que, na “movimentação” pós-maio de 68 (que durou, como talvez se lembrem, alguns bons anos), constituía uma imagem extremamente valorizada, sendo também garantia de sucesso de público. (1996, p. 63, grifo da autora) Além disso, nos anos que precederam o lançamento internacional de Cabeças Cortadas, filmes ligados ao Cinema Novo e a outras cinematografias de países periféricos foram reconhecidos em festivais e mostras na Europa e na América do Norte, em grande parte devido ao trabalho de Glauber. Na França, esses filmes eram alvo de resenhas e críticas em revistas de prestígio, como Cinéma, Image et Son e Positif. No entender de Alexandre Figuerôa essas publicações, ao lado dos tradicionais Cahiers du Cinéma, preenchiam o espaço propício para a descoberta de novas visões para o cinema e permitiam a seus redatores promover uma ação cultural na difusão dos filmes que lhes conviessem. Isso era possível graças à politização dos intelectuais, ao desgosto da crítica francesa com os caminhos ideológicos tomados pela nouvelle vague e, principalmente, à devoção de um grupo de críticos por cinematografias emergentes. Entre as revistas independentes, os Cahiers du Cinéma caracterizavam-se pela sua sustentação à política dos autores e Positif pelo seu apoio a um cinema de ação política. (2004, p. 17) 114 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Por isso para nós, do Brasil, era um assombro a mais: Glauber era o primeiro cineasta brasileiro a percorrer efetivamente uma carreira no exterior. Cavalcanti era brasileiro também, mas toda sua carreira tinha sido construída na Europa, muitos anos antes de vir ao Brasil para dirigir a Vera Cruz e aqui realizar alguns filmes. Glauber, por sua vez, foi a figura mais notória e ruidosa do cinema brasileiro no exílio, tendo encontrado espaço na imprensa de oposição à ditadura militar, em publicações como O Pasquim. O auto-exílio de Glauber produziu quatro longasmetragens, em países diferentes: Espanha, Congo, Cuba e Itália. Para seu público, Glauber representava o cinema brasileiro no exterior. Isso mudaria radicalmente. Aqui na América do Sul, no entanto, poucos sabiam que Cabeças Cortadas e Der Leone Have Sept Cabeças foram praticamente ignorados pela crítica européia. Figuerôa lembra que naquele momento em Paris, por exemplo, Glauber se afastou daqueles que antes o apoiavam, fosse por motivos pessoais ou políticos. O que se pode perceber é que o cineasta radicalizou sua própria persona de artista libertário e, acima de tudo, autônomo; ele se desvencilhava de grilhões políticos ou partidários. Na palestra Estética do Sonho, apresentada na Columbia University em 1971, Glauber anunciava que “entre a repressão interna e a repercussão internacional aprendi a melhor lição: o artista deve manter sua liberdade diante de qualquer circunstância” (PIERRE, 1996, p. 134). E propugnava por uma “arte revolucionária lançada na abertura de novas discussões do que é arte revolucionária rejeitada pela esquerda e instrumentalizada pela direita” (p. 135). * No entanto, se considerarmos as expectativas que os filmes de Glauber ainda geravam junto a seu público latino-americano, que ação política podia ser vista em Cabeças Cortadas? À mesa do Café Giralda, após uma constatação inicial de perplexidade, as interpretações que cada um tentava dar das referências alegóricas se chocavam e não se encaixavam com aquilo que pareciam referenciar. Glauber montava imagens alegóricas num processo de elaboração sincrética, juntando personagens e eventos de origens diversas, permitindo dessa forma que se abrissem diversas portas para se dialogar com sua obra e, dessa forma, deixando os espectadores armados de código hermenêutico perdidos num mar de opções. Evidentemente, esse filme não fazia concessões às formas consagradas do cinema, fosse ele político ou comercial ou ambos. Cabeças Cortadas, no entanto, tinha algo específico a dizer aos argentinos: uma das mais claras alusões do filme é a do ditador Diaz II a Juan Domingo Perón, à época exilado em Madrid. A abertura do filme mostra Diaz II no primeiro de uma série de longos telefonemas que o conectam a Eldorado e seu teatro político. As referências são quase explícitas: o ditador argentino comandava boa parte da política interna argentina à distância, instalado em sua mansão na Espanha. A menção de um mausoléu para Beatriz, a esposa defunta de Diaz, também pode ser facilmente ligada ao intenso (e místico) culto à memória de Evita Perón, que 115 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 ainda hoje interfere na política argentina.10 Por isso mesmo, a caracterização pícara de Francisco Rabal para o Diaz II de Cabeças Cortadas antagonizava boa parte da esquerda argentina, que tendia a incorporar o projeto peronista/sindicalista à sua agenda política. Como receber sem ressalvas essa alegoria de Perón? Na Argentina de 1972, o saldo dos debates era decididamente negativo para a figura do Glauber cineasta-político. Mas essa referência também podia escapar àquela interpretação: Diaz II ora parecia ser argentino, ora brasileiro e quem sabe de que outras nacionalidades. Glauber definiu Cabeças Cortadas como “um filme contra as ditaduras, é o funeral das ditaduras. Trato de um personagem que seria o encontro apocalíptico de Perón com Franco, nas ruínas da civilização latino-americana”.11 O filme não afirmava clarezas; ele negaceava por caminhos inesperados. Alguns personagens e situações podiam ser identificados, mas o cinema mutável de Glauber não permitia uma leitura decifratória estrita, levantando um problema imprevisto para espectadores menos avisados. Ismail Xavier definiria, muitos anos depois, essa leitura como a busca por uma “outra cena”, ao dizer que muitos filmes daquele momento apresentam brechas, lacunas, e tendem a colocar o espectador numa postura analítica face à sua nítida tônica de mensagem cifrada, referida a uma “outra cena” não atualizada em imagem e som. A disposição do espectador de querer decifrar pode encontrar ancoragem, mais ou menos definida, quando esta “outra cena” dá sinais de ser o contexto nacional tomado como uma totalidade. (1993, p. 11) No caso de Cabeças Cortadas o contexto nacional se torna transcontinental; Diaz II incorporaria, portanto, o Caudilho ibero-americano, num arco que se estende de Porfirio Diaz a Franco a Perón. Glauber já havia criado uma diegese transnacional em Terra em Transe: a Eldorado do filme tem elementos que a identificam com o Brasil e os diálogos são em português, mas o espanhol emerge tanto nos nomes dos personagens (Julio Fuentes, Porfirio Diaz) como nos poemas criados pelo personagem Paulo Martins, produzindo um ambiente poliglótico que remete a alegoria à problemática política de muitos países latino-americanos. No entanto, a interpretação se torna problemática quando brechas e lacunas se acentuam; quando a “outra cena” não é totalmente identificada; quando a imagem em tela parece se compor de muitas cenas; quando os caminhos traçados por personagens e situações escapam das situações previstas em registros históricos reconhecíveis. Nos filmes realizados por Glauber no exterior esse contexto de nacionalidade se torna ainda mais rarefeito e as alegorias, mais abertas. Seria equivocado afirmar que Cabeças Cortadas se refere apenas à história específica da Espanha ou da Argentina; que Der Leone Have Sept Cabeças alegoriza a história 10 Um relato ficcional interessante desse quadro, em que se discute o destino do cadáver de Eva Perón, está em Santa Evita, de Tomás Eloy Martinez (1996). 11 http://www.tempoglauber.com.br/glauber/Filmografia/cabecas.htm 116 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE da Guiné-Bissau ou do Congo-Brazzaville; que Claro documenta a situação das lutas políticas dos anos 70 na Itália. Nesses filmes as alegorias se destacam de referências geográficas específicas, para significar o Colonialismo, a Religiosidade Arcaica, a Luta de Classes. Ao mesmo tempo, Glauber logrou, dessa maneira, realizar um cinema verdadeiramente internacional sem deixar de referenciar sua posicionalidade como artista do Terceiro Mundo, ou Tricontinental, como seu personagem declara no filme Vento do Leste, de Jean-Luc Godard. Glauber enunciava, portanto, que poderia se identificar com várias lutas, em contextos nacionais diferentes, mas que sua posicionalidade reconhecia seu próprio caráter subalternizado e colonizado. * Ao mesmo tempo, Cabeças Cortadas era mais um passo de Glauber na rota do experimentalismo. Inserido numa linhagem que remonta a Eisenstein, em Cabeças Cortadas o projeto glauberiano parece querer levar o cinema-montagem às últimas conseqüências. Assim, a montagem se dá em todos os momentos: na elaboração do(s) argumento(s) que articulam diversos fragmentos de história e práticas culturais, do(s) roteiro(s) sujeitos a modificação, na realização carregada de improviso e na montagem propriamente dita.12 Glauber colocava o filme, além disso, na tradição surrealista: “Cabezas Cortadas desmonta todos os esquemas dramáticos do teatro e do cinema. O cinema do futuro será som, luz, delírio, aquela linha interrompida desde L’Age d’Or”.13 Filmar locações em Cadaqués, na Catalunha, portanto, serve de homenagem a Buñuel. Glauber o definiria como “o maior cineasta de todos os tempos” (1983, p. 132), e escreveria que na obra do realizador espanhol estava “a origem do cinema-novo, do cinema-livre, do cinema de autor” (p. 124). Oito anos mais tarde, na época do lançamento no Brasil, ele diria: O cinema é o instrumento que permite materializar o inconsciente, e é esse inconsciente materializado que aparece na tela. Cabeças Cortadas é um filme que deve ser visto através de símbolos e significantes. É um filme estruturalista (sic). Reduzi toda a história ao significante... Cada vez que vejo o filme encontro novas explicações. Há todo um arco de sugestões. Deixei que o trabalho seguisse a estrutura do sonho, tal como Borges e Shakespeare ... Sim, Shakespeare está presente em Cabeças Cortadas de forma pouco shakespereana. Antes de fazer o filme li todas as obras, especialmente Macbeth e A Tempestade. Creio que também poderia definir o filme assim: uma viagem borgeana pela obra de Shakespeare. (PIERRE, 1996, p. 259) Esse cinema “arco de sugestões” deveria ir ainda mais longe: apesar da frustração do autor ao não encontrar a tecnologia adequada para permitir que o próprio espectador montasse sua própria versão dos filmes, Glauber pensava num 12 Sobre o processo de criação dos roteiros, ver o excelente trabalho de Josette Monzani, Gênese de “Deus e o Diabo na Terra do Sol” (2005). Sobre o método de direção de atores e atrizes durante as filmagens, ver Luís Carlos Maciel, Geração em Transe (1996), p. 48 ss. 13 http://www.tempoglauber.com.br/glauber/Filmografia/cabecas.htm 117 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 cinema concebido como um jogo, em que a ordem dos planos seria determinada pelos espectadores – algo que só se tornaria possível com o advento do VHS e do DVD. Glauber pensava em filmes para serem vistos como montagens de tableaux compondo múltiplos focos narrativos. Esses quadros, por assim dizer, se constituem em unidades narativas dotadas de tal autonomia que poderiam ser editadas de diferentes maneiras. Ao comentar Der Leone Have Sept Cabeças, por exemplo, Glauber o definiu como um filme radical, porque eu criei uma centralização no sentido de uma ação verdadeiramente sintética, isto é, fazendo de cada plano um ato cheio de informação ... Cada plano pode ser visto isolado ou articulado com os outros numa montagem dialética. (GERBER, 1977, p. 35) Assim, esse cinema é capaz de construir formas cronológicas que desafiam os padrões do cinema hegemônico e produzir uma autoria que pode ser compartilhada por cineasta e espectadores. E no caso de Glauber, essa experimentação vem se realizar numa narrativa que assume uma posicionalidade abertamente anticolonialista e que, ao mesmo tempo, se apresenta como uma alternativa à forma do cinema narrativo hegemônico. Realmente, se deixarmos de lado as aberturas e os finais de Der Leone Have Sept Cabeças e Cabeças Cortadas, veremos que a maioria das cenas não segue uma ordem “necessária”. Suas narrativas se alinham com experimentos como o romance Jogo da Amarelinha (1962), de Julio Cortázar, que apresenta capítulos intercambiáveis pelo(a) leitor(a). Nessa linha de experimentação estão ainda os trabalhos de Mallarmé, dos escritores dadaístas e, no Brasil, dos poetas concretistas e de Guimarães Rosa, entre outros. E no campo do cinema, ainda nos anos 1960, valeria a pena lembrar os Mini Film Scripts de Yoko Ono, em que as/os espectadoras/es são convidados a questionar seus próprios pontos de vista – e agir sobre eles. O sumário roteiro de Film Script 3, por exemplo, termina assim: “Peça aos espectadores que cortem a parte da imagem na tela de que não gostem. Forneça tesouras”. (MACDONALD, 1995, p. 18) 3. O Filme Irrecuperável Sem exibição no Brasil, os filmes que Glauber realizou no exterior permaneceram, durante alguns anos, cristalizados no imaginário brasileiro. Em 1975, Paulo Emílio se lamentaria: Há muito tempo no Brasil não se vê filme recente de Glauber. Ninguém perde por esperar e enquanto isso a gente vai tendo umas e outras idéias pela leitura de roteiros, revistas estrangeiras, telegramas truncados que a imprensa de Golias publica ou textos glauberianos turbulentos que a de David edita. A referência bíblica desusada tem o mérito de aludir de chofre à exigente formação protestante de Glauber seguida de seu mergulho na religiosidade popular e delirante do Terceiro Mundo arcaico. (CALIL-MACHADO, 1986, p. 212) 118 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Era exatamente o que Glauber fazia em Cabeças Cortadas: ele mergulhava mais uma vez no misticismo e articulava rituais religiosos com história política contemporânea, num filme que exigia uma visão diferenciada da temporalidade que reconhecíamos no cinema dominante. Algo que, em 1972, ainda parecia provocação, especialmente quando se leva em conta o peso das lutas políticas que informavam a espectatorialidade da época. Oito anos mais tarde, a exigência por essa visão diferenciada talvez tenha gerado enfado em certos setores do público. Não surpreende que o lançamento tardio de Cabeças Cortadas no Brasil tenha gerado poucas reações da crítica. A censura a Di-Glauber, as filmagens de A Idade da Terra e as controvérsias geradas pelas opiniões do cineasta a respeito do regime militar chamavam mais a atenção da imprensa. Mas em 1979, em resenha publicada na revista Ele Ela, o filósofo e jornalista Paulo Perdigão foi perspicaz ao alertar que Ao contrário de seus filmes brasileiros dos anos 60, esta audaciosa peça de vanguardismo já não discute os mecanismos da ação política, nem as complexas linhas de força dialéticas da cultura do Terceiro Mundo – e sequer chega a ser uma transposição ao universo hispânico do transe tropicalista nacional, que muitos poderiam cobrar de um artista arraigadamente brasileiro... O capricho espanhol de Glauber... constitui uma queda na mais completa irracionalidade. Protegido pela dimensão do sonho, Glauber Rocha pode permitir-se, desta vez, sem necessidade de maiores explicações, a criação de uma realidade arbitrária, que só vale na medida puramente simbólica e virtual, significante em si mesma.14 A crítica brasileira parece ter se recusado a enfrentar esse mundo irracional criado por Glauber. E quem se fixasse na verossimilhança das imagens e ainda esperava encontrar uma discussão dos “mecanismos da ação política” se depararia com a inexorável invasão da História por camponeses extáticos. * No momento em que escrevo, as raras exibições do filme em mostras especiais e na TV educativa ou por assinatura talvez o tenham enquadrado no duvidoso gênero cult, ou maldito. É o que se verifica em blogs de aficionados, como no texto abaixo: Sábado, Março 19, 2005 “Cabeças Cortadas é um mergulho na história como espaço e não como teatro de época. (...) O tempo não existe em Cabeças Cortadas. A montagem é espacial, as chaves histórias se mostram e se transcendem em busca de signos perdidos no inconsciente” (Glauber Rocha). Hoje o Canal Brasil (TV a cabo) irá passar Cabeças Cortadas que o cineasta baiano filmou 14 “Glauber: À Frente do Seu Tempo”, Ela Ela, julho de 1979. O veículo – uma revista soft-porn – parecia pouco adequado para esse tipo de resenha crítica. Isso revela, no entanto, a enorme carência de uma imprensa dedicada à discussão cultural no Brasil daquele momento. 119 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE na Espanha em 1970. Este filme dificilmente é exibido em Pindorama. Eu mesmo, só vi uma vez e acho que era sem legendas... Assistam, pois toca o bolero “Fallaste, corazón”, na cena final!!!15 A razão para se assistir ao filme, portanto, não está mais embasada numa posicionalidade política. Ela é agora originada por um prazer estético aparentemente descolado de qualquer projeto extra-fílmico. Cabeças Cortadas torna-se, assim, objeto de prazer. Não deixa de ser interessante constatar que a obra de Glauber venha a ser fruída dentro de uma perspectiva, digamos, pop. Afinal de contas, toca o bolero na cena final. Por outro lado, para Glauber era importante a relação afetiva que o público poderia ter com seus filmes. Ele declarou, na ocasião do lançamento do filme no Brasil, que “Para mim é muito angustiante saber que tão poucas pessoas vão compreender e amar Cabeças Cortadas e é um filme que eu acho muito original...” (BENTES, 1997, p. 397). Se autor esperava, para seu filme, uma espectatorialidade que se baseasse na afetividade do “compreender e amar”, talvez ele agora a identificasse. Por outro lado, “Fallaste, corazón”, a canção que fecha o filme, está intrinsecamente relacionada à temática de Cabeças Cortadas. Enquanto Diaz II agoniza, os versos do bolero são uma clara alusão a um coração tolamente apaixonado (em que a voz trata seu próprio coração por “tu”16) e, ao mesmo tempo, podem servir para retratar a caricatura do próprio ditador fracassado: Y tú, que te creías el rey de todo el mundo; y tú, que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿Adonde está tu orgullo, adonde está el coraje? ¿Por qué hoy, que estás vencido, mendigas caridad? Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy, que estás acabado, ¡qué lástima me das! ¡Maldito corazón! Me alegro que ahora sufras, que llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos y a ti te había tocado nomás la de ganar. 15 http://zegeraldo.free.fr/2005_03_01_arquivo.html 16 Há uma tradição, na canção ibero-americana, em se tratar o “coração” como interlocutor no diálogo interior da voz narrativa. Vide, por exemplo, o célebre “Estranha forma de vida”, fado de Alfredo Duarte e Amália Rodrigues 120 Junho de 2009 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. ¡Fallaste, corazón! No vuelvas a apostar. As duas interpretações são possíveis; elas de fato dialogam entre si, e dessa forma produzem o efeito paródico da caricatura. Se Diaz II é um tolo apaixonado, ele se vê aqui como a grande vítima de um jogo amoroso. Se é o ditador fracassado, uma voz cantante o coloca como vítima da sorte e, como tal, condenado por ter apostado errado. De todas as maneiras, ele permanece o protagonista de um melodrama burguês. A pergunta, no entanto, permanece: teria o internauta aficionado percebido os desdobramentos alegóricos presentes na trilha sonora daquela cena? Ou teria prevalecido o puro prazer de escutar uma estimada canção de amor frustrado? * À parte o diálogo com os aficionados, qual foi a repercussão que o filme teve no ambiente acadêmico? Há pouquíssimas referências a Cabeças Cortadas na crítica brasileira, quase sempre de forma secundária, em artigos dedicados principalmente a outras obras e autores. Nos últimos anos, apenas duas teses acadêmicas fizeram referência destacada ao filme.17 No exterior, os poucos críticos que abordaram Cabeças Cortadas não se entregaram ao prazer estético. Pelo contrário, o filme parece ter despertado reações pouco prazerosas. Como notei antes, no momento em que lançava Cabeças Cortadas em mostras na Europa, Glauber era atormentado por reprovações da direita e da esquerda. Sua correspondência com o crítico Michel Ciment, ligado à revista Positif, revela esse estado de espírito. Ciment elogia Glauber, mas se diz “decepcionado” (BENTES, 1997, p. 368) com Cabeças Cortadas. Glauber responde que seu filme “não é recuperável pela direita nem utilizável pela esquerda (o filme foi lançado em Barcelona e a polêmica da crítica é terrível entre os prós e os contras – todos radicais)”. E, logo adiante, o cineasta desabafa: “Perdemos todas as esperanças, a situação está fechada, o cinema novo acabou, somos vítimas das repressões, de um lado, e das intrigas entre os exilados em Paris” (p. 372). Mas além das desavenças pessoais ou políticas, as narrativas não-lineares de Glauber desafiam os críticos por suas aparentes discrepâncias e oferecem obstáculos formidáveis para qualquer espectador atento, seja qual for sua origem cultural. E torna-se difícil evitar a tentação de criticar o filme pelo que ele não apresenta – ou por aquilo que gostaríamos que ele apresentasse. Ao comentar Cabeças Cortadas, Sylvie Pierre afirma, por exemplo, que no filme Glauber faz do godard-garrelismo, projetos intermináveis, cinema declarado a um só tempo estático e histérico, diante do qual a crítica européia prefere, em geral, reagir com um silêncio educado, quando não simplesmente com um “hum! aborrecido... não se vê 17 De acordo com os arquivos do CNPq, essas teses são “Cinema, texto e performance: a vida em obra de Glauber Rocha”, Jair Tadeu da Fonseca, UFMG, 2000 e “Afinidades eletivas: o diálogo de Glauber Rocha com Pier Paolo Pasolini (1970-1975)”, Duvaldo Bamonte, USP, 2002. 121 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 mais o bravo Terceiro Mundo faminto, torturado, revoltado. (PIERRE, p. 67) Ao esquivar-se do filme, a crítica européia garante o débito da obra à cinematografia européia – o “godard-garrelismo”18 – e prefere defini-lo como “histérico”, termo notório por sua etimologia relacionada à patologia psiquiátrica do sexo feminino.19 O texto se desdobra, portanto, de uma dupla matriz – do colonialismo, já que toda prática cultural do colonizado será devedora do colonizador; e do sexismo, já que a metáfora de que faz uso reafirma noções dominantes e reacionárias. E, talvez mais chocante para o espectador europeu, o filme mostra sim, um mundo “faminto, torturado, revoltado”, mas a diegese o coloca na Europa. É que em Cabeças Cortadas Glauber estende a geografia do Terceiro Mundo – tal como era concebido nos anos 1960/1970 – e o situa às portas do Castelo do Colonizador, produzindo assim um recorte inovador do conceito. Como escreve Ivana Bentes, “em Cabeças Cortadas Glauber materializa o inconsciente dos dominadores” (1997, p. 44).20 Talvez tenha sido difícil, para a crítica européia, reconhecer esse inconsciente. E Glauber provocou ainda mais a intelligentsia européia ao definir seu filme como “o primeiro verdadeiro filme surrealista depois de L’Age d’Or, um filme contra Shakespeare, contra a concepção clássica e imutável da tragédia, é um filme irônico no fundo em relação a tudo isso” (BENTES, 1997, p. 390). * A narrativa fragmentada e desigual dos filmes de Glauber produziu reações ainda mais virulentas. O crítico norte-americano Roy Armes, por exemplo, se declara desapegado o suficiente para se entregar ao prazer estético desvinculado de um contexto politizado. Mesmo assim, ao escrever sobre Der Leone Have Sept Cabeças, ele considerou o filme “interminável”: O filme é tão fragmentário e “não-gramatical” quanto seu título sugere, filmado em longos planos-seqüência durante os quais ações simbólicas isoladas e geralmente incompreensíveis compõem performances num tempo real interminável por personagens carentes de individualização e profundidade. (p. 266)21 Mas foi Cabeças Cortadas que lhe causou maior repulsa: A riqueza visual e aural de certas cenas [de Der Leone Have Sept Cabeças] oferece, todavia, um prazer puramente estético que geralmente faz falta no confuso e autocontraditório Cabeças Cortadas... Apesar dos esforços de Francisco Rabal como o ditador agonizante Diaz 18 Referência aos filmes de Jean-Luc Godard e Philippe Garrel. 19 A partir de sua própria etimologia, a histeria é definida como uma “psiconeurose que se observa principalmente nas mulheres ... supunha-se que tinha origem no útero” (Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa). 20 Bentes diz ainda: “O cinema de Glauber é um estudo decisivo não apenas sobre as misérias e anseios do povo, mas sobre as pulsões e acanalhamento das elites brasileiras, africanas, européias, hispano-americanas”. 21 O crítico deve ter se chocado com o fato do título não seguir as regras da gramática inglesa, que exigiria “has” ao invés de “have”. Já comentei esse discurso, que privilegia uma forma cinematográfica como sendo “correta”, no ensaio “Der Glauber Have Sept Cabeças”. 122 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE II e da presença de Pierre Clémenti como o Pastor... o filme permanece como expressão de uma mitologia puramente pessoal. (ARMES, 1987, p. 266) Armes sugere, portanto, que Rabal e Clémenti atuaram apesar da direção de Glauber, uma direção que teria insistido na recusa de resolver (auto!)contradições e antagonismos. Tal abordagem, além de desencorajar qualquer aprofundamento por seu caráter terminal e totalizante,22 traduz a ansiedade de se enquadrar certos significantes que não são compreendidos como “mitologia pessoal” – e por “pessoal”, aqui, o crítico provavelmente quer significar “incompreensível”. Em outras palavras: diante de Cabeças Cortadas, o crítico reconhece sua própria incompetência. O crítico reconhece, também, que qualquer traço de realidade reconhecível na tela está muito longe de sua compreensão ou mesmo de sua simpatia. Filmes como Der Leone Have Sept Cabeças e Cabeças Cortadas tornam-se, desse modo, objetos exóticos – isto é, situados fora do campo de visão do crítico. Em 1971 Glauber já havia escrito: “Hoje recuso falar em qualquer estética. A plena vivência não pode se sujeitar a conceitos filosóficos. Arte revolucionária deve ser uma mágica capaz de enfeitiçar o homem a tal ponto que ele não mais suporte viver nesta realidade absurda” (PIERRE, 1996, p. 137). Vemos aqui uma inversão de perspectivas: para o crítico, absurdo é o filme, não a realidade. * Randal Johnson, crítico muito mais equipado para abordar o filme, preferiu comparar a estrutura de Cabeças Cortadas à de Terra em Transe. Efetivamente, tanto Der Leone Have Sept Cabeças como Cabeças Cortadas exibem narrativas fragmentadas que de certa forma dão continuidade às experimentações de Terra em Transe e que foram parcialmente sustadas com a aparente linearidade cronológica da narrativa de O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro.23 Terra em Transe pode ser visto como uma montagem do fluxo da memória de seu protagonista, através de uma estratégia de leitura que de alguma forma “recupera” uma apreensão linear do texto audiovisual, já que pode ser “explicada” pelo procedimento do personagem. Mas parece tentador, para o crítico, identificar uma possível estrutura que, a partir de Terra em Transe, serviria para abordar outros filmes. Dentro dessa mesma chave, a leitura que Johnson faz de Cabeças Cortadas, por exemplo, define sua narrativa como sendo construída através de um longo flashback filtrado pelo subconsciente de um homem agonizante, neste caso o ditador exilado, Diaz II. A aproximação da morte de Diaz traz à tona seu remorso e sentimento de impotência temperado por seu terror do iminente 22 Essa interpretação totalizante se torna mais aguda se considerarmos que o trabalho de Armes se destina a introduzir estudantes a esse cinema – e não afastá-los dele. 23 Esta pode ser uma das características que fez de O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro seu filme mais “acessível” ao grande público. Foi o primeiro filme colorido feito por Gauber e obteve sucesso de bilheteria para os padrões do cinema nacional. 123 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 símbolo da inevitável conquista do poder pelas massas. (1984, p. 150-151) Cabeças Cortadas, no entanto, não se apóia na narração de um personagem específico e, de certo modo, previne o tipo de leitura que pode ser feito de Terra em Transe. Cabeças Cortadas contém, efetivamente, cenas que não podem ser associadas ao fluxo do inconsciente de Diaz. Elas incluem, por exemplo, a cena de sua própria morte que, além disso, não coincide com o fim do filme.24 Outros dispositivos incluem uma narrativa em voz over que não pode ser identificada como sendo de Diaz.25 * Nessa câmera escura em que continuamente convergem e se invertem história, política e religiosidade, o cinema de Glauber se mostra mais desafiador. Nada fica imune ou preservado; significantes não produzem significados fechados. Por isso mesmo a crítica que se vale da psicanálise não consegue penetrar seus filmes com eficácia – daí a explicação inadequada de suas narrativas como expressão do inconsciente de personagens específicos (e isso vale também para as muitas incongruências de Terra em Transe, um filme tão pouco “domesticável” quanto Der Leone Have Sept Cabeças e Cabeças Cortadas). Por isso mesmo a crítica municiada de projetos políticos pré-determinados não conseguirá se abrir para o mundo da irracionalidade de que fala Perdigão. Mais frustrante ainda resulta a crítica que compara seus filmes à linearidade do cinema dominante. E, para aprofundar a problemática daqueles que vêem nesse filme uma certa continuidade com outros filmes de Glauber, Cabeças Cortadas corta definitivamente qualquer compromisso com o cinema alegórico como era entendido anteriormente. Cabeças Cortadas permanece, assim, à espera de estudos mais minuciosos. 4. Profecia do Desencanto Em 1971, na Columbia University, referindo-se ao debate que iniciara com A Estética da Fome, Glauber foi peremptório ao falar de um cinema da desrazão, colocando-o numa posicionalidade política anticolonialista: A ruptura com os racionalismos colonizadores é a única saída. As vanguardas do pensamento não podem mais se dar ao sucesso inútil de responder à razão opressiva com a razão revolucionária. A revolução é a anti-razão que comunica as tensões e rebeliões do mais irracional de todos os fenômenos que é a pobreza. Nenhuma estatística pode informar a dimensão da pobreza. ... Na medida em que a desrazão planeja as revoluções a razão planeja a repressão. As revoluções se fazem na imprevisibilidade da prática histórica que é a cabala do encontro das forças irracionais das massas pobres. A tomada política do poder não implica o êxito 24 A morte de Diaz não é relatada post-mortem, por “ele mesmo”, como fazem o Braz Cubas de Machado ou o Joe Gillis de Billy Wilder (em O Crepúsculo dos Deuses). E mesmo a morte de Paulo Martins em Terra em Transe não é vista na tela, apenas sua agonia; sua morte é, portanto, apenas sugerida. 25 A voz que se ouve é a do próprio Glauber (cf. Roteiros do Terceyro Mundo, p. 388). 124 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE revolucionário. Há que tocar, pela comunhão, o ponto vital da pobreza que é seu misticismo. (PIERRE, 1996, p. 136) O pensamento de Glauber se impregna de referências místicas, incorporando termos como “cabala” e “comunhão”. Não há contradição, portanto, entre a luta de classes e uma visão mística do mundo. Ele as sincretiza em seu próprio vocabulário. E nos anos 1980, o protestante Glauber criaria um novo um sinal da cruz, ao escrever que “Marx/Engels/Lenin são Corpo, Alma e Espírito Santo do Materialismo (Dyalétyko) Histórico” (1983, p. 113). Seja qual for seu compromisso histórico, a comunidade religiosa de Cabeças Cortadas sobrevive e toma o poder. Essa comunidade não parece estar dedicada à construção de uma nova sociedade em termos sociais, econômicos e políticos. A celebração que ocupa o quadro ao final do filme parece sugerir um distanciamento do mundo material, seja ele de hoje ou de ontem. No último plano de Cabeças Cortadas, a imagem do Castelo do (agora morto) Diaz II parece um monumento vazio para uma vitória talvez vazia. * Paulo Emílio certa vez designou Glauber como nosso profeta. Se Glauber profetiza algo em Cabeças Cortadas, é o desencanto com as utopias. A tomada do poder gerará novas formas de opressão. Assim como Diaz II, Glauber perdeu a fé. Ao mesmo tempo, ele revela como a ação política baseada na fé está destinada ao fracasso. Em 1972, ao sairmos do Café Giralda e entrarmos na noite de Buenos Aires, a sensação era de desconcerto. Referencias bibliográficas: ARMES, Roy. Third World Filmmaking and the West. Berkeley: University of California Press, 1987. BENTES, Ivana (org.). Cartas ao mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. CALIL, C. A. e MACHADO, M. T. (orgs.). Paulo Emílio. Um intelectual na linha de frente. São Paulo: Brasiliense/Embrafilme, 1986. FIGUERÔA, Alexandre. Cinema Novo: A onda do jovem cinema e sua recepção na França. Campinas: Papirus, 2004. GATTI, José. “(In)visibilidade racial em ‘O dragão da maldade contra o Santo Guerreiro’”, Cinemais nº 13, set.-out. 1998. GERBER, Raquel. “Glauber Rocha e a experiência inacabada do Cinema Novo”. In: Glauber Rocha. Rio: Paz & Terra, 1977. JOHNSON, Randal. Cinema Novo x 5: Masters of Contemporary Brazilian Film. Austin: University of Texas Press, 1984. Lezama Lima, José. A expressão americana. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988. 125 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 MACDONALD, Scott (org.). Screen Writings. Berkeley: University of California Press, 1995. MACIEL, Luís Carlos. Geração em transe. Rio: Nova Fronteira, 1996. MARTINEZ, Tomás Eloy. Santa Evita. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. MONZANI, Josette. Gênese de “Deus e o diabo na terra do sol”. São Paulo: Fapesp/ UFBA/AnnaBlume, 2005. PIERRE, Sylvie. Glauber Rocha: Textos e entrevistas com Glauber Rocha. Campinas: Papirus, 1996. ROCHA, Glauber. Textos e entrevistas com Glauber Rocha. Campinas: Papirus, 1996. _____. Roteiros do Terceyro Mundo. Rio: Embrafilme/Alhambra, 1985. _____. “Eyzenstein e a Revolução Soviétyka”. O século do cinema. Rio: Alhambra/ Embrafilme, 1983. XAVIER, Ismail. Alegorias do subdesenvolvimento. São Paulo: Brasiliense, 1993. _____. Sertão/Mar. São Paulo: Brasiliense, 1983. Abstract: This essay gathers personal reminiscences and comments some critical texts about Cabezas Cortadas (1970), one of the least known films by Brazilian filmmaker Glauber Rocha. Keywords: Cabeças Cortadas, Glauber Rocha, Cinema Novo. Recebido em 14/04/2009. Aprovado em 05/06/2009. 126 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Volume 4 ◦ Número 1 Jean- Luc(s) ENSAIO Luiz Felipe Soares* Resumo: Trata-se de uma aproximação entre os ensaios Être singulier pluriel, de Nancy, e Histoire(s) du cinéma, de Godard, no sentido de fazer ver a história, em Godard, não apenas, benjaminianamente, como imagem, ou tensão dinâmica entre tempos, mas também como algo necessariamente singular plural, tanto quanto o próprio ser, que é necessariamente ser-com. Com Nancy, Godard aparece contra um certo Godard (pelo menos aquele Godard debordiano), propondo uma história que desativa noções ontológicas tradicionais ao apresentar, não o suposto “Ser”, delirante, como centro da representação, que se torna impossível, mas a própria relação, o próprio ser-com, necessariamente con-fundido nas entre-imagens de seu ensaio. Palavras-chave: Jean-Luc Nancy, Jean-Luc Godard, ser singular plural, Histoire(s) du cinéma. Agora lhe parece um erro o que outrora você amou como sendo uma verdade ou probabilidade: você o afasta de si e imagina que sua razão teve aí uma vitória. Mas talvez esse erro, quando você era outro – você é sempre outro, aliás –, lhe fosse tão necessário quanto as suas “verdades” de agora, semelhante a uma pele que lhe escondia e cobria muitas coisas que você ainda não podia ver. Foi sua nova vida que matou para você aquela opinião, não sua razão: você não precisa mais dela, e agora ela se despedaça e a irracionalidade surge de dentro dela como um verme que vem à luz. Quando exercemos a crítica, isso não é algo deliberado e impessoal – é, no mínimo com muita freqüência, uma prova de que em nós há energias vitais que estão crescendo e quebrando uma casca. Nós negamos e temos de negar, pois algo em nós está querendo viver e se afirmar, algo que talvez ainda não conheçamos, ainda não vejamos! – Estou dizendo isso em favor da crítica. Nietzsche1 Imagem que pensa, entre-imagens que pensa, entre-pensante. Pensar por imagem, não esquecer o horror (mas também não engessar a memória), inaugurar (um)a história. O gesto da(s) Histoire(s) du cinéma, de Godard, equivale a uma * Doutor em Letras (Inglês) pela UFSC. 1 A gaia ciência, fragmento 307. 127 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 inauguração com a qual Benjamin parece ter sonhado. Imagens e palavras/ imagens dis-postas não em sucessão, mas em circulação, em dispersão, ecos do lamento de Clio (em Péguy): ils me prennent pour le juge et je ne suis que la demoiselle de l’enregistrement (...) nous vivons dans un système où on peut tout faire excepté l’histoire de ce que se fait où on peut tout achever excepté l’histoire de cet achèvement (IVb, 254-7)2 História-imagem que se assume ela própria como existência imanente (não como representação), nascida da morte. Um cinepensamento singular plural, que está aí, fazendo vibrar les signes parmi nous. Parece Debord, mas não é. “Não sou um filósofo, sou um estrategista”, disse uma vez Debord ao amigo Agamben que, ao contrário, se assume como filósofo, como aquele que não precisa dar respostas. O cinema, para Debord, é estratégia de luta numa vida de luta constante. Isso se apóia na ligação íntima, benjaminiana também, entre imagem e história: “Cada momento, cada imagem é carregada de história, porque ela é a pequena porta pela qual entra o Messias”. Essa concepção é compartilhada com o Godard das Histoire(s), apesar das rivalidades. “Debord havia dito em 68 de Godard que ele era o mais idiota dos suíços pró-chineses”.3 A voz de Godard, ao contrário, estranha, na(s) própria(s) Histoire(s), que on ne décore même pas Guy Debord (IIIa, 75). Observa Agamben que Godard deve mesmo a Debord o paradigma da imagem messiânica. De qualquer modo, ambos potencializam, em imagens já prontas, como objets trouvés (citadas, repetidas), a repetição e o corte, que surgem como 2 As referências às citações dos livros da(s) Histoire(s) du cinéma virão aqui entre parênteses, indicando apenas o volume (Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb) e a(s) página(s). 3 AGAMBEN, Giorgio. “O cinema de Guy Debord” (conferência em Genebra, 1995). Tradução (do francês) de Antonio Carlos Santos (fotocopiado). 128 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE os dois transcendentais da montagem. Em ambos aparece clara a definição de cinema que Agamben propõe parodiando Valéry: “hesitação prolongada entre a imagem e o sentido”; em ambos, a imagem é imagem de nada, além e/ou aquém da representação, é potência, é vazio, suspensão, “imagem dialética” em relação ao fluxo da história triunfal; em ambos, ainda, voz e gesto se tornam oposição violenta, debordiana, ao enterro (midiático) das possibilidades da memória, do empacotamento de Clio numa gaveta da repartição, ataque virulento à contramão da tradição industrial mimética, que “conduz a elaboração dos dados no sentido fascista” (Benjamin,1986: 166). Mas Godard também se afasta daquele que condecora, e a diferença vai muito além daquela entre a prosa (de Debord) e o poema (de Godard): refiro-me a uma diferença ético-ontológica que aparece aos (meus) olhos de Nancy. Com ela, é possível ler Godard contra Godard – ainda que para o bem de Godard. Nancy considera que The Situationist critique continued to refer essentially to something like an internal truth (designated, for example, by the name “desire” or “imagination”), the whole concept of which is that of a subjective appropriation of “true life,” itself thought of as origin proper, as self-deployment and self-satisfaction. In this, Situationism demonstrates the nearly constant characteristic of the modern critique of exteriority, appearance, and social alienation – at least since Rousseau (2000: 53). Antes que essa consideração de Nancy possa decepcionar ou revoltar os debordianos, ele concede que o Situacionismo foi a última grande manifestação da crítica radical, que rompeu com vários marxismos, atacando de forma virulenta o “socialismo real” e a “social-democracia”. Aponta inclusive que os situacionistas se recusaram de vez a referir a “sociedade” a modelos prévios, ou a depender destes, preferindo referi-la a ela própria, afirmando a necessidade de fazê-la encarar a si mesma, encarar-se como exposta a si mesma – o que para Nancy é decisivo (54). No entanto, revendo o problema quase 30 anos depois de Maio de 68, Nancy percebe o quanto os situacionistas acabaram reafirmando a própria tradição rousseauniana ao ainda pressupor um sujeito (invisível) independente da representação. Nessa tradição, que é também platônica, a crítica à alienação “espetacular” encontra como alicerce a distinção entre o bom e o mau espetáculo. Para os situacionistas, o bom espetáculo é quase sempre uma certa idéia de arte, enquanto o mau é a falsificação da arte (para Rousseau, o bom é aquele das pessoas reunidas a dançar em torno da árvore que plantaram como símbolo maior) (68-9). De qualquer forma, há na própria tradição o reconhecimento da necessidade de um espetáculo. O que Nancy defende é a desconfiança, ao contrário, do “espetáculo da sociedade”. A tal sociedade já se sabe inserida na imanência da não-presença de si (já se sabe como abstração). Assim, “it takes place as a subject, not so much the ‘subject of representation’ as representation as subject: it is presentationto [la présentation-à], or what one could call a-presentation [l’apprésentation]” 129 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 (69). Enfim, diz ele, não há sociedade que já não seja espetáculo, “society is the spectacle of itself” (67). Qualquer associação é um ato que se expõe. A partir daí é possível enxergar o contrato social não como a conclusão de um acordo, mas como o teatro no qual o acordo pode ser feito, tendo o ser-social como serexposto. O mesmo teatro é, há muitos séculos, aquele sobre o qual representamos a “sociedade ocidental”. Ali, a boa representação é chorada porque perdida; a má é lamentada por ser massificada e generalizada; as duas, porém, são para nós nosso “double espectacle of the double unrepresentability of social Being and its truth” (73). A partir daí, também, aparece uma especificidade em Godard, que serve tanto para fixá-lo na tradição rousseaniana quanto para, contraditoriamente, mudar sua posição com relação a ela. O Godard que trabalha (escreve, filma, grava em meios magnéticos ou digitais, edita, coleciona, aprecia, dá entrevistas etc) de acordo consigo mesmo vem sendo há 50 anos, um dos mais contundentes críticos da cultura industrial e de tudo o que ela carrega em termos de horror, qualquer que seja sua relação com o capitalismo. Boa parte de sua evidência, de sua visibilidade ou recorrência no campo das artes se deve a essa contundência. Com ela, sua liberdade metodológica, seu desprendimento temático, sua ironia violenta e sua erudição vêm formando o conjunto de sua inserção, as bases de seu posicionamento como autor. Isso não é elogio: toda sua carga de imprevisibilidade, que lhe ajuda a manter a contundência, só tem a perder, justamente quando a posição que lhe é atribuída se estabiliza – por 50 anos. Sobra uma sensação frustrante de derrota para a tremenda capacidade do capitalismo de absorver tudo, como a bolha assassina, inclusive a irreverência e a contundência godardianas. Fixá-lo equivale a vê-lo absorvido pela sociedade do espetáculo, apesar de (e justamente por) batalhar contra ela. Com Histoire(s) du cinéma, curiosamente, esse problema é ao mesmo tempo aprofundado e resolvido. O aprofundamento aparece claramente, por exemplo, no estudo de Adrián Cangi, que localiza com precisão os pressupostos mais importantes do gesto de Godard e indica, também com precisão, algumas conseqüências relevantes. Quanto aos pressupostos, Cangi destaca o entrelaçamento entre um dizer da arte e um da filosofia. “Godard compone saturando las doctrinas estéticas que se entrelazan en el siglo XX” (2007: 42). Em primeiro lugar, entre essas doutrinas, ele localiza o distanciamento brechtiano, pelo qual a arte deve permanecer sob vigilância filosófica através de um movimento dialético e épico, o que pressupõe a entrega ao esquema didático-sensível normalmente localizado na proposta de Brecht para o teatro. Em segundo lugar vem a hermenêutica heideggeriana, com a qual, em Godard, o tal entrelaçamento entre poesia e filosofia fica especialmente exposto. Através de Heidegger, Godard pensaria a abertura poética da história, estabelecendo com esta a tensão que percorre todo seu texto. Reconhecendo a linguagem como “o mais perigoso dos bens”, Godard busca um procedimento ao mesmo tempo singular e imanente. A transformação constante e a complexa combinatória dos elementos da(s) Histoire(s) forçam o procedimento didático-romântico e o singular-imanente a conviverem, fazendo 130 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE surgir “la multiplicidad entrelazada de los tiempos” (44). A partir desse entrelaçamento entre as doutrinas brechtiana e heideggeriana, Godard adota com profundidade e convicção as teses benjaminianas sobre a história, e suas imagens se tornam, na complexidade temporal, imagem dialética, com sua tarefa messiânica. Adota também (ainda no campo dos pressupostos em Cangi) a proposta de Deleuze (“companheiro de estrada”4) relativa ao cinema do pós-guerra como crise da imagem-movimento. Cangi lembra que, simetricamente, Deleuze vê em Godard a potência do entre, do entre-imagens, um espaçamento no movimento dos significantes que faz com que cada imagem saia do vazio e volte a ele. Por fim, Cangi também associa diretamente (quase identifica) Godard a Debord, vendo neste último “La figura que Godard convoca como epicentro de la resistencia del cinematógrafo” (53). Compartilha com Godard a admiração e praticamente coloca em Debord a condecoração que Godard sugere. Quanto às conseqüências, Cangi reconhece que, na(s) Histoire(s), Godard “no trata de buscar una fidelidad al pasado a través de una descripción precisa, sino que intenta provocar relaciones que jamás han tenido lugar. Esta idea habilita a tratar la Historia a través de múltiples encuentros intersticiales que crean series y expanden relaciones que iluminan el advenir” (57). Godard, na leitura de Cangi, radicaliza sua posição ao sustentar que a paixão do século 20 não foi a do imaginário, nem a ideológica, nem a messiânica, saídas na verdade do 19: “La pasión del siglo XX fue la de lo real que enfrentó el profetismo del siglo XIX” (58). Na(s) Histoire(s), a História se torna um meio de pensar e sentir “la copertenencia de las experiencias en conflicto pasional e la interexpresividad de las formas” (58). Em resumo, propõe Cangi, “Historia(s) del cine revela las ruinas del siglo XX entre la historia y el acontecimiento mediante un modo de composición, una interrogación arqueológica, y una ética de la mirada” (16). O mais relevante desse estudo, para mim, é que ele posiciona Godard num extremo da radicalidade da crítica permitida por uma ontologia que ainda abriga a composição, a forma, o sujeito da representação, a vida verdadeira (ainda que desconhecida). Mas, por outro lado, o mesmo Histoire(s) du cinéma resolve o problema da fixação da posição de Godard na tradição rousseauniana aludida por Nancy. Resolve-o ao finalmente mudá-la, repito, à revelia de Godard, aproximando-o (com Nancy) da crítica ao espetáculo da sociedade. A relação que Agamben esboça, ao ler Debord, entre imagem e história é de fato aprofundada por Godard, desde o título. A imagem, em ambos, é messiânica porque responde ao apelo por salvação que o passado nos faz – e também porque, ao fazê-lo, nos livra do peso do passado, destrói o passado enquanto fluxo constante de triunfos e responsabilidades hipócritas que teríamos que preservar, oferecendo a isso nossas próprias vidas: apresenta-nos uma reversão desse fluxo ao nos colocar na posição do anjo de Klee, diante de uma montanha 4 Afirmação de Godard em entrevista a Fredéric Bonnaud e Arnaud Viviant para a revista Los Inrockuptibles, n. 28, 1998. Cf. GODARD. Historia(s) del cine. Traducción de Tola Pizarro y Adrián Cangi. Buenos Aires: Caja Negra, 2007, p. 244. 131 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 sempre crescente de ruínas. O título de Godard, porém, nos convida a encarar a complexidade ontológica dessa reversão. O “s” entre parênteses chicoteia, junto com os detritos, toda uma concepção (mimética, lógica, platônica) de mundo (e de homem e de sujeito e de história e de ética etc etc) que, esta sim, se nos mostra a grande responsável pelo próprio acúmulo de horrores. O chicote estala porque o “(s)” inaugura uma história que não apenas pode ser encarada ora como singular ora como plural, mas que aparece como singular e plural ao mesmo tempo. A contradição se mantém presente, não cede. Mesmo na pronúncia ela se instala, mais precisamente no desconforto de não haver como pronunciá-la – falamos Histoire(s) (só) no plural, mas sentimos a angústia da incorreção, da insuficiência do corpo em relação à escrita. Trata-se de uma história singular plural, assim, sem hífen ou parêntesis, com as duas palavras fingindo (ou não) adjetivar a(s) outra(s) numa brincadeira constante e sem controle. Uma simplesmente não vive, não faz sentido sem a outra. A conseqüência ético-ontológica desse procedimento também é incontrolável, escapa a Godard. Nancy sugere o próprio Ser como singular plural. Uma singularidade (de qualquer ser, enquanto é, enquanto está sendo) só aparece enquanto tal, só faz sentido, numa pluralidade, diante do plural, ou em meio a ele, medida em relação a ele (ou às outras). Simetricamente, a pluralidade depende, para existir, dos singulares, ou melhor, da singularidade plural dos singulares. Nem haveria como pressupor o Ser simplesmente como o ser daquilo que existe, sem uma existência outra, subjacente à existência, imaginada como condição da própria existência. “For existence exists in the plural, singularly plural. As a result, the most formal and fundamental requirement [of ontology] is that “Being” cannot even be assumed to be the simple singular that the name seems to indicate. Its being singular is plural in its very Being” (Nancy, 2000: 56). Chamo a(s) Histoire(s) de inaugural(is) porque me parece(m) ser a(s) primeira(s) história(s) escrita(s) assim, assumindo o próprio Ser como singular plural – ou, o que dá no mesmo, recusando-se a pressupor o Ser. (E não me refiro apenas a um Ser específico do cinema, como se isso fosse possível. Assim como Deleuze, aos olhos de Rancière, não faz uma história do cinema, porém uma história natural,5 Godard faz uma história do século 20, não por enxergá-lo como “século do cinema” ou por algum clichê parecido, mas, repito, por enxergar a história como imagem, portanto como cinema, e a imagem como imanência que dá a ver o horror, mesmo (e principalmente) quando não o representa. Além da ambivalência do “(s)”, Histoire(s) valoriza também a ambivalência do genitivo (du).) Em relação às imagens de Sociedade do espetáculo e In girum imus nocte et consumimur igni, que se demoram, praticamente todas, por vários segundos na tela, a alternância e a sobreposição das imagens de Godard são frenéticas, ainda que não desesperadas. Cada imagem nunca é o bastante, convida as outras, perfuraas, agita-as, interrompe-as, interrompem-se e voltam, esconde-as, some junto com elas, reaparecem num flash. O ritmo, muitas vezes, é martelado na máquina 5 Cf. RANCIÈRE. “De uma imagem a outra”. Tradução de Luiz Felipe G. Soares (fotocopiado). 132 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE de escrever, outro detrito barulhento, que na verdade não escreve, apenas reitera o ritmo, insistentemente reproduzindo (com regularidade equivocada) uma unidade rítmica simples – semínimia, duas colcheias, semínima, em compassos ternários rápidos, invocando ritmicamente, mas com peso industrial, num timbre metálico, a Valsa no 1 (miM), opus 18 de Chopin. Ao mesmo tempo o poema nos vem na voz monocórdia de Godard, enquanto outras palavras surgem e desaparecem, tornando-se imagens, por sobre o frenesi das imagens. Entre estas e outras, ainda, o borbulhar da(s) Histoire(s) trazem sempre de volta o próprio Godard em plano fechado (do peito para cima), ou na máquina de escrever ou junto à estante de livros, além de closes em suas mãos ou na película em movimento na moviola (portanto dialogando com Vertov, como faz Godard, reiteradamente, desde os anos 70). Assim, o que impressiona, nos oito filmes e nos oito livros (quatro volumes), é a quantidade, a sobreposição de trabalho, a dedicação alucinada e metódica, a construção de um espasmo contraditoriamente duradouro e minucioso, no qual a singularidade trabalhosa de cada uma das milhares de inserções (singulares enquanto inserções) só faz sentido em meio a essa pluralidade torrencial – e vice-versa. A dificuldade de enxergar com calma, em detalhe, cada coisa individualmente aponta, no mosaico dinâmico, para a própria impossibilidade de enxergar o real, ou melhor, o Ser: não só comenta como também assume a invisibilidade do visível. E vai além, em termos ético-ontológicos, ao mostrar que o Ser (do mundo, da história) não aparece, não é mesmo, em cada coisa, nem em todas as coisas, nem na criação, nem na natureza etc; assume que, se há Ser, se qualquer ser é, só pode ser na relação, no interstício, no espaço de distribuição: qualquer ser só é (e só é história) com outro, entre outros. Se o du, convém repetir, é valorizado em sua ambivalência, a preposição mais evidenciada em Histoire(s) du cinéma, no entanto, é sem dúvida o entre. “Se trabaja siempre entre capas geológicas, a la deriva por entre lugares” (Cangi, 2007: 24). O entre, propõe Cangi, força a aparição do sensível e do inteligível como “síntese disjuntiva”. “Se trata de lo sensible que habita en la frontera del intersticio” (51). Perto do fim do último livro, o nada que está próximo a tantas imagens, mas em nenhuma delas especificamente, se afirma como potência: oui, l’image est bonheur mais près d’elle le néant séjourne et toute la puissance de l’image ne peut s’exprimer qu’en lui faisant appel (IV, 299) Assim como Foucault apontou uma síntese da história dos últimos 500 anos de pintura ao olhar para o nada, para o espaço em branco entre o desenho do cachimbo 133 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 e o desenho da afirmação, a(s) Histoire(s) de Godard explode(m) justamente (como image juste) nos infinitos interstícios de seus livros e filmes. Justamente, afirma o título deste último livro/filme (4b), nos “Signes parmi nous”. Godard sabe, como Nancy, que “Everything, then, passes between us.6 This ‘between,’ as its name implies, has neither a consistency nor continuity of its own (...) it is (...) the interlacing [l’entrecroisment] of strands whose extremities remain separate even at the very center of the knot. The ‘between’ is the stretching out [distension] and distance opened by the singular as such, as its spacing of meaning” (Nancy, 2000: 5). O sentido não é exatamente um milieu (entre-lugar) em que mergulhamos, mas uma tensão entre um e outro, de um a outro, de um com outro. Aquela que parece ser, então, a preposição predileta de Godard, entre, agora com força de proposição, ganha equivalência ético-ontológica à preposição/proposição central na (des)ontologia de Nancy, o com. The whole of being “is its own itself, then, as the between and the with of singulars. Being, between, and with say the same thing; they say exactly what can only be said (...), what cannot be presented as a being among [parmi] others, since it is the ‘among’ of all beings (...), which are each and every time among one another. Being says nothing else” (86). O Ser, sendo singular plural, nada mais é do que o próprio com, o ser-com, o co-ser. Sua essência é co-essência. Qualquer coisa que existe existe com outras, mesmo quando supostamente isolada: o próprio isolamento depende da existência das outras coisas. Mesmo quando se aceita, enquanto tal, a evidência cartesiana, o “logo sou”, como conclusão indubitável, essa evidência ganha força, ganha verdade, justamente pela possibilidade de ser generalizada, de servir a cada um de nós, ou seja, justamente por essa copossibilidade. Assim “Ego sum = ego cum” (31). Essa imanência do ser (“its own itself”), esse “nada mais ser” além do que só pode ser dito, essa potência do interstício, do entre, da relação, do com, essa proposta de ontologia via imanência radical retoma várias imagens canônicas – a dispersão em Duns Scott, a realidade como perfeição em Espinoza, a mônada leibniziana, o eterno retorno, a imagem intransitiva bergsoniana, o Dasein etc. Nancy caracteriza-as como insistência: considera-as (quase sempre com reservas) como enunciações de um mesmo esforço por uma ética afastada da razão platônica e de suas conseqüências mais drásticas – principalmente os fascismos, é claro. A ambição de Nancy, centrada no com, é simplesmente reverter a ordem da exposição ontológica: historicamente o ser-com é subordinado ao Ser, e assim é apresentado como problema: o ser origina o indivíduo, que então se vê na condição problemática da convivência (é assim, por exemplo, que Rousseau propõe o contrato social). Nancy, ao contrário, argumenta que a filosofia começa com a e na co-existência civil enquanto tal, forçando desde sempre o aparecimento do poder como problema – o com é uma pluralidade de origens (82). “Or rather, the ‘city’ is not primarily a form of political institution; it is primarily being-with as 6 Os tradutores de Nancy para o inglês, Robert D. Richardson e Anne E. O’Byrne, chamam a atenção para sua escolha de passes como correlato ao “se passer” francês, o que nos estimula a ler a frase tanto no sentido de passar quanto no de acontecer. 134 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE such” (31). Defende então a filosofia como o pensamento do ser-com ou como o próprio pensar-com. Essa proposta de pensar-com traz conseqüências importantes para o cinema e para a literatura. Sendo o singular algo plural “em si” (portanto com), ele se distingue radicalmente de “indivíduo” (e também de “particular”): não há como usar tranqüilamente o “isto é” ou o “eu sou”; a verdade do ego sum é transferida para o nos sumus. Todo o sentido possível passa a carregar consigo (equivaler a) um nós. Não há como, também, definir, no âmbito da comunicação, o que está em jogo neste próprio texto que escrevo agora, ou em qualquer outro. Essa dificuldade desafia a própria filosofia como “literatura”, ou como “cinema”: “At what point must ontology become... what? Become conversation? Become lyricism?... The strict conceptual rigor of being-with exasperates the discourse of its concept...” (33). Em outras palavras, o com é irrepresentável (62); a co-presença do Ser é inapresentável, “not because it occupies the most withdrawn and mysterious region of Being, the region of nothingness, but quite simply because it is not subject to a logic of presentation” (40). Essa co-presença não é uma presença que foge para a ausência, nem mesmo, hegelianamente, uma presença em si ou por si; nem mesmo, husserlianamente, uma presença para si, para outros, para a consciência ou para o mundo. Há que se distinguir a ipseidade do sujeito tradicional (husserliano, distinto não só do objeto mas também dos outros sujeitos), ou seja sua própria aesidade (sua dependência dos outros, seu ser sempre outro), de sua própria fonte de representação (40): não há, diz Nancy, uma comunidade de ipses, mas uma co-ipseidade (44).7 Sendo o Ser desde sempre ser-com, não há, portanto, possibilidade de representação mimética. Mais uma vez aparece aqui o fantasma do cachimbo em Foucault: no interstício entre a imagem e a asserção, a indicação do ceci, a seta, fica absolutamente perdida, siderada, confundindo as hierarquizações tradicionais entre elas. O que sobra são jogos entre similitudes como os da sopa Campbell, nunca centrados numa semelhança, num original. Poderíamos então acrescentar aos pilares do trabalho de Godard apontados por Cangi (Brecht, Heidegger, Benjamin, Deleuze, Debord), o nome de Manet (já o fizemos), e também certamente o de Magritte. Este promove uma sideração absoluta entre elementos tradicionalmente associados ao legível e ao visível, e ao fazê-lo assume o com como centro não só de sua recusa, mas da própria impossibilidade de representação. Sobre o branco das páginas ou da tela, não há imagem ou palavra que não seja com imagem ou palavra (justaposta, sobreposta, mesclada, o que for). Todas as imagens de Histoire(s) (incluindo as “de” Godard) são citações, co-“criações”. O adivinharmos as alusões, as referências, se nos torna um desafio estimulante. Citações misturadas, corpos entrelaçados na mistura de imagens, braços de um troncos de outro, arma de um no outro, bigodes de 7 Nesses termos, Nancy reconhece a importância do “abalo sísmico” provocado por Heidegger, mas considera igualmente importante reescrever Ser e tempo (204). 135 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 um no rosto de outro, rostos com três olhos ou mais, nitidez desfeita, abraços inesperados entre personagens de filmes diferentes, citações de citação: “Bon, dit il / soir, dit elle” (Ib, 185). Quando no livro IIIa alguns versos descrevem horrores (20-21), uma alusão convencional (inclusive monótona, beirando o clichê), eles encontram com facilidade o olho da tradição mimética; quando paralelamente as imagens reafirmam os horrores, à la Resnais (Noite e neblina), o mesmo olho parece vibrar num fascínio mórbido. O entre da imagens e dos versos, porém, escancara a própria visualização do horror como impossibilidade, e o tal olho como hipócrita condição da continuidade do fascismo. Se Histoire(s) reafirma o tempo todo ...que l’oubli de l’extermination fait partie de l’extermination (Ia, 109), não assume, por outro lado, um conceito tradicional de história como repressão ao esquecimento, como alethéia, até porque a tradição supõe a memória como dependente da representação. Mesmo a di-alética hegeliana como propulsora da história tem por base a mímese. Godard propõe, ao contrário, concordo com Cangi, algo como a imagem dialética benjaminiana, um esforço de re-memoração, de vibração da memória, na contramão da representação mimética; mas ele vai além e reafirma constantemente na impossibilidade de visualização do horror: suas imagens/palavras-com apontam freneticamente para o invisível, o irrepresentável, ou seja, para o quanto a História, a História do Ser visível e representável, vem há séculos violentando catastroficamente o ser-com – e com isso encontram o Nietzsche da segunda consideração intempestiva. qui veut se souvenir doit se confier à l’oubli à ce risque qu’est l’oubli absolu et à ce beau hasard que devient alors le souvenir (IVa, 128-9) Histoire(s) é igualmente a inauguração, no cinema, daquela (des)ontologia proposta por Nancy: uma desativação da ontologia assertiva (“o ser é”) e sua substituição pela ontologia do ser-com, ela própria como ethos e como práxis. Não mais uma ontologia da sociedade, mas uma ontologia como socialidade. O próprio pensar-com, ou o pensar-nos, não supõe representação, não é um pensamento 136 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE representacional (nem um conceito, nem uma idéia); trata-se da práxis e do ethos correspondentes à montagem da peça teatral de nossa co-aparição, aquela em que o “nós” aparecerá desidentificado de qualquer tipo de pronome que já se arrogou sujeito de sua própria representação (71) – a co-aparição é o próprio ser-social como ser-com (59). É por isso que Nancy propõe um afastamento da filosofia política para que possamos nos aproximar do político (36-7). Essa inauguração godardiana da (des)ontologia do ser-com aparece também na disposição dos elementos visuais (palavras inclusive) pelas páginas. Essa disposição, dinâmica, ao mesmo tempo organizada (margens regulares, distribuição geométrica disciplinada, impressão primorosa etc) e caótica (pelo menos sem critérios claros de justaposição ou sobreposição), brinca, obviamente, com a própria noção de (com)posição, propondo o desposicionamento dos elementos como método – mais uma vez me refiro ao privilégio do entre. Se a ontologia assertiva tradicional serve ao posicionamento, ao privilégio das posições e composições, a energia aqui (a disposição de Godard) é direcionada mesmo à dis-posição (como deposição dos posicionamentos). Há séculos, as posições são reservadas aos indivíduos; a proposta aqui – de Godard e de Nancy – é que as singularidades se distribuam na dis-posição. Em Nancy, aliás, a totalidade do ser é justamente sua disposição (86). Toda sua revisão radical da filosofia, desde Parmênides, passa por isso. A rigor, diz ele, sua atitude nada tem de novo, já que a filosofia vem desdobrando, em várias direções, uma única proposição: a de que só o que existe existe (nada préexiste, o Ser não pré-existe). Essa proposição propõe apenas o posicionamento e a disposição da existência – que é sua própria pluralidade singular (29). Mais do que isso, “if the meaning (of Being) is disposition as such, then this is the being-with as meaning: the structure of with is the structure of the there” (978). A(s) Histoire(s) aparece(m) então, pouco depois do livro de Nancy, como desdobramento, também radical e autoconsciente, dessa proposição no âmbito de um cinepensamento inaugural. Se o ser é o ser-com, ele é simultâneo (38), ou a própria simultaneidade. Nessa nova (?) ontologia, não-assertiva, o próprio tempo muda: deixa de ser sucessão de puros instantes e passa a ser simultaneidade; o tempo é sempre “ao mesmo tempo”, é um tempo-com, ou seja, todo tempo é contemporâneo (61). Os livros e filmes das Histoire(s) se disfarçam em sucessões, imagens e palavras passam página por página, frame a frame, mas nessa passagem muita coisa se embaralha. O olho, a íris griffithiana, fica impressa em cada imagem, que nunca é (portanto) cada – não existe um “sozinho no mundo”. Toda imagem ali é misturada, mesclada, simultânea, até porque é citada, nunca é por si mesma. Poderemos, talvez, dizer isso de qualquer filme, com algum esforço metodológico, mas a ciranda citacional aqui produz praticamente um manifesto dessa contemporaneidade. O que passa continua, simultâneo ao presente, assim como o avenir se torna diferente do à venir (Nancy, 21). Mais uma vez, o que está nessas páginas e nesses frames é o “nós”, não como soma ou sucessão de indivíduos, mas como o próprio ser-com, que não pode 137 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 (mais) ser expresso: é (e já não é) nada mais que esse si-mesmo simultâneo. O “sentido do mundo” como ser-com é a própria “simultaneity of all presences that are with regard to one another, where no one is for oneself without being for others” (85). Ali, junto com Godard, “eu” falo comigo já sendo uma sociedade inteira em mim, sendo “always simultaneously ‘us’ and ‘me’ and ‘me’ as ‘us’, as well as ‘us’ as ‘me’” (85, grifo do autor). Alguém, isso, cada um, nunca é algo diferente de “nós”. Esse “nós” simultâneo corresponde a “Les signes parmi nous”, e portanto a esse outro cinema, a esse novo cinepensamento que “está aí”, como um corpo múltiplo, simultâneo, que nos acompanha ardorosamente, está aí conosco, ele é nós: le cinéma ne pleure pas sur nous il ne nous réconforte pas puisqu’il est avec nous puisqu’il est nous-mêmes il est là quand le berceau s’éclaire il est là quand la jeune fille nous apparaît penchée à la fenêtre avec ses yeux qui ne savent pas et une perle entre les seins (...) il est là après quand elle est vieillie que son visage est crevassé (...) il est encore là quand nous sommes vieux que nous regardons fixement du côté de la nuit qui vient et il est là quand nous somme morts et que notre cadavre tend le suaire aux bras de nos enfants (IVa, 118-124) 138 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Nessa simultaneidade que (não) nos redefine, nossa vida não é nossa: le nombre de ces coeurs qui veulent être eux-mêmes vivre de leur vie malgré tout comme si notre vie était à nous hélas à notre disposition É assim, ainda, que o cinema ressurge na(s) Histoire(s) a partir de uma outra história do próprio cinema, completamente diferente, a partir de outros conceitos de cinema, de “nós” e de mundo. Agora ampliados, esses conceitos acolhem o próprio impressionismo, cujo gesto guia toda a disposição godardiana: toutes les femmes de Manet ont l’air de dire je sais à quoi tu penses sans doute parce que jusqu’à ce peintre et je savais par Malraux la réalité intérieure restait plus subtile que le cosmos (...) parce que le monde enfin le monde intérieur a rejoint le cosmos et qu’avec Edouard Manet commence la peinture moderne c’est-à-dire le cinématographe (IIIa, 48-55) Esse “nós”, enfim, torna-se a própria condição dos “eus” (65). Nancy reclama que, na tradição platônica, ainda nem começamos a nos pensar como “nós” (70), atitude que se torna prioridade absoluta da ontologia, e portanto da ética. No baralho de Godard, porém, esse pensamento já aparece. O mundo ali se volta a cada um, a cada instante (não na sucessão): ... toute l’agitation du monde n’est rien de plus 139 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 qu’une certaine question qui m’est adressée et qui ne se précise en moi qu’à l’instant où elle m’oblige à l’acte (IVa, 58) Godard consegue fazer ver que o Ser nunca está naquilo que é dito, nas significações, mas “é falado” entre elas: se alguém fala, o Ser é falado, é ele próprio o sentido (27). Evidentemente, o ser falado do Ser, em Godard, aloja-se dinamicamente, também, nos entrechoques do longo poema que se distribui ao longo dos quatro volumes. Ou seja, se através do corte, um dos transcendentais do cinema, Agamben aproxima da poesia o cinema de Debord, esse transcendental em Godard se redobra também na voz, na escrita. A maior parte dos trechos de Histoire(s) sugere uma prosa, mas não há pontuação, exceto poucas vírgulas aqui e ali, bem como não há maiúsculas de início de oração. Assim, por exemplo, há toda uma combinatória, todo um jogo de possibilidades de coordenação ou de atribuição de complementos nominais ou verbais justamente na exposição de uma proposta de concepção de cinema e de pensamento que é central ao trabalho inteiro: c’est-à-dire des formes qui cheminent vers la parole très exactement une forme qui pense que le cinéma soit d’abord fait pour penser on l’oubliera tout de suite (IIIa, 55, grifo meu) Esse “très exactement” pode qualificar o que lhe é anterior, ou seja a forma como des formes cheminent vers la parole, ou então, é claro, a definição que lhe segue, une forme qui pense. Em seguida, o “que” se duplica, podendo servir à complementação de pense, como também à complementação de oubliera. Mais do que exercitar assim a escrita poética, aproveitando-lhe as possibilidades de indefinição, o impressionismo manetiano de Godard propõe mesmo, no poema e na poética simultânea das imagens, uma outra sintaxe, louca, pela qual a multiplicidade dos dizeres pertence ao ser em sua própria constituição (Nancy, 37). Essa multiplicidade, em Godard, torna explosivamente, violentamente, visível o fato de que a própria linguagem, e o próprio Ser, se constituem na multiplicidade, na simultaneidade. ...if saying always says Being in one way or another, then Being is exposed only in the incorporeality of the saying. This does not signify that Being “is only a word,” but rather that Being is all that is and 140 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE all that goes into making a word: being-with in every regard. For a word is what it is only among all words, and a spoken word is what it is only in the “with” of all speaking. Language is essentially in the with. Every spoken word is the simultaneity of at least two different modes of that spoken word; even when I am by myself, there is the one that is said and the one that is heard, that is, the one that is resaid. As soon as a word is spoken, it is resaid. As such, meaning does not consist in the transmission from a speaker to a receiver, but in the simultaneity of (at least) two origins of meaning: that of the saying and that of its resaying (86). Enfim, falar torna-se “effort and desire to maintain oneself as with” (87). Nesse sentido, o cinepensamento que acontece nos livros e filmes (e falas) das Histoire(s) é de fato uma forma que pensa, absolutamente impressionista: Manet é de fato o inventor do cinema. Mas, como aparece logo em seguida, na mesma estrofe, essa forma não tem como se sustentar, se segurar numa coesão; justamente por isso, por pensar, por ser múltipla e simultânea, dinâmica, singular plural, ela explode: que le cinéma soit d’abord fait pour penser on l’oubliera tout de suite mais c’est une autre histoire la flamme s’éteindra définitivement (IIIa, 55) A incorporeidade da palavra, ou aquela das imagens das imagens e das palavras, é absolutamente enganosa para a ontologia assertiva, já que o ser-com é tudo o que é, e ao mesmo tempo tudo o que nos leva a construir palavras. Essa forma que pensa e se desforma é feita a mão – e Deleuze percebeu exatamente isso diante do cinema de Bresson – ou seja, não é apenas, diretamente, a rejeição à representação que liga Godard a Bresson.8 E Godard assume sua dívida para com as mãos, justamente a respeito de Histoire(s), para além da manipulação da película na moviola: “Avant, il n’y avait pas une aussi grande différence qu’aujourd’hui entre un aveugle et quelqu’un qui voyait. J’ai toujours dit que pour continuer à faire des films, je preférerais perdre mes yeux que perdre mes mains”.9 A aproximação fonética entre mão e imanência se desenvolve em imagem no poema de Godard, quando se refere à miséria como pano de fundo, como condição primeira do pensamento da “comunidade moderna”: étant bien clairement entendu que l’essentiel n’est pas 8 Cf. DELEUZE, Gilles. “O ato de criação”. In: Folha de São Paulo (Mais!). São Paulo, 27 de junho de 1999. p. 5.4-5.5, e RANCIÈRE, op. cit. 9 Em entrevista a Serge Daney, Cahiers du cinéma, n. 513 (maio de 1997), p. 52. 141 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 ce qu’un dictateur pense n’est pas l’urgence matérielle mais une vérité plus haute qui est la vérité à hauteur d’homme et j’ajouterai à portée de main (IVa, 41) Na página à esquerda desse trecho há duas fotos, granuladas, degradadas, de um gesto de mão que lembra os do Pickpocket de Bresson.10 Em meio à miséria como condição do homem moderno, pensar (assim como fazer filmes) depende das mãos. les uns pensent, dit-on les autres agissent mais la vraie condition de l’homme c’est de penser avec ses mains je ne dirais pas de mal de nos outils mais je les voudrais utilisables s’il est vrai, en général que le danger n’est pas dans nos outils mais dans la faiblesse de nos mains il n’est pas moins urgent de préciser qu’une pensée que s’abandonne au rythme de ses mécaniques proprement se prolétarise (IVa, 45-7) Mais para o fim do último livro (IVb, 280ss), a mão vira de fato uma obsessão nas fotos. Pouco antes, o Godard cineasta aparece para assumir essa desontologia manual, manetiana, imanente, e, num resumo de si mesmo (desde Acossado), assumir logo – Manet numa das mãos, Antonioni (e Flaherty) na outra – sua aversão àquilo que normalmente se chama “Linguagem cinematográfica”: algo que só serve para aprisionar a vida toute seule, vida ela mesma, aquela que, livre das imposições da individuação, pode corresponder ao ser-com. donc la vie toute seule que j’aurais bien voulu monter en épingle 10 E que provavelmente não é, já que o título não consta dos créditos do volume. 142 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE pour faire admirer ou réduire à ses éléments fondamentaux pour intéresser le élèves les habitants de la terre en général et les spectateurs de films en particulier bref la vie toute seule que j’aurais bien voulu retenir prisonnière grâce à des panoramiques sur la nature des plans fixes sur la mort des images courtes et longues des sons forts et faibles des acteurs et des actrices libres ou esclaves que sais-je mais la vie se débat pire que le poisson de Nanouk nous file entre les doigts comme les souvenirs de Monica Vitti dans le désert rouge de la banlieue de Milan tout s’éclipse (IVb, 189-90) Palavras e imagens das Histoire(s) ganham força, existência, “realidade” justamente no esvaziamento borbulhante das significações. Esvaziamento mágico que transforma o jogo opaco dos significantes em circulação, em tradução/ translação, “in the sense of a stretching or spreading out [tension] from one 143 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 origin-of-meaning to another. That is why this always imminent exhaustion of signification – always imminent and always immanent to meaning itself, its truth – goes in two directions: that of common chatter and that of absolute poetic distinction” (87). O sentido, aliás, é exaurido justamente na significação apofântica, ou na inextinguível possibilidade de troca, de movimento, da insignificância fântica (idem). A linguagem se articula no como (88), no distanciamento do sentido – principalmente, exemplarmente, nas Histoire(s). O sentido de história aqui, nessa desativação da ontologia pelo cinepensamento manual, só se torna inaugural, como já disse, a partir da assunção de todo esse esvaziamento. O horror, a morte imanente (escrita, impressa), aparece, assombra (faz vibrar o corpo na luz) justamente nisso, na opacidade dessa circulação frenética. Daí um conceito de histoire(s) que depende da morte. Mais uma vez, não se trata de lembrar, como imperativo hegeliano, mas de não esquecer... do vazio, do horror, da absoluta inefetividade da linguagem para a construção de uma histoire – ou ainda da absoluta desvantagem da história para a vida. Nessa turbulência esvaziada, a própria noção de finitude aparece como a infinita singularidade do sentido, a infinita singularidade do acesso à verdade (Nancy, 15) – origem, não fim. “Finitude is the origin; that is, it is an infinity of origins. ‘Origin’ does not signify that from which the world comes, but rather the coming of each presence of the world, each time singular” (15). A morte inaugura a(s) Histoire(s), inaugura o jogo do mundo, a dis-posição, como absoluta exposição assombrosa: “humanity is the exposing of the world; it is neither the end nor the ground of the world; the world is the exposure of humanity; it is neither the environment nor the representation of humanity” (18, grifo do autor). Isso obviamente inverte o sentido da escrita, da produção, da história. O avenir, repito, deixa de ser o à venir, no sentido de um passado como curiosidade [bizarrerie], de algo intrigante que está para chegar. Essa dis-posição da história faz com que haja uma história e não um processus (21-2). Assim, “our relation to history is necessarily that of its Destruktion, or deconstruction. In other words, it is a matter of bringing to light this history’s singularity as the disassembling law of its unity and understanding that this law itself is the law of meaning” (22). Esse sentido de história nos impõe ainda a tarefa de entender como a história (“um singular acidente do Ocidente”) se tornou “global” ou “planetária”. Isso equivale também a tentar entender como o Ocidente desapareceu nessa “uniformidade” através da qual sobreveio a expansão de uma “plural singularity that is and is not, at the same time, ‘proper’ to this ‘o/accident’” (obviamente trata-se da questão do capital) (22). Como repara Cangi, a palavra Dasein aparece nas Histoire(s) (Ia, 87) mesclada à foto de um cadáver jogado na vala de um campo de extermínio. “El ser [heideggeriano] arrojado al mundo es atravesado por el anonimato forzado de la muerte. Godard revela que el lenguaje poético es, al mismo tiempo, un vehículo para desocultar la verdad y una reserva para la preservación de la tradición, que se hunde en el tiempo crepuscular del crimen” (43). Mais do que isso, porém, 144 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Godard revela o quanto a própria morte (mais que a foto) expõe o corpo. A morte, adverte Nancy, não acontece para o sujeito, mas para sua representação; ela acontece como linguagem, dizendo a interrupção do sentido como sua verdade. Ela acontece “in and through being-with-one-another. Death is the very signature of the ‘with’ (...) it is the incorporeal as such, and, therefore, the exposition of the body” (Nancy, 89). Nascimento e morte são marcas de origem e destino no outro, origem e destino como perda, como reapropriação de uma aseidade inapropriável, de uma alteridade irredutível: uma transferência inconvincente, que nunca substitui ou eclipsa o com (78). Em Godard aparece uma sugestão de Nancy, a partir de Bataille, a de que a linguagem é o próprio trágico. Essa perda irreparável no outro permanece como desafio à narrativa: só o que temos em comum (inclusive eu comigo mesmo) é nosso contar-nos (90). “Language exposes death: it neither denies it nor affirms it; it brings it to language, and death is nothing but that, that which is essentially brought to language – and that which brings it there” (90). Mas isso não quer dizer que a morte seja negatividade. Negatividade é aquilo que quer depor o Ser para fazê-lo ser. O Ser (infinitamente pressuposto por si) é o próprio trabalho da negatividade. O distanciamento da (ou pressuposto na) dis-posição é nada. Mas esse nada não é a negação de algo, é o incorpóreo pelo qual os corpos estão (são) uns com os outros, side by side, em contato, portanto distantes. O nada é a res ipsa, a exposição mútua como condição sinequanon de existência (91). E o não-Ser do Ser é sua própria dis-posição, seu sentido (a morte, portanto, é mesmo a origem da(s) história(s)): “The nihil negativum is the quid positivum as singular plural, where no quid, no being, is posed without with” (92). Ao expor rostos (de) mortos (no repique de Noite e neblina), ou mesmo ao expor bebês (Ib, 156, por exemplo) e crianças (IIIa, 43, por exemplo), Godard nos leva a uma curiosidade quanto à identificação (quem parece ser a criança, com quem o morto se parece?). Mas o que procuramos ali não é a imagem; é um acesso, acesso enquanto movimento rumo à presença, mas sentindo a presença sempre já como dis-posição, como espaçamento de singularidades. “We do not have access to a thing or a state, but only to a coming. We have access to access” (14). Nesse movimento, nesse coming constante, nesse acesso sempre só ao acesso, Godard insiste, como declara, em projetar histórias dos filmes que nunca foram feitos (v. 3). Ainda nesse acesso puro, intransitivo, Histoire(s) se projeta enquanto livro/filme sobre corpos, sobre uma assombrosa concretude do inefável. quand on sait de quelle quantité de morts et non de morts symboliques 145 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 ou mimées mais de morts réelles se paie l’avenement d’une seule vie on ne se soucie plus d’un quelconque sens seulement la vie remplie d’elle-même (IVb, 203). A singularidade é sempre um corpo (Nancy, 18); a matéria é o que é compartilhado (83) – portanto essa nova ontologia é uma ontologia de corpos, e qualquer linguagem, como circulação incorpórea de sentidos, é um fora do mundo no próprio mundo, uma exposição do mundo-de-corpos enquanto tal (mais nada), originalmente singular plural (84). Tiro da caixa, da couraça, os quatro volumes de Histoire(s). Viro e reviro as páginas de cada um deles, sinto o papel alterar alguma coisa na pele das pontas dos dedos (às vezes umedecidas pela língua), deixando-se também marcar sutilmente por ela. Vejo raras manchas de manuseio, ou mesmo de lápis, aqui e ali, manchas de leituras (nunca) passadas, provavelmente da amiga, que me emprestou o livro, ou de um amigo dela. Sinto o cheiro, sinto vestígios frios da produção industrial, e vestígios íntimos de manuseio, e suponho sentir também os da travessia do Atlântico. Quando deixo várias folhas virarem uma a uma sobre as seguintes, porém com ritmo, num som delicado, aliviando com precisão a pressão com que a mão esquerda segura o miolo do livro, vejo, além da multiplicação, no cineminha de papel, do tal frenesi godardiano, a transformação dinâmica da forma do livro, de plano para cilíndrico. Vejo Arcimboldo. Meus pés, concordando com Calvino, afastam-se do chão para que eu possa ler e escrever. Não há como ler sem o corpo, não há o que ler, a não ser o corpo – principalmente em meio a fotos desidentificadas de campos de concentração e rostos do fascismo. c’est en vivant la combinaison de toutes les forces du corps que la vie cesse de se questionner elle-même et s’admet comme pure réponse (...) rien qui puisse venir à bout 146 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE de ce rapport du corps au monde le degré zéro de l’autre se pose dés qu’on prononce le mot homme (IVb, 204-6) O cinepensamento do corpo, em Godard, percebe ainda a medicalização (e a cinematização) da vida ou a politização da vida nua em sua leitura-circulação do assombro – agora encontrando Nancy também pelo caminho do mito nazista, pelo qual o nazismo não é uma estetização da política, mas ele próprio uma estética. je disais ni un art, ni une technique un mystère et, pour le résoudre une simple potion magique pour éclarer notre lanterne magique elle aussi, n’est-ce-pas mais l’histoire du cinéma est d’abord liée à celle de la médecine les corps torturés d’Eisenstein par-delà le Caravage et le Greco s’adressent aux premiers écorchés de Vésale (IIb, 182) Em Godard a imagem, sempre já imagem-com, a certa altura se torna palavra, ou melhor, a palavra imagem vira imagem, vira coisa, a palavra cão morde: leio a palavra na página, num retângulo escuro como aqueles reservados a imagens: “L’Image” (II-198,203). Mais uma vez Magritte se torna aqui uma co-presença talvez mais pronunciada que a de Debord. O mesmo acontece com a materialidade ampliada das letras (ex: Ib, 225). Toda essa corporeidade que se instala na(s) Histoire(s) reafirma o ensaio, ele mesmo, como força erótica. Não apenas no “culto ao corpo da mulher” (IVb, 164), mas na relação direta entre corpo e mundo (IVb, 206, já citado). A história singular plural (aquela em que só o “nós” pode ser/ter sentido) termina em música e dança, antecipando esse Nossa música filme em que a invisibilidade do horror é retomada, em 2004. chacun de nous 147 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 porte autour de soi les rêves invisibles la musique nous élève tous jusqu’à ce trait de lumière tu sais qui jaillit sous le rideau quand un orchestre accorde ses violons la danse commence alors nos mains glissent et se séparent nos regards s’abîment les uns dans les autres nos corps s’effleurent avec précaution chacun évite de réveiller l’autre du rêve de lui faire regagner l’obscurité quitter la nuit de la nuit qui n’est pas le jour comme nous nous aimons (IVb, 221-2, grifo meu) O que aparece, então, no fim do movimento das páginas, agora inevitavelmente revistas com os olhos de um nosso Nancy, é justamente a queda abrupta do político (e do Ocidente), justamente a queda da tela, da página, da representação (Nancy, 47), desviando definitivamente a história para o reino do irrepresentável, deixando falar o ser-com, nada mais do que ele mesmo, deixando-nos ver o com justement como image juste, como limite da figura (48). Assim como Nancy, Godard é difícil, muitos diriam “ininteligível”. Certamente esse trauma se origina do modelo clássico de uma crítica que assume como missão primordial desvelar a inteligibilidade do real: para isso, a escrita do ensaio 148 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE deve ser inteligível, clara, respeitando as, sujeitando-se às, distinções clássicas – aristotélicas, platônicas, cristãs, cartesianas, rousseaunianas, hegelianas, husserlianas. Godard e Nancy demonstram despreocupação com tais distinções; na verdade até uma atração pelo desrespeito a elas. Não respeitam nem a si mesmos, Godard por uma inquietude radical, rigorosa, de certa forma dadaísta; Nancy por assumir não haver mesmo um si mesmo, por se saber assim mesmo, sempre outro. Ambos escapam. Godard fez os dois primeiros filmes das Histoire(s) em 1988 e 1989, o terceiro em 1997, os outros cinco em 1998, assim como os livros. Só havia os dois primeiros filmes, então, quando Agamben apresentou, em Genebra, sua conferência sobre Guy Debord. Isso foi em novembro de 1995. Dois meses depois sai o livro de Nancy. Esse encontro dos três num espaço-tempo tão exíguo não deixa de ser sintomático, ou melhor, promissor. Agamben apontava a queda da tela e a montagem da estratégia de Debord a partir dessa queda. Godard e Nancy mergulharam no mesmo vazio, radicalmente, com seus ensaios. Difícil saber o que Nancy teria dito das Histoire(s), ou Godard sobre Être singulier pluriel, mas pelo menos para mim, e pelo menos por enquanto, os dois ensaios estão definitivamente amarrados, e portanto os dois ensaístas, ils-même(s) matière(s) de ambos, viraram um assombroso Jean-Luc(s), singular plural. Referências: BÉGHIN, Cyril. “História(s) do cinema: invenção da animação”. Tradução de Oswaldo Teixeira e Irene Ernest Dias. Devires, Belo Horizonte, v. 4, nº 1 (jan.jun. 2007), p. 26-35. AGAMBEN, Giorgio. “O cinema de Guy Debord” (conferência em Genebra, 1995). Tradução (do francês) de Antônio Carlos Santos (fotocopiado). AGAMBEN, Giorgio. Image et memoire: écrits sur l’image, la danse et le cinéma. Paris: Desclée de Brouwer, 2004. BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política (Obras escolhidas, v. 1). Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1986. CANGI, Adrián. Jean-Luc Godard: Poetizar sobre las ruinas entre la historia y el acontecimiento. In: GODARD. Historia(s) del cine. Traducción de Tola Pizarro y Adrián Cangi. Buenos Aires: Caja Negra, 2007, p. 11-58. DANEY, Serge. “Histoire(s) du cinéma: dialogue entre Jean-Luc Godard et Serge Daney”. Cahiers du cinéma, nº 513 (maio de 1997), p. 49-55. DANEY, Serge. A rampa. São Paulo: Cosac & Naify, 2006. DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. São Paulo: Contraponto, 1997. DELEUZE, Gilles. “O ato de criação”. In: Folha de São Paulo (Mais!). São Paulo, 27 de junho de 1999. p. 5.4-5.5. DELEUZE, Gilles. Cinema: a imagem-movimento. São Paulo Brasiliense, 1985. DELEUZE, Gilles. Imagem-tempo: cinema 2. São Paulo Brasiliense, 1990. FOUCAULT. Isto não é um cachimbo. São Paulo: Paz e Terra, 1989. GODARD, Jean-Luc. Godard par Godard: tome 1, 1950-1984. Paris: Cahiers du 149 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 cinéma, 1998. GODARD, Jean-Luc. Introdução a uma verdadeira história do cinema. São Paulo: Martins Fontes, 1989. GODARD. Histoire(s) du cinéma (4 vols.). Paris: Gallimard-Gaumont, 1998 GODARD. Historia(s) del cine. Traducción de Tola Pizarro y Adrián Cangi. Buenos Aires: Caja Negra, 2007. HEIDEGGER. Ser e tempo. São Paulo: Vozes, 2006. NANCY, Jean-Luc. Being singular plural. Tradução (para o inglês, de Être singulier pluriel, Paris: Galilée, 1996) de Robert D. Richardson e Anne E. O’Byrne. Stanford: Stanford University Press, 2000. NANCY, Jean-Luc, e LACOUE-LABARTHE, Philippe. O mito nazista. São Paulo: Iluminuras, 2002. NIETZCHE, Friedrich. Segunda consideração intempestiva: da utilidade e desvantagem da história para a vida. Marco Antônio Casanova. São Paulo: Relume Dumará, 2003. NIETZSCHE, Friedrich. A gaia ciência. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. OUBIÑA, David (org.). Jean-Luc Godard: el pensamiento del cine : cuatro miradas sobre Histoire(s) du cinéma. Buenos Aires: Paidós, 2003. RANCIÈRE. “De uma imagem a outra”. Tradução de Luiz Felipe G. Soares (fotocopiado). RANCIÈRE, Jacques. La fable cinematographique. Paris: Seuil, 2001. Abstract: A reading of Godard’s Histoire(s) du cinéma along with Nancy’s Être singulier pluriel, aiming at the visibility of history, in Godard, not only as image (like Benjamin would put it), i.e., not only as a dynamic tension of times, but also as something necessarily singular plural, as much as being itself, which is necessarily being-with. With Nancy, Godard can be seen against a certain Godard (at least that one, Debordian), proposing a history that deactivates traditional ontological notions, when he presents, not the supposed, delirious, Being, occupying the center of (the always impossible) representation, but, instead, relation, beingwith itself, necessarily mixed with those between-images of his essay. Keywords: Jean-Luc Nancy, Jean-Luc Godard, being singular plural, Histoire(s) du cinéma. Recebido em 10/05/2009. Aprovado em 30/05/2009. 150 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Autor fotográfico y obrero del progreso: notas sobre el trabajo de Christiano Junior en la Argentina ENSAIO Verónica Tell* Resumo: Este trabajo apunta a analizar algunos aspectos de la obra de Christiano Junior realizada en la Argentina, en particular en la ciudad y provincia de Buenos Aires, a fines de la década de 1870. El objetivo es trabajar a partir de dos líneas de análisis. Por un lado, se propone vincular esta obra con la idea del progreso que atraviesa el fin de siglo, los emprendimientos, las mentalidades y los relatos (fotografía incluida). Por otra parte, se analiza el trabajo de Junior a la luz del concepto de idea tout court en tanto parece concentrar la imagen del fotógrafo sobre sí mismo en relación con su actividad y su producción. Palabras clave: Fotografía, progreso, autor, siglo XIX, Argentina. Por sus iniciativas artísticas, técnicas y comerciales el portugués Christiano Junior estuvo sin dudas entre los fotógrafos más destacados de la fotografía argentina y latinoamericana del siglo XIX.1 Nació en las islas Azores en 1832 y emigró a Brasil en 1855 y de allí a la Argentina en 1867 donde se desempeñó como fotógrafo hasta 1883. En este país participó de la Exposición Nacional de 1871, la Industrial de 1877 y la Continental de 1882, fue premiado por la Sociedad Científica Argentina, la exposición de Filadelfia de 1876 y la de París de 1878. También sacó fotografías de la segunda exposición realizada por la Sociedad Rural Argentina y a él se deben posiblemente asimismo aquellas de la primera. Como todos los fotógrafos comerciales de la época se desempeñó como retratista y su fama llevó a buena parte de la alta sociedad porteña y de diferentes localidades a posar en su estudio. En 1876 Christiano Junior prologaba con las siguientes palabras el primero de los dos álbumes que llegaron a salir de lo que fue el emprendimiento fotográfico de mayor envergadura realizado en la Argentina hasta ese momento: Deseoso de corresponder cual cumple á la benévola acogida que merecieron mis trabajos fotográficos al imparcial jurado de la Exposición Nacional de Córdoba en 1871 -he pensado * Doctora en Artes (Universidad de Buenos Aires). 1 La obra de Christiano Junior (José Christiano de Freitas Henriques Junior (1832-1902)) en la Argentina ha recibido la concentrada atención de Abel Alexander y Luis Priamo (ver bibliografía). En 1878 Junior vendió su estudio -incluyendo todos los materiales y negativos- a Alejandro Witcomb. El archivo Witcomb pertenece actualmente al Archivo Gráfico de la Nación y en él se encuentran, sin distinción fehaciente, los negativos debidos a Junior. Si bien sólo las fotografías incluidas en los álbumes o las cartes de visite que llevan el nombre de Junior son de su indiscutible autoría, el hecho de que éstas sean placas al colodión húmedo favorece la atribución de otras realizadas con este mismo procedimiento. 151 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 que nada convendría mejor á mi objeto que reunir en una serie de ilustraciones, todo aquello que de notable encierra este hermoso país- tanto en monumentos como en panoramas de su pintoresca y exuberante naturaleza. Mi plan es vasto, y cuando el esté completo, la República Argentina no tendrá una piedra ni un árbol histórico desde el Atlántico á los Andes, que no se haya sometido al foco vivificador de la cámara oscura. [...] Tiempo era en que los extraños, que visitan esta parte de la América del Sur, al regresar á sus lares, encontrasen en la populosa Buenos Aires, una galería donde los cuadros que la realidad ofreció ante sus ojos, pudieran transportarse con la facilidad de este álbum.2 El prólogo continuaba unas pocas frases e informaba que las imágenes estaban acompañadas por textos descriptivos escritos por Mariano Carranza y Ángel Pelliza.3 Esta era una novedad propuesta por Junior puesto que las fotografías de los álbumes confeccionados por sus contemporáneos contaban solamente con un breve título (la mayor parte de las veces sólo el nombre del lugar) que con frecuencia era impreso en el mismo negativo. Además, los volúmenes no solían ser todos idénticos sino que las imágenes entre unos y otros variaban siguiendo, seguramente, la selección y preferencias del comprador.4 El portugués ofrecía, en cambio, una edición con idénticas fotografías en todos los ejemplares y que, a página abierta, tenía a la derecha la imagen y a la izquierda el texto en cuatro idiomas. Estas descripciones históricas, según su propia formulación, eran el modo de hacer que edificios o plazas significaran más allá de su fisonomía y de lo que previamente supiera quien las mirara. Los comentarios describían características edilicias, datos históricos y también sociales5. Explicitar en su prólogo los objetivos del emprendimiento fue la forma de destacar la originalidad y amplitud del mismo y, evidentemente, de promocionarlo. No sólo con aquellas líneas promovía su trabajo, sino que antes de arribar a cada nueva 2 Al año siguiente Junior editó un segundo álbum con otras 12 fotografías. Un ejemplar de cada uno se conserva en la Biblioteca Manuel Gálvez y otro par en la Fototeca “Benito Panunzi” de la Biblioteca Nacional. La Academia Nacional de la Historia tenía también unos ejemplares pero desaparecieron hace aproximadamente tres años. 3 En español, francés, inglés y alemán en el primer álbum. En el segundo álbum el italiano reemplazó al alemán y Junior explicaba el cambio. Cabe notar que ese mismo trío encaró otro emprendimiento a mediados de 1877 que consistía en la Galería biográfica argentina con textos por Carranza y Pelliza y edición de Junior, con retratos litográficos de distintas personalidades firmados por R. Albertazzi. El 12 de junio de 1877 publicitaban en el periódico La Nación la primera entrega. 4 Este tipo de orden y selección que quedaba en manos del comprador había sido propuesto de modo explícito, por ejemplo, por el fotógrafo Du Mesnil para su álbum Notoriedades del Río de la Plata de 1862. “Esta constará de pequeños retratos fotográficos que, acompañados de algunas páginas de notas biográficas, se irán librando sucesivamente á la circulación y expendiéndose separadamente á un precio módico. De esta manera cada persona podrá tomar libremente las entregas que fueren de su agrado, y formar con ellas un plutarco ilustrado de sus simpatías, o sea un álbum para faltriquera de retratos y pequeñas biografías encuadernando al gusto de cada uno...” (La Tribuna, 01 de enero de 1862). Aunque se distinga de las vistas puesto que las personalidades representadas eran susceptibles de generar simpatías o antipatías según las adscripciones políticas de los compradores, se percibe que era un modo de venta posible en la época. 5 Los que denomino datos sociales son, por ejemplo: “Estas mejoras [el plantar sauces en la ribera] han hecho tolerable el ingrato oficio de la lavandera, sometida al suplicio de permanecer arrodillada varias horas sobre las toscas de la playa para ganar un mezquino jornal.” o “Las familias pobres, así que se retiran los pescadores, se proveen de aquel desecho, que contribuye á su alimento” (Fragmentos de textos correspondientes a las fotografías Escenas de la playa (grupo de lavanderas) y Escenas de la playa (la red), respectivamente). 152 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE provincia o localidad tenía por práctica anunciar su llegada en los periódicos locales (alexander-priamo, 2002, p. 28) Este aspecto propagandístico pone de relieve el espíritu comercial y claramente profesional de su desempeño y puede ser, también, una de las claves para interpretar la afirmación de Junior respecto de la desatención de sus predecesores hacia los signos del progreso. Pues el fotógrafo afirmaba en su prólogo: Hasta hoy han cuidado poco los artistas de la Ilustración en sus Ilustraciones, presentando únicamente escenas del campo, donde solo se transparenta la vida rústica, prescindiendo de aquellos signos inequívocos del progreso, que elevan sus cúpulas arrogantes en el centro de las ciudades. (junior, 1876) Puesto que en líneas previas Junior se refería a sus propias fotografías como ilustraciones, se puede asumir que aquellos a quienes se refería con “artistas de la ilustración” eran fotógrafos y tal vez sólo en segunda instancia apuntaran sus palabras a grabadores, litógrafos o pintores. Sin embargo, en su calidad de fotógrafo profesional instalado en Buenos Aires desde 1867, Junior debía conocer el trabajo de Esteban Gonnet y de Benito Panunzi, los primeros en realizar álbumes con vistas de la ciudad. En relación con el trabajo de Esteban Gonnet una nota en La Tribuna informaba en 1864: “Un fotógrafo de Buenos Aires ha tenido la feliz idea de sacar las principales vistas de esta capital. Con ellas ha formado un precioso álbum digno de adornar cualquier biblioteca”6. La “feliz idea” indicaba que aquel proyecto era novedoso y, por otra parte, la lista de las vistas dada a continuación promocionaba el trabajo y el criterio de selección de Gonnet. En efecto, las suyas fueron de las primeras imágenes de Buenos Aires impresas en papel albuminado y sus álbumes Recuerdos de Buenos Ayres fueron -hasta donde se tenga noticias- los primeros.7 Pocos años más tarde, Benito Panunzi ofrecía una colección de vistas por entregas bajo el nombre de Album Panunzi8 y también produjo al menos dos álbumes. 6 La Tribuna, 26 de octubre de 1864. Citado en Alexander y Priamo, 2000. Sobre la mención del articulista de que el álbum era digno de adornar cualquier biblioteca, cabe notar que el ejemplar existente en la Fototeca “Benito Panunzi” de la Biblioteca Nacional lleva escrito a pluma: “Remitido por orden del SE el Señor Gobernador para que se conserve en la Biblioteca. Junio 30 de 1864” lo cual pone en evidencia que su valoración como objeto de importancia cultural fue inmediata. Esteban Gonnet era un francés radicado en Buenos Aires seguramente desde finales de la década del 50 y que falleció en esa ciudad en 1868. Se le pudieron atribuir los álbumes y fotos -que sólo consignaban en una pequeña estampilla “Fotografía de Mayo 25 de mayo 25”- gracias a la referida nota de La Tribuna, que decía que en esa dirección se encontraba el establecimiento fotográfico de Gonnet. Por lo demás, no hay datos en las fotos ni publicidades en los periódicos que reúnan dirección del estudio y nombre del fotógrafo. 7 Alexander y Priamo (2000) señalan la existencia de un álbum anterior sobre la ciudad de Buenos Aires, realizado por James Niven hacia 1863, aunque éste estaba aparentemente destinado a un uso privado. 8 Así estaba anunciado en El Nacional del 7 de abril de 1868. Citado en Alexander y Priamo, 2000. Los autores destacan lo inusual de la venta por entregas de fotografías y señalan que hay en Leon Pallière -quien entre marzo de 1864 y febrero de 1865 vendió una colección de 52 litografías bajo el título Album Pallièreun antecedente que el italiano debió considerar prestigioso. Agrego a esto el primer antecedente francés del Album Photographique de l´artiste et de l´amateur publié sous la direction de M. Blanquart-Evrard, de 1851, que se vendía en entregas mensuales con tres láminas reproduciendo monumentos y obras arte acompañadas por una hoja con datos históricos y que podían ser reunidas en álbum al finalizar la colección. La noticia brindada por El Nacional es, según estos autores, la primera que se tiene de la actividad profesional de Panunzi quien, a diferencia de lo acostumbrado, no publicó anuncios en los periódicos. 153 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 Según lo afirma Luis Priamo, “este italiano fue el primer fotógrafo que se propuso realizar una documentación amplia y sistemática de la ciudad. Este relevamiento analítico (visible en sus fotos de las plazas 25 de Mayo y de la Victoria o de la zona ribereña) se combinaba con el registro de los cambios producidos en el paisaje urbano.” (priamo, 1998, p. 58) Así, ambos produjeron vistas de la ciudad y luego álbumes con ellas, pese a lo cual Junior afirmaba que sus predecesores se habían ocupado únicamente de escenas de campo. Temas que efectivamente los dos habían tratado de manera profusa aunque, como se ve, no exclusiva. En este sentido, es interesante notar que la séptima entrega del Album Panunzi estaba compuesta por una fotografía de la plaza del Parque y otra de pobladores del campo. Si la combinación de ambos temas podría ofrecer la posibilidad de vender ese conjunto a los interesados en sólo uno de ellos, analizado desde un lugar no exclusivamente comercial sino cultural más amplio, también podría implicar que el italiano no estuviera aplicando una distinción necesariamente dicotómica entre uno y otro sino que simplemente combinara en una entrega la realidad circundante, del mismo modo que unía ambos asuntos en el conjunto total. En este sentido, si el álbum litográfico de Pallière podría considerarse un antecedente del de Panunzi para la distribución por entregas podría serlo, también, en lo que concierne a la reunión de escenas urbanas y rurales en una misma carpeta.9 En este caso, pese a la diferencia técnica, habría un fuerte lazo con la tradición iconográfica previa y sus modos de distribución. Todo esto podría dar la clave para interpretar las categóricas palabras de Junior no como una falsedad ni exclusivamente como una frase publicitaria sino como la expresión de un modo de ver la realidad que se presentaría, ahora sí, en dos categorías diferenciales. Es decir que en su percepción debió existir una franca contraposición entre la vida rústica y las cúpulas. Entre todas las imágenes que se han podido identificar como debidas a Junior sólo hay tres fotos de gauchos y criolla frente a sus ranchos y ninguna de tareas rurales (alexander-priamo, 2002, p. 25). Sin embargo, considerando sobre todo el trabajo de Junior como fotógrafo de la segunda exposición rural organizada por la Sociedad Rural Argentina (aunque fuera retribuido económicamente y no debido a su propia iniciativa), conviene resituar la oposición rusticidad-progreso a la que se refería en el prólogo. El mundo rural al que se acercaba Junior se estaba diferenciando fuertemente del de las décadas anteriores y, además, el lugar desde donde él se vinculaba se enraizaba en otras búsquedas y proyectos. Se desarrollaba contemporáneamente un proceso de transformación productiva y, en tanto se implementaban nuevas prácticas de producción, nuevas tecnologías e inversiones mayores, comenzaba a llevarse adelante una experiencia de tipo empresarial en la explotación agropecuaria. (zebeiro, 1999) En este sentido, hay que notar el hito que significó 9 El considerar el Album Pallière como antecedente del de Panunzi en relación con las entregas es una hipótesis de Alexander y Priamo (2000, p. 28). También son ellos quienes señalan que Pallière reunió en su séptima entrega El corral, Pita y ombú, Parada de la diligencia en la Pampa y Cazuela del teatro Colón, es decir, temas urbanos y rurales. ¿Por qué no considerar entonces esta conjunción de temas en Pallière también como un antecedente para la selección temática de Panunzi? 154 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE la fundación de la Sociedad Rural Argentina en 1866. Ésta buscaba dar cohesión a una clase terrateniente y representar sus intereses en relación con el Estado y la elite política e impulsar el proceso de cambio tecnológico, es decir que pretendía definir con otras pautas las actividades rurales y la vinculación de la elite propietaria con ellas y orientar los progresos del sector. (hora, 2002, p. 3) En relación con la Sociedad, señalamos que Junior no sólo fue fotógrafo de su segunda exposición, en 1876 (y presumiblemente también de la primera) sino que se había asociado en 1875. Por otro lado, su paso previo por el Brasil y sobre todo la experiencia de su participación en la Exposición Nacional de Río de Janeiro en 1866 y luego, en 1871, en la primera Exposición Nacional en la ciudad de Córdoba, en las que ganó sendas medallas,10 debieron incidir en esta perspectiva de Junior. El culto al progreso puesto en ejercicio en tales encuentros debió encontrar asidero en un fotógrafo profesional exigente e innovador como Junior. Además, si lo que podríamos llamar ampliamente lo rural se encontraba representado en estas exposiciones, no lo estaba como valor cultural (lo que podría relacionarse con la tradición iconográfica de las costumbres, los viejos modos de lo rural) sino en relación con los progresos en el sector agropecuario y su productividad. Así, una cosa son las escenas de campo (gauchos frente al rancho, pulperías, etc. que sus antecesores realizaron en gran número) y otra distinta, el Aberdeen Angus premiado por la Sociedad Rural. Entre ambas, la que Junior tomó fue siempre la opción por lo nuevo. O de otro modo, si conserváramos los términos rural y urbano tal como los plantean Altamirano y Sarlo para el caso de Esteban Etcheverría, cabría pensar que así como en su relato el matadero es un espacio de penetración de lo rural en lo urbano, en el caso de Junior las fotografías de animales premiados serían la penetración de lo urbano en lo rural. Si el par civilización-barbarie no está planteado explícitamente en sus palabras preliminares, rusticidad y progreso aparecen como términos más amables que señalan igualmente que para Junior la ciudad era un espacio cultural. La primera de sus vistas urbanas, en la apertura del álbum, es elocuente respecto de esto. Junior inauguraba su serie con una panorámica de Buenos Aires tomada desde un ángulo infrecuente. [il. 1] 10 Junior fue premiado con medalla de bronce en Río de Janeiro y de oro en Córdoba, lo cual era una importante fuente de legitimación profesional que la elite (y también sus pares) debió reconocer y valorar. 155 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 il. 1: Christiano Junior, “Buenos Aires (Vista panorámica)”. En: Vistas y Costumbres de la República Argentina publicadas por Christiano Junior. Provincia de Buenos Aires, 1876. Difícil es, dada la extensión sobre que se asienta esta populosa ciudad, ofrecer una vista que abrace un espacio suficiente para representarla. Tomada esta, desde uno de los mas altos puntos de mira, que se halla en condiciones de ser aprovechado por su posición, satisface en cierto modo, si bien nos compromete a presentar en la serie de estos álbums, otras láminas análogas que, así como la actual da una idea de la zona Sudeste, vista á vuelo de pájaro, las otras la darán de los extremos opuestos, completando así una vista general de la gran ciudad, que en 11 de junio de 1880, habranse cumplido tres centurias desde que se colocó en la esquina de la plaza Victoria, donde existe, la piedra angular de su fundación. Al lado de este texto se encuentra una imagen donde se hacía bien visible la ortogonalidad característica de la ciudad a la vez que, tomada la fotografía desde una esquina, el damero cobraba dinamismo por las diagonales que fugaban desde el vértice. Un tranvía que empezaba a surcar la calle imprimía también movimiento a la escena. Este tipo de toma oblicua se presentaba con frecuencia en esta serie a la que Junior daba inicio con esta panorámica carente de edificios prominentes. Estos inmuebles serían el objeto de su cámara en las fotografías sucesivas. El fotógrafo realizaba este mismo tipo de acercamiento con una fotografía de la Plaza de la Victoria del primer álbum al advertir en el texto correspondiente que la Pirámide de Mayo y la Catedral -que se veían en la imagen- serían descritas en las respectivas láminas. Estas aparecían, recién, en el volumen siguiente. Respecto del texto que acompañaba a la imagen, cabe señalar que más que su 156 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE extensión, lo que impedía abarcar la ciudad en una única toma era la falta de un punto de vista lo suficientemente elevado. La ciudad en la llanura ofrecía una dificultad para la composición. A la vez, si para un fotógrafo que venía de Rio de Janeiro la planicie debió ser especialmente llamativa, el escrito no daba cuenta de ello y, como ocurría con casi todos los otros textos, describía una idea de la ciudad más que lo visible fotografiado. Ahora bien, ¿cuales eran los sitios elegidos por Junior para representar esa ciudad moderna? La Casa de Gobierno, la Catedral, el Congreso, las Plazas de la Victoria y 25 de Mayo, el Paseo de Julio, la ribera, las estaciones de ferrocarril: los motivos porteños se venían reiterando en las tomas de los diferentes fotógrafos. Se trataba de un recorrido iniciado en los años 50 por los primeros daguerrotipistas que realizaron vistas de la ciudad11, en los solares más antiguos y con sus edificios institucionales, que en la década del setenta y las posteriores seguían siendo los sitios más representativos y por lo tanto, fotografiados de Buenos Aires.12 Estos lugares especialmente connotados por su ubicación en el tejido urbano o por sus características o funciones políticas e institucionales y que fueron objeto, por esto, de la atención de los fotógrafos tanto viajeros como establecidos en el país, acrecentaron paulatinamente su carácter emblemático a partir de su reiterada reproducción en las fotografías. Un consenso sobre cuáles eran los sitios más destacados y luego su reconocimiento en las imágenes (la leyenda de anclaje aseguraba esto último) eran la clave para que esos espacios se constituyeran en iconografía representativa de la ciudad de Buenos Aires. En este sentido, la imagen fotográfica no sólo reduplicaba las características visuales de un sitio sino que retornaba sobre lo representado amplificando, también, su lugar prominente en el imaginario urbano; y luego siguiendo el círculo, la fotografía de ese lugar se volvía necesaria si se deseaba disponer de una colección de imágenes que diera cuenta de la ciudad. Junior, como sus contemporáneos y quienes le seguirían, realizaba ese itinerario reforzando su poder evocativo en la configuración de un imaginario de la ciudad. Fotografiaba lo sólido, los edificios centrales que marcaban el carácter no sólo físico sino también institucional de Buenos Aires. Sin embargo, no todo era macizo en esa ciudad: entre la “gran aldea” y la Buenos Aires del Centenario existió un tiempo intermedio que Jorge Liernur ha visto como aquel de la ciudad 11 El primer daguerrotipista que realizó vistas de Buenos Aires y cuyo nombre se conoce es el estadounidense Charles DeForest Fiedricks. Se conservan en el Museo Histórico Nacional cuatro imágenes de su autoría y, de la misma época (1850 - 1855), otros cinco daguerrotipos cuyo autor no se conoce. Esas son las vistas más antiguas que se conservan de la ciudad de Buenos Aires. (Cf. Miguel Ángel Cuarterolo et al., 1995). 12 Dentro del género cabe mencionar para Europa el trabajo inaugural de los “viajes heliográficos” que distintos fotógrafos reunidos en la Société Héliographique Française (luego Photographique) llevaron a cabo por Francia entre 1850 y 1855 con el fin de realizar una colección de vistas, en soporte papel, de monumentos y sitios destacados. Por otra parte, como señala Boris Kossoy (2002) para el caso brasileño –haciéndolo extensivo a los demás países latinoamericanos- en la era de las cartes de visite no sólo la tecnología desarrollada en Europa y en Estados Unidos sino también los patrones estéticos fueron introducidos y aplicados por un número importante de fotógrafos extranjeros de modo que hubo una fuerte homogeneización tanto en la práctica como en la estética fotográfica. Natalia Majluf y Luis Eduardo Wuffarden (2001) apuntan en la misma dirección al referirse a la capital peruana: “Las imágenes de las capitales europeas, difundidas por el mercado turístico, habían servido como modelo formal.” 157 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 efímera, cuyos estratos se configuraban paralelamente a la formación de la ciudad moderna y sólida. Dice el autor respecto de las fotografías: “Siempre hemos aceptado, en su enunciado central de logros –la casa, el teatro, el monumento, el parque-, las imágenes que aquellos fotógrafos lanzaron hacia el futuro como los testimonios de la construcción del proyecto. Sin embargo, basta mirar los rasgos secundarios, transformar el fondo en figura, para advertir, allí donde la voluntad de representación se descuida, las elocuencias de esas huellas de la fugacidad” (liernur, 1993, pp. 178-179). Entonces, la distancia entre las figuras y el fondo -tomando los términos de Liernur- es aquella existente entre lo habido y lo deseado: en ella puede proyectarse la mirada de los fotógrafos, las expectativas y el imaginario que pretendía dejarse asentado. Esa misma distancia concierne a un conflicto relativo al propio medio fotográfico: el que se da entre lo que la fotografía representa o revela -en tanto imagen que reproduce fielmente los rasgos visibles de la realidad- y aquello que construye. Junior empleaba a veces las tomas oblicuas como la panorámica que abría el primer álbum. Ellas le daban la posibilidad de mostrar dos lados de un mismo edificio (como es el caso de la Administración de Rentas, la Casa Rosada, el Hospital Italiano o la Iglesia de Santa Felicitas) o los edificios prominentes sobre dos caras de una misma plaza (de la Victoria, por ejemplo, con el Cabildo y la Catedral). En esas plazas, los bancos estaban vacíos y exceptuando la Quinta del Alte. Brown delante de la que posaban varias personas y de las pequeñas siluetas a lo lejos o de las figuras vaporosas de los personajes móviles, pocas figuras dejaron su marca en las placas. Por lo general, los lugares fotografiados por el portugués para estos álbumes no se encontraban transitados por sus habitantes sino que se trataba de imágenes bastante despobladas en donde solían primar los espacios antes que sus usos13. Estas fotografías traducían una materialidad urbana en cierto modo vaciada de su funcionalidad. Eran espacios semi-vacíos que sin embargo, por las diagonales en las composiciones, no carecían de dinamismo. De esta manera, Junior lograba que la ciudad hablara casi por sí misma, estructuralmente, del potencial movimiento que contenía. Si bien ambos formaban parte del título del álbum, el portugués privilegiaba claramente las vistas por sobre las costumbres. Sólo tres fotografías de las que llegaron a editarse se hacían eco de estas últimas. Pero por cierto que no consistían en hombres a caballo, mateando ni carneando vacas, sino otras nuevas, surgidas de un nuevo contexto. Escenas de la playa es el nombre de dos fotografías con poses muy compuestas, una de pescadores y otra de lavanderas en que los hombres regresaban portando las redes y las mujeres posaban en grupos, 13 Si bien por los tiempos de exposición los objetos móviles (como un transeúnte) salían borrosos, Junior ha optado en muchas ocasiones por incluir personas y/o teatralizar sus escenas. En este sentido, cabe señalar que esta ciudad de la que se muestra lo sólido (los espacios y edificios) no se repite de la misma manera en otras fotografías no incluidas en estos álbumes. En muchas de ellas se encuentran personas delante de los edificios o lugares (ej. Teatro Ópera, atr., ca. 1875, Portones de Palermo, atr., ca. 1874) y en otras, como se verá enseguida, la postura de la gente responde de manera absolutamente evidente a la solicitud del fotógrafo. Lo mismo cabe decir de otras ciudades. Paola Cortés-Rocca ha señalado en una sugestiva hipótesis que en estas fotos de Junior la ciudad estaría vacía de personas como marca de un espacio eminentemente institucional que debería convertirse en imagen de la nación. Agradezco a la autora el haberme facilitado una copia de su trabajo. 158 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE respectivamente. Uno de estos epígrafes hacía, sugestivamente, referencia al movimiento y apuntaba a un aspecto propio de la vida urbana moderna: “Es un espectáculo interesante para el que pasea por las riberas del Plata, la vista multicolor y variada que presenta esta faja movible de mujeres de todas edades y países, entretenidas en el aseo de la ropa perteneciente á los 200.000 habitantes de esta gran ciudad.” La tercera imagen vinculada con las costumbres entre las veinticuatro de los álbumes es la única que tiene un personaje en primer plano.[il. 2] il. 2: Christiano Junior, “El naranjero”. En: Vistas y Costumbres de la República Argentina publicadas por Christiano Junior. Provincia de Buenos Aires, 1877. El texto que la acompaña es el siguiente: El naranjero de la ciudad de Buenos Aires, es un hijo del progreso. Tipo sin precedente, ha surgido y tomado formas acabadas en medio del movimiento regenerador que en la República Argentina sucede á las viejas costumbres de la colonia. El oficio es ambulante; requiere vigor de pulmones para sostener el peso de dos grandes canastas, y buenas piernas para recorrer sendas cuadras gritando: arranca paraguaia! Con esta industria humilde, ejercida por inmigrantes italianos de la clase proletaria, se han levantado fortunas respetables, debidas, mas que á un lucro inmoderado, á la constante diligencia y hábitos económicos del naranjero. Cuando se ha cansado de esta vida, y la cosecha de patacones lo permite, deja las canastas y el gremio ambulante para abrir puesto en un mercado de abasto, donde su nueva categoría le permite una existencia mas sedentaria. 159 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 Su condición de inmigrante es lo que hacía de este personaje que circulaba vociferando por la ciudad un individuo de su tiempo. Si “sucede a las viejas costumbres de la colonia” es porque ya no se trataba aquí de un vendedor negro o mestizo como aquellos representados en los Trajes y costumbres de Buenos Aires de César Hipólito Bacle, por ejemplo, sino de un italiano que, al gritar en cocoliche, con sólo ofrecer sus naranjas evidenciaba su origen. De retomar la nomenclatura iconográfica decimonónica de los tipos y costumbres, cabe distinguir que aquí no es nueva la costumbre (la venta ambulante) sino el tipo que la lleva adelante: un “hijo del progreso” que desarrolla una actividad por la que ahora, en un contexto socio económico de progreso, puede aspirar al suyo propio. Pero curiosamente, mientras tanto las lavanderas como los pescadores fueron tomados en sus lugares de trabajo, este hombre de oficio ambulante fue sacado de las calles para posar en estudio. Hay algunas consideraciones sobre este punto. Por un lado, bien es cierto que los telones que representaban paisajes eran, junto con los que recreaban interiores burgueses (con columnas, cortinas y escaleras), los fondos habituales de los retratos de la época y que no había, en cambio, representaciones de las calles en ellos. En caso de ser el escogido ese espacio no se escenificaba sino que el fotógrafo trasladaba su equipo a exteriores y trabajaba con la ciudad misma como fondo. Pero, además, cabe notar que si bien Junior fue el primero en sacar tipos populares tanto en estudio como en exteriores (alexander-priamo, 2002, p. 39), en esta ocasión no sólo no sacó sus aparatos a la calle, sino que tampoco escogió un fondo neutro como los que empleara para otros oficios urbanos como los Vendedor de diarios o el Vendedor de aves y pescados.14 En cambio, el fondo delante del cual se encontraba en cuclillas su personaje eminentemente urbano, este hijo del progreso, no respondía a su contexto sino que, con los árboles difusos detrás, tenía un fuerte tono agreste, con ciertas reminiscencias románticas incluso.15 En un sentido contrario a sus palabras preliminares y al grueso de su obra, poco hay menos inequívoco como signo del progreso que esta imagen del naranjero. Si el texto encontraba en este hombre un sucesor de las viejas costumbres coloniales, la imagen, por su lado, cargaba con la tradición y aunque representara un nuevo tipo, estéticamente mantenía lazos con aquellos que lo precedieron. Mención aparte merece la fotografía de la Boca del Riachuelo. Ni vista ni costumbre, los mástiles de los barcos y las casas de madera enmarcan a un gran número de individuos (hombres en su gran mayoría) que se congregaron ante la cámara de Junior. El texto decía de esta zona “unida a la capital por una línea de ferrocarril y otra de tranvía, [que] forma uno de sus arrabales, y es susceptible de un gran 14 Fotografías atribuidas, cf. Alexander y Priamo, op. cit. En Vendedor de diarios (ca. 1875) existe una franca contraposición entre el espacio y la situación del retratado: en un fondo perfectamente neutro un joven con diarios bajo el brazo derecho sostiene la mano izquierda al costado de su boca, en claro gesto de orientar su voz al ofrecer el periódico. Así, la teatralización del personaje no se continúa en el escenario en que se desarrolla la acción. 15 Es interesante notar también que ese mismo fondo fue empleado en otras oportunidades tanto para personajes citadinos como rurales (para un peón de campo y un aguatero, por ejemplo). Otra fotografía de este naranjero lo ubica de pie en el mismo escenario (en Archivo General de la Nación). 160 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE porvenir” que en ella se agitaba “una importante población, donde predomina la colonia italiana”. Los márgenes de la ciudad y los inmigrantes son objeto de esta imagen. Eso es lo nuevo y es también el progreso. Si la representación puede dejar dudas de este progreso (o, más bien, de su signo netamente positivo), una vez más el texto atajaba y anclaba el sentido: se trataba de un arrabal susceptible de un gran porvenir augurado por las buenas comunicaciones con el centro de Buenos Aires. En las fotografías que componen los dos álbumes de Junior los habitantes (exceptuando los trabajadores y los inmigrantes) y los espacios de organización institucional apenas se cruzaban. El fotógrafo escogió días y horarios en que hubiera poco movimiento en el centro de la ciudad. Lo circunstancial (transeúntes, carruajes, personas descansando en un banco, etc.) desaparecía de las tomas dirigidas a los edificios institucionales que, con su solidez material, debían contribuir a generar la idea de estabilidad política. Por su parte, los trabajadores eran casi los únicos habitantes visibles y actuaban en otras zonas urbanas, en las costas del río (o en el estudio de Junior). En este y varios sentidos, la fotografía correspondiente al Puente del Ferrocarril a la Ensenada resulta un caso particularmente interesante. Se trata de una vista intervenida por la señalización de un trabajo/oficio: el carro-laboratorio del mismo Junior, identificable por la inscripción sobre sus lados, representa su profesión y remite también a la realización de esta fotografía en particular . [il. 3] il. 3: Christiano Junior “Puente del Ferrocarril a la Ensenada”. En: Vistas y Costumbres de la República Argentina publicadas por Christiano Junior. Provincia de Buenos Aires, 1877. 161 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 A partir de esta imagen bisagra cabe pasar del análisis del modo en que las fotografías y el prólogo exponían la intencionalidad del trabajo de Junior (mostrar el progreso, difundir los adelantos y las bellezas nacionales en el país y en el exterior, traducir en imágenes la fortaleza de las instituciones) y considerar, en lo que sigue, la posición del fotógrafo como autor de sus álbumes. Con las formas y posibilidades que son propias de cada medio, tanto las palabras de Junior como sus imágenes se hicieron eco también de algunos aspectos de la realización de su proyecto fotográfico. He separado un fragmento del prólogo del primer álbum para poder analizarlo a la luz de cuestiones referidas al trabajo y la posición del fotógrafo: Esta empresa es ardua, lo comprendo, ella exige mucha constancia, empleo de ingente capital, y sobre todo, gran pericia y buen deseo en los diversos colaboradores, para que su resultado responda á mis esperanzas y sacrificios. Empero, librada aquella parte de trabajo que no es posible ejecutar personalmente, á caballeros á quienes un interés análogo ó el acendrado patriotismo, impulsa en su cooperación, tengo fe en el resultado de este que llamaré mi campaña artística en el Río de la Plata. [...] Por ahora, la parte descriptiva de las vistas, está confiada á los señores Carranza y Pelliza y de cuyo mérito juzgaran los que se dignen favorecer nuestra publicación; previendo desde luego, que empleados de la casa con elementos de primer orden, recorren esta Capital y Provincias, á fin de que los negativos sacados del natural, permitan sin interrupción el desenvolvimiento gradual y metódico de la idea que me agita. 16 Interesa por un lado llamar la atención sobre el señalamiento sobre estas imágenes “sacadas del natural”. Una de las dos vertientes más importantes en la fotografía comercial consistía en las vistas, de ahí que los estudios cuidaran su producción frente a sus competidores. Existía ciertamente un tema económico en la no mediación entre la cámara y el objeto o paisaje a fotografiar por el costo de los equipos y los viajes hasta los distintos sitios. Una cuestión de tiempo, marcada por la conveniencia en satisfacer inmediatamente la creciente demanda de imágenes de diferentes lugares, podía además incentivar la venta de fotografías ajenas. En este sentido, al igual que otros fotógrafos contemporáneos, Junior protegía sus intereses: al inicio de su álbum una breve frase se recortaba en una hoja en blanco: “El propietario se reserva el derecho de reimpresión, y perseguirá ante los Tribunales al que la haga sin su consentimiento”. Pero en el caso de Junior parece añadirse para esta protección una concepción particular sobre su trabajo, una idea de obra personal: lo que Junior quería proteger era el provecho económico de la “idea que lo agitaba”. La idea parecía distinguirse claramente de la realización efectiva, puesto que, según afirmaba, empleados de su casa fotográfica se harían cargo de tomar esas fotografías. Volvía sobre ello: 16 Los destacados son míos. 162 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Empero, librada aquella parte de trabajo que no es posible ejecutar personalmente, a caballeros a quienes un interés análogo o el acendrado patriotismo, impulsa en su cooperación, tengo fe en el resultado de este que llamaré mi campaña artística en el Río de la Plata. Una campaña artística, una idea que lo agitaba: todo término comercial o de lucro cedía en estas líneas para dar paso a una perspectiva creativa y personal en un vocabulario con ciertas reminiscencias románticas incluso. El registro fotográfico del natural era fruto de la idea de Junior antes que de la acción concreta del empleado de la casa. La experiencia de estar allí, ver el espacio, seleccionar el fragmento parecía tener menos trascendencia que la concepción y el desarrollo del proyecto en su totalidad. En este sentido cabe establecer una distinción, por ejemplo, con Samuel Boote quien a fines de la década del ´80 anunciaba en la tarjeta promocional que pegaba en sus álbumes “A pedido se envía un fotógrafo a cualquier parte”. Allí, por supuesto, no había posibilidad de inscripción de una idea como la que “agitaba” a Junior; se trataba exclusivamente de la ejecución del encargo de un particular por parte de un operario. Esto es muy distinto entonces a lo que ocurría con los álbumes que el portugués entendía como su campaña artística. Si el hecho de que otros hicieran las fotografías no implicaba necesariamente un menor grado de idea y realización individual, mucho menos debían hacerlo los textos. Carente de un perfecto manejo del idioma y de la historia de la Argentina, Junior los había dejado en manos de Carranza y Pelliza. Es interesante en este punto retornar sobre el par textoimagen de El naranjero pues, como ya fue señalado, hay una fuerte disonancia entre ambos: resonancias costumbristas en la imagen donde un hombre ofrecía sus frutos delante de un fondo de paisaje y un texto que lo situaba como personaje eminentemente urbano. El autor de la imagen y los autores del texto fueron allí en distinta dirección y curiosamente, el que iba rezagado en el tiempo –según el espacio en que actuaba este vendedor- era Junior. Ahora bien, volvamos a la parte del prólogo en la que Junior dejaba ver que la idea y el proyecto global estaban por encima de la realización efectiva de las fotografías para apuntar que esa concepción fue muy pronto abandonada. Las imágenes que sus empleados le traían debieron dejarlo disconforme, posiblemente no por la calidad sino porque no había sido él quien había tomado todas las decisiones de seleccionar, recortar, componer, etc. En efecto, según exponía años más tarde en sus anuncios de los álbumes “he venido a convencerme de que por mejor que fuera la elección de esa persona [el fotógrafo], sería imposible que ella pudiera comprender mis ideas artísticas.”17 En 1879 comenzó su “viaje artístico” –según sus propias palabras- por las provincias para continuar el trabajo iniciado en la de Buenos Aires y confeccionar los álbumes respectivos que, finalmente, nunca 17 Formulario de suscripción del álbum Vistas y Costumbres de la República Argentina, 1882. Citado en Alexander y Priamo, 2002, p. 28. El destacado es mío. 163 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 vieron la luz18. Había que estar en cada lugar: cobraba peso el hecho de recorrer sitios y seleccionar fragmentos, el atravesar la experiencia de detenerse frente al espacio del que se tomarían vistas del natural y, sobre todo, el componer las escenas según sus propios criterios. En muchas imágenes de Junior se percibe muy claramente su haber estado allí. No me refiero solamente a la fotografía del Puente del Ferrocarril a la Ensenada donde se ve su carreta con la inscripción de su estudio –lo cual funcionaba como forma publicitaria y como firma- sino a otras imágenes en que es muy fuerte la presencia de quien no estaba delante de la cámara. Los tiempos de exposición para la obtención de una fotografía nítida forzaba a quienes fueran a ser fotografiados a unos instantes de quietud, de lo contrario se veían los cuerpos con menor consistencia y definición o directamente movidos. Pero aparte del tiempo de exposición, hacían falta antes varios minutos para preparar la cámara y la toma: disponerla sobre el trípode, elegir el punto de vista, colocar la placa, etc., una cantidad de tareas que no pasaban desapercibidas a quienes estaban cerca. Lejos de la toma sorpresiva, todos estaban al tanto de que iba a hacerse una fotografía y de aquí las tan frecuentes miradas a cámara, los altos en las actividades y las poses que se encuentran en las imágenes del período. Ciertas fotografías de Junior hacen más claro esto, pues tornaron casi “visible” la operación fotográfica al llevar al extremo esta detención de gestos y poses convirtiéndolas en formas claramente pautadas. Es el caso, entre muchos otros, de una fotografía de la estación de Chas [il. 4] en la que prácticamente todas las personas que se encontraban allí miran a un punto incierto ubicado a la izquierda de la imagen poniendo en evidencia la artificiosidad de la escena. 18 Aunque no lo terminara, su proyecto de sacar vistas de los lugares más destacados de toda la República no tenía precedentes. De todas formas, según registros hubo al menos una colección completa de las Vistas y costumbres que contenía 500 imágenes -si bien sin fotos de las provincias del litoral ni las leyendas de cada una- que fue entregada por Junior a la Corporación Municipal de Tucumán por su suscripción previa. Cf. Alexander y Priamo, 2002, p. 32. 164 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Il. 4: Estación Chas del Ferrocarril del Sud, atribuida, ca. 1875. Detenidamente compuesta, se apuntó a evitar en este caso las miradas y poses hacia la cámara observables, por ejemplo, en la ya mencionada fotografía de las lavanderas en el álbum de 1877. El efecto, mucho más teatral, exhorta a una búsqueda más allá de los límites de la imagen y, lo que es más interesante, no hacia la izquierda -no hacia el punto al que estos personajes dirigen sus miradassino hacia el lugar en que estaba Junior o, mejor, hacia Junior mismo, es decir, al sitio de donde provino la indicación, el artificio, la construcción de la representación como tal. Otras imágenes hacen particularmente visible esta forma de trabajo de Junior: se trata de dos fotografías de un seminario en la Provincia de San Juan tomadas en 1880 [ils. 5 y 6]. 165 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 ils. 5 y 6: Christiano Junior, Seminario. Provincia de San Juan, 188019. Varios personajes se ubican en una composición que aprovecha la rica perspectiva de unas arcadas vistas frontalmente y otras en escorzo. Los hombres del plano más lejano trabajan o, más bien, simulan continuar con sus actividades (algunos pintan, otros cargan una carreta). Los más próximos, en cambio, congelaron todo 19 Una de ellas fue reproducida en La Ilustración Sudamericana, 16 de noviembre de 1894. Ni en el pie de foto ni en el apartado “Nuestros grabados” -donde se describen temáticamente las reproducciones- se menciona el nombre del autor. La otra imagen ha sido recientemente reproducida en Un País en transición. Fotografías de Buenos Aires, Cuyo y el Noroeste, op. cit., p. 83. 166 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE movimiento para la cámara de Junior y los tres que se encuentran más cerca aun –dos religiosos y un individuo de levita- están, de manera absolutamente evidente, respondiendo a una pose señalada. Lo interesante es confrontar esta imagen con otra en la que se perciben algunos cambios en los hombres de detrás -hay alguno de más o de menos, sus posturas varían-. Por su parte, los de primer plano mantienen exactas sus posturas modificando, en cambio, su posición relativa en la escena. Allí donde estaba el fraile más obeso ahora se ubica el hombre de levita pero, por lo demás, ambos están en idéntica posición corporal que en la imagen anterior. En estas y otras imágenes se percibe claramente al autor y, allí, el modo en que se convertía en autoridad en tanto disponía las posturas y ubicaciones de quienes aparecerían en las fotografías, una autoridad que regulaba, por unos minutos, las conductas de otros y comandaba una puesta en escena. En tanto se descubre la orquestación, la imagen reenvía al otro lado de la cámara, a los hilos invisibles que la compusieron, a su autor. De ahí, por la medida de la intervención de Junior se comprende que en 1879, dos años después de explicar que sus empleados harían las vistas, tomara todo el trabajo fotográfico a su cargo recorriendo las provincias. Estas fotografías tomadas en San Juan de 1880 son claro ejemplo de cómo, en oposición a lo que parecía al inicio, no le bastaba la idea para hacer de sus álbumes un proyecto artístico individual. En la realización efectiva de las fotografías Junior no sólo seleccionaba y operaba con lo existente sino que lo ordenaba dejando de este modo una muy fuerte impronta personal en las imágenes que, por ello, remiten al autor y revelan, también, aquello que tienen de construcción. Como hemos visto, esta construcción –el relato de Juniorestuvo marcada por la voluntad de mostrar el progreso al cual el arte, a criterio de muchos de sus artífices, estaba sirviendo. En efecto, en el prólogo de su segundo álbum y luego de ganar una medalla en la exposición anual de la Sociedad Científica Argentina el fotógrafo sostenía: “Estas recompensas nos alientan en la difícil carrera del arte, pues forman ellas el laurel simbólico con que la civilización galardona á los obreros del progreso.” (junior, 1877) Estas palabras dejan nuevamente al descubierto una doble mirada de Junior: aquella que tenía sobre el tiempo y el lugar en que le tocó vivir y que marcó fuertemente las elecciones sobre lo que fotografiaba, sus recortes, lo incluido y lo excluido para difundirse y perdurar en imagen y, también, la imagen de sí mismo, la que construyó a la par de su obra. Esta última, finalmente, nos permite no sólo acercarnos a la consideración que como profesional tenía Junior de sí mismo, sino que puede ayudarnos a vislumbrar, también, su inscripción en la escena fotográfica local y ciertos delineamientos en torno a la figuras del autor o el precursor de un proyecto fotográfico en el Buenos Aires de fin de siglo. NOTA: Las ilustraciones 1, 2 y 3 fueron reproducidas de las existentes en la Biblioteca Manuel Gálvez. La 4 y 5, del Archivo Gráfico de la Nación, Argentina. 167 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 Referencias y bibliografía: AA.VV . Roland Barthes et la photo: le pire des signes. Les Cahiers de la photographie (hors série). ACCP, 1990. ALEXANDER, Abel. “El gran fotógrafo Christiano Junior en Mendoza”. In: Historia de la fotografía. Memoria del 2° Congreso de Historia de la Fotografía en la Argentina. Buenos Aires: Comité Ejecutivo Permanente, 1993. ___________ “Christiano Junior, fotógrafo pionero de la Sociedad Rural Argentina” In: www.geocities.com/abelalexander/chjunior.htm ___________ “Christiano Junior en Quilmes”. In: www.geocities.com/ abelalexander/chjunior4.htm. ALEXANDER, Abel y Luis Priamo. “Dos pioneros del documentalismo fotográfico”. In: Buenos Aires. Ciudad y campaña, 1860-1870. Fotografías de Esteban Gonnet, Benito Panunzi y otros. Buenos Aires: Fundación Antorchas, 2000, pp. 23-35. ALEXANDER, Abel y Luis Priamo. “Recordando a Christiano”. In: Un País en transición. Fotografías de Buenos Aires, Cuyo y el Noroeste, Christiano Junior, 1867-1883. Buenos Aires: Antorchas, 2002. ALTAMIRANO, Carlos y Beatriz Sarlo, Ensayos argentinos. De Sarmiento a la vanguardia. Buenos Aires, Ariel, 1997. CORTÉS ROCCA, PAOLA. Vistas de fin de siglo: ficciones nacionales, paisajes y multitudes. Tesis de doctorado, Princeton University, inédito (Seeley G. Mudd Library), 2005. CUARTEROLO, Miguel Ángel et al. Los años del daguerrotipo. Primeras fotografías argentinas. 1843-1870. Buenos Aires: Fundación Antorchas, 1995. JUNIOR, Christiano. Vistas y Costumbres de la República Argentina publicadas por Christiano Junior. Provincia de Buenos Aires. 1876. ___________ Vistas y Costumbres de la República Argentina publicadas por Christiano Junior. Provincia de Buenos Aires. 1877. KOSSOY, Boris. Dicionário Histórico-Fotográfico Brasileiro. Fotógrafos e Ofício da Fotografia no Brasil (1833-1910). São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2002. HORA, Roy. Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y política. 1860-1945. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2002. LIERNUR, Jorge Francisco. “La ciudad efímera”. In: Jorge F. Liernur y Graciela Silvestri, El umbral de la metrópolis. Transformaciones técnicas y cultura en la modernización de Buenos Aires (1870-1930). Buenos Aires: Sudamericana, 1993. MAJLUF, Natalia y Luis Eduardo Wuffarden. “El primer siglo de la fotografía, Perú 1842-1942.”. In: La recuperación de la memoria. Perú 1842-1942. Lima: Fundación Telefónica y Museo de Arte de Lima, 2001. PRIAMO, Luis. “Benito Panunzi, Antonio Pozzo y otros fotógrafos italianos del siglo pasado en la Argentina”. In: AA.VV. Las artes y la arquitectura italiana en la Argentina. Siglos XVIII y XIX. Buenos Aires: Fundación Proa, 1998. ZEBEIRO, Blanca. “Un mundo rural en cambio”. In: Bonaudo, Marta (dir.), 168 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Liberalismo, estado y orden burgués, Nueva Historia Argentina, Tomo IV. Buenos Aires: Sudamericana, 1999. Abstract: The present essay analyses some aspects of the work by Christiano Junior in Argentina, particularly in the city and the state of Buenos Aires in the late 1870s, following two lines of analysis. On the one hand this essay aims at linking Christiano Junior’s work to the idea of progress that pervades the end of that century, the entrepreneurship, the mentalities and accounts (including photography). On the other, Junior’s work is analyzed from the perspective of the idea tout court, as it seems to concentrate the image of the photographer over himself in relation to his activity and production. Key words: Photography, progress, author, nineteenth century, Argentina. Recebido em 10/05/2009. Aprovado em 08/06/2009. 169 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE 170 Junho de 2009 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Volume 4 ◦ Número 1 A lente fotográfica enquanto crítica cultural: escritas do corpo em Cicatriz, de Rosangela Rennó ENSAIO Ricardo Araújo Barberena* Resumo: A exposição fotográfica Cicatriz (1996), de Rosangela Rennó, introduz uma inquietante pesquisa no acervo fotográfico da Casa de Detenção (SP). Os arquivos institucionais se encontram como um estagnado conjunto de estigmas oficiais e grupais, até o momento que Rennó procura a afetividade, a poesia, a revolta e a resistência dos signos que podem denunciar um Outro silenciado. A fotografia, então, revela esse tecido cultural que antes não se podia nomear: a imagem, antes enevoada, começa a trabalhar numa área de recalque aberta na sua perturbadora condição de rasurar os limites tidos como racionais e homogêneos. Sobrepõem-se um pungente conjunto de tatuagens de detentos que evidencia doloridas escritas de um Eu subalterno. A partir da dessacralização do espelho fotográfico, abre-se terreno para a leitura de textos epiteliais cicatrizados enquanto discursos ungidos na carne marginal. Palavras-chave: Fotografia, identidade, alteridade, nação, memória Ao ser consultado sobre as possíveis pistas que ajudem a desvendar o nome de um terrível assassino em série, Hannibal Lecter lembra: “as cicatrizes lembram que o passado foi real1”. E Rennó, também numa trilha de indício e vestígio, em Cicatriz (1996/The Museum of Contemporary Art, Los Angeles), nos lembra: as cicatrizes são a prova de uma identidade imagética e textual encarcerada e elidida. Sem dúvidas, um outro passado não menos real... Metaforicamente definidas como cicatrizes, as tatuagens, na obra da fotógrafa, contam um gama de histórias talhadas numa corporeidade que [re]territorializa o próprio corpo como forma de expressão sígnica e identitária. Como uma crispada tela de pintura, a pele, enquanto órgão e superfície, proporciona um espaço onde é possível se autodocumentar num desejo de significar um pertencimento e um discurso interditado. Se o perambular fora das grades está obliterado, o grafar geografias epiteliais ainda é um subterfúgio de escape e mobilidade para a sofreguidão do ser/estar amarrado e aprisionado. Situada num processo de reorientação das imagens nacionais, a exposição Cicatriz introduz uma inquietante pesquisa no acervo fotográfico da Casa de Detenção no tocante a outros enquadramentos de * Doutor em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pós-doutor pela UFRGS. 1 Retirado do filme O Silêncio dos Inocentes (Silence of the Lambs, 1991, EUA). Direção: Jonathan Demme. 171 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 resistência, de individuação, identidade e diferença. A máquina fotográfica não é acessório, mas definição e instrumento de prova que produz a extensão do olho do Estado. O olhar do Estado está voltado para o corpo dos presos, pois ali se encontra a tatuagem, o texto velado, que se comporta como um significado relegado à margem social. Assim, Rennó revela aquilo que antes não se podia nomear: a fotografia começa a trabalhar numa área de recalque aberta na sua perturbadora condição de rasurar os limites tidos como racionais e homogêneos. Desse modo, aquela tradicional hegemonia nacional se encontra abalada por outras imagens que não haviam sido consideradas no processo de negociação de identidade nacional. Tatuar-se [cicatrizar-se] é um mecanismo bastante eficiente de testemunhar como aquela experiência é real – citando as palavras de Lecter – e repleta de significados entrecortados e marginais. Cada linha das imagens desenhadas, na sua dança sobre os relevos da carne humana, pertence a um mosaico de estigmas e afetividades visualizado através da dor das agulhas de uma tatuagem tosca e improvisada. E na sua inquietante revista nos arquivos oficiais – agentes da amnésia social – Rennó acaba descerrando as densas crostas de poeira e fuligem que encobriam essas cicatrizes tingidas em mais uma das áreas lacunares da nossa memória. Lançando-se sob essa área de escombros sobrepujados, a fotógrafa lança mão de uma dolorosa antisepsia sob as feridas amordaçadas que impediam tais cicatrizes de serem vistas a olho nu. Nesse sentido, se quisermos recorrer a uma terminologia barthesiana, há que se realçar a procura de um punctum (BARTHES, 1984, p.12) que define justamente esse exato ponto – a “picada” – no qual a fotografia punge num despertar de significações. Em outras palavras, diríamos que esse “pequeno buraco” é a parte específica, dentre todo contexto cultural envolvido, no qual reside o ponto de partida do desencadear de um olhar interpretativo perante a representação do fato registrado. Assim, Rennó elege o seu punctum através dos seus recortes nas fotografias desarquivadas, pois, no conjunto de cicatrizes expostas, as imagens estão direcionadas para materialidade real de uma figuração impressa num braço, num peito, numa mão. Mas dentro desse punctum pode haver variações. Como um detalhe que atrai para um extracampo sutil, esse punctum cicatrizado é redescoberto a cada leitura dessas imagens fotográficas, pois, ao mesmo tempo, curto e ativo, acaba escondendo-se como uma “fera”: haverá tantos punctuns quantos forem os olhares. Exemplificando com imagens, convidaríamos a olhar a foto [Foto 1] na qual dois braços se encontram tatuados por alguns textos: ali, num primeiro instante, percebe-se o punctum motriz da fotógrafa na eleição dessa parte do corpo como principal elemento a ser reproduzido; e, num segundo momento, constata-se a infinita pluralidade de punctuns dentre aquelas diferentes formas grafadas [para um espectador, pode ser a estrela; para outro, pode ser a palavra “Deus”]. Desse modo, o punctum não se apresenta anestesiado num só lugar de focalização, trata-se de um elemento variável, que circunscrito ao interior da fotografia, habita diferentes lugares de atenção. 172 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE FOTO 1 Como chagas bosquejadas, as cicatrizes fisgam o olhar de Rennó numa acre e lancinante paisagem que navega em punctuns suturados numa tez-painel. Aqueles discursos tatuados convidam o espectador para um desafio de embate entre uma aparente visualidade exterior e um subtexto articulado numa gama de valores e códigos velados. Será que aquele ponto negro, tingido na mão do prisioneiro, representa apenas uma aleatória marca cilíndrica? Ou: será que um jogo de estigmas e traduções está por detrás da textura daquela mancha? Assim, as dezoito fotografias, desarquivadas de um fichário médico carcerário, e os vinte textos, extraídos do Arquivo Universal, compõem um mosaico de livres associações no qual se torna impossível desvendar o nome, o número, a idade, o crime de cada apenado: “impossible to identify the protagonists of the numerous, unfolding stories, one can only attempt to reconstruct marginalized lives” (RUIZ, 1996, p.8) . Sem poupar fôlego na sua pesquisa, Rennó se debruça sob nada menos que quinze mil negativos2, retirados entre o intervalo de 1920 a 1940, nos interiores da Penitenciária do Estado no Complexo do Carandiru. Tais negativos, deteriorados por uma dormência de quase cinqüenta anos, haviam permanecido inacessíveis em caixas que se apresentavam catalogadas pelas identificações dos presidiários: 2 Aqui, cabe ressaltar que posteriormente foram selecionados mil e oitocentos negativos. E, no momento final, esse número caiu para duzentos e quarenta (dos quais foram selecionadas as dezoito fotografias da exposição). 173 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 suas cores de pele, seus pesos, suas alturas, suas deformidades físicas, suas demências psíquicas, suas marcas corpóreas (tatuagens e cicatrizes). Despertos desse sono revolto e narcotizado pela antioxigenação dos depósitos, esses registros fotográficos passam a ser recuperados não pelas tradicionais categorias classificatórias – cor, demência, altura, etc –, mas, sim, pelos deslocamentos identitários percorridos no manancial imagético das tatuagens/cicatrizes. Longe de uma feira de anomalias e aberrações humanas, Rennó se detém no conteúdo subversivo desse ato de autocicatrizar o corpo num angustiante feixe de pinceladas movidas pela vontade de tornar-se outdoor dos seus pertencimentos identitários, das suas crenças, das suas lutas, do seu discurso. Originalmente utilizadas para operacionalizar o sistema de ingresso e registro penitenciário, essas fotografias passam a ser re-concebidas como um conjunto dissonante de fragmentos visuais de uma memória solapada pela contensiocidade do aparato oficial do Estado. No seu constante movimento de cut-and-paste, a fotógrafa traz à tona figurações de identidade subalterna que, ao ser [re]introduzida nos meios de circulação simbólica, parece instaurar um novo trânsito imagético e discursivo minoritário. Atordoados por essa revanche mimética (afinal, fotos gozam de um pedigree de verossimilhança), os espectadores se deparam com provas irrevogáveis de um pathos carcerário que, na epiderme dos seus habitantes, carrega as figurações e as concretudes de um passado real – para citar as palavras do sábio canibal. Viajar por essas cenas de prisioneiro-como-protagonista acaba sendo uma travessia pelos descaminhos obliterados pela passagem do tempo e pela reclusão espacial. Assim, não parece haver uma preocupação com a produção de uma taxionomia do pitoresco (o preso, delinqüente, pobre e tatuado), mas, sim, um contradiscurso de saque-preservação-denúncia-consagração3 no que se refere à exposição da perturbadora amplitude das identidades trancafiadas em cadeias e em caixas de almoxarifado. Ao tomar posse dessas imagens, Rennó convida, através dos seus punctuns, os novos espectadores a espreitarem uma vasta e fugidia paisagem canabalizada pelos aparelhos de poder e pelos fungos hospedados na umidade: Gosto dessa idéia de escolher ou de fazer com que o espectador entre no jogo. No caso das fotos do arquivo do Museu Penitenciário, você não pode identificar o indivíduo. Mas cada um é um, porque se fez tatuar, e essa marca é individual, é corporal, foi feita pelo preso para destacar a si próprio dos outros, para retirar-se do anonimato. Pode ter certeza de que se trata de uma marca feita pela dor. Naquele momento eu estava interessada em reforçar que aqueles indivíduos não são anônimos. Mesmo sem saber seus nomes, meu propósito era provocar no espectador o desejo de conhecer e compactuar com aquela dor, ou as várias dores (RENNÓ, 2003, p.17). Aqueles milhares de negativos, como pequenos museus portáteis, abrem atalhos para que se possa [re]montar uma história a partir dos refugos e dos detritos de 3 Nas palavras de Susan Sontag: “o fotógrafo saqueia e também preserva, denuncia e consagra” (SONTAG, 2004, p.79). 174 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE uma marginalidade incompatível com certas sinopses essencialistas sobre o que viria a ser um quadro de virtudes nacionais. Essas ensombradas fantasmagorias em papel fotográfico podem – para um primeiro olhar despercebido – não passar de sucata e entulho que não tem nenhum valor artístico e cultural. Mas é nessa passageira excitação que as sábias palavras de Susan Sontag (2004, p. 84) se mostram imprescindíveis: “nosso refugo tornou-se arte. Nosso refugo tornou-se história”. Relicário profano de uma cotidianidade turva, esse grupo de fotografias encarceradas registra o fugaz instante quando o apenado, como um narciso cego, posa-para-ser-arquivado sob as nuvens de fantasia e as “pílulas de informação”. Enquanto violento cartoon editado e impresso em carne humana, as tatuagens encenam, em assombrosos closes, os dizeres e os desenhos de uma gama de personagens que não possuem o privilégio de serem ouvidos – sem a voz, resta falar com a própria pele. Embalsamadas por punctuns que mortificam e eternizam, as imagens carcerárias carregam uma mensagem premonitória de um esquecimento no intramuros das casas de detenção, do estúdio fotográfico, da margem social. Como movimentos coreografados por uma esperança sombria, as tatuagens ativam uma série de colagens (sejam palavras, sejam desenhos) erodidas pela força do desgaste da miséria e da invisibilidade identitária. Ao garimpar este sótão de identidades negligenciadas, Rennó trava uma luta, quase quixotesca, contra a manutenção de uma amnésia social calcada em diversas verdades pretéritas. Mas essa sôfrega batalha pode alcançar vitórias parciais devido à conjuntura que se delineia nas últimas décadas: Num mundo que está bem adiantado em seu caminho para tornar-se um vasto garimpo a céu aberto, o colecionador se transforma em alguém engajado num consciencioso trabalho de salvamento. Como o curso da história moderna já solapou as tradições e fez em pedaços as totalidades vivas em que os objetos preciosos encontravam, outrora, seu lugar, o colecionador pode agora, em boa consciência, sair e escavar os fragmentos mais seletos e emblemáticos. O passado mesmo, uma vez que as mudanças históricas continuam a se acelerar, transformou-se no mais surreal dos temas – tornando possível, como disse Benjamin, ver uma beleza nova no que está em via de desaparecer (RENNÓ, 2003, p. 91). E aí recai um paradoxo eminente: os fotógrafos, que registraram os apenados da Penitenciária do Complexo de Carandiru, foram contratados pelos maiores interessados no desaparecimento daquela própria herança identitária e imagética. Assim, o processo de arquivamento, elaborado num tempo passado, pode desencadear, num futuro imediato, um eloqüente desejo de subverter e minar uma aparente estagnação histórica. Inicialmente concebidas sob os ditames da documentação institucional, essas fotografias acabam se convertendo em veículos imagéticos que salvaguardam a proliferação de uma inexorável materialidade experimentada em fragmentos fortuitos de um espaço de vertiginosa exclusão. Se essas fotos são retalhos do cotidiano, descortina-se, então, uma apoteose de indícios que olho humano não conseguia enxergar numa primeira visita – toda a 175 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 fotografia é uma pequena porção do mundo. Cabia, ao focalizar essa opacidade social, a pergunta: qual era, enfim, a porção do mundo que havia sido usurpada da nossa memória nacional? Enquanto fincada retiniana, a obra de Rennó articula um ethos fotográfico pautado pela descontinuidade das reminiscências históricas e pela desconfiança perante o modus operandi dos discursos coercitivos e elípticos. Sob a égide da releitura de um passado real, a fotógrafa não se preocupa em “embelezar” o mundo com imagens confortantes, mas sim em rasgar as máscaras oficiais retocadas pelo pó dos arquivos e dos compêndios legais. Por sinal, essas fotos, como todas as fotos, são fragmentos emocionais que podem transitar pelos mais variados lugares de inserção: dependendo desse espaço de observação – a mesa de um arquivista, o fichário de um acervo penal, o estúdio de uma colecionadora, uma exposição no MOCA4 –, os registros fotográficos estabelecem diferentes áreas de contato que não asseguram a manutenção de nenhum significado definitivo numa beligerante troca de experimentações e reinvenções. Nesse sentido, Cicatriz instaura um espaço de múltiplos desdobramentos que não se encontra atrelado aos usos moralmente analgésicos de uma fotografia entendida como miniaturização do espetáculo humano. Com sua capacidade de transformar “lixo” em documento cultural, Rennó apresenta a sua carte de visite através de uma concepção fotográfica que se comporta enquanto uma mensagem aberta ao escrutínio constante. Ao rastrear essas pegadas decalcadas do real, essa perspectiva artística acaba ecoando uma identidade antes coisificada pela irrevogável dessacralização do momento da retratação – ser representado era ser encapsulado num fichário meticuloso. Como se fossem hologramas libertos do confinamento das duas dimensões [o anonimato e a amnésia], as imagens-vestígio parecem tomar de assalto uma área político-cultural lacunar que ainda permanecia sob jurisdição dos dossiês ocultos do establishment vigente. Essas fotos, enquanto espelhos que se refletem pluralmente, conjugam uma realidade nacional apreendida nas mais variadas e díspares antologias imagéticas. Compartilhar o trivial pavor das tatuagens de Carandiru é uma manobra terrorista contra a edificação de um sistema homogêneo de representação simbólica da identidade nacional. Sob efêmero invólucro da carne, as cicatrizes convidam a uma endoscópica transgressão pelos ubíquos significados tecidos em solo cru e perecível. Nada poderia ser mais discrepante da vontade de unificação dos signos de “ser/estar brasileiro” do que o ingresso imagético de sujeitos marginais dentro dos escopos artísticos e culturais. Embora tal resgate seja uma pequena partícula dentro da esfera nacional, a sua presença não pode ser ignorada enquanto artefatos simbólicos – cartões-postais de uma paisagem humana excluída – capacitados a [des]seqüenciar uma identidade que se coloque em rota de colisão com uma suposta fixidez e imanência de valores e representações. Como retalhos e fragmentos de significação cultural, essas fotografias acabam se constituindo enquanto temporalidades ambivalentes que desarticulam as certezas acerca de uma representação nacional alienada do 4 The Museum of Contemporary Art, Los Angeles. 176 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE seu caráter disjuntivo e parcial. Se pensarmos na própria metáfora progressista do “todos em um”, fica bastante evidente o quanto essa linguagem coercitiva é abalada pela inserção cultural de um conjunto de imagens des-arquivadas, incompatíveis em relação a uma lógica de totalização das diferenças de raça, classe, gênero. Mesmo sem nomear explicitamente esse desejo de des-homogeneização das identidades nacionais, Cicatriz compreende um campo de questionamentos artísticos/culturais/políticos que ativa um processo de desconfiança perante a essencialidade de uma identidade declinada pela metafísica da unidade. Ao colecionar sobras visuais de uma vida nacional tecida pela anti-luz da sombra social, Rennó propõe um debate em torno de um campo imagético renegado que, ao descortinar essas migalhas cotidianas, desencadeia um certo tipo de performance narrativa sobre a qual se enunciam outros sujeitos nacionais. Cada foto se torna um espaço disjuntivo; e se torna, portanto, veículo para a emergência de outros sujeitos nacionais oriundos da dissemina-nação dessa coletividade contaminada pela [pluri]direção identitária. Trincheira de resistência aos meios de controle institucional, as tatuagens se constituem como um espaço corporal, enquanto subterfúgio mimético e espectral, o qual produz interferências num sistema de constante coerção identitária: “o mais terrível das imagens de Cicatriz é nos fazer ver que o seqüestro das identidades que exibe não é efeito provisório de um regime – político ou discursivo – de exceção” (MIRANDA, 2000, p.188). Dentre os motes latentes desse trabalho de Rennó, não podemos esquecer a terrível chacina acontecida, em outubro de 1992, no próprio Complexo Penitenciário do Carandiru. Aqueles corpos nus e inertes simetricamente alinhados em provisórias caixas de zinco deflagrariam uma desértica e mortuária paisagem que seria lembrada – por algumas semanas – nas revistas, jornais, sites, conversas, músicas. Furtados do seu próprio corpo, esses presos foram utilizados como figurantes da espetacularização de uma execução coletiva, pois, expostos a céu aberto, seus caixões pintados pelo número de identificação representavam os pedaços de carne exorcizados das fantasmagorias da vida marginal. As fotos daqueles humilhantes sepulcros anônimos – como covas panorâmicas – pareciam instaurar um memorial a uma [des]identidade que jaz no seu esquecimento e anulação. Apesar de Cicatriz não recorrer às fotografias desse massacre, vislumbra-se um intenso diálogo entre a mortandade daqueles 111 presos e as imagens das tatuagens dos apenados de cinqüenta anos atrás. Circunscritos ao mesmo espaço de reclusão, esses detentos são submetidos ao processo de tornar-se imperceptível ao olhar alheio, conforme a violência das mãos que, em certas vezes, fotografam [e arquivam] e, em outras, descarregam balas e mais balas nos pavilhões carcerários. Palco de anti-protagonistas sociais, a Casa de Detenção cedia um holocausto identitário no tocante aos meios de apoderamento imagético e físico do corpo recluso, sistematizando-se – seja em armas, seja em estúdios fotográficos – uma intromissão sob os discursos que se levantem contra uma política de segregação e discriminação. Assim, outro elo entre esses dois momentos temporais distintos se caracteriza pela forma como a morte e/ ou arquivamento são agenciados enquanto troféus de uma vitória do bem-estar 177 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 coletivo contra uma identidade em ruínas: “A instalação do Carandiru não evoca a chacina tal como ocorrida, mas não cessa de reencená-la, como se cada disparo da polícia já estivesse anunciado nos disparos da câmara do fotógrafo desconhecido que, mais de cinqüenta anos atrás, tirou fotos” (MIRANDA, 2000, p. 188). Vasculhando os antigos escombros dos arquivos penitenciários, após os horrendos acontecimentos do Pavilhão-9, Rennó redescobre um conjunto de fotos a fim de permitir o direito à enunciação de um discurso entorpecido nas obtusas caixas da história oficial: caixas de papel que guardavam os velhos negativos, caixas de zinco que guardavam os corpos à espera da vala comum. Por meio de sua câmera, a fotógrafa seleciona e intensifica em closes as tatuagens que subvertem todo aquele silêncio pregresso. Utilizando este estratagema de recortar a realidade devido ao movimento de aproximação da lente fotográfica, a artista viaja pelas paisagens humanas para aportar o seu posto de observação no conteúdo das formas das cicatrizes. Confinada no seu laboratório, Rennó, como James Stewart em Janela Indiscreta, navega por diferentes encenações e escolhe certas figurações para dirigir as suas focalizações e incursões. Enquanto o personagem de Hitchcock está preso a uma cadeira de rodas, a fotógrafa se encontra atrelada aos limites de uma materialidade de um arquivo pré-existente, assim, ambos, em suas distintas procuras, apresentam-se marcados por um voyeurismo investigativo que ilumina algumas áreas sob a neblina do esquecimento e do desconhecido. E quando ajustam suas câmeras dispara-se mais do que um simples mecanismo físioquímico; dispara-se, isso sim, um veemente feixe de luz e denúncia a respeito dos porões imagéticos de uma amnésia coagulada pela passividade individual e coletiva. Fábricas de paisagens humanas e avenidas de esquecimento e lembrança, as fotografias não podem ser lidas sem a alteridade que as constituem. E Rennó e Hitchcock sabem disso. Guiada pelo desejo de tornar evidente as relações que cada detento trava num escopo social de máscaras e disfarces parciais, a fotógrafa, quase como uma foto-repórter, percorre os estreitos corredores dos laboratórios dos fragmentos de imagens privadas num constante movimento de reciclagem e coleta de identidades. Como se fossem biografias dramatizadas, os retratos dos modelos apenados traduzem um relevo crepuscular, acidentado pelas forças de desgaste de uma medida profilática: o tratamento contínuo para a não-circulação [o arquivamento programático]. Enquanto atestado de existência, essas fotografias agenciam uma identidade que não se encontra constituída por uma auto-centralidade do Eu, mas, sim, por um complexo jogo de ausências em relação a uma outridade psicológica, social e cultural. Se pensarmos que a própria fotografia se caracteriza como um processo de significação atrelado ao olhar do Outro, então, logo de partida, estamos diante de uma linguagem, a priori, desassossegada por uma alteridade presente na decodificação de uma identidade retratada em certos dispositivos espaciais e temporais. Assim, nada pode assegurar que o olhar exterior coincida com os valores negociados no ato da produção da imagem – momento que mortifica e celebra. E é justamente nestes hiatos que Rennó trabalha como forma de usurpação e sobreposição dos traços estampados na efígie criminal. E 178 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE mais: é nesse movimento intervalar que se aguça uma lente anti-lombrosiana. Na contramão da ostensiva iconografia criminal, a fotógrafa subverte a concepção de retrato judiciário como atestado eminente dos desvios das patologias sociais, pois, ao ultrapassar o simples fichamento das categorias de anomalias e distúrbios da ordem pública, articula-se uma tentativa de decodificar as mensagens contidas num outro pertencimento discursivo que não aquele legitimado nos códigos extramuros carcerários. Desconstruindo o ensimesmamento da frontalidade da pose penal, concebemse múltiplos fragmentos epiteliais que mesclam diferentes partes de uma corporeidade, quase avulsa, incompatível às simétricas métricas do perfil tido como padrão na identificação processual. Em inquietantes enquadramentos, Rennó propõe uma nova teatralização do modelo em termos de gestualidade [close em braços, mãos, peito] atípica ao congelamento frontal das feições criminosas. Redesenhar a representação das figurações antropométricas dos infratores, acaba sendo, em última instância, um contradiscurso em relação aos contornos de uma morfologia pautada pela lateralidade e frontalidade como forma de identificação imediata. Nesse sentido, não podemos esquecer o desenvolvimento de um método científico alicerçado pela suposta objetividade de um diagnóstico visual que, teoricamente, seria capaz de definir classificações tipológicas dos marginais. E aqui se torna obrigatória a menção à busca da comprovação do caráter atávico entre identidade delinqüente e identificação fisionômica. Tais postulações têm como maior expoente Cesare Lombroso que, nos seus mapeamentos sistemáticos das tipologias criminais, buscava a mensuração essencialista de uma aparência compartilhada pelos indivíduos psicóticos e perigosos. Mas essas idiossincrasias visuais não seriam registradas sem o imprescindível auxílio da fotografia, conforme mostram as extensas listas de imagens produzidas a fim de expor as anomalias generalizadas e maquiadas em retratos compostos. Cabe ressaltar que esta perspectiva teórica também apresentou admiradores na Psiquiatria e na Medicina, constituindo-se, no interior de um poder disciplinar, uma efetiva caça às aberrações humanas e aos circos dos horrores que assolavam a predestinação biológica de uma raça humana “superior”. Longe desse discurso criminal, obcecado pela fantasia de uma anatomia da abnormidade, Rennó rechaça um flerte com os tradicionais postulados do retrato policial enquanto imagem disciplinar crivada pelo prisma da correlação entre marginalidade social e fisionomia anormal, esquizóide, demente, subalterna – decaída das agradáveis e fidedignas aparências. Posto na berlinda, o cânone fotográfico policial passa a ser questionado através de um enfoque artístico que repensa os sistemas de pose no tocante à reorientação das vigorosas imposições dos signos indiciáticos: ou seja, ao contrário dos antigos retratos, Cicatriz reproduz os significados matizados em figurações gravadas na cor da anti-resignação. Diante da exposição da seqüencialidade dessas tatuagens tragadas por um monocromismo tonal, orquestra-se uma corporeidade em deslocamento identitário que fragmenta a suposta existência de uma taxionomia fisionômica fixa e inelutável. Rompendo com a tradição burguesa fotográfica que deita raízes no estilo pictorialista do 179 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 jogo de poses e cenários artificiais, Rennó aponta como a pesquisa documental também pode ser estética, sem que se perca a reflexão sobre o microcosmo social em questão. Em rota de colisão com a antiga glorificação da classe dominante, essa perspectiva fotográfica não pretende pré-moldar uma essencial primazia de determinado segmento social, conforme uma deliberada busca do flagrante imagético que corresponda a uma suposta estaticidade identitária. Frente a esta dessublimação das celebridades sociais, eleva-se uma retratística, em preto-ebranco, que gera um sentimento de desconforto ao observador acostumado a certas cosméticas tipológicas, pois, ao final da contemplação da exposição, fica uma incompletude para aquele visitante que pretendia identificar as fisionomias pertencentes a um rol de patologias sociais. O que entra em cena não são mais as formas disformes do crânio do marginal, mas, sim, um conjunto de pinturas epiteliais, como celas corpóreas, que colocam em xeque a condição de ser/estar impedida de enunciar-se e representar-se. Sem o propósito de exorcizar as monstruosidades da delinqüência humana, a fotógrafa, portanto, constitui um contraponto às antigas correntes indiciais que propunham a cristalização de uma pictografia de um contingente criminoso. Ainda quanto a esta antiga anatomia criminal lombrosiana, cabe relembrar que a obra O Homem Criminoso, do próprio Lombroso, arrola, dentre as suas diferentes seções de fotografias, imagens de tatuagens. E aí está mais um ponto de desconstrução de Rennó: a cicatriz – a tatuagem – agora, neste diapasão anti-lombrosiano, não é signo de seqüela mental e perversidade psíquica. Ao conceber Cicatriz como uma exposição que migra pelas múltiplas paisagens corporais dos apenados, a fotógrafa permite que as tatuagens se movimentem, como um carrossel ornado por torturantes cores, através dos discursos e das identidades negociadas no ato de concepção de cada figuração: Naquilo que seria o território lombrosiano feito em fotografia, Rennó procura encontrar outros índices de enquadramento e resistência, de individuação, identidade e diferença. (...) Cicatriz de Rosângela Rennó é, de modo crítico, uma fusão pan-óptica-lombrosiana. A arquitetura vira o olho da câmera, como uma grande-angular no espaço da penitenciária. O pan-óptico talvez seja a coisa mais semelhante à câmera munida de uma lente grandeangular. No conjunto de trabalhos em torno de Cicatriz, Rennó escrutina como se dá a construção do pan-óptico visual através da fotografia (HERKENHOFF, 1998. p. 184-5). A fotógrafa se debruça na representação dos múltiplos lugares que se desenham no corpo do prisioneiro, constituindo um olhar sob as marcas que afloram numa superfície íntima como prova da completa diversidade. Perante a câmera fotográfica, aqueles presidiários passam também a experimentar uma política representacional – de sujeito a objeto – que redireciona uma identidade social em termos de uma subjetividade penal apropriada por determinados mecanismos de contenção imagética. Trata-se, portanto, de uma profunda fragmentação entre o sujeito e a sua própria imagem em que pese a transformação do corpo em arquivo, fichário e, em última instância, em imagem como comprovação de presença e 180 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE como testemunha de uma identidade e uma condição civil. Assim pensado, o corpo personifica um espaço físico no qual se conjugam os condicionantes de uma paisagem cultural, social, política, racial. E é nesse território corporal que a tatuagem será fundamental para que se possa representar o traço, a pegada e a deformação, pois, no interior desse movimento de se autocicatrizar, uma premissa deve ficar bastante evidente: o corpo só pode ser constituído através de um Outro que é refratário do desejo ser olhado. Marcas de pele, enquanto janelas fractais da realidade, complementam-se no momento que são olhadas por um Outro capaz de ler e decodificar uma derme diferenciada pelas suas imagens e deslocamentos. A carne humana passa a representar um ser-objeto que rascunha em si próprio uma versão provisória das suas identidades, memórias, geografias, narrativas, dores, prazeres. Se o ato de se tatuar evidencia uma política simbólica de exposição e denúncia corporal, poderíamos, então, em termos psicanalíticos, entender essa atitude como uma pulsão narcisista calcada numa referencialidade contextual no tocante ao trânsito de certos signos de resistência, negação, subversão, etc. Cabe trazer à tona, a título de lembrança histórica e antropológica, a função primordial das marcas corporais das comunidades negras africanas nas quais um corpo sem escarificações, pingentes, pinturas e mutilações se torna signo de ausência, pois, acima de tudo, nesses contextos culturais, estar cicatrizado é estar identificado. Tais escoriações iconográficas traduzem uma identidade de pertença que parece apontar a fragilidade e a [des]referencialização de um corpo desnudo. Menos ornamento estetizando do que traço identitária, as tatuagens tribais, como as cicatrizes do Carandiru, carregam um pathos imagético encarnado no tecido humano e na liberdade de redesenhar um objeto animado – o ser humano, o ser-imagem, ser-tatuagem, o ser-mutilação. Quanto ao poder desta subversão identitária provocada pela tatuagem e pelas demais intervenções corporais [como o piercing], basta que nos remetamos ao período da Idade Média quando a representação do corpo, sustentada pelo Cristianismo, apresenta uma vinculação entre tais marcas corporais e os grupos marginais como o judeu, o herege, a prostituta, o leproso. Sob uma perspectiva de se colocar à semelhança de Deus, essa doutrina impõe uma sacralização do corpo que submete as marcas corporais a uma clandestinidade e a uma exclusão cultural e social: “Essa sacralização fez com que houvesse a prática de marcar aqueles considerados marginais à comunidade da fé. Assim, nessa época, foi prescrito o uso de brinco de orelha para marcar a mulher judia, por exemplo” (COSTA, 2003, p.12). Desde a sua utilização na Idade Média, tais marcas corporais se situam bricoladas a uma condição de subalternidade e marginalidade, ou seja, segundo os discursos de sacralização do corpo, o ato de interferir na derme representaria uma área de profanação e mutilação. Se pensarmos nas tatuagens resgatadas por Rennó, perceberemos que essas ímpias marcas se sustentam por um estado de fazer-se visível ao Outro que contempla e interage através de um olhar-leitura em constante processo de decodificação. Mais do que simples adorno epitelial, tais tatuagens traduzem uma identidade que procura se diferenciar por materialidade pictórica 181 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 real – um traço de pertença escarificado. Como uma tela de projeção de uma zona de recalque, a tatuagem penal, enquanto signo particular e coletivo, estampa uma condição social pigmentada pelo desejo de demarcar um pertencimento identitário tido como periférico: Assim como, na Idade Média, as marcas corporais eram representantes da infâmia e do marginal, constituindo-se em uma prescrição social de desonra, o retorno ao uso no ocidente se dá pela busca ativa, de cada indivíduo, por um valor marginal. A partir do fim do século XIX, marinheiros, circenses, prostitutas, prisioneiros, homossexuais, passam a tatuar-se por iniciativa própria. Como a forma de organização própria contemporânea, na qual o marginal passa a ter valor pela exceção que se constitui socialmente, o uso das marcas corporais passa a se disseminar entre os jovens. [...] Pelas margens é que parece dar-se a busca de uma singularidade, na tentativa de produzir e evidenciar as falhas de um discurso sobre a suficiência de uma imagem ideal (COSTA, 2003, p.15, grifo nosso). Baseada neste suporte no Outro, a tatuagem estabelece uma relação de desnaturalização de uma ex-homogeneidade corpórea dramatizada numa fantasia erotizada do corpo purificado, intocado e imaculado. Recortado e tingido em seus formatos, o solo dérmico introduz uma heterogeneidade derivada da capacidade do organismo acolher figurações e símbolos na sua exterioridade. Assim, além do seu papel biológico, o organismo passa a cumprir uma função simbólica que produz a formação – um bildung – de uma nova imagem corpórea, configurada pela apropriação e pela reprodução de signos variados. Como importante processo de “constituições de identidades”, a tatuagem – ou, metaforicamente, a cicatrização cromática – carrega a dor da entrega da cisura que punge no olhar do Outro e que confere identidade à impressão de um grupo de estigmas heterogêneos. Enigmáticas ou explícitas, tais marcas suplicam por uma leitura. Ao convidar o Outro para este jogo de enunciação e decifração, o Eu tatuado entrega o seu corpo para que possa ter a sua identidade suplementada pelo olhar de uma alteridade endereçada num pertencimento em diferença. Ou seja: as marcas corporais representam marcas sociais que, em última instância, originam-se nas múltiplas formas de inter-relação e recalcamento com a linguagem – linguagem que, por conseqüência, deflagra o lugar onde se forma esse Outro que constitui os meios de negociação e inscrição social. A memória individual passa a ser representada na pele humana tatuada como produto de uma nostalgia identitária que ultrapassa uma simples materialidade do corpo ao olhar do Outro. Numa fotografia exposta por Rennó [foto 2], o peito desnudo de um prisioneiro está tatuado com a palavra “AMERICA” e com o desenho de uma forma que faz alusão aos contornos de uma determinada territorialidade. Um detalhe, já de princípio, punge – num possível punctum que atrai e mortifica – ao primeiro contato; trata-se de uma inversão espacial não muito usual à política de leitura das marcas corporais, pois a palavra “AMERICA” está voltada para a face do modelo de forma que se coloca totalmente invertida ao olhar exterior. Assim situada, tal cicatriz causa um certo desconforto devido à reterritorialização 182 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE de uma América que se volta, num torcicolo subterrâneo à flor da pele, a uma identidade marginal. Posta de cabeça para baixo, essa americanidade transita numa circunavegação em redor de paisagens humanas antes escamoteadas aos porões imagéticos da amnésia social. Desgastada pela cruel erosão do bolor do esquecimento, outra imagem [foto 3], particularmente danificada, apresenta duas mãos postas em primeiro plano na textura fotográfica. A imagem da mão direita, combalida pelo impiedoso ataque das seqüelas do arquivamento, é também a superfície onde está situada a tatuagem “NTONIO”. Com forte carga metafórica no que se refere à luta travada entre o desejo de fixar uma mensagem própria e as zonas de controle de uma memória oficial, essa fotografia, de certa forma, traduz uma alegoria de toda a exposição de Rennó. A marca que, apesar de ter perdido uma parte, resiste aos cinqüenta anos de clausura imagética. A tatuagem ainda levanta a última trincheira contra a dermatofobia institucional. O Antonio pode até se tornado “ntonio” pelo avanço das forças da coalizão arquivística [as tropas químicas dos fungos e os serviços de inteligência de contenção simbólica] que não se cansaram de bombardear uma memória marginal, mas, ao final de um grande período de resistência, ainda restou a marca, o traço, o vestígio de uma materialidade corpórea grafada pela vontade de ser lida pelo Outro. FOTO 2 183 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 FOTO 3 Quanto à política simbólica das tatuagens expostas, não estão alijadas as marcas da intolerância e da estereotipificação exercidas por uma parte dos presos em relação aos outros detentos identificados como homossexuais ou criminosos de delitos sexuais. Sem assumir uma postura de idolatria ao status quo carcerário, Rennó revela esta área de privação e exclusão identitária no que se refere ao estabelecimento de um código dominante e homofóbico. Uma fotografia – de mãos frontal [foto 4] – indica a cicatriz que, dentro do código vigente no Presídio, representa a marca do estigma indelével: um círculo pequeno e escuro. Ponto negro da margem. Ponto de pulsão da diferença. Ao serem ferreteados por aquelas etiquetas dérmicas, esses prisioneiros passam a instaurar um lugar de sombra em relação a um certo tipo de conduta que poderíamos chamar de “tiro no pé” identitário, pois, ao se cristalizar esta microestrutura de violência de gênero, a margem acaba produzindo a sua margem – uma perversa dança tautológica da discriminação. Mas essa mesma doutrina heterossexual acaba, por mais paradoxal que seja, possibilitando a consolidação da manifestação simbólica de um pertencimento identitário excluído da modulação discursiva tida como “normal”. Em outras palavras, diríamos que essa fotografia enuncia uma identidade declinada numa zona de atrito duplamente estigmatizada, e, por isso mesmo, duplamente subversiva ao establishment nacional. O mesmo ferrete que cicatriza o signo da “anomalia” psíquica e sexual também marca o sinal de uma diversidade calcada nas diferenças identitárias de um Outro também sujeito ao olhar externo. Nessa sobreposição de feridas e de paisagens de recalque, em translúcida penumbra, inicia-se a lenta exposição do teatro de sombras que encena os guetos identitários e o déficit imagético no que se refere à representação de certos atores sociais como permanentes coadjuvantes de uma dada brasilidade. 184 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE FOTO 4 Um conjunto significativo de tatuagens deriva pela temática amorosa [foto 5]. Corações flechados, faces femininas, casais enamorados, escritas singelas, flores. Mas uma figuração, na sua peculiaridade, merece especial atenção. Impressa num braço esquerdo, em impressionantes traços e sombreamentos, ressalta-se, em contraste com a crueza das demais, uma tatuagem que reproduz um casal abraçado à espera do derradeiro momento do beijo [foto 6]. Essa imagem, numa intertextualidade visual, poderia nos remeter à consagrada fotografia do marinheiro ao final da Segunda Guerra Mundial. Mas também é possível que tal tatuagem seja a celebração de um minuto passado nos extramuros que agora só pode ser [re] encenado no palco epitelial, conforme a atuação dos dois personagens abraçados e fixados nos seus olhares. Sem que o toque material consiga se concretizar, resta um encontro talhado na carne humana que instaura um cicatrizar-se pela afetividade e pelo feixe de reminiscências de uma experiência compartilhada por um Outro. 185 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE FOTO 5 Junho de 2009 FOTO 6 Outro mote percebido em mais que uma tatuagem, a religião está presente com sua simbologia mais tradicional – cruzes – e com traduções da sua doutrina. Uma belíssima foto [foto 7] apresenta um detento desnudando o seu peito de forma que sejam visíveis as pequenas tatuagens localizadas simetricamente nos dois pontos opostos do tórax. Como marcas diminutas e pontuais, quase traços de uma incisão cirúrgica, tais tatuagens agonizam em sua condição de retalhamento corporal através de uma agressividade física e metafórica. Essas cruzes, que se assemelham ao procedimento legista, parecem indicar o ponto de perfuração da bala recém alojada ou da faca há pouco empunhada. Enquanto autópsias imaginárias, essas cruzes obviamente remetem ao elemento religioso, mas, nas suas formas disformes, abre-se espaço para múltiplas interpretações situadas no olhar do Outro. Ainda na retratística religiosa, outra fotografia [foto 8] se destaca no tocante à composição da paisagem proposta: trata-se de extensa tatuagem, localizada às costas, quase de ombro a ombro, que reproduz um Cristo crucificado. Até aí não parece haver grandes dissonâncias quanto às milhares imagens de Cristo tatuadas a cada dia. Mas há um detalhe que punge – punctum irremediável – ao primeiro olhar: Cristo não tem corpo, somente a cabeça e uma cruz ao fundo. Decapitado, nem suas mãos se prendem à madeira. Não teria havido tempo para completar a cicatriz... Não existiria mais o corpo do apenado para continuar a tatuagem... Não estaria mais ali a mão que desenhava o vitral epitelial... Não seria a mutilação de Cristo uma alegoria da própria condição de destroço humano do detento? Enfim, as cartas estão lançadas para plurais e infindáveis leituras sob uma imagética corporal, vinculada ao desejo de fazer-se imagem, fazer-se discurso, fazer-se simulacro, fazer-se espectro, fazer-se signo, fazer-se pintura por parte de uma identidade marginal renegada à sombra social e ao rascunho cultural. 186 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE FOTO 7 FOTO 8 187 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 É necessária a reflexão sobre um dos elementos fundamentais da constituição imagética e conceitual de Cicatriz: a utilização de textos do Arquivo Universal5. Escarificadas nas entranhas das paredes, numa topografia de orifícios e depressões, as palavras compõem uma textura tátil que permite ao observador uma experimentação ocular e palpável dos significados representados em fotos e em fragmentos escritos. Ao alcance do deslizar dos dedos, tais textos-cicatriz – doze ao total – estão tatuados e esculpidos ao longo dos diferentes espaços da exposição, compondo um relevo acidentado pela erosão lírica e imagética dos relatos aflorados a cada passo e a cada toque: “É uma instalação epitelial, diz Rosângela Rennó, pode-se passar a mão na parede e não há nada sendo projetado para fora. Só os textos estão em recesso” (RENNÓ, 1998, p.187). Sem medo de despertar qualquer tipo de comportamento dermatofóbico, a artista perfura a materialidade do cimento como manobra de cisão e ruptura de uma identidade impressa em carne humana monocromática. Para um olhar um pouco mais distante, é penosa a leitura dos textos esculpidos sem maiores recursos de colorimento e contraste. É preciso que o Outro se aproxime. É urgente que o Outro perceba o detalhamento das cicatrizes textuais. Assim, nesse canyon identitário, as escavações abrem vales que percorrem múltiplas histórias coletadas num trabalho de pesquisa que nunca acabará e sempre estará se autoconstruindo pelas infinitas particularidades de um arquivo fractal: O Arquivo Universal é uma ironia em cima da idéia de colecionar infinitas fotografias que só se realizam através da leitura dos textos sobre as mesmas, já que você tem acesso à imagem propriamente dita. Você pode projetar a si próprio ou projetar sua foto, pelo fato de não poder conhecê-la. Assim, a foto transformada em palavras passa a integrar um arquivo que não acaba nunca, um arquivo que está sempre em transformação, que não tem tamanho definido, um arquivo virtual (RENNÓ, 2003, p. 11). Os textos-cicatriz estão pautados por motes fotográficos de forma a constituírem novas fotografias textuais difratadas na mente dos diversos leitores. Enquanto hologramas textuais, esses fragmentos imagéticos, na sua maioria, reproduzem outros domínios simbólicos editados em contextos sociais pertencentes a identidades minoritárias. Em diversos textos, percebemos a narrativa sobre sujeitos cicatrizados pela dor da exclusão identitária e pelo exílio do anonimato social. Como legendas difusas e arbitrárias, esses discursos se inter-relacionam 5 Quanto ao Arquivo Universal – conjunto de textos selecionados pela fotógrafa –, cabe, aqui, ouvir as próprias palavras de Rennó: “Se você ler uma referência textual sobre fotografia, não precisa dela ao lado, basta um comentário para refazer a imagem mentalmente. Aí está a base do meu projeto Arquivo Universal, um work in progress iniciado em 1992 que sigo ainda alimentando até hoje. Comecei a gostar e a entender a mecânica da imagem jornalística e, em contrapartida, do potencial imagético oferecido pelo texto jornalístico. Já era colecionadora de fotografias originais em papel, negativos e negativos de vidro e me tornei uma colecionadora de recortes de jornal. Percebi que era muito comum encontrar relatos sobre algumas fotos específicas e passei a analisar como jornalistas exploravam um assunto privado, ligado a uma imagem em particular – às vezes uma simples imagem de caráter privado – para falar de coisas genéricas. Primeiro a parte para depois falar do todo. Percebi que apesar de usarem a descrição de uma certa foto, na maioria das vezes, não a publicavam. Ela era somente um pretexto para uma chamada sobre um contexto mais amplo. Às vezes, pura exploração sentimental”. (RENNÓ, 2003. p. 9). 188 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE com as fotografias expostas, deflagrando uma polifonia entre diferentes imagens [textuais ou fotográficas] que estabelece uma rede de conexões possíveis e significados latentes. Se passarmos os olhos [ou os dedos] nas histórias narradas, veremos uma “comunidade arruinada” (MIRANDA, 2000. p.189) na qual despontam práticas de segregação e abandono como os acontecimentos relatados sobre o ex-presidiário “Z.”, a menina espancada “X.”, a guerrilheira “Y.”, o grupo de crianças da Candelária do coral “C.”, o traficante “Jota”, etc. Mesmo que esses textos corroborem para o retorno do excluído, não há uma correspondência imediata entre imagem e escrita, sem que o leitor sinta qualquer possibilidade de estabelecer livre associação entre os referentes expostos: Então por isso escolhi deliberadamente certos textos do Arquivo Universal para atuarem junto com as imagens, quer dizer, tirá-las de uma espécie de limbo coletivo do presídio. Os textos não têm nada que ver com os presos, mas tratam igualmente de singularidades extremamente particulares. Muitas vezes, o trabalho pode até ser melodramático e provocar lágrimas. Por que não? Eu gosto disso, eu preciso e sinto falta disso nas práticas artísticas contemporâneas. Gosto da idéia de fazer você descobrir o indivíduo, se relacionar com ele ou recuperar através dele sua própria história pessoal. Por isso, às vezes, torno a imagem quase invisível. Você tem que buscar aquela imagem, arrancá-la do preto, ou do vermelho (RENNÓ, 2003, p.17). A tatuagem é matéria pictórica e identitária que se prende à carne viva, rabiscando músculos e sentimentos que nunca mais serão os mesmos depois do momento daquela marca feita a “frio, a ferro e fogo”. A dor da cicatrização do tatuarse, do redesenhar-se, do recortar-se, do reeditar-se não passa impune. As marcas corporais são um traiçoeiro labirinto que aprisiona um Eu ao seu próprio corpo – devir corporal que será contemplado pelo olhar de um Outro. Basta que relembremos um dos textos do Arquivo Universal: Naquele dia, Y. foi transferido para a capital, de avião. Lá, sua identidade e sua condição de militante do Pc do B foram descobertas com o auxílio da fotografia tirada após sua prisão no congresso de estudantes. Mais tarde, foi levado algumas vezes de volta ao Araguaia para reconhecer corpos dos companheiros – cenas que até hoje provocam nele pesadelos. Y. traz ainda as marcas da guerrilha. Não só no corpo – que exibe cicatrizes da leishmaniose contraída na mata, e das queimaduras de cigarro, adquiridas nas sucessivas sessões de tortura – mas na memória (RENNÓ, 2003, s/n). Esse corpo é maculado por chagas dos sinais longínquos. Pássaros de passagem que deixam enigmas tingidos, as cicatrizes fazem circular uma narrativa que mendiga um afresco epitelial. Tez, ruela das lembranças. Manuscrito migrante suspenso em deserto nu, a tatuagem zomba da condição de essencialização do modelo. Sob um solo grávido de símbolos e discursos, ergue-se uma identidade transmutada num espelho que dança o ritmo do reconhecimento e do estranhamento entre um Eu-objeto e um Outro-olhar. A derme surrada aporta pensamentos escondidos 189 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 nas barcas do esquecimento. Apesar de molhada nos poros, a memória é um pouco de areia suspensa à luz. É preciso acariciar a ferida na sua disforme graça. Afinal, ainda repercute a perspicaz sentença do Dr. Hannibal Lecter: “as cicatrizes lembram que o passado foi real6”. Assim é meu corpo: sombra tresloucada num jardim de ilusões (JELLOUN, 2003, p.79). Referências bibliográficas: Barthes, Roland. A Câmara Clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. COSTA, Ana. Tatuagens e Marcas Corporais. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. HERKENHOFF, Paulo. Rennó ou a beleza e o dulçor do presente. In: RENNÓ, Rosângela. Rosângela Rennó. São Paulo: EDUSP, 1998. JELLOUN, Tahar Ben. As Cicatrizes do Atlas. Brasília: UnB, 2003. MIRANDA, Wander Melo. Cenas Urbanas. In: BIGNOTTO, Newton (org). Pensar a República. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2000, p.179-190. RENNÓ, Rosângela. Rosângela Rennó. São Paulo: EDUSP, 1998. ______. Rosângela Rennó: Depoimento [Coordenação: Fernando Pedro da Silva, Marília Andrés Ribeiro; Edição do texto e organização do livro: Janaina Melo]. Belo Horizonte: C/ Arte, 2003. ______. Rosângela Rennó [O Arquivo Universal e Outros Arquivos]. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. RUIZ, Alma. Presentation. In: RENNÓ, Rosângela. Cicatriz. Los Angeles: Museum of Contemporary Art, 1996. p. 8 (Catalogue published for the exposition). SONTAG, Susan. Sobre Fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. Abstract: Rosangela Rennó’s photographic exhibition Cicatriz (Scar) (1996) introduces a disturbing search into the House of Detention’s photographic collection, in São Paulo. The institutional files looks like a stagnant combination of inertia and both official and group stigma until the moment when Rennó seeks the affection, the poetry, the sign’s revolt and resistance that can denounce a muted Other. The photograph, then, reveal the cultural tissue which previously could not be named: the previously misty image begins to work in an area of repression, open in its distressing condition that erases the boundaries considered rational and homogeneous. A harrowing set of prisoner’s tattoos is presented and demonstrate the painful writings of a subordinate Self. From the deconsecration of the 6 Retirado do filme O Silêncio dos Inocentes (Silence of the Lambs, 1991, EUA). Direção: Jonathan Demme. 190 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE photographic mirror a land is opened for the reading of epithelial texts healed as discourses anointed in marginal flesh. Keywords: Photography, identity, otherness, nation, memory. Recebido em 15/05/2009. Aprovado em 30/05/2009. 191 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE 192 Junho de 2009 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE El grabado, una producción híbrida como problema para el relato modernista ENSAIO Silvia Dolinko* Resumen: Este trabajo revisa algunos de los abordajes canónicos respecto del estatuto del grabado como producción artística, tanto desde el factor de la técnica gráfica como desde su recurrencia a la narratividad o a la figuración, vinculada muchas veces con el universo de la ilustración literaria o a la puesta en circulación de discursos sociales e imágenes de contenido político “militante”. Se formula como hipótesis que tanto la narratividad como la multiplicidad del grabado han resultado un problema en relación con el canon modernista; se sostiene que la condición figurativa -de ilustración y/o social- del paradigma gráfico situó al grabado como una de las producciones excluidas del relato del modernismo, a la vez que la reclusión de los grabadores en el virtuosismo técnico como parámetro de validación implicó una autoexclusión del mismo. Palabras clave: Grabado, técnica, obra múltiple, figuración, relato modernista. 1. A lo largo del siglo XX, el grabado asistió a una progresiva autonomización y valorización como disciplina artística. Si distintos factores -ampliación de recursos formales, renovación de técnicas, una nueva consideración por parte del mercado de arte, etc.- confluyeron en la construcción y consolidación de esta obra múltiple como una producción relevante dentro del mapa de la producción simbólica, alejada de sus orígenes reproductivos, también persistieron diversos tópicos respecto de cómo entenderla o categorizarla. Xilografías, aguafuertes, litografías, entre otras modalidades convencionales del grabado, implican una producción estampada a partir de una matriz, impresa en soporte de papel, editada en una serie o como pruebas de artista que dan cuenta de los diferentes estadios del desarrollo de la imagen. Un abordaje canónico sobre el estatuto artístico del grabado parte de la pregunta por la técnica. Una técnica que no implica una reflexión en torno a la relación de uso y dominio en sentido heideggeriano, ni una consideración sobre la transformación del repertorio de formas e instrumentos materiales del arte a partir del impacto de nuevas máquinas y tecnologías como observara Pierre Francastel, sino la técnica como el cuestionamiento por el hacer, por el rol del oficio. Ese sentido sostenido por Paul Valéry al dirigirse a los peintres-graveurs, categoría que otorgaba un * Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires 193 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 viso de prestigio a los artistas que exploraban las posibilidades gráficas.1 Valéry -una de las “voces de autoridad” en la reflexión de Walter Benjamin en torno a la reproductibilidad artística en la modernidad- indagaba sobre la “conquista de la ubicuidad”,2 a la vez que enfatizaba en un texto de principios de los años treinta sobre la producción del grabador desde el punto de vista del beau métier artesanal: el hombre actúa; ejerce sus fuerzas sobre una materia ajena, distingue sus actos de su soporte material, y tiene de ellos conciencia clara; de ese modo los puede concebir y combinar antes de ejecutarlos, darles las aplicaciones más variadas y ajustarlos a las sustancias más diversas, y a ese poder de componer sus empresas o descomponer sus designios en actos distintos es a lo que llama inteligencia. No se confunde con la materia de su obrar, sino que va y viene de ella a su idea, de su espíritu a su modelo, y a cada momento troca lo que quiere por lo que puede, y lo que puede por lo que obtiene.3 ¿Qué hay de particular o convocante en la praxis gráfica para que este esquema explicativo se mantuviera durante décadas para justificar su especificidad?4 Existen algunas características técnicas y simbólicas que se han sostenido con fuerza desde el campo específico de la gráfica y que ejemplifican las ambigüedades que operan en el abordaje de esta producción. Se trata de una “obra bisagra”, intermediaria entre la creación única y prestigiada desde el circuito tradicional y el arte reproducible por medios industriales y de consumo masivo. La problemática del grabado en el cruce entre la obra única y la múltiple o, más exactamente, entre la producción de escala restringida y escala masiva, da cuenta de su condición híbrida. En efecto, una de las características básicas para la conformación del “concepto grabado” parte de la idea de multiejemplaridad; sin embargo, desde su estatuto de obra múltiple, se ponen en juego una serie de paradojas. Por ejemplo, si su especificidad posibilita la reproductibilidad y pluralidad en la circulación de imágenes, a lo largo del siglo XX se articuló la idea de la estampa como un “original múltiple”, avanzándose desde los años sesenta hacia los grabados únicos, es decir, sin formar parte de una tirada o conjunto de pruebas de artista. Si la multiplicidad es una de las particularidades del grabado, los límites de la obra múltiple evidencian otras paradojas de esta disciplina. Por ejemplo, su asociación a la idea de una producción cultural ampliada en su circulación social, 1 Una referencia clásica es la edición de Adam Bartsch, Le Peintre-graveur, 21 vol., Viena, 18031821. 2 Texto publicado originalmente en De la musique avant toute chose, Editions du Támbourinaire, 1928 y reproducido en Nouvelles Littéraires el 28 de marzo de 1931. 3 “Pequeño discurso a los pintores grabadores” (En Piezas sobre arte, p. 147. El destacado es del original). Se trata de un discurso pronunciado el 29 de noviembre de 1933 en la cena de Pintores Grabadores franceses. 4 Por citar un ejemplo cercano, en la sala de estampas del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, inaugurada hace pocos años, se adosa en la pared una explicación sobre las técnicas del grabado, esquema que no se aplica a otras áreas del mismo recorrido museográfico. 194 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE que tendría que posibilitar una potenciación de espectadores o consumidores; sin embargo, se puede entender que el grabado en realidad resulta extraño para el gran público. Obra múltiple pero casi desconocida, obra múltiple pero individual: diferentes lugares incómodos para el grabado. Incómodos o paratópicos, en el sentido sostenido por Dominique Maingueneau (1995) respecto de una ubicación paradójica, una posición imposibilitada de establecerse, sin terminar de definir o encontrar un lugar propio. El grabado como descentrado de un lugar en el campo artístico que nunca acaba de definirse del todo, porque aparece desplazado: de la centralidad de los dispositivos expositivos, de la valoración hegemónica, de los relatos canónicos. O, también, auto desplazado por los propios artistas gráficos que en muchas ocasiones se han atrincherado en el mantenimiento de un “coto cerrado” técnico. En este sentido, dentro de las particularidades que se han sostenido en la práctica tradicional del quehacer gráfico se destaca el factor de la artesanalidad, esto es, la tradición ligada al beau métier como elemento constitutivo para la valoración del grabado canónico y que también hasta los años sesenta, especialmente con la novedosa gráfica conceptualista, no fue puesto en cuestión. Esta valoración no se restringió específicamente al “objeto-estampa”, sino que se aplicó también a la matriz, con la restricción a la imagen negativa realizada sobre el soporte en tanto base para la edición. Toda esta reglamentación que debía funcionar de forma implícita en la praxis fue enunciada en diversas ocasiones a través de textos técnicos que operaron a modo de manual de instrucciones para el neófito o el artista poco entrenado. La realización de las tareas gráficas efectuadas con minuciosidad, muchas veces con gran énfasis en el virtuosismo técnico, la limpieza del trazo y la meticulosidad en el manejo de los materiales y de los elementos compositivos se vinculaba al savoir faire del profesional como condición básica para este tipo de producción. El énfasis en la “presencia” del artista a partir de su acción sobre la materia, de la impronta de su trabajo en la matriz y en el proceso de la impresión constituirían distintos estadios que finalmente posibilitarían intuir “una especie de intimidad estrecha entre la obra que se forma y el artista que a ella se aplica”. (Valery, 145). Marcas de la materia -como los rastros de la tinta de impresión, el sutil modulado del papel por la presión de la prensa, el contorno rehundido del límite de la matriz- aportan un registro material para la constatación de la “autenticidad” de la estampa.5 En el caso de la imagen xilográfica, por ejemplo, se pone en un primer plano la imbricación del trabajo manual del artista, la carga sensible del material y su remisión a lo orgánico desde las texturas de la madera, sus vetas y nudos. La pregunta por “la huella creadora, desde la impresión real hasta la firma” permite sostener a Jean Baudrillard que “la fascinación del objeto artesanal le viene de que pasó por la mano de alguien cuyo trabajo está todavía inscrito en 5 Estoy refiriendo a las técnicas más tradicionales del grabado que serán ampliadas o puestas en cuestión a partir de los años sesenta, con la incorporación de nuevas modalidades de impresión y la redefinición del médium. 195 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 él: es la fascinación de lo que ha sido creado y que por eso es único, puesto que el momento de la creación es irreversible” (Baudrillard, 1995, p. 87); sin embargo, en el caso del grabado, su potencial multiejemplaridad complejiza esta lectura, ya que no resulta ni una obra única ni una producción de masas, sino un producto intermedio o, como se ha mencionado, híbrido. La artesanalidad de la obra múltiple y la acción simbólica de la reiteración de la imagen fue aludida por Francis Ponge cuando describió, a través de una “personalización” de la memoria de la piedra litográfica, el gesto de repetir las imágenes como un ritual: “exactement comme une personne maniaque accomplit ses rites subrepticement, pour elle seule (des gestes pour soi seul: curieux, cette extériorisation sans fin extérieure...).” (Ponge, 1977, p. 49). Se trata de reflexionar sobre el sentido de una obra repetible pero impresa artesanalmente, numerada y firmada; en este caso, la firma del autor forma parte de una marca de autenticidad -o de “autorización”- del propio creador. Mary Kelly la interpreta como “la marca autentificadora que ocupa un lugar tan preeminente en la peculiar estructura de deseo e intercambio del mercado de arte. No sólo se compra una obra de arte en concreto (el título), sino también ‘algo’ que sólo posee un individuo (el nombre). La garantía de ese ‘algo’, que consiste en que un objeto aparezca investido de subjetividad artística, es un gesto, o más explícitamente, una firma.” (Kelly, 2001, p. 90). A la vez, la estampa o la serie lleva un registro que también forma parte del código específico de la disciplina: la numeración de la tirada que opera como control de la secuencia de impresiones. Y si bien, en términos generales, estas estrategias han resultado operativas al mercado de arte, también fueron un recurso aceptado para ediciones con finalidades sociales o militantes.6 La numeración presenta entonces una dicotomía de base: implica otorgar un registro individual a una obra para señalar su inclusión en una serie múltiple. Es decir, a partir de la numeración cronológica, se otorga a cada estampa un registro de cierta unicidad y a la vez se la incluye dentro de una secuencia: nuevamente, la tensión entre lo único y lo múltiple. ¿Podemos interpretar que a través de esta operación de la numeración se intenta recuperar algo del aura atribuido a la obra única? 2. De forma casi tan recurrente como sucede con la apelación al glosario técnico, la conceptualización sostenida por Walter Benjamin acerca de la reproductibilidad de la obra de arte constituye otro punto explicativo en diversos abordajes sobre esta producción. Entre sus lecturas acerca de los cambios en las condiciones de producción en el campo de la cultura de la modernidad, y de las relaciones entre devenir técnico y forma estética como matriz para pensar la relación entre arte y 6 Por ejemplo, el caso de Vaincre, álbum colectivo y clandestino de doce litografías que, propiciado por André Fougeron y realizado por artistas próximos al Partido Comunista Francés, fue vendido a beneficio de los FTP en abril de 1944. (Cf. Laurence Bertrand Dorléac. L’art de la défaite,1940-1944. Paris : Editions du Seuil, 1993). A pesar de tratarse de una producción de circulación clandestina, las 300 estampas que conformaban la tirada fueron numeradas: se mantenía así un criterio de control y secuenciación sostenido desde el sistema comercial más convencional.. 196 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE sociedad, la indagación sobre los efectos de la reproductibilidad de la obra de arte y la consecuente pérdida del aura – “un espinoso y polimorfo valor de uso”, como lo ha definido Georges Didi-Huberman (1997, p. 93)- constituye uno de los ejes más transitados por la bibliografía crítica sobre la cuestión. Inscripta en el marco más general de su Passagen-Werk, es bien sabido que Benjamin reflexiona en “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”7 sobre los cambios históricos y las transformaciones de la sensibilidad moderna, desarrollando in extenso su noción de aura y su declive o pérdida en la obra de arte reproducible. En esos tiempos en que Benjamin mantenía una posición optimista respecto de la promesa de la tecnología como vía para la democratización de la producción y recepción artística, apuntaba a indagar, en definitiva, sobre los modos en los que la conformación y transmisión de la cultura constituyen una forma de acto político. En este sentido, las técnicas de reproducción ponían en cuestión la tradición cultural burguesa, estableciendo una nueva vinculación entre la técnica artística y el movimiento político de masas. Ahora bien, si las referencias a Benjamin aparecen de forma reiterada en los estudios sobre la obra gráfica, cabe preguntarse ¿cuál es efectivamente el lugar o la significación de esta producción en la reflexión benjaminiana sobre la obra de arte reproducible? El autor reconoce que desde la antigüedad se asistió a las exploraciones sobre la reproducción técnica de la obra de arte, “algo nuevo que se impone en la historia intermitentemente, a empellones muy distantes unos de otros, pero con intensidad creciente” (pp. 18-19). En este sentido, los grabados -la xilografía medieval o la litografía decimonónica- configuran en su genealogía un estadio intermedio, situado entre los bronces antiguos y la aparición de la fotografía en tanto “antesala” o “prehistoria” de las nuevas prácticas perceptivas. Aunque estima que la xilografía “hizo que por primera vez se reprodujese técnicamente el dibujo, mucho tiempo antes de que por medio de la imprenta se hiciese lo mismo con la escritura” (p. 19) y en el Passagen-Werk entiende a la litografía como “técnica de reproducción”,8 la gráfica no constituye para Benjamin más que un antecedente frente al poder multiplicador del cine, ejemplo central de su argumentación sobre la reproductibilidad técnica. Es decir, el grabado implica copias múltiples, idénticas y reproducibles; sin embargo, no se encuentra reproducido industrialmente, y no constituye estrictamente un “arte de masas”, factores que apuntan a sostener la idea de su estatuto híbrido. Esta condición lo acerca en mayor medida a la carga individual de la obra única que permite la supervivencia de la distancia aurática, ya que aunque esta obra multiejemplar posibilita una pluralidad de poseedores, la detentación final de un ejemplar gráfico no lo convierte en “propiedad colectiva” sino que termina circunscribiéndose en el registro individual de una colección privada. Es desde 7 Para el presente estudio fue consultada la versión incluida en Discursos interrumpidos. Barcelona: Planeta, 1994, pp. 17-57. 8 Según señala Susan Buck-Morss (1995), el manuscrito de “La obra de arte...” es contemporáneo al exposé de 1935 del Passagen-Werk, su trabajo nunca concluido acerca del efecto de la producción industrial sobre las formas culturales tradicionales, donde refiere a la cultura de masas no sólo como conformadora de la sensibilidad moderna, sino también como fuente de “verdad filosófica”. 197 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 esta perspectiva que se puede pensar en cierta intimidad en la relación obracoleccionista: “el concepto de autenticidad jamás deja de tender a ser más que una adjudicación de origen. (Lo cual se pone especialmente en claro en el coleccionista, que siempre tiene algo de adorador de fetiches y que por la posesión de la obra de arte participa de su virtud cultual)” (Benjamin, p. 27).9 Planteando esta cuestión desde el estricto sentido material de la estampa, volvemos a retomar la idea de que la señalización de la obra dentro de la serie, a través de la firma y la numeración, preserva cierta noción de unicidad de la obra múltiple. Desde una postura crítica, Luis Camnitzer ha subrayado los efectos restrictivos de esta particular lectura: La apreciación de un grabado [...] se produce a escala de la hoja impresa en sí misma, y si bien se admite la existencia de otras imágenes impresas iguales como formando parte de una edición, éstas no tienen influencia entre sí. La apreciación también es pictoricista u ‘original’. Desde la concepción del grabado hasta la recepción por parte del espectador, el criterio frente al diseño es el de unicidad. La preocupación creativa queda limitada al aspecto de ese grabado-resultado” (Camnitzer, 1969).10 Sin embargo, desde la idea de que una obra de arte múltiple conllevaría una vocación plural o “popular”, el efecto simbólico del factor multiplicidad del grabado implicaría conceptualmente una desacralización de la obra única, uno de los ejes privilegiados de la validación burguesa de la obra de arte. Esto plantea otro aspecto paradójico del grabado: cabe recordar que su primera expansión en la cultura occidental se produjo como vía de difusión de imágenes en los siglos XIV-XV, momento de conformación de la idea de “arte burgués”. Se puede seguir en este punto a Raymond Williams cuando plantea que con la aparición de las tecnologías de reproducción gráfica, su diversidad y movilidad, “lo que se había logrado técnica y socialmente no sólo era la ampliación de la distribución, sino también la movilidad inherente de los objetos culturales, de importancia crucial para las relaciones regulares de mercado.” (Williams, 1994, p. 91). A la vez, aunque la multiplicidad apuntaría a una circulación social ampliada, algunas características materiales de la estampa -fragilidad del soporte papel, pequeño formato, minuciosidad técnica de realización- motivaron la reiterada calificación del grabado como arte de cámara. Así, por ejemplo, Aldo Pellegrini refería en 1963 que “el grabado ha adquirido en los tiempos modernos una autonomía e importancia tal que le hace representar frente a la gran pintura el papel que tiene 9 Esta relación también la analiza David Freedberg (1992, p. 40) cuando se pregunta: “¿respondemos de una manera más intensa –más violenta y ostensiblemente- a un cuadro colgado en un lugar público o a un pequeño grabado […] que podemos conservar y mirar a nuestro gusto relamiéndonos con él en privado?”. Para ejemplificar esta cuestión, el autor propone el caso particularmente connotado de la obra erótica de Sebald Beham. También Baudrillard, a partir de un caso mencionado por La Bruyère, ilustra “la curiosidad como pasión” a partir del ejemplo de un coleccionista de estampas. (p. 104). 10 Un enfoque similar es el planteado por Peter Burke cuando cuestiona la conceptualización benjaminiana: “El propietario de una xilografía, por ejemplo, puede tratarla con respeto en la idea de que es una imagen singular y no pensando que se trata de una copia más.” (Burke, 2001. p. 22). 198 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE la música de cámara frente a la música sinfónica”.11 Partiendo de los aspectos generales sobre el grabado planteados en este punto, es posible avanzar sobre algunas hipótesis interpretativas tanto respecto de la definición de los parámetros de selección y validación que conformaron las fronteras desde las que operó esta producción, como así también respecto de su relación problemática con el relato modernista. 3. El lugar descentrado de la gráfica en el campo cultural del siglo XX ha sido sostenido por las lecturas canónicas que han establecido una hipótesis, o más bien, un diagnóstico sobre su posición marginal o anexa en relación con el sistema de las artes visuales -especialmente con la pintura como principal referente. Ahora bien, si se parte de la idea de que la jerarquía entre disciplinas resulta de situaciones establecidas históricamente, ¿desde qué marco interpretativo se puede abordar esta cuestión de la posición restrictiva del grabado? ¿Cuál es el grado de incidencia de los relatos hegemónicos en el posicionamiento de esta producción? ¿Cuáles fueron los discursos o las estrategias de los grabadores? Evidentemente, la estratificación entre disciplinas a partir de un canon divisorio entre “artes mayores” y “artes menores” establecido desde la temprana modernidad12 resultó sistemáticamente revisado y atacado por los artistas a lo largo del siglo XX. Sin embargo, implícita o muchas veces explícitamente, la dinámica del campo artístico ha mantenido una latente jerarquización que, en lo que se refiere al grabado, lo situó en un plano menos significativo o casi excluido respecto de otras disciplinas. Por su parte, los “grabadores esenciales” establecieron una especie de autoexclusión que demarcaba la validación de su producción desde un marco propio y diferencial. Es este doble movimiento simbólico de exclusión y autoexclusión que se puede tomar como punto de partida para interpretar la posición del grabado en el campo artístico del siglo XX. En efecto, la actuación corporativa de los grabadores y su uso de códigos y recetarios cuasi-secretos resulta, por una parte, un dato significativo para comprender este eventual alejamiento de la disciplina respecto del mapa principal de la producción simbólica. La idea de “defensa gremial” como profesión de fe –o, más bien, de fe ciega en el código estricto y cerrado de la disciplina- fue puesta en evidencia socarronamente por Luis Camnitzer desde el marco de una reflexión autocrítica sobre su praxis dentro de, en sus palabras, esta colonia de las artes: Estaba usando una disciplina técnica para definirme, y conceptualmente, fue una equivocación. De alguna manera, había olvidado que tenía que buscar a mí mismo, y usar al grabado como una herramienta en esa búsqueda. En cambio, estaba limitando mi autodefinición a y dentro del grabado. Hago grabados, luego existo. 11 Citado en el catálogo Contribución al mayor conocimiento del grabado como obra de arte. Buenos Aires, Museo del Grabado, octubre de 1963. 12 Se puede mencionar en este sentido al paragone renacentista en el que, al comparar las artes entre sí –especialmente la pintura y la escultura- distintos autores evidenciaban las diferencias entre ellas. 199 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 Desde aquella época, tengo todavía una adicción a las melodías aromáticas que emanan de tintas y solventes; miro como símbolos preciosos de status las manchas indelebles metidas bajo mis uñas; me erizo con dolor cuando alguien toma una hoja de papel sin permitir que adopte su curva catenaria, y creo que los grabadores que no limpian los bordes de sus chapas eventualmente reciben sus castigos en el infierno como corresponde. Lo cual significa que estoy, como es tan típico de los grabadores, atrapado dentro de un fundamentalismo técnico. (Camnitzer, 1997)13 Además de la exacerbación del parámetro técnico, otra particularidad que definió a la producción gráfica tradicional fue su recurrencia a la narratividad o figuración, debida muchas veces a su estrecha vinculación con el universo de la ilustración literaria o a la puesta en circulación de discursos sociales e imágenes de contenido político “militante”. Frente a la toma de partido por la figuración, en la producción gráfica se dejaron de lado de forma casi excluyente las propuestas de la abstracción: en el caso argentino en particular –y en Latinoamérica en general- hasta bien entrados los años cincuenta no se produjeron grabados no figurativos. Tomando como punto de partida esta conjunción de las esferas formales y funcionales que le confirió al grabado algunos de estos rasgos constitutivos hasta la segunda posguerra, podemos formular aquí la siguiente hipótesis: esta “condición figurativa” lo apartó de uno de los grandes relatos que signó la producción artística del período, el modernismo. El canon modernista desplazó el interés en el enfoque representacional y narrativo centrando su reflexión, contrariamente, en la valorización de la progresiva innovación y autorreferencialidad formal, como así también en la autonomización de la representación, desentendida de las circunstancias sociales. Según este lineamiento, se pusieron en primer plano las producciones donde el interés en los medios de la representación conformaba el objeto de la representación en sí: los elementos del arte como tema para el arte, a través de la búsqueda del objeto “puro” y autorreferido. Es sabido que una de las posiciones más conocidas en este sentido fue la sostenida por Clement Greenberg -elaborada a lo largo de varias décadas y cristalizada en su “Modernist painting”- donde remarcaba la importancia de los límites del arte y enfatizaba los rasgos específicos del medio. Desde su énfasis en la autonomía de la plástica (y de forma más amplia, de la cultura), el objetivo de Greenberg era desvincular al “Gran arte” de la cotidianeidad de la vida moderna. Desde esta perspectiva, se sostiene aquí la interpretación de que algunas de las particularidades de la gráfica –figuración, narratividad, falta de unicidad– situaron al grabado como una de las producciones excluidas del canon del modernismo. Y si bien existen algunos ejemplos de grabados modernistas asociados a la producción de los “grandes nombres” del siglo XX que experimentaron con alguna de las técnicas del grabado -incluyendo a Pablo Picasso, Henri Matisse o Vassily 13 El destacado es mío. Las reflexiones de este artista uruguayo sobre la disciplina constituyen un punto de referencia fundamental no sólo para un análisis crítico sobre sus alcances y límites sino también por su propuesta programática de apertura experimental y conceptual. 200 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Kandinsky-14 cabe señalar que, desde el enfoque historiográfico o crítico, esa producción gráfica mantuvo un cariz diferencial o escindido del corpus “mayor” de los artistas: aparentemente, pinturas y estampas serían vistas como dos conjuntos cuya intersección se presenta de forma problemática o dificultosa, cuando no irresoluble. Es evidente que las preferencias de los críticos y teóricos del arte -a través de sus reflexiones, selecciones y consagraciones- apuntaron a celebrar “el gran orden de la Pintura”: el paradigma pictórico constituyó la orientación predominante dentro del campo artístico de la modernidad, y su normativización colocó en un lugar secundario a una cantidad significativa de prácticas y discursos que, contemporáneamente pero por fuera de este canon estético, produjeron sus propuestas. En efecto, el modernismo no implicó un bloque monolítico: siguiendo la argumentación de Martin Jay, “el formalismo modernista celebrado por críticos como Greenberg olvidó [...] que el campo visual era un terreno en disputa en el cual la forma pura siempre encontraba la perturbadora oposición de su otro” (2003, p. 289). Aunque el formalismo pictórico resultó la tendencia hegemónica, no se lo puede entender exclusivamente desde un relato lineal, sin tomar en cuenta sus pliegues y fisuras. Tal es la interpretación de Marshall Berman cuando alega que el modernismo “contiene sus propias contradicciones internas y su dialéctica; que algunas formas del pensamiento y la visión modernistas se puedan petrificar en ortodoxias dogmáticas y volverse arcaicas; que otras formas de modernismo pueden quedar sumergidas durante generaciones” (1988, p. 172). En este sentido, si es posible incluir al impulso antiformalista o amorfismo como una “tradición subalterna” en la historia del modernismo, ¿se podría pensar al mantenimiento de la narratividad en el grabado como otra tendencia contrapuesta que -desde y a partir de un eventual plano subordinado- señala un lugar problemático de las tensiones de la propia modernidad? Si por una parte se entiende que los grabadores se encerraron en la especificidad y “secretos” de sus prácticas técnicas desde un sentido gregario, también podemos pensar las causas por las que el canon modernista excluyó al grabado de su podio estético:15 una orientación que apuntaba a valorizar la progresiva autonomización de las formas y el discurso autorreferencial de la obra visual no podía tomar demasiado en cuenta una producción centrada en la representación narrativa. Así, si el modernismo sostenía una “apoteosis de la forma” (Jay, p. 275), el discurso de la gráfica presentaba una de sus posibles contracaras: el contenido, el tema, la referencia anecdótica, muchas veces política o social. 14 Al referir a sus grabados en madera incluidos en Klaenge (Munich, R. Piper et Cie., 1913), Kandinsky sostuvo que en sus xilografías “on retrouve les traces de mon développement du ‘figuratif’ à l’ ‘abstrait’ (‘concret’ d’après ma terminologie)». “Mes gravures sur bois”, XXe siècle, a. 1, n. 3, juilletaoût-septembre 1938, p. 31. 15 Los textos de Clement Greenberg o Michael Fried, por ejemplo, raramente tratan sobre cuestiones ajenas al campo pictórico o, en menor medida, escultórico. 201 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 4. Para mediados del siglo XX, en los escritos sobre gráfica, la referencia quasi forzosa a los casos de Goya o Daumier, artistas paradigmáticos dentro del desarrollo del discurso comprometido y de denuncia social, detenía en un punto decimonónico este recorrido obligatorio. Estos mismos referentes fueron retomados hace pocos años por Eva Cockroft para aludir a la condición del medio gráfico como “el único acercamiento apropiado para la expresión artística de temas sociales” en la posguerra: “A causa de la dominancia en la pintura y la escultura del abstraccionismo, la mayor parte del arte latinoamericano de conciencia social expuesto en los Estados Unidos durante los años cincuenta era de artistas gráficos y no de pintores. En la tradición de Goya y Daumier, quienes habían establecido la legitimidad de imágenes enojadas, mordaces y satíricas para criticar asuntos políticos y sociales, el comentario social era [más] aceptable en las artes gráficas que en la pintura” (Cockroft, 1988, p. 206). En su lectura, que señala una implícita escisión entre el arte “autónomo” y “de compromiso”, se plantea una división del trabajo artístico en el que el plano social –regresivo, en términos modernistascorrespondería a la esfera de producción del arte gráfico latinoamericano. Efectivamente, esta es otra de las líneas sostenidas respecto del grabado: la tradición de la vinculación entre gráfica y política. A partir del potencial efecto movilizador que se puede desprender de la circulación seriada o plural de discursos artísticos de cuestionamiento y oposición, la idea del grabado como arte comprometido o de denuncia social constituye otro topos a partir del cual se ha entendido el lugar o la función de esta producción. Las imágenes de algunos gráficos alemanes como Käthe Kollwitz, Max Beckmann, Otto Dix o George Grosz, del flamenco Frans Masereel, o de los mexicanos José Guadalupe Posada o los miembros del Taller de Gráfica Popular conforman parte del imaginario respecto del uso del grabado como vehículo para la difusión del discurso social o comprometido. Esta línea de gráfica social fue seguida en el campo artístico argentino por la temprana obra de los Artistas del Pueblo, agrupación conformada por José Arato, Adolfo Bellocq, Guillermo Facio Hebequer, Agustín Riganelli y Abraham R. Vigo que desplegó sus actividades principalmente a lo largo de las décadas de 1910-1920. Fue este paradigma gráfico el que resultó doblemente marginado -debido a su narratividad y a su contenido social explícito- por la mirada modernista. Pero si la disputa entre autorreferencialidad e ilustratividad apareció dominada por el primer término de la ecuación y el grabado quedó ubicado en una posición secundaria, podemos apuntar que los propios grabadores -situados conceptualmente más cerca de la corporación medieval que del régimen modernista- tampoco intentaron reivindicar su producción dentro de este terreno sino que construyeron un sistema de validación propio a partir, fundamentalmente, del virtuosismo en la realización técnica. En la conjunción grabado-narratividad también operó otra tradición que se ligaba a la historia de la disciplina: su vinculación con la ilustración literaria. Esta relación también le confirió al grabado otros rasgos particulares, por ejemplo, la generalizada condición del pequeño formato de las estampas debido al destino de 202 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE la imagen –libro o revista-, además de las limitaciones físicas de la platina de las prensas de impresión, o las dimensiones de las propias chapas-matrices. Otro rasgo característico en este sentido fue el predominio de la resolución monocromática: el blanco y negro constituyó la norma, y el uso del color la excepción a una regla implícita que circunscribía al grabado a este restringido binomio.16 La lectura ortodoxa remarcaba la significación del color como un elemento pictoricista tendiente a lo decorativo y extraño al mundo de lo gráfico. “El complemento de colores, no aportan sino un valor accesorio y convencional a los ya concretados en la plancha incisa, y que por otra parte, bajo el punto de vista ortodoxo de la técnica restan calidad y pureza al medio, invadiendo jurisdicciones que pertenecen a la pintura”, sostenía la lectura purista de Víctor Rebuffo en 1948.17 Imágenes realizadas a partir de contrastes de planos o netos trazos lineales sobre fondos neutros que redundaron en una accesible síntesis visual, los grabados eran obras artísticas “de calidad” pero con un reducido costo económico por el material básico (tinta y papel), posibilitaban efectuar ediciones amplias impresas velozmente y tener un fácil transporte por el soporte de papel. Históricamente, la circulación de xilografías, aguafuertes y litografías dialogaron con las producciones escritas instalando el arte visual en el universo de la cultura letrada a través de un discurso figurativo de lectura comprensible. Aunque no es pertinente detenerse aquí en aspectos relacionados con el inicio del grabado, cabe mencionar que su primer “auge” corresponde al origen de la imprenta y la difusión del libro impreso en Occidente. Desde el siglo XIX, especialmente en Francia, la producción del peintre-graveur se vinculó muchas veces a fines ilustrativos, y la frecuente asociación entre artistas y escritores mantuvo al género del libro ilustrado como una sub-rama específica del campo gráfico.18 En el caso del libro ilustrado, la diferenciación entre la inclusión de impresiones directas de grabados o su reproducción señala una demarcación cualitativa entre una producción restringida que se vincularía a la “alta cultura” –el libro de edición limitada, de costo más elevado, destinado a un público reducido y especializado-, y el libro con reproducciones que, aunque se trata de “obras de arte” realizadas ad hoc, se vincula a la industria editorial masiva. Situados en la disyuntiva entre “alta” y “baja” cultura, el grabado permanece así dentro de la primera esfera, validado doblemente por su condición de creación artística y en su inserción en un objeto tan connotado para la cultura erudita como representa el libro. La relación grabado-ilustración forma parte de una de las orientaciones más extendidas dentro de las posibilidades de la disciplina, con gran cantidad de publicaciones –libros, revistas y periódicos- que otorgaron a los grabados un protagonismo central como medio de ilustración de los contenidos literarios o narrativos. En el caso argentino, 16 Se puede consignar, por ejemplo, que la American Color Print Society fue fundada en Philadelphia en 1939 con el objetivo de conformar un salón (National Color Print Exhibition) que aceptara de forma abierta los color prints, generalmente rechazados por los ortodoxos jurados. 17 Víctor Rebuffo, “El grabado”, Buenos Aires, Ars, a. VII, n. 37, 1948, s/p. 18 Las vinculaciones entre grabado y texto escrito conforma uno de los ejes del tradicional texto de Ivins jr, (1975). 203 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 podemos recordar que un referente central en relación con los usos de la estampa y su inclusión en proyectos artístico-culturales comprometidos fue el caso de la Editorial Claridad, en cuyos libros se incluyeron grabados e ilustraciones de los Artistas del Pueblo. Asimismo, desde fines de los años treinta o principios de los cuarenta, el grabado “de ilustración” también tuvo un lugar destacado en algunas de las editoriales llevadas adelante por exiliados españoles en Argentina, donde la gráfica de Luis Seoane tuvo un rol central. También las revistas representaron una vía destacada para la circulación de imágenes gráficas; este soporte operó generalmente como medio de imbricación del rol de ilustración con la tradición del discurso gráfico-político. Por su resolución sintética y en blanco y negro, resultaban fácilmente editables, dando apoyo o anclaje visual a los planteos sostenidos desde los textos. A la vez, la inclusión en las publicaciones de la obra de los artistas grabadores posibilitó la circulación de imágenes en una mayor escala cuantitativa, potenciando su inherente multiplicidad. En revistas de la década del treinta, como Contra. La revista de los francotiradores, Nervio. Crítica. Artes. Letras o Metrópolis. De los que escriben para decir algo, se reprodujeron gran cantidad de obras gráficas que, anticipando algunas veces su aparición en los círculos más estrictamente “artísticos”, eran leídas como una contribución a la conformación de un imaginario político revolucionario. En esos momentos en los que las alianzas antifascistas cobraban gran impulso, los intercambios entre la obra de grabadores de distintos países contribuyeron a conformar una virtual trama simbólica de artistas. En Argentina, las imágenes de Víctor Rebuffo, Sergio Sergi o Pompeyo Audivert compartían el espacio de las publicaciones con obras de artistas europeos como Masereel, Kollwitz o Grosz, convertidos por los medios gráficos de izquierda en baluartes de la causa revolucionaria a través de sus manifiestos visuales. La circulación de imágenes gráficas de artistas europeos fue un fenómeno extendido durante el período: mientras que hacia fines de los años veinte también aparecen en la prensa uruguaya reproducciones de xilografías alemanas y nórdicas con connotaciones de crítica social (Peluffo Linari, 2003, pp. 17-19) estas obras también eran destacadas dentro de ciertos círculos de Brasil. En este sentido, es relevante recordar que el primer texto de Mário Pedrosa sobre artes plásticas refería a “las tendencias sociales del arte y Käthe Kollwitz” a partir de la influyente exposición de la grabadora en el Clube dos Artistas Modernos de São Paulo en 1933: si para el crítico, “a arte social hoje em dia não é, de fato, um passatempo delicioso: é uma arma”, la grabadora alemana representaba al paradigma del artista social: “o destino da arte de Käthe Kollwitz não está, pois, na propia arte. Está socialmente no proletariado. É uma arte partidária e tendenciosa. Mas que assombrosa universalização!”19 Por esos mismos años, la producción gráfica de la alemana Kollwitz circulaba en Buenos Aires paralelamente a su publicación en las revistas. Justamente a 19 Mário Pedrosa, “As Tendencias Sociais da Arte e Käthe Kollwitz”, O Homem Livre, n. 6-9, 2, 8, 17 y 14 de julho de 1933. Incluido en Arantes (1995, pp. 35-56). El texto publicado correspondía a la conferencia pronunciada por Pedrosa en ocasión de la muestra de la alemana. 204 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE raíz de una exposición de sus obras en la porteña galería Müller, en diciembre de 1933, el artista Demetrio Urruchúa sostenía que “esta notable grabadora ocupa, conjuntamente con Grosz y Masereel, un puesto de combate en la avanzada contemporánea del arte, con el espíritu y las fuerzas renovadoras de la causa revolucionaria”.20 Fueron particularmente sus imágenes basadas en una iconografía tradicional de la historia del arte –con temas como Madre e hijo- o sus representaciones de las luchas obreras que se enmarcaban en una línea de protesta y denuncia por las difíciles condiciones de los trabajadores, las que impactaron especialmente en la obra del “artista del pueblo” Guillermo Facio Hebequer. A la vez, si bien es indudable la vinculación del grabado “de ilustración” con el imaginario sociocultural asociado a los proyectos de las izquierdas, cabe señalar que éste no se circunscribió únicamente al mismo, sino que también fue un recurso para publicaciones culturales de distinto lineamiento ideológico. Baste recordar, en el contexto de los años veinte, el fuerte protagonismo de las xilografías y linóleos de Norah Borges en revistas como Prisma o Proa. Allí, la interdependencia entre los grabados de la artista con las poesías de su hermano Jorge Luis respondería al mismo tipo de alianza entre arte y literatura evidenciada en el caso de las revistas ultraístas españolas donde ambos habían participado (Artundo, 1988, p. 12). Este caso nos permite volver a poner en relieve las vinculaciones del grabado con la producción literaria, y a partir de esta relación, su circunscripción a los lineamientos discursivos de la figuración. Si la especial lectura de las vanguardias europeas en la obra gráfica de Norah Borges –con su mixtura de elementos cubistas, expresionistas y primitivistas- la vinculó a la escena de “lo nuevo” de los años veinte (Sarlo, 1988), su caso remarca, por otra parte, un aspecto de los límites del “deber ser” del grabado tal como se lo entendió de forma monolítica hasta mediados de siglo: aunque Norah proponía una renovación estética, se mantenía dentro de la resolución monocromática, figurativa y relacionada con el universo de la literatura. Vinculado con la disciplina desde sus orígenes, el grabado figurativo empleado como “arte de ilustración” se mantuvo a lo largo del siglo XX como una tradición con continuidad. A la vez, la noción del grabado en tanto “arte social” también conformó uno de los lineamientos más firmemente establecidos sobre la funcionalidad de la estampa múltiple. Estos lugares que actuaron como referentes para entender esta producción –lugares asignados al grabado, lugares asumidos por los grabadorescomplejizaron su posición dentro el mapa de una producción artístico-visual dominada por el discurso modernista. Pero a su vez, la producción del grabado se mantuvo vigente como una obra problemática que sigue posibilitando formular preguntas sobre su cualidad híbrida. 20 D.U.C. [Demetrio Urruchúa], “Artes Plásticas”, Nervio. Crítica. Artes. Letras, Buenos Aires, a. 3, n. 30, diciembre de 1933, p. 46. 205 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 Referencias bibliográficas: ARANTES, Otília (org.). Mário Pedrosa, Política da Artes. São Paulo: Edusp, 1995. ARTUNDO, Patricia. Norah Borges. Obra gráfica 1920-1930. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, 1994. BAUDRILLARD, Jean. El sistema de los objetos. México: Siglo XXI, 1995. [1º ed 1969]. BENJAMIN, Walter. Discursos interrumpidos. Barcelona: Planeta, 1994. _____. Libro de los Pasajes. Madrid: Akal, 2005. BERMAN, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. Madrid: Siglo XXI, 1988. BUCK-MORSS, Susan. Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes. Madrid: Visor, 1995. BURKE, Peter. Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica, 2001. CAMNITZER, Luis. Sin título. In: Luis Camnitzer, José Guillermo Castillo, Liliana Porter- New York Graphic Workshop. Caracas: Museo de Bellas Artes, 1969. _____. “Grabado. Una colonia de las artes plásticas”. Catálogo Studio Camnitzer. Buenos Aires: Museo Nacional del Grabado, 1997. COCKROFT, Eva. “Los Estados Unidos y el arte latinoamericano de compromiso social: 1920-1970”. In: AA.VV., El espíritu latinoamericano: arte y artistas en los Estados Unidos, 1920-1970. New York: Museo de Artes del Bronx- Harry N. Abrams, 1988. DIDI-HUBERMAN, Georges. Lo que vemos, lo que nos mira. Buenos Aires: Manantial, 1997. FREEDBERG, David. El poder de las imágenes. Madrid: Cátedra, 1992. FRIED, Michael. Arte y objetualidad. Ensayos y reseñas. Madrid: La balsa de la Medusa-Antonio Machado libros, 2004. IVINS JR, William M. (1975) Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica. Barcelona: Gustavo Gili, 1975. JAY, Martin. “El modernismo y el abandono de la forma”. In: Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crítica cultural. Buenos Aires, Paidós, 2003. KELLY, Mary. “Contribuciones a una re-visión de la crítica moderna”. In: Brian Wallis (ed.), Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid: Akal, 2001. MAINGUENEAU, Dominique. “L’énonciation philosophique comme institution discursive”. In : Langages, n. 119, 1995. O’BRIAN, John (ed.). Clement Greenberg, The Collected Essays and Criticism. 4 vol. Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 1995. PELUFFO LINARI, Gabriel. El grabado y la ilustración. Xilógrafos uruguayos entre 1920 y 1950. Montevideo: Museo Municipal de Bellas Artes Juan Manuel Blanes, 2003. PONGE, Francis. “Matière et mémoire”. In: L’atelier contemporain. Paris: Gallimard, 1977. 206 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE SARLO, Beatriz. Una modernidad periférica. Buenos Aires 1920 y 1930. Buenos Aires: Nueva Visión, 1988. VALERY, Paul. Piezas sobre arte. Madrid: Visor, 1999. WILLIAMS, Raymond. Sociología de la cultura. Barcelona: Paidós, 1994 [1° reimpresión]. Abstract: The present work reviews some of the canonic approaches on the status of engravings as artistic production, both from the aspect of its graphic technique and its resort to narrative or to figuration, often connected to the universe of literary illustration or even the circulation of social images and discourses of a “militant” political content. The hypothesis here advanced is that both the narrative and the multiplicity of the engravings have generated a problem in relation to the modernist cannon; one sustains that the figurative condition – of illustration and/or social — of the graphic paradigm has situated the engraving as one of the excluded products from the modernist narrative, once the seclusion of engravers into technical virtuosity as the parameter for evaluation implied in its self-exclusion. Key words: Engraving, technique, multiple work, figuration, modernist narrative. Recebido em 15/05/2009. Aprovado em 02/06/2009.‑ 207 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE 208 Junho de 2009 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Arte Concreto entre Argentina, Brasil y Suiza. Max Bill y sus conexiones latinoamericanas* ENSAIO María Amalia García** Resumen: Este trabajo estudia la actuación de Max Bill en el panorama del arte concreto argentino-brasileño estableciendo una reflexión crítica sobre la historiografía artística de posguerra. La hipótesis de trabajo plantea que para comprender la trayectoria artística de Bill es central atender a los sucesos y vinculaciones que tuvieron lugar en el panorama argentino-brasileño. Bill encontró entre los sudamericanos posibilidades de diálogo y acción que resultaban impensables para su situación en el ámbito europeo. Por otro lado, artistas y críticos hallaron en la producción de Bill un modelo sistemático para una serie de búsquedas ya instaladas en los circuitos locales. Palabras clave: Arte concreto, Argentina-Brasil. Estudiar la actuación de Max Bill en el panorama del arte concreto argentinobrasileño permite establecer una reflexión crítica sobre la historiografía artística de posguerra. Las historias generales del arte moderno concentran el estudio de la abstracción geométrica casi exclusivamente en las primeras décadas del siglo XX y por ende, las tendencias constructivas activas durante los 40 y 50 son en general excluidas. Estos recortes y omisiones son efecto de tensiones y reposicionamientos acontecidos en el panorama artístico internacional de posguerra en el cual el arte concreto suizo (representado por el grupo Allianz) tuvo escasa proyección en el circuito europeo en relación con la promoción de otras líneas. Sin embargo, si se tiene en cuenta el impulso que el concretismo encontró en el ámbito latinoamericano y la profusa interrelación que Bill sostuvo durante los 50 con los ámbitos paulista, carioca y porteño dicho recorte historiográfico exige revisiones. En este sentido y con relación a la producción de artistas concretos argentinos y brasileños se ha puntualizado constantemente la gravitación billiana pero sin abordar a fondo las causas y * Este trabajo es parte de mi tesis doctoral titulada “Abstracción entre Argentina y Brasil. Inscripción regional e interconexiones del arte concreto: 1944-1960” (FFyL-UBA), dirigida por Andrea Giunta a quien agradezco las posibilidades brindadas para desarrollar estas pesquisas tanto en Brasil como en Suiza. En relación con las investigaciones realizadas en Zürich, quiero agradecer a Jakob y Chantal Bill el haberme facilitado gentilmente el acceso al archivo de la Max, Binia + Jakob Bill Foundation y a Regina Vogel su valiosa colaboración. El viaje a Zürich fue realizado con una beca otorgada por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Una versión de este trabajo fue presentada en “Concretismo and Neoconcretismo: Fifty Years Later. A two-day International Colloquium”, Museum of Fine Arts, Houston, 13-14 de septiembre de 2007. ** Doctora en Artes, Facultad de Filosofía y Letras, UBA- CONICET. 209 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 móviles de estas interrelaciones. A su vez, los estudios existentes sobre Bill minimizan su intervención en el campo latinoamericano. Este trabajo plantea que para comprender la trayectoria artística de Bill es central atender a los sucesos y vinculaciones que tuvieron lugar en el panorama argentinobrasileño. Para esto, considero clave establecer como centro de este recorte los sucesos ocurridos en la ciudad de São Paulo en 1951, ya que constituyen un punto álgido para la inscripción del arte concreto en el panorama regional. Ese año Bill no sólo ganaba el gran premio en escultura de la I Bienal de São Paulo sino que en marzo había realizado su primera exposición retrospectiva en el Museu de Arte de São Paulo, el MASP. En Buenos Aires el “desembarco” billiano era más modesto: también en 1951 aparecía la revista nueva visión, dirigida por Tomás Maldonado, que en su primer número brindaba un tributo al artista suizo. Mi hipótesis de trabajo plantea que las relaciones entre Bill y algunos artistas, críticos y gestores argentinos y brasileños generaron momentos de interlocución y espacios de intervención. Por un lado, Bill encontró entre los sudamericanos posibilidades de diálogo y acción que resultaban impensables para su situación en el ámbito europeo. Por otro lado, artistas y críticos hallaron en la producción de Bill un modelo sistemático para una serie de búsquedas ya instaladas en los circuitos locales. A continuación, referiré en primera instancia, a la ubicación del arte concreto suizo en el panorama del arte europeo. En segunda instancia, abordaré los sucesos de 1951 concentrándome en los vínculos e interacciones que involucraron a esta comunidad concretista. Comencemos, entonces, analizando el panorama internacional. A diferencia de lo ocurrido en la entreguerra, en el París posterior a la ocupación no podían escucharse las promesas de una racionalidad constructiva. El panorama artístico parisino de posguerra se caracterizó por un conflicto estético total entre el establishment francés, que sostenía una línea nacionalista defensora de la École de Paris, la adhesión al realismo social por parte del Partido Comunista y la provocación del art autre (GUILBAUT, 1995; 1990). Desde la lectura de los críticos e historiadores galos, la abstracción se consideraba ajena a la tradición francesa, entendida como universalista y caracterizada en el equilibrio entre la mirada a lo real, la propuesta de color fauvista y el planteo espacial cubista (CEYSSON, 1987; 1986.) En esta búsqueda de identificación nacionalista, la abstracción fue leída como una manifestación de la plástica germánica, interpretación que la volvía excesivamente reactiva. Sin embargo, la abstracción froide -en términos franceses- luchó en París su espacio de acción desde los Salones Réalités Nouvelles, la revista Art d´aujourd´hui y la galería Denise René. (D´ORGEVAL, 2001,). Si bien Bill participó de estos espacios lo hizo de un modo muy limitado. Obtuvo el premio Kandinsky en 1948 organizado por la galería Denise René y también ese año en la misma galería integró la exposición Tendencias del arte abstracto junto con un grupo de artistas 210 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE residentes en Francia: Vasarely, Herbin, Dewasne, Poliakoff y Magnelli, entre otros. Además, junto a esta línea de artistas franceses, participó en 1948 en la segunda edición del salón Réalités Nouvelles, donde también estaba presente la avanzada invencionista argentina. Con la revista Art d´aujourd´hui la situación era aún peor; no hay referencias sobre los artistas concretos suizos, por lo que resulta evidente que Léon Degand y André Bloc los ignoraban. En este sentido, tampoco las opiniones de Bill sobre Degand eran favorables. Por carta, Bill compartía sus impresiones con Tomás Maldonado, su aliado en la Argentina: “Leí en diarios franceses que Léon Degand ha realizado conferencias en Buenos Aires y también recibí la noticia de que ya no es el director del museu de arte moderna en São Paulo. El siempre ha sido ignorante y bastante idiota. Ya no hay esperanzas de que eso cambie.” 1 Evidentemente la abstracción que circulaba en los espacios franceses no tenía mucho que ver con la propuesta concreta; los suizos veían estos espacios parisinos como excesivamente eclécticos en relación con su proyecto. De hecho, las obras de los froids franceses eran, de algún modo, más enfáticas en defensa de la sensibilidad individual del artista, mientras Bill planteaba su investigación de un modo más sistemático apoyándose en el pensamiento científico. Durante la guerra desde la Suiza neutral, Bill junto a otros artistas activaron espacios para la promoción del arte moderno. La tendencia constructiva había encontrado resguardo entre los artistas helvéticos. Tanto la exposición Problemas actuales de la pintura y escultura en Suiza realizada en 1936 en la Kunsthaus de Zürich así como la formación del grupo Allianz bajo la acción de Leo Leuppi y Max Bill tenían como objeto promocionar el arte moderno en Suiza (LEMOINE, 2003). Allianz planteaba precisamente la necesidad de una “alianza” entre los artistas para conseguir una mayor representatividad ante las autoridades de manera de romper el aislamiento, un tanto conservador y provinciano, del ambiente suizo (KOELLA, 2003). Reunir y promover el arte de los artistas modernos suizos, ya fueran abstractos o surrealistas, fue el propósito inicial de Allianz aunque posteriormente se transformó en la agrupación de los concretos de Zürich: Bill, Richard Lohse, Camille Graeser y Verena Loewensberg. En este contexto de marginación y búsqueda de posibilidades por fuera de los Alpes, entre 1948 y 1949, comenzaron a gestarse los contactos y las acciones que involucraron el “desembarco” sudamericano en 1951. A Bill se le trastocaban las coordenadas al contrastar el interés que suscitaban sus propuestas en Sudamérica. En Zürich, en junio de 1948 conoció a Maldonado, en quien encontró un inteligente interlocutor y activo promotor. A comienzos de 1949, entró en contacto con el crítico Jorge Romero Brest, que a través de su revista Ver y Estimar se enrolaba en la batalla por la abstracción. A partir de estos vínculos, sus textos y las reproducciones de sus obras circulaban profusamente en publicaciones porteñas. A mediados de 1949, Pietro Maria Bardi a cargo de la dirección del MASP le ofrecía realizar la 1 Bill, Max. Carta a Tomás Maldonado, Zürich, 6/9/1949, Archivo Max, Binia + Jakob Bill Foundation. 211 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 primera exposición retrospectiva de su obra en este museo. Analicemos la exposición en el MASP. Bardi y Bill se habían conocido en el 1er Congreso de la Reconstrucción en Milán en 1945, poco antes que Bardi se involucrara en el proyecto de Chateaubriand y se radicara en São Paulo. La propuesta de exposición estaba en línea con las innovaciones que, tanto a nivel de criterio expositivo como de diseño museográfico, desarrollaba el MASP. Si bien las gestiones comenzaron en 1949, la correspondencia da cuenta de dificultades con los seguros y los traslados y con las negociaciones con otras instituciones sudamericanas que coproducirían la exposición. En la prensa paulista desde 1949 se venía anunciando la realización “en breve” de la exposición de Bill.2 Pero por lo que se desprende de la correspondencia, la exposición fue fijada y luego pospuesta en varias oportunidades. Finalmente fue inaugurada el 1 de marzo de 1951, junto con la apertura del Instituto de Arte Contemporânea. 3 Esta exposición presentaba las variadas facetas de este creador: pinturas, esculturas, obra gráfica, afiches, maquetas y fotos de arquitecturas y diseños industriales exploraban un amplio panorama de intereses. Es preciso pensar no sólo en el impacto visual del conjunto de las obras sino también en el diseño expositivo: si bien Bill no estuvo presente para el montaje -y del cual participó Alexandre Wollner- están bien documentadas sus instrucciones. Bill ya había demostrado ser un gran diseñador de espacios de exhibición. Esta muestra tuvo un impacto poderoso entre grupos de artistas y críticos en el ámbito regional, efecto que contrasta con la escasa repercusión que encontró entre los medios locales. Aparecieron algunos breves anuncios en el Diário de São Paulo y en Folha da Manhã; desde Río de Janeiro, Geraldo Ferraz fue el único crítico que dedicó una análisis minucioso sobre las obras destacando también el silencio del medio.4 De todas formas, fue la revista Hábitat la tribuna desde la cual el matrimonio Bo-Bardi sostuvo la exposición. A falta de catálogo, en el número 2 de Hábitat, aparecido contemporáneamente, se publicaban fotografías de obras y el texto “Beleza provinda de função e beleza como função”, en el cual Bill planteaba los ejes de su proyecto (BILL, 1951). 2 “No museu de arte a obra completa de Max Bill”, Diário de São Paulo, São Paulo, (Agosto 21, 1949); “No museu de arte. Exposição sobre Max Bill”, Diário da noite, São Paulo, (Abril 5, 1950); “No museu de arte. Livro e exposição sobre Max Bill”, Diário de São Paulo, São Paulo, (Abril 5, 1950). Archivo Museu de Arte, São Paulo. 3 “O Museu de Arte de São Paulo convida V. S. para visitar a EXPOSIÇÃO DE OBRAS DE MAX BILL que se abrirá o dia 1 de março às 15 horas na ocasião da inauguração dos cursos do INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORÂNEA”. Tarjeta de invitación, Archivo Museu de Arte, São Paulo. Además de la tarjeta de invitación véase “Museu de Arte. Inauguração da exposição de Max Bill”, Diário de São Paulo, São Paulo, (Marzo 1, 1951): p. 8; “Está aberta no Museu de Arte a exposição dedicada a Max Bill”, Diário de São Paulo, São Paulo, (Marzo 3, 1951): p. 7; “Duas grandes exposições no Museu de Arte”, Folha da manhã, São Paulo, (Abril 3, 1951): p. 8; Véase además “Constatations concernant la participation de Max Bill à la I Bienal de São Paulo”, Archivo Museu de Arte, São Paulo. 4 “Museu de Arte”, Diário de São Paulo, São Paulo, (Marzo 1, 1951): p. 8; “Duas grandes exposições no Museu de Arte”, Folha da manhã, São Paulo, (Abril 15, 1951): p. 8. Ferraz, Geraldo. “Uma página anterior (Max Bill, Pintor, Escultor e Arquiteto no Museu de Arte)”, O Jornal, Rio de Janeiro, (Mayo 23, 1951). Reproducido en Geraldo Ferraz, Retrospectiva. Figuras, raízes e problemas da arte contemporânea, São Paulo: Cultrix-EDUSP, 1975, pp. 174-177. 212 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE La propuesta de Bill estaba desplegada. A partir de la recuperación de la herencia abstracto-constructiva, Bill había formulado un método para la creación e interpretación de los acontecimientos visuales. La serie organiza la propuesta compositiva tanto en la definición de un conjunto (el caso de las 15 variaciones sobre un mismo tema) como en el arreglo de la superficie. El pensamiento plástico-matemático que proponía Bill no aludía a la frialdad numérica sino que refería a la capacidad humana de organizar un mundo de relaciones. La matemática aportaba la operación progresiva que otorgaba a un suceso plástico la posibilidad de repeticiones regulables Sin embargo, la sistematización propuesta por el arte concreto implicaba modos constructivos plurales que no limitaban la coherencia organizativa a la activación de un mecanismo o procedimiento específico (BILL, 1951). La coherencia del planteo se definía en la relación simultánea entre las variables del trinomio forma, función y belleza. La forma en tanto belleza entendida como función proponía un modo abierto para reflexionar sobre un amplio horizonte objetual. El aspecto material era para Bill una configuración articuladora entre la función del objeto visual y su belleza. En suma, su planteo podía sintetizarse en una unidad tripartita entre forma, función, belleza (VON MOOS, 2004; FREI, 2004; CRISPIANI, 2004, 2001). Las indagaciones de Bill coincidían con las búsquedas desarrolladas por varios artistas argentinos y brasileños. Cordeiro, De Barros, Sacilotto, Hlito, Prati, Iommi y Maldonado ya venían trabajando en función de definir y anclar sus búsquedas dentro del amplio abanico de la abstracción. Estos artistas ya habían planteado el cambio cualitativo que implicaba romper con los sistemas representativos y orientarse hacia un trabajo específicamente plástico. Estas indagaciones, en los comienzos construidas a partir de genealogías heterogéneas del arte moderno, abrevaban en las propuestas del arte concreto. Maldonado, que canalizaba la militancia por la causa universal del arte concreto, daba cuenta de esta coincidencia de intereses en el ámbito regional. A su regreso de Europa, le contaba por carta a Bill: “Me he reintegrado aquí con más fuerza que nunca en mi lucha por el concretismo. Repito lo que le decía en Zürich: la existencia del arte concreto en América del Sur revela una cosa extraordinariamente importante y de la que se puede esperar mucho. Es evidente que el arte concreto se desarrolla, es decir, que sus posibilidades de permanencia están aseguradas”. 5 Estas apreciaciones de Maldonado, sin dudas se confirmaban con el premio de la Bienal a Unidad tripartita. Jorge Romero Brest se jactó de haber sido él quien diera la gran batalla para premiar a esta obra dentro del jurado.6 El gran premio en pintura a Enamorados en el Café de Roger Chastel estaba en 5 Maldonado, Tomás. Carta a Max Bill, Buenos Aires, 10/1/1949; Archivo Max, Binia + Jakob Bill Foundation. 6 Romero Brest, Jorge. “Arte concreto en Brasil y Argentina”, documento mecanografiado, caja 3 sobre 2 documento w, Archivo JRB, FFyL-UBA. 213 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 las antípodas del proyecto concretista. Estas premiaciones, por ende, daban cuenta de las divergencias entre el jurado. Bill reconocía allí la importante ingerencia del panorama hostil de la crítica francesa, encabezada por Jacques Lassaigne, como parte del jurado. Respondiendo a Romero Brest, Bill señalaba: “puedo imaginarme muy bien la gran lucha a favor de obras modernas en são paulo. cuando se constata por un lado esta lucha “a favor”, se ve también la otra tendencia que he llamado “el espíritu de los marchands parisinos de cuadros”. 7 Ahora esta legitimación institucional del arte concreto que se operó en el Brasil, tendría, por supuesto, consecuencias políticas. La Bienal paulista ponía en funcionamiento una compleja maquinaria de gestión cultural rediseñando una nueva geografía para el mundo de las artes. Era un evento que representaba al Brasil definiendo su hegemonía cultural, política y económica en el ámbito regional (HERKENHOFF, 2001-2002 pp.118-121; ALVES OLIVEIRA, 2001). En esta primera edición la Argentina no participó. Problemas institucionales, tanto públicos como privados, en una compleja trama política que enmarcaba los vínculos entre ambos países a principios de los 50, no permitieron una representación argentina. A la burocracia peronista, ajena a los nuevos códigos estéticos que imponía el orden de posguerra, no le pareció importante participar en una Bienal brasileña de arte moderno (GIUNTA, 2001; GARCÍA, 2004) En este sentido, es preciso resaltar la radical diferencia entre esta ausencia de una representación oficial argentina y la participación de Romero Brest en el jurado a favor de la apuesta concretista. Para la avanzada moderna porteña lo que ocurría en Brasil era asombroso y contrastaba rotundamente con el panorama local. Las posibilidades de intercambio con la escena brasileña resultaban para los argentinos sumamente atractivas. De la misma forma que para Bill, Brasil también se constituía en el imaginario de los “argentinos” en el lugar de referencia para llevar a cabo un programa moderno en Latinoamérica. El contraste entre ambos panoramas era evidente. Esta red internacional de arte concreto estaba tensada por coyunturas nacionales: mientras en Brasil las propuestas concretistas ganaban en extensión y en posibilidades de ejecución, los argentinos acompañaban este proceso a través de las revistas. Precisamente de esto daba cuenta la aparición en diciembre de 1951 de Nueva Visión, la revista de Tomás Maldonado. El primer número presentó un estado de la cuestión sobre los problemas y las posibilidades del arte concreto. Definió su búsqueda en la clave de “cultura visual” difundiendo proyectos de arte, arquitectura, diseño y urbanismo moderno. Su programa apuntaba a la síntesis de las artes visuales en un sentido de objetividad y funcionalidad. En Nueva Visión, el propósito fundamental lo constituyó la posibilidad de dotar a la vida urbana y al hombre moderno de un entorno con formas más sanas y eficientes para la realización individual y colectiva. La revista delineó en sus páginas manifestaciones 7 Bill, Max. Carta a Jorge Romero Brest, Zürich, 1/4/1952. Caja 22, sobre 2, documento 358. Archivo JRB, FFyL-UBA. 214 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE de esta belleza objetiva (GARCÍA, 2002, pp.171-191) Evidentemente, Nueva visión se proponía como un tributo las propuestas de Bill y sus conexiones. Ya desde la tapa aparecía, junto a Henry Van de Velde y Alvar Aalto, como el pionero de las síntesis de las artes visuales. Además se publicaba un artículo del arquitecto italiano Ernesto Rogers sobre su obra plástica (ROGERS, 1951, pp. 11-12) Las intervenciones de este artista suizo en el circuito artístico brasileño cobraban en las páginas de Nueva Visión un espacio destacado. Se informaba sobre la exposición de Bill en el MASP y sobre el premio en la Bienal. También, se presentaba un artículo de Pietro Maria Bardi sobre los cursos del Instituto de Arte Contemporânea y se publicaba la “vitrina de las formas” en la cual Bardi ubicaba al diseño industrial en una línea histórica de artefactos culturales. Además, mientras en la contratapa se anotaba la formación de agrupaciones de jóvenes artistas concretos en San Pablo y Río de Janeiro, en la tapa, se reproducía en pequeño formato una fotoforma de Geraldo de Barros. A su vez, la revista refería a los cursos de arte moderno organizados por Hans Koellreuter en Teresopolis. A comienzos de 1951, Maldonado había viajado al Brasil para participar en estos encuentros, y en esta oportunidad se relacionó, todavía junto a Lidy Prati, con los actores centrales del concretismo brasileño. Evidentemente este primer número de Nueva Visión plasmó la alineación de este panorama regional en torno al arte concreto. El año 1951 marca un momento clave de articulación del concretismo y de las formas de intercambio entre la Argentina y Brasil. BIBLIOGRAFÍA ALVES OLIVEIRA, Rita. “Bienal de São Paulo. Impacto na cultura brasileira”. In: São Paulo Perspec., nº 3, São Paulo, 2001. AMARAL, Aracy. Arte para quê? A preocupação social na arte brasileira 19301970. São Paulo: Nobel, 2003. AMARAL, Aracy (cur.). Mavignier 75. São Paulo: MAM, 2000. AMARAL, Aracy (ed.). Arte construtiva no Brasil: Coleção Adolpho Leirner. São Paulo: Companhia Melhoramentos- DBA, 1998. AMARAL, Aracy (coord.). Projeto Construtivo Brasileiro na Arte: 1950-1962. São Paulo: Funarte, 1977. BANDEIRA, João (ed.). Arte concreta paulista. Documentos. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. BILL, Max. “Beleza provinda de função e beleza como função”. In: Hábitat, nº 2, São Paulo, 1951, pp.61-65. CEYSSON, Bernard. “A propos des années cinquante: tradition et modernité”. In : 25 ans d´art en France: 1960-1985, Paris, Larousse, 1986, pp. 9-62. CEYSSON, Bernard. “L´histoire et la mémorie: tradition et modernité”. In : L´art en Europe: les annés décisives 1945-1953, París, Skira, 1987, pp. 36-47. CRISPIANI, Alejandro. “Entre dos mundos: el largo viaje de la Buena Forma”. In: 215 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE Junho de 2009 Block, nº 6, Buenos Aires, 2004, pp. 40-49. CRISPIANI, Alejandro. “Un mundo continuo”. In : Arq, nº 49, Santiago de Chile, diciembre 2001, pp. 57-59. D´ORGEVAL, Domitille. “Le Salon des Réalités Nouvelles: pour et contre l´art concret”. In : Serge Lemoine (cur.), Art Concret, Mouans-Sartoux: Espace de l´art concret, 2000, pp. 24-39. FREI, Hans. “La transversal de Max Bill”. In : 2G, nº 29-30, Barcelona, junio de 2004, pp. 20-29. GARCÍA, María Amalia. “La ilusión concreta: un recorrido a través de Nueva Visión. Revista de cultura visual 1951-1957”. In: Patricia M. Artundo y María Inés Saavedra (dir.), Leer las artes. Las artes plásticas en ocho revistas culturales argentinas (1878-1951), Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, FFyL-UBA, serie monográfica nº 6, 2002, pp. 171-191. GARCÍA, María Amalia. “La construcción del arte abstracto. Impactos e interconexiones entre el internacionalismo cultural paulista y la escena artística argentina 1949-1953”. In: Arte argentino y latinoamericano del siglo XX: sus interrelaciones. VII Premio Fundación Telefónica a la investigación en la historia de las artes plásticas. Buenos Aires: Fondo para la investigación del arte argentino (FIAAR) - Fundación Espigas, 2004, pp. 17-54. GIUNTA, Andrea. Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los sesenta. Buenos Aires: Paidós, 2001. GUILBAUT, Serge. De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno. México: Mondadori, 1990. GUILBAUT, Serge. Sobre la desaparición de ciertas obras de arte. México: Curare, 1995. HERKENHOFF, Paulo. “A Bienal de São Paulo e seus compromissos culturais e políticos”, In: Revista USP, nº 52, São Paulo, 2001-2002, pp. 118-121. KOELLA, Rudolf. “El grupo de artistas Allianz y los Concretos de Zurich”. In: Suiza Constructiva, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2003, pp. 54-57. LEMOINE, Serge. “El gran salto adelante”. In: Suiza Constructiva, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2003, pp. 37-53. ROGERS, Ernesto. “Unidad de Max Bill”. In: Nueva Visión, nº 1, Buenos Aires, 1951, p. 11-12. VON MOOS, Stanislaus. “Max Bill. A la búsqueda de la cabaña primitiva”. In: 2G, nº 29-30, Barcelona, 2004, pp. 6-19. Abstract: This essay studies Max Bill’s performance in the scene of the ArgentineanBrazilian Concretism, presenting a critical reflection on the postwar artistic historiography. The working hypothesis claims that for one to understand Bill’s artistic trajectory it is essential to turn to the events and relations that 216 Volume 4 ◦ Número 1 CRÍTICA CULTURAL CULTURAL CRITIQUE took place in the Argentinean-Brazilian scene. Bill found among the LatinAmericans possibilities of dialogue and action, which resulted unthinkable for his situation in the European scenery. On the other hand, artists and critics found in Bill’s production a systematic model for a series of searches already installed in the local circuits. Keywords: Concretism, Argentine-Brazil. Recebido em 15/05/2009. Aprovado em 30/05/2009. 217
Download