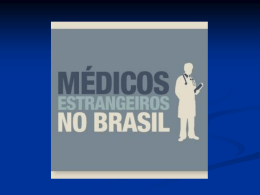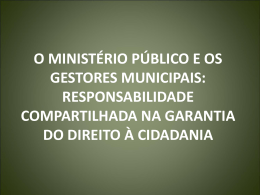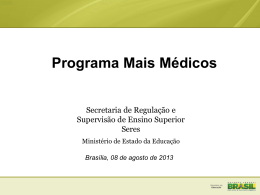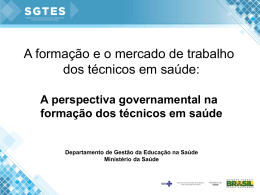1 FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE: QUAL O PAPEL DA UNIVERSIDADE? Andréia Mendes dos Santos Vanessa L. S. Azevedo * ** Resumo: Este artigo tem como objetivo refletir teoricamente sobre a formação profissional em saúde e a eminente necessidade da abordagem da saúde pública, nos currículos das Instituições de Ensino Superior (IES). Contextualiza que, desde a implantação do SUS, a saúde no Brasil, é considerada como um direito social, de acesso universal e de responsabilidade do Estado. O SUS ampara-se no conceito ampliado de saúde e se inscreve na Legislação para ser o sistema de saúde de todos os cidadãos brasileiros. Desta forma, urge a necessidade da reformulação da formação em saúde nas Universidades, contemplando os preceitos da política de saúde, para que, mesmo quando os profissionais não estiverem inseridos na rede pública, esteja em convergência às orientações de atenção a saúde. Atualmente o que se percebe é o investimento das Universidades em Programas subsidiados em parcerias entre o Ministério da Saúde e Educação, porém não há significativa mudança nos currículos regulares dos cursos de graduação. Considera-se que, para além desta participação, os discentes universitários das variadas áreas das ciências da saúde necessitam, para uma formação diferenciada, experiências e práticas de estágios, de vivencia nas comunidades e de pesquisa para que possam atingir o conhecimento adequado sobre a saúde pública brasileira. Palavras-chave: formação profissional em saúde, saúde pública, educação universitária. 1. INTRODUÇÃO Nos anos 80, a sociedade brasileira viveu um processo de redemocratização do Estado, tendo como principal marco a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), que contemplou a saúde como um direito social, de acesso universal, e de responsabilidade do Estado. Em 25 anos da CF/88 muitos avanços foram realizados na política de saúde, entretanto, há ainda muito a ser feito para consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre esses desafios, está a formação profissional em saúde, como vistas a diminuir o descompasso do que é aprendido e do que é vivenciado no atendimento a população brasileira. Em tempos de aumento da rede de saúde público-privada em detrimento do público-estatal é necessário que o profissional da saúde conheça o Sistema Público de Saúde de modo a compreender que a Lei Orgânica da Saúde (LOS) norteia e normatiza os serviços públicos e privados de saúde. Nesta perspectiva, este artigo tem como objetivo refletir teoricamente sobre a formação profissional em saúde e a eminente necessidade da abordagem da saúde * Psicóloga, Professora Colaboradora do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. Mestre e Doutora em Serviço Social. Em estágio de Pós-Doutorado PNPD/CAPES. ** Assistente Social, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 2 pública, nos currículos das Instituições de Ensino Superior (IES), pois mesmo o acadêmico que pretende trabalhar na iniciativa privada precisa conhecer e apreender sobre a dimensão do conceito ampliado de saúde preconizado pela política brasileira, no caso, norteadora do SUS. Para isso organizou - se o artigo em dois itens. No primeiro item “a Política de saúde brasileira e suas implicações na saúde privada” realiza-se uma reflexão sobre a regulamentação e implantação do SUS e como a iniciativa privada está inserida e normatizada nesta política. No item “a formação profissional em saúde em debate”, é abordado sobre o perfil do profissional da saúde e a formação necessária para um atendimento integral em saúde. Discorre-se também sobre a responsabilidade das Universidades na consolidação do SUS através dos currículos desenvolvidos. Nas considerações finais destaca-se a necessidade de prática em saúde e de produções acadêmicas que problematizem e preconizem a formação em saúde de modo a impulsionar as Universidades a promoverem as mudanças necessárias de modo a alinhar os currículos as demandas da saúde pública brasileira. 2. A POLÍTICA DE SAÚDE BRASILEIRA E SUAS IMPLICAÇÕES NA SAÚDE PRIVADA Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio-ambiente, trabalho, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. (BRASIL/8ª CNS, 1986, p.04). A 8ª Conferência Nacional de Saúde é considerada um marco na saúde brasileira, pois é através dela que no Brasil, passa-se a conceituar a saúde para além do sinônimo de doença. Sua compreensão está atrelada a própria concepção de sociedade e democracia como refere o sanitarista Sérgio Arouca na abertura da 8ª Conferência Nacional de Saúde (AROUCA, 1986). Em 1988 foi promulgada a nova Constituição Federal, marco simbólico e efetivo da demarcação do novo papel do Estado na sociedade brasileira. O Estado passa a ter um papel interventor, tendo uma nova forma de organizar e gestar o sistema de seguridade social (COUTO, 2004). No título VIII (Da Ordem Social), capítulo I (Disposições Gerais), Capítulo II (Da Seguridade Social), em seu artigo 194, a CF/88 estabelece que seguridade social, “compreende um conjunto integrado 3 de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”, configurando o tripé da seguridade social (saúde, previdência social e assistência social). O direito a saúde se materializa na Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu artigo 196, onde saúde é reconhecida como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No Brasil, o setor saúde passou a ser gerido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) regulamento pela Lei Orgânica da Saúde (LOS), que compreende as Leis n.8.080/1990 e 8.142/1990, que “dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências” (BRASIL, 1990). Cabe salientar que o SUS ampara-se em um conceito ampliado de saúde, e se inscreve na Legislação para ser o sistema de saúde de todos os cidadãos brasileiros. O SUS passa a ser compreendido com um “conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público” (BRASIL, 1990, art. 4). Ressalta-se que no parágrafo 2º do mesmo artigo “a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde-SUS, em caráter complementar” (BRASIL, 1990, art. 4). No que tange a participação complementar o art. 24 da LOS refere que quando a disponibilidade dos serviços for insuficiente “para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde-SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada” (BRASIL, 1990). Deste modo o Estado acaba recorrendo à iniciativa privada para suprir as demandas dos serviços de saúde ao invés de construir uma rede de saúde que atenda toda a população. Entre avanços e retrocessos, desde então, têm sido construídas na política de saúde uma série de propostas com vistas à efetivação das demandas que geraram o movimento pela Reforma Sanitária, acrescidas de outras necessidades que foram surgindo, como produto do estágio de desenvolvimento da relação contraditória 4 capital x trabalho e do reordenamento do papel do Estado e da sociedade civil. Reflexos dessa disputa entre o Projeto Privatista e o Projeto da Reforma Sanitária e do reordenamento do Estado nas políticas públicas é o “fatiamento” da Atenção Básica da cidade de Porto Alegre, gerenciada em sua maioria por hospitais privados, que recebem verba dos governos municipal, estadual e federal. [...] uma das estratégias presentes na “nova” gestão da força de trabalho é incorporar o processo de precarização como inevitável, a mercantilização como fato inexorável e a subordinação do público ao privado como iniciativas complementares e parte constitutiva das novas experiências de gestão (MOTA, 2010, p.43) Processos que podem se reproduzir tanto no âmbito da gestão e da organização do trabalho, quanto da atenção em saúde, repercutindo direta e indiretamente no processo de trabalho profissional e multiprofissional e no modelo de atenção orientador das ações e serviços. Repercutindo não somente na ausência ou insuficiência de acesso às condições necessárias para a efetivação do direito à saúde, por parte da população, como também, uma forte precarização do trabalho vivenciada pelos próprios trabalhadores no exercício de sua função nos diversos níveis de atenção no SUS. De modo a imprimir novas características aos processos de trabalho das diferentes áreas da saúde, exigindo conhecimentos especifico de sua profissão como também da Política de Saúde Brasileira. 3. A FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE EM DEBATE Com as novas configurações do trabalho em saúde, o profissional precisa estar atento a uma série de fatores, conjuntamente ao atendimento ao usuário, entre elas, por exemplo, ter que atingir um número determinado de atendimento ao mês. O que torna eminente refletir sobre a formação profissional em saúde, pois como refere Marx (2010, p. 109), “[...] o olho humano frui de forma diversa da que o olho rude, não humano [frui]; o ouvido humano diferentemente da ouvido rude etc.”. É necessário que a formação profissional em saúde contribua para desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes que possibilitem aos estudantes transformar o olho rude em olho humano. Uma formação que possibilite essa mudança propicia que o acadêmico realiza a síntese do processo teórico-prático apreendido de modo reelaborar 5 cotidianamente o compromisso com o cuidado em saúde, uma responsabilidade para além do espaço acadêmico, uma responsabilidade com a comunidade na qual está inserido. Ao compreender a concepção de saúde enquanto direito da população, o estudante “reflete criticamente sobre essa prática a partir da unidade teórica que a constitui” (FAUSTINI, 2004. p. 94), o resultado é a formação de profissionais/humanos críticos e atuantes não somente no âmbito da saúde, mas em toda sociedade. Enquanto que uma formação restrita ao paradigma denominado biomédico e/ou clinica é “sentido constrangido à carência prática rude também tem apenas um sentido tacanho” (MARX, 2010, p. 110). O sentido é “tacanho”, pois este tipo de formação não potencializa uma prática em saúde em consonância como o conceito ampliado de saúde e os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), centrado em práticas individuais (CAMPOS, 2006, p. 55). Mudanças têm sido realizadas ao longo dos anos na formação em saúde em saúde, principalmente após a extinção dos currículos mínimos, em 1996, é possível vislumbrar a relação entre Saúde e Educação Superior, de modo a garantir a relação contínua e indissociável entre a formação e o Sistema Único de Saúde (SUS). Apesar de cada área ter suas próprias diretrizes curriculares, há um eixo que permeia todas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s), que é o atendimento às necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS, assegurando a integralidade da atenção, a qualidade e a humanização do atendimento, de modo que ofereça uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. [...], sobretudo, a importância de um profissional que atue com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano (CREUTZBERG; LOPES; DOCKHORN, 2011, p. 39). O avanço na criação de estratégias para assegurar a qualidade e adequação das práticas desse trabalhador e reconhecendo que essas práticas são produtos do processo formação. Nestes últimos anos, há um investimento importante do governo federal na criação de residências multiprofissionais e programas de ensino em serviço, os quais incidem suas ações na formação dos recursos humanos. O governo federal busca então, parceria com as Instituições de Ensino Superior (IES), as quais têm como objeto de sua existência a formação desse profissional, que deve estar em consonância com a realidade histórica, o que nem sempre tem se evidenciado. 6 Entretanto no que tange aos currículos das instituições de ensino superior, os avanços não podem ser considerados significativos, pois ainda em sua maioria perduram disciplinas que beneficiam a doença e não a atendimento integral em saúde. Os atuais currículos possuem pouca ou nenhuma disciplina sobre o SUS, alguns o tema é tratado como saúde coletiva e não propriamente a política de saúde com sua organização e princípios. “No contexto da formação superior, o currículo se configura como uma experiência recriada, por meio de competências, habilidades e valores, que visam à sustentação da interação entre teoria e prática” (SILVA et al, 2009, p.36 – 37). O currículo não é uma transmissão desinteressada de conhecimento, compreendem em transmissão e produção de identidades, atrelada as relações de poder (SILVA et al, 2009). Neste sentido os atuais currículos constroem a cultura de uma política de saúde privatista, que beneficia práticas individuais e fragmentadas. Entretanto, mesmo que os atuais currículos possuíssem como proposta exclusivamente o trabalho em saúde na iniciativa privada, uma vez que a prestação de serviço destas instituições é regulamenta pela Lei Orgânica da Saúde (LOS). No campo do serviço complementar: Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal [...] (BRASIL, 1990). Na iniciativa privada, no Título III, “Dos Serviços Privados de Assistência à Saúde”, capítulo I - do funcionamento, no art. 22 regulamenta que “na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde-SUS quanto às condições para seu funcionamento” (BRASIL, 1990). Independente do sistema que o profissional esteja inserido, público ou privado, é necessário o conhecimento do Sistema Único de Saúde. As universidades devem assumir o seu papel de consolidação do SUS e de retomada dos preceitos da Reforma Sanitária, assumindo o “compromisso acadêmico e social a formação profissional, baseada na investigação cientifica e na produção do conhecimento com vistas a sua aplicação na sociedade, buscando a 7 sua transformação” (SILVEIRA, 2011, p. 75). Entretanto o que se percebe atualmente é o O foco na doença e na cura como resposta tecnológica a própria profissionalização exclusivamente voltada para o mercado neoliberal, que sempre teve a influência dominante na formação superior na área da saúde, caracterizada pela transmissão de conhecimentos e de experiências próprias de profissionais sem formação acadêmica. Dessa forma, os cursos superiores no Brasil “fecharam-se na formação específica de seus profissionais” (SILVEIRA, 2011, p. 77) É necessário pensar a formação profissional em saúde para além dos programas de ensino em serviço, estes são fomentadores de novas propostas de formação em saúde, mas não devem ser a única, ou o fim único de propostas de investimentos para a preparação dos profissionais da saúde. É necessário que mudanças efetivas passem a ser formuladas nos currículos e propostas de currículo integrado possam ser pensadas para as diversas áreas da saúde. 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS No plano acadêmico a lógica que tem orientado os movimentos educacionais não se encontra no mesmo compasso das necessidades de saúde pública da população brasileira. Tanto a realidade epidemiológica quanto os propósitos assistenciais encetados pelo SUS devem exercer significativa influencia no ordenamento dos futuros profissionais de saúde. Atualmente o que se percebe é o investimento das Universidades em Programas subsidiados em parcerias entre o Ministério da Saúde e Educação, porem não há significativa mudança nos currículos regulares dos cursos de graduação. Obviamente as alterações nas grades curriculares das Universidades necessitam de investimentos em médio prazo, enquanto que a inclusão em Programas, cujos incentivos têm sido quase que permanentes, significam além da oportunidade de estudantes aproximarem-se - na prática - da saúde publica, outros benefícios como a experiência interdisciplinar e pensar em saúde para além do consultório, de uma forma mais ampliada. Este artigo teve a intenção de problematizar a necessidade da inclusão de disciplinas voltadas para a saúde coletiva, a saúde pública e o SUS nas grades curriculares da formação profissional das Instituições de Ensino Superior. Para além 8 da participação em Programas que privilegiam a formação do ensino em serviço, observa-se que o discente universitário das variadas áreas das ciências da saúde necessitam, para uma formação diferenciada, experiências e praticas de estágios, de vivencia nas comunidades e de pesquisa para que possam atingir o conhecimento adequado sobre a saúde publica brasileira. REFERÊNCIAS ALMEIDA, Luciana Pavanelli von Gal de; FERRAZ, Clarice Aparecida. Políticas de formação de recursos humanos em saúde e enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem – REBEn. [online]. 2008, vol.61, n.1, pp. 31-35. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v61n1/05.pdf>. Acesso em nov. de 2013. AROUCA, Sérgio. Discurso na abertura da 8a Conferência Nacional de Saúde em 1986. Vídeo editado pelo Departamento de Comunicação e Saúde (DCS) do Centro de Informação Científica e Tecnológica da Fiocruz (Cict). TAMANHO: 145 MB / DURAÇÃO: 42'45''. Disponível em <http://bvsarouca.icict.fiocruz.br/galeria_video.htm>. Acesso em nov. de 2013. BRASIL. MINISTÉRIO DE SAÚDE. Relatório Final da 8ª Conferência Nacional de Saúde. De 17 de 21 de março de 1986. Brasília: Ministério da Saúde, 1986. ______. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_05.10.1988/CON19 88.pdf >. Acesso em: nov. de 2013. ______. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Sistema Único de Saúde. Ministério da Saúde, Brasília/DF, 1990. Disponível em: <www.anvisa.gov.br/legis/consolidada/lei_8080_90.pdf>. Acesso em: nov. de 2013. CAMPOS, Gastão Wagner de Souza. Políticas de formação de pessoal para o SUS: reflexões e fragmentos. In: BRASIL. Ministério DA SAÚDE. SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE. Cadernos RH Saúde: 3ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde. Opinião. Vol. 3, n. 1 (mar. 2006). Brasília: Ministério da Saúde, 2006. p. 55 – 59. COUTO, Berenice Rojas. O Direito Social e a Assistência Social na Sociedade Brasileira: uma equação possível? São Paulo: Cortez, 2004. CREUTZBERG, Marion; LOPES, Maria Helena Itaqui; DOCKHORN, Denis. As diretrizes curriculares da área da saúde. In: CORBELLINI, V.L. et al. (orgs.) Atenção primária em saúde: vivências interdisciplinares na formação profissional PUCRS. Brasília: ABEn, 2011. FAUSTINI, Márcia Salete Arruda. O Ensino em Serviço Social. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. 9 MARX, Karl. Manuscritos econômicos - filosóficos. Tradução, apresentação e notas Jesus Ranieri. 4 reimpr. São Paulo: Boitempo, 2010. 191p. (Coleção MarxEngels). MOTA, ANA Elizabete. Seguridade Social Brasileira: Desenvolvimento Histórico e Tendências Recentes. In: MOTA, ANA Elizabete [et al]. Serviço Social e Saúde: formação e trabalho profissional. 4 ed. São Paulo: Cortez; Brasília: OPAS, OMS, Ministério da Saúde, 2009. p. 040 – 072. MOURÃO, Ana Maria A.; LIMA, Ana M.C; OLIVEIRA, Leda M. Leal de. A formação dos Trabalhadores Sociais no Contexto Neoliberal. O Projeto das Residências em Saúde da Faculdade de Serviço Social na Universidade Federal de Juiz de Fora. In: MOTA, ANA Elizabete [et al]. Serviço Social e Saúde: formação e trabalho profissional. 4 ed. São Paulo: Cortez; Brasília: OPAS, OMS, Ministério da Saúde, 2009. p. 352 – 380. SILVA, Lucia Silva e. et al. A formação de recursos humanos na graduação em saúde compatibilizando os distintos tempos entre saberes e práticas: um desafio emergente do SUS. In: BELLINI, Maria Isabel Barros (cord.). Rede de Observatório de Recursos Humanos em Saúde: a realidade da saúde do Estado do Rio Grande do Sul pelo olhar do trabalhador em saúde. Porto Alegre: Escola de Saúde Pública; Rede Observatório de Recursos Humanos; Secretaria de Saúde; Rio Grande do Sul, 2009. p. 33 – 48. SILVEIRA, João Luiz Gurgel Calvet da; et al. A Formação da área da saúde para além da profissionalização. In: ANDRADE, Marcia Regina Selpa de; et al (orgs.). Formação em Saúde: experiências e pesquisas nos cenários de prática, orientação teórica e pedagógica. Blumenau: Edifurb, 2011. p. 75 – 85.
Baixar