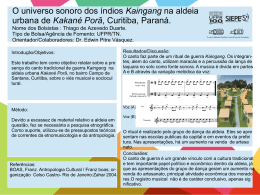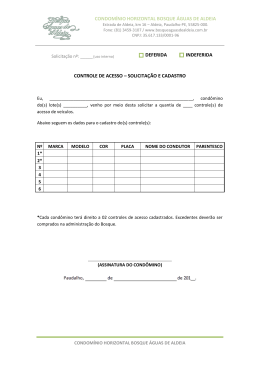Universidade de São Paulo Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas Departamento de Antropologia Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social O vermelho, o negro e o branco Modos de classificação entre os Karajá do Brasil Central Helena Moreira Cavalcanti-Schiel Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Antropologia Social do Departamento de Antropologia Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, para obtenção do título de Mestre em Antropologia Social São Paulo, 2005 ii Universidade de São Paulo Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas Departamento de Antropologia Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social O vermelho, o negro e o branco Modos de classificação entre os Karajá do Brasil Central Helena Moreira Cavalcanti-Schiel São Paulo, 2005 iii Agradecimentos Primeiramente agradeço o incentivo representado pela bolsa parcial de mestrado, fornecida pela CAPES, que me permitiu alguma tranqüilidade financeira por oito meses entre agosto de 2004 e março de 2005. Minha participação no III Encontro Macro-Jê, em dezembro de 2003, em Brasília, como parte das atividades que conduziram ao amadurecimento do trabalho aqui apresentado, foi possível graças à ajuda de custo fornecida pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da FFLCH-USP. O restante do meu período de mestrado foi sustentado pela boa vontade dos parentes, que vez por outra contribuíram com seus financiamentos. E, sobretudo, meu cumprimento das disciplinas do curso, realização das pesquisas, viagens a bibliotecas e sobrevivência foi possível graças aos recursos pessoais de meu marido, Ricardo. Um agradecimento todo especial à Ivanete, secretária do Departamento de Antropologia, sem a qual é bem provável que aquele mundo não funcionasse mais. Sem sua eficiência, seu profissionalismo (que a fez trabalhar em sua própria casa em meio a alguma das greves), sua eterna disponibilidade, sua paciência com nossas incompetências burocráticas, tudo teria sido muito mais difícil. Para as pesquisas bibliográficas contei com as excelentes, bem organizadas e conservadas bibliotecas da FFLCH, na USP, e as bibliotecas do IFCH e Central, da Unicamp. Na Universidade de Brasília, pude consultar a Biblioteca Central, por onde comecei minha aproximação ao grupo Karajá. A biblioteca do Horto Botânico, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, me permitiu descobrir relíquias documentais entre as estantes empoeiradas e as gavetas emperradas. Espero sinceramente que os saques, as depredações ao patrimônio público e a incompetência administrativa não terminem por devastar ainda mais o precioso acervo daquela biblioteca. A biblioteca especializada do PPGAS do Museu Nacional – UFRJ também me foi e grande valia. Ao trabalho dos dedicados bibliotecários, não posso deixar de registrar minha gratidão. Entre os amigos de São Paulo, especial lembrança e agradecimento às “meninas”: Carla, com seu Villa, Rachel, entre orixás e Aquiles, e Jayne, cada vez mais mundurucóloga. Sem elas, o convívio com o ambiente uspiano na condição de outsider teria sido bem menos divertido. Agradeço à Jayne em especial, por também ter me aberto as portas de sua casa, iv após um daqueles programas que os paulistas chamam de “cervejada”. Ao Uirá e à Letícia, que não apenas me abriram a sua casa para uma agradável hospedagem, mas à sincera amizade e as lembranças mais simpáticas. E à pequena Rita, que ainda não conheço, mas que já me encanta. Ao Bruce e à Gabriela, uma feliz redescoberta e uma surpreendente coincidência, devo algumas tardes agradáveis, algumas hospedagens, a eterna disposição em “quebrar um galho” e um sushi delicioso. A existência na modorrenta Campinas foi possível pela simpatia e solidariedade das minhas sogra e cunhada, Sueli (HM) e Adriane (HZ). Adriane, que se dispôs a retirar tantos livros na biblioteca do IFCH e teve bastante paciência com minhas trapalhadas. Sueli concordou em cuidar do nosso chat méchant, o gato Wolfgang, quando fiquei no Rio de Janeiro. Frau Belther (vulgo Janice) também foi sempre uma casual conversa inteligente no meio do Nada campineiro. Mesmas idéias políticas, mesmo incômodo com a cidade, fazem da Frau Belther mais que uma professora de alemão, aber eine Freundin! Por fim, a companhia ora ruidosa, ora tranqüila, mas nunca indiferente de Wolfgang e Cosima foi indispensável, sobretudo nas frias noites do inverno paulista. Em Brasília, há muito o que se agradecer. A Carol que caminha paralela comigo há oito anos, meu agradecimento pela convivência simpática e pelas conversas sempre estimulantes. À Roberta, que começou no Vale do Amanhecer pelas mãos dos orixás e acabou no meio dos índios por acaso, pelos deslizes do destino, meus agradecimentos pelas nossas conversas sempre estressadinhas, sempre rabugentas e por isso mesmo muito importantes! E agradeço também por um companheirismo sem igual, mais forte que muitas das nossas divergências de opinião. À Giovana, que descobri em Campinas, agradeço uma amizade recente e nem por isso menos agradável. E também sua disposição em procurar bibliografia na UnB. Ao Léo, com sua pequena Elis, agradeço nossa amizade enraizada e, tomara que, cada vez mais forte. No Rio de Janeiro, contei com a generosa hospitalidade da minha avó, Terci Moreira (MM). Não somente agradeço a hospitalidade, como a paciência com alguns dos meus humores e uma troca de idéias sempre muito agradável sobre literatura. Tonica e Beth não podem ser esquecidas. Sempre preocupadas em deixar todos à vontade, elas foram também amigas e incentivadoras, mesmo que não conseguissem entender exatamente por que eu estudava tanto, deixando de ceder àquela tentadora praia que se esgueirava para dentro de casa... Agradeço a amizade da Marina, companheira nos dois cursos que fiz, descobrimos juntas o Rio de se morar, que é diferente daquele de se passear. Também agradeço a hospitalidade em sua simpática república em Santa Tereza. A amizade e a estimulante troca v de idéias com Elena Welper, seja no Museu, na Cobal ou em seu refúgio de sonhos em Petrópolis, foram estímulos a mais para as leituras. E foram também incentivo inestimável para a busca de novos rumos de pesquisa. Em minha família, contei com o apoio de meu pai, Kristian (F), e sua esposa, Neusa (FW), em minhas idas a Brasília. A Neusa também foi responsável por um estímulo extra na produção de um texto sobre mandioca. Escrever para fora da academia é sempre um desafio, ou mesmo um teste para nos certificar de que não estamos nos distanciando demais do “vasto mundo”. Agradeço ao Maurício, sempre o primeiro leitor leigo de meus rabiscos. Sua leitura é também um teste para descobrir se estou me fazendo entender por não especialistas (nem sei como ele sobreviveu ao texto da minha qualificação...). Seu interesse pela antropologia faz dele mais que apenas um indigenista, mas um tipo especial de defensor dos direitos indígenas, interessado e bem informado sobre a questão, daqueles que não se fabricam mais. Agradeço a Tina (Z), minha irmã, por tudo o que se dispõe a fazer por mim e pelo mundo, desde tirar cópias de textos na UnB, agüentar meus humores pelo telefone, pela amizade, pelo companheirismo, por compartilhar comigo todos os buracos dessa estrada. Ao eterno Xará, que dizem que era Ezequias Paulo Heringer, que sempre foi e será por mim admirado, por sua dedicação incondicional aos índios, por seu exemplo, por sua força, por sua imagem eterna no meu santuário particular, onde guardo meus “heróis fundadores”. Entre os karajólogos no Brasil, agradeço ao Manuel Ferreira Lima Filho pela receptividade em Goiânia, por me abrir as portas do IGPA, por me fornecer seus textos recentes e por sua gentil abertura ao diálogo. Agradeço também à Patrícia Rodrigues, por sua disponibilidade de um diálogo contínuo que, espero, continue por muito tempo, por me fornecer seus textos e mesmo rascunhos de tese. Sabemos que somos a primeira leitora uma da outra nessas nossas produções recentes. Entre os karajólogos de além-mar, Oiara Bonilla me regalou com seus comentários sempre pertinentes, sua conversa agradável e sua disponibilidade em fornecer gentilmente todo tipo de informação. Agradeço sua disponibilidade em me quebrar muitos galhos com a burocracia francesa e em me socorrer quando se trata de conseguir contatos importantes. Nathalie Pétesch me deu muito mais que uma lanterna de acampamento há muitos anos atrás; me deu muita curiosidade pelos índios. Por um dos acasos que cercam de mistérios os passos que damos, acabei me tornando também uma karajóloga. Agradeço a ela o diálogo sempre aberto, a disposição infinita em me ajudar, fornecendo os textos de difícil acesso no Brasil, os contatos com os franceses e a disponibilidade em me socorrer no meio do vi desespero com a burocracia européia. Agradeço também ao Jacques, que junto com Nathalie, proporcionou a mim e ao Ricardo um inesquecível fim-de-semana em Chécy, no Vale do Loire. Do Márcio Ferreira da Silva, meu orientador durante esses dois anos e meio de mestrado, recebi tudo o que uma aprendiz de antropóloga pode desejar: ser levada a sério. Sem ter qualquer conhecimento prévio de meu trabalho, de meus interesses, e pego “no pulo”, Márcio aceitou gentilmente me orientar. Constatei um tanto surpresa que sua orientação foi a melhor opção que eu podia ter desejado na USP. As seções de orientação eram sempre um bálsamo em meio aos muitos sobressaltos administrativos e burocráticos pelos quais passamos. Minha mãe, Memélia, mesmo na distante Mickeylândia, sempre quis acompanhar cada detalhe de todos os meus passos. A ela devo meu interesse pelos índios, que posteriormente se transformou em interesse pela antropologia. Suas histórias entre os índios, sua luta para defender o direito deles à terra e à dignidade, suas eternas promessas (nunca cumpridas) de nos levar a uma aldeia (desde o quanto eu posso me lembrar), sua nada ortodoxa hospitalidade − que trazia para nosso louco lar desde kayapós que quebram mesinhas de criança achando que são bancos, passando por sertanistas barbudos até antropólogos que falam pouco português, mas contam histórias fascinantes − acabaram por me conduzir instintivamente à antropologia. Finalmente, é preciso registrar aqui todo o apoio que recebi do Ricardo. Muito além do afeto e do apoio material, Ricardo é sempre meu interlocutor intelectual. Primeiro leitor implacavelmente crítico de todas as versões dos meus trabalhos, Ricardo conhece desde as primeiras e precárias versões dos meus rabiscos, até que lentamente se transformem em textos. Nossa ativa interlocução é parte fundamental de minhas reflexões. Sua exigência de rigor intelectual, sua impaciência com idéias mal-elaboradas, sua crítica ácida são contrabalançadas por um afeto incrível, uma atenção desmedida e uma paciência incomensurável. Nossas distâncias de antropólogos semi-nômades, Miskhamayu, Sucre, Campinas, Brasília, Paris, jamais serão maiores que nossos interesses em comum, nossas convergentes posições políticas, nossas paixões literárias semelhantes, nossa curiosidade cosmopolita. Que seja assim, ¡jinapuni!: nomás, pues, siempre. vii Resumo O presente trabalho se pretende como uma abordagem às etnografias produzidas sobre o grupo indígena Karajá do Brasil Central, teoricamente orientada para: 1) o teste da hipótese de um modelo estrutural triádico que seria operante como princípio classificatório; e 2) a verificação das elaborações da filosofia nativa em torno das relações de conangüinidade e afinidade. A cosmogonia do grupo ergue, num “edifício cosmológico” três patamares: o mundo subaquático, de onde teria emergido a humanidade; o mundo terrestre, morada dos humanos atuais; e, finalmente, o mundo das chuvas, morada dos heróis culturais. Este edifício cósmico fornece o modelo triádico fundamental, qual seja, dois pólos associados e assemelhados, unidos por e opostos a um centro mediador. Este modelo fundamental encontraria ressonância nos mais distintos códigos do discurso nativo. As formulações da ideologia nativa em torno das relações de consangüinidade e afinidade sugerem uma tentativa de supressão da afinidade. Diferentes arranjos combinatórios dessas relações em distintos códigos indicam que o “problema da afinidade”, por não poder ser resolvido, é constantemente reformulado. Os dois eixos teóricos foram abordados segundo três domínios do discurso nativo: A cosmologia, e com ela a escatologia mortuária, as relações de parentesco, indissociáveis das relações de gênero e a vida ritual. PalavrasPalavras-chave Etnologia - Índios - Karajá - Brasil Central - Princípios classificatórios viii Abstract This work seeks to approach the ethnographies produced about the Karajá indigenous group of Central Brazil. It is theoretically oriented to 1) test the hypothesis of a triadic structural pattern which would be working as a classificatory principle; and 2) the examination of the native philosophic elaborations about the relations of consanguinity and affinity. The cosmogony of the group states three superposed stratums: the underwater world, from where the humanity emerged; the terrestrial stratum, where the humans nowadays live; and the rainy world, where the cultural heroes live. This “cosmic building” offers the fundamental triadic principle: two extreme poles which are similar and associated, opposed to and united by a mediating center. This fundamental pattern will echo in many distinct codes of native discourse. The elaborations of native philosophy about consanguinity and affinity suggest that we are face a trial of affinity suppression. Some combinatory arrangements of these relations in distinct codes reveal that the ‘problem of affinity”, as it cannot be solved, is constantly reformulated. The two thematic axes had been approached in three domains of native discourse: the cosmology, which is linked to the scatology ideas, the kinship relations, which are not dissociable from gender relations and the ritual life. Key Words Ethnology - Indians - Karajá - Central Brazil - Classificatory principles ix Índice ndice Introdução...................................................................................................................1 Capítulo 1: Revisão bibliográfica................................................................................10 Capítulo 2: Cosmologia e escatologia karajá..............................................................43 Cosmogonia....................................................................................43 Tríade cosmológica.........................................................................48 Das formas nativas de classificação.................................................49 Tríades espaciais.............................................................................51 As muitas faces de ixã.....................................................................56 Visita ao Hades karajá: os mundos dos mortos...............................61 Capítulo 3: Parentesco e gênero.................................................................................72 Tecnônimos, consangüíneos e afins................................................77 Marcações cromáticas.....................................................................80 Amizade formal e inclusão de “terceiros”........................................86 Os brotyré.......................................................................................88 Casas karajá....................................................................................95 Gêneros e espécies..........................................................................99 Capítulo 4: Rituais....................................................................................................111 Temporalidade do ritual................................................................113 Festas dos Ijasó.............................................................................115 O Hetohokã..................................................................................120 Vergonha/respeito e distância social..............................................122 Os ijoi e os arranjos cerimoniais....................................................124 Conclusão................................................................................................................137 Bibliografia..............................................................................................................150 Apêndices................................................................................................................160 Apêndice I: Vocabulário dos termos nativos..................................160 Apêndice II: Diagramas de parentesco...........................................163 1 Introdução Introdução Céu, terra e águas. Cabeça, tronco e pernas. Branco, vermelho e negro. Cima, meio e baixo. O universo simbólico karajá, em incontáveis manifestações, nos mais distintos domínios do discurso nativo, parece distribuído em tríades assimétricas. Estas manifestações recorrentes podem sugerir que um princípio classificatório geral poderia estar ordenando o pensamento nativo desse grupo indígena. A constatação da operacionalidade desse fundamento triádico em domínios tão variados como a concepção do cosmo e a ordenação social do espaço nos sugeriu empreender o teste da hipótese de um fundamento triádico que seria operante na função classificatória desse grupo indígena. Para o teste dessa hipótese selecionamos três distintos domínios do discurso nativo, quais sejam, as concepções cosmoescatológicas, as relações de parentesco e a atividade ritual, que acreditamos privilegiados para nossas observações. A sugestão da narrativa mítica de que o mundo de origem karajá seria um mundo de consangüíneos e também um mundo essencialmente masculino impôs um segundo eixo temático ao nosso trabalho: a verificação das elaborações nativas em torno das relações de consangüinidade e de afinidade. Essas elaborações perpassam os domínios nos quais a ideologia nativa se manifesta, para além de uma pertinência restrita ao sistema de parentesco. Os Karajá são um grupo indígena daquela área que ficou conhecida etnograficamente como Brasil Central, onde os grupos de língua Jê são majoritários. A língua falada pelos Karajá foi classificada como pertencente ao tronco Macro-Jê, que integra as famílias Jê, Maxakali, Bororo e Karajá. A família Karajá é composta por três dialetos1, correspondentes aos três subgrupos do macro-grupo karajá, quais sejam, Karajá, Javaé e Xambioá. Habitantes das margens do rio Araguaia, os Karajá estão distribuídos pelo curso do rio desde a cidade de Aruanã, a aldeia mais ao sul do território, até o noroeste do estado do Tocantins, onde estão as 1 Ainda há controvérsia se os três dialetos karajá seriam dialetos ou línguas distintas. Acreditamos que se trate de dialetos uma vez que são mutuamente inteligíveis, mesmo que também esse critério seja passível de controvérsia. No entanto, a classificação do Summer Institute of Linguistics as registra como três línguas (cf. http://www.sil.org). 2 Introdução aldeias do subgrupo Xambioá. Os Karajá propriamente ditos são habitantes preferenciais da porção montante do Araguaia a partir da Ilha do Bananal, bem como o braço esquerdo que a circunda. Os Javaé são habitantes preferenciais do braço direito do Araguaia, em torno à mesma Ilha, braço que também é conhecido pelo nome de rio Javaé. Já o terceiro grupo, os Xambioá, ou Karajá do Norte, são habitantes das regiões à jusante do rio, já bastante distanciados daquela Ilha, na direção norte. (Fonte: Pétesch, 2000: 37) O rio Araguaia é o principal eixo referencial para a vida dos Karajá. É dele que tira o 3 Introdução sustento esse povo indígena ribeirinho e é ele que está presente nas mais importantes elaborações cosmológicas. Chamado de Rio Grande, Bero Hokã, em língua nativa, o Araguaia é parte fundamental da vida dos Karajá. Os Karajá estão envoltos por um ambiente humano bastante diverso. Muitas de suas aldeias estão próximas a povoados e cidades dos brancos, a quem chamam de tori, não-índios. Além da população não-índia, os Karajá têm contato secular com outros povos indígenas. O grupo mais próximo são os Tapirapé, que na língua karajá são chamados de Wou, com quem vêm mantendo relações de troca comercial e alianças de casamento que alternam com períodos de hostilidade. As relações dos Tapirapé, uma ilha tupi naquele mar Jê do Brasil Central, com os Karajá mereceriam uma atenção maior da etnografia, visto que uns e outros comparecem na formulação mútua de uma alteridade próxima. Salvo Herbert Baldus, os etnólogos em geral não parecem ter dedicado maiores atenções a esse complexo de relações. Além dos Tapirapé, os Xavante e os Kayapó tiveram séculos de relações nada pacíficas com os Karajá. Por último, os Avá-Canoeiro foram, no passado, inimigos encarnecidos dos Karajá, situação que já não corresponde à realidade atual, em que os reminiscentes do grupo Canoeiro são pouco numerosos e alguns, inclusive, moram com os Javaé na aldeia de Boto Velho. * * * Os grupos de língua Jê do Brasil Central entraram para o “mapa” da produção antropológica a partir da descoberta, entre eles, de organizações dualistas. Estes grupos, que haviam sido classificados como “tribos marginais” na grande compilação do Handbook of South American Indians (Streward, 1946-1959), pareciam, aos olhos dos pesquisadores, um tanto paradoxais. Sem dispor da “tecnologia” observada entre seus vizinhos da floresta tropical (redes de dormir, panelas de barro, bebida fermentada), os grupos do cerrado centrobrasileiro apresentavam um alto grau de complexidade em sua organização social: organização em metades e intensa atividade ritual. A descoberta de organização dualistas2 no 2 Segundo Lévi-Strauss, o termo organização dualista define “um sistema no qual os membros da comunidade — tribo ou aldeia — são distribuídos em duas divisões as quais mantêm relações complexas, as quais vão da hostilidade declarada à intimidade mais estreita, e a que se acham habitualmente associadas diversas formas de rivalidade e cooperação” (Lévi-Strauss, [1967] 1982: 108). 4 Introdução Brasil Central por Nimuendaju, Lowie e Lévi-Strauss na primeira metade do séc. XX parecia acenar, para a antropologia produzida no Brasil, a possibilidade de entrar para os grandes debates da disciplina (que, àquela época estavam voltados para sociedades africanas). O fértil projeto Harvard-Brasil Central, que voltou suas atenções para os grupos Macro-Jê, foi, em grande parte, inspirado nos modelos de organizações dualistas propostos por Lévi-Strauss em seu clássico artigo “Les organisations dualists existent-elles?” (Lévi-Strauss, 1958). A parte usualmente menos explorada daquele texto seminal tem-se revelado ser a de maior rendimento analítico para o caso karajá. Lévi-Strauss, tratando de analisar dados sobre as alianças matrimoniais bororo, propõe que o dualismo concêntrico seria um mediador entre o dualismo diametral e o triadismo. Por dualismo diametral entende-se uma forma de representação que engloba a totalidade do cosmos numa classificação que dispõe em pares antitéticos os seus termos (tais como sol e lua, preto e branco, esquerdo e direito, nascente e poente, entre outros), que podem ser tanto simétricos como assimétricos. Essas classificações, no nível sociológico, podem ou não estar associadas à prescrições matrimoniais. Para Lévi-Strauss, “Num sistema diametral (...) o terreno virgem [circundante à aldeia, p. ex.] representa um elemento não pertinente; as metades se definem uma em oposição à outra e a aparente simetria de sua estrutura cria a ilusão de um sistema fechado” (Lévi-Strauss, 1958: 168). Já o dualismo concêntrico seria aquele no qual há uma oposição de termos que devem ser necessariamente desiguais. A desigualdade dos termos é intrínseca à estrutura concêntrica, visto que os elementos que se opõem seriam ordenados em relação a um mesmo termo de referência, que, numa representação gráfica, tomaria o aspecto de um centro. A aparente exogamia de metades bororo foi revelada por Lévi-Strauss como, na verdade, uma endogamia de grupos tripartidos no interior da aldeia: “Estas diversas manifestações de dualismo dão lugar a uma estrutura triádica: com efeito, cada um dos 8 clãs é dividido em 3 classes que eu chamarei: superior, mediana, inferior (...) a regra segundo a qual um superior de uma metade desposa obrigatoriamente um superior de outra, um mediano um mediano e um inferior um inferior, converte a sociedade bororo, de um sistema de aparente exogamia dualista num sistema real de endogamia triádica” (Lévi-Strauss, 1958: 159). Questionando-se sobre as relações entre as três formas de representação, quais sejam, 5 Introdução dualismo diametral, dualismo concêntrico e triadismo, Lévi-Strauss concebe que o dualismo e o triadismo seriam indissociáveis e conclui que “o dualismo concêntrico é ele mesmo um mediador entre o dualismo diametral e o triadismo e é por intermédio dele que se faz a passagem de um para outro” (1958: 167). Como corolário de suas explanações, Lévi-Strauss sugere, já agora, como representação gráfica, a abertura dos círculos concêntricos duais numa reta: “se é possível estender o círculo periférico sobre uma reta (...) o centro será exterior a esta reta, sob forma de um ponto. No lugar de dois segmentos de reta teremos então uma reta e um ponto” (idem: 168). O autor conclui, assim, “Veremos que as antíteses que servem para expressar o dualismo surgem de duas diferentes categorias: umas verdadeiramente, outras falsamente simétricas. Estas últimas não são mais do que tríades, disfarçadas de díades graças ao subterfúgio lógico que consiste em tratar como dois eixos homólogos um conjunto formado, na verdade, de um pólo e um eixo, que não são objeto da mesma natureza.” (ibidem: 170). A pertinência em se tratar a estrutura karajá em termos de triadismo foi notada primeiramente por Hans Dietschy (1977, 1978). Fazendo referência ao já citado artigo de Lévi-Strauss, Dietschy constata a existência de três grupos rituais endógamos e patrilineares. O autor explora a composição destes grupos, chamados de ijoi, para constatar o fenômeno da “afiliação por sexo”, circunscrevendo-o no espaço da aldeia (Dietschy, 1977). Para o autor, “Não existem metades patrilineares propriamente ditas (muito menos matrilineares ou clãs), mas três grupos patrilineares. Os Karajá foram e são principalmente tricáicos como os antigos dórios. Mas os ‘verdadeiros moradores’ (...) [referindo-se ao grupo do meio, os Mahãdu. Voltaremos a este ponto], se opõem, com seus privilégios aos outros dois grupos, tanto quanto estes, divididos entre ‘gente do rio acima’ e ‘gente de rio abaixo’ competem entre si” (Dietschy, 1978: 78). A proposta de uma estrutura triádica para os Karajá foi retomada — e mais minuciosamente explorada — por Nathalie Pétesch (1987, 1993). Para esta autora, o esquema sociológico karajá seria um indício de sua posição intermediária entre os modelos dualistas Jê-Bororo e o que ela veio a chamar de uma “hipérbole ontológica” tupi. A partir de uma concepção triádica que ergue, num “edifício cósmico”, um nível de baixo, ou mundo das águas, de onde teria emergido a humanidade, um nível do meio, ou terrestre, onde vivem os atuais Karajá e, por fim, um nível de cima, ou mundo das chuvas, morada do demiurgo e Introdução 6 destino post-mortem dos xamãs, a autora faz sua proposta. Haveria uma oposição assimétrica entre, de um lado, a posição mediana e, de outro, as posições extremas, associadas e assemelhadas. A oposição em três elementos não poderia ser reduzida a um dualismo, já que os dois níveis extremos só existiriam em função da mediação exercida pelo terceiro elemento. O caráter ternário do sistema seria, portanto, predominante (Pétesch, 1987: 81). Se a proposta de Pétesch quase não encontrou acolhimento na etnologia, se defrontou com a reação de seus contemporâneos imediatos, quais sejam, os etnógrafos dos karajá Manuel Lima Filho e André Toral. Limitado à dimensão estritamente etnográfica da proposta da autora, Lima Filho a considera “atraente, porém demasiado ousada” (1994; 148). Incomodado com o que ele considera uma “obsessão pelo geometrismo” de Pétesch, o autor procede a uma crítica dos dados estritamente etnográficos, não alcançando, segundo nos pareceu, apreender a proposta de Pétesch como um modelo lógico, formal e abstrato. A crítica desdobra-se, então, em uma exposição da segunda proposta da autora, de que a manifestação da estrutura triádica seria um indício da situação intermediária da cosmologia karajá entre o dualismo Jê-Bororo e uma “hipérbole ontológica” tupi, em que a morte é considerada uma transcendêcia, um tornar-se outro. André Toral limita-se a comentar a existência desse “provocante trabalho” afirmando não concordar “com suas conclusões de que a sociedade e o cosmos Karajá se organizam segundo uma tripartição estrutural ‘grupo de cima’, ‘grupo do meio’ e ‘grupo de baixo’ por falta de evidências etnográficas” (Toral, 1992: xiii). No entanto, como veremos, a etnografia de Toral é uma fonte importante de inúmeras evidências da tripartição estrutural karajá. Da mesma forma que nossa observação crítica à contestação de Lima Filho, também aqui poderíamos observar que um modelo formal não se traduz imediata e concretamente numa fenomenologia empirista; ele exige um trabalho de abstração a partir dos dados empíricos, e que se realiza para além deles, para além dos termos concretos, alcançando, isto sim, o padrão lógico que ordena suas relações. As etnografias posteriores parecem-nos implicitamente aceitar o modelo proposto por Pétesch. Patrícia Rodrigues o expõe brevemente, preocupada em confrontar a idéia de extremos e polarizações com sua própria proposta de um “continuum gradativo” que explicaria a cosmologia, o ciclo de vida individual (pela idéia de acúmulo e perda de uma “energia vital”), os ritmos da vida ritual, entre outros (Rodrigues, 1993: 433). Introdução 7 Oiara Bonilla, por seu turno, aceita as premissas do modelo de Pétesch, utilizando-o para explicar a distribuição espacial e social dos Karajá (Bonilla, 2000: 29). Nosso reconhecimento da pertinência de um modelo estrutural triádico para explicar boa parte do universo classificatório karajá nos traz, menos que um pretendido conforto pela solução de um problema, a imposição do desafio de refinar esse modelo. Como se verá nas páginas seguintes, reconhecemos uma relação não trivial entre triadismo e dualismo, sobretudo na passagem das relações “interiores” ao socius às relações entre interioridade e exterioridade do socius. Se Lévi-Strauss está correto, “o triadismo e o dualismo são indissociáveis, porque o segundo não é jamais concebido como tal, mas somente como forma limite do primeiro” (1958: 167). Acreditamos importante observar que, se Lévi-Strauss demonstra que “todo sistema ímpar pode ser reconduzido a um sistema par, tratando-o sob a forma de uma oposição do centro aos lados adjacentes” (Lévi-Strauss, 1958: 156), acrescenta igualmente, que as díades falsamente simétricas, ou seja, díades concêntricas, “não são outra coisa que tríades, disfarçadas de díades graças ao subterfúgio lógico que consiste em tratar como dois termos homólogos um conjunto formado realmente de um pólo e um eixo, que não são objetos da mesma natureza” (idem: 170). Fazendo o percurso contrário ao da exposição de Lévi-Strauss, se o pólo e o eixo podem, eventualmente, ser tratados como termos homólogos, não devemos nos furtar a levar em consideração que, de outra forma, e simultaneamente, eles “não são objetos da mesma natureza”, e, assim, reconduzi-los à disposição triádica que organiza seus termos mais elementares. As concepções cosmológicas que elaboram uma idéia do mundo de origem como um mundo exclusivamente consangüíneo e masculino nos impuseram a verificação das elaborações nativas em torno do par consangüinidade/afinidade. A proposta de Patrícia Rodrigues de que a alteridade, para os Karajá, estaria associada à idéia de feminino nos levou a debater as concepções nativas de gênero, que nos parecem indissociáveis desse primeiro problema, as relações de consangüinidade e afinidade. O “problema da afinidade” — ou a afinidade enquanto problema —, por não poder ser resolvido pelo pensamento nativo karajá, é constantemente reformulado e essa reformulação se encontrará nos inúmeros domínios do discurso nativo que aqui abordamos. A afinidade enquanto problema parecerá superada na concepção do “mundo perfeito” do mais valorizado destino cosmo-escatológico. Perfeito e, Introdução 8 portanto, inatingível, esse mundo parece em eterna “construção”, espaço aberto à especulação. Essa dissertação foi concebida na forma de três temas centrais nos quais tanto o fundamento triádico das classificações quanto as elaborações sobre a consangüinidade e a afinidade serão abordados. Os temas, definidos aqui como “domínios do discurso nativo”, são a Cosmologia e, indissociável dela, a escatologia mortuária, o Parentesco e, com ele, as relações de gênero e, finalmente, o Ritual. A esses temas, transformados em capítulos, acrescentamos um capítulo inicial de revisão bibliográfica. Nesse capítulo tentaremos fornecer ao leitor um panorama da história da etnografia sobre os karajá, que tenha sido responsável por configurar alguma tradição e localizar os Karajá numa certa “paisagem etnográfica”. Por uma certa particularidade de nossa forma de trabalho — e talvez até de raciocínio — esses capítulos não foram escritos em seqüência, mas todos ao mesmo tempo (com exceção do capítulo de Revisão Bibliográfica, que foi escrito depois de completados os demais). Por essa razão, os capítulos se tornaram talvez excessivamente interpenetrados. E, por outro lado, por essa mesma razão, acreditamos que possam ser lidos separadamente sem grande prejuízo para a compreensão de nossa argumentação. Mas, como gosta de lembrar nosso orientador, “ninguém é bom leitor de si mesmo”, e talvez nossa segunda observação não passe de uma certa ingenuidade nossa. Ao leitor a tarefa de nos julgar! Por opção pessoal, todas as citações a partir de textos consultados originalmente em língua estrangeira foram traduzidos para o português por nós. Portanto, abdicamos de indicar a sigla “T da A”, tradução da autora, em cada trecho que traduzimos. Reconhecemos, no entanto, que alguma facilidade que temos em aprender e dominar idiomas estrangeiros não significa a mesma facilidade em traduzir. Nesse caso, com o perdão do leitor, assumimos a responsabilidade por eventuais imprecisões na tradução. Também por opção pessoal, os muitos termos nativos da língua karajá tiveram a grafia aqui simplificada e estarão todos em itálico. Talvez por não termos realizado trabalho de campo e conseqüentemente conhecermos pouquíssimo da prosódia e absolutamente nada do funcionamento da língua, nos sentimos menos compromissados em fornecer a grafia mais aproximada da pronúncia. Dessa forma, termos que usualmente encontramos nas etnografias com uma certa forma escrita foram simplificados, como os usualmente grafados Hetohokÿ e Introdução 9 aderanÿ, que preferimos Hetohokã e aderanã. O que sabemos da morfologia é que a tonalização é quase inteiramente incidente sobre a última sílaba dos morfemas. Também sabemos que aquilo que aqui escrevemos J é pronunciado “DJ” como em ijoi (idjoí) ou ijasó (idjassó). E isso é tudo. O uso de termos nativos parece sempre sobrecarregar a memória do leitor. Tentando evitar o inevitável, nos esforçamos em contornar ao máximo a utilização desses termos sem a devida explicação logo em seguida. Elaboramos, também, um pequeno glossário, que está em apêndice, onde os termos estão explicados. O uso de alguns termos, no entanto, é inevitável, seja por se tratar de nomes de rituais como Ijasó e Hetohokã, seja por se tratar de categorias fundamentais do pensamento nativo como inã e ixã. 10 Capítulo 1 Revisão bibliográfica “É só pela limitação do ato da escrita que a imensidão do não-escrito se torna legível, ou seja, pelas incertezas da ortografia, pelos equívocos, pelos lapsos, pelos saltos incontroláveis da palavra e da pena” Italo Calvino À época da primeira investigação etnográfica sobre o grupo indígena Karajá do rio Araguaia, realizada pelo etnógrafo alemão Paul Ehrenreich em 1888, aquele rio era foco dos interesses da política goiana. Visionários e tomados por um espírito empreendedor, alguns administradores da província enxergavam no Araguaia o eixo fluvial que arrancaria a Província de Goiás de seu isolamento geográfico e econômico, estimulando a incipiente agricultura da região à produção de excedente que seria escoado por aquela “estrada natural” até o porto de Belém do Pará. No meio do caminho araguaíno estavam os Karajá. Mencionados por todos os cronistas que empreenderam viagens pelo Araguaia, os Karajá parecem ter estabelecido relações definitivamente pacíficas com os brancos, a quem chamam de tori, a partir de meados do séc. XIX. Passariam a figurar em relatos de viajantes como possível mão-de-obra para uma navegação comercial pelo rio. Ao trabalho pioneiro de Ehrenreich, muitos outros se seguiram ao longo do séc. XX alcançando, por fim, os nossos dias. Quem seriam os Karajá mencionados pela literatura histórica? Por que motivo esse grupo específico teria sido abordado? O que teria atraído a atenção das primeiras etnografias e o que as difere das demais que se seguiram? Qual o lugar dos Karajá no corpus etnográfico sobre os grupos das terras baixas sul-americanas e, finalmente, que processos da história antropológica na região teriam levado a etnografia karajá a este lugar na paisagem etnológica? Essas são perguntas que nos orientarão ao longo deste capítulo. Numa primeira aproximação à produção etnográfica sobre o grupo Karajá (entendido aqui como o macro-grupo, que inclui os subgrupos Karajá, Javaé e Xambioá) pode-se ter a Capítulo 1 11 impressão de que ele tenha sido parcamente estudado. Essa impressão é encontrada nos autores contemporâneos como Manoel Ferreira Lima Filho, que registra que os Karajá teriam sido muito visitados e citados, mas motivado poucos trabalhos consistentes (Lima Filho, 1994: 15). André Toral reitera a impressão de Lima Filho de serem os Karajá muito visitados e pouco conhecidos. A bibliografia estaria repleta de nomes de máscaras, fotos, descrições de rituais, sem que houvesse um esforço interpretativo unindo essas informações num “todo coerente e funcional” (Toral, 1992: ix). Nathalie Pétesch (2000: 2) reconhece uma abundância de literatura etnográfica observando que os Karajá guardam o paradoxo de serem, ao mesmo tempo, familiares e misteriosos3. Visitados com muita freqüência ao longo dos anos 50 e 60 do séc. XX, quando eram algo parecido a uma “vitrine da política indigenista” brasileira4, os Karajá e suas tatuagens faciais características5 ocupavam, àquela época, o lugar que mais tarde ocupariam os grupos do Parque Indígena do Xingu no imaginário nacional: a imagem paradigmática e ao mesmo tempo concreta daquilo que Darcy Ribeiro chamara de “índio genérico”. Suas danças de máscaras, suas bonequinhas de argila são tão conhecidas quanto aparentemente desconhecidas (ou, ao menos, etnologicamente pouco consideradas) seriam sua organização social, seu sistema de parentesco, sua cosmologia e os significados de sua vida ritual. No entanto, tomando-se a expedição de Paul Ehrenreich (em 1888) como marco do primeiro trabalho de um etnógrafo profissional sobre os Karajá, na década de 80 do séc. XIX, veremos que, desde então, os Karajá foram visitados por etnógrafos profissionais ao menos uma vez em cada década, excetuando-se a década de 90 do séc. XIX. Fritz Krause realiza, em 1909, uma expedição pelo rio, com a produção de material documental sobre o grupo. Entre 1908 e 1910 é realizada a pouco conhecida expedição de Wilhelm Kissenberth. Na década de 20 do séc. XX, os Karajá foram visitados por Gow Smith, 3 Agradecemos a Nathalie Pétesch a disposição em nos fornecer o material menos acessível no Brasil e também o incentivo para que desvendássemos a aparentemente impenetrável bibliografia em alemão, enfaticamente dizendo que “alguém tem que ler isso”. 4 Cf. Lima Filho, 2001. Além do interesse dos pesquisadores profissionais, os Karajá foram objeto de uma considerável literatura de viagem, de autores brasileiros e estrangeiros, marcada por tons aventurescos, como o atestam Falaise (1939), Ribeiro da Silva (1948), Cândido de Oliveira (1949), Aureli (1943, 1952), Lelong (1953) e Wustmann (1959), para citar apenas alguns exemplos. 5 Trata-se da omaryre, a tatuagem em forma de círculo sobre o pomo superior da bochecha. Essa marca imagética característica viria a ser reproduzida no reverso da cédula de mil cruzeiros, que circulou entre 1990 e 1994 e trazia no seu anverso a figura do Marechal Rondon. A expedição do Marechal à mesopotâmia AraguaiaXingu esteve entre os Karajá, quando um de seus oficiais produz uma breve obra etnográfico-filológica sobre o grupo (Machado, 1947). 12 Capítulo 1 que pesquisou as danças de máscaras, sobre o que não dispomos de informações detalhadas da etnografia. Nos anos 30 e 40 Herbert Baldus faz várias visitas a distintas aldeias e registra numerosas informações sobre o grupo, publicando-as tanto em artigos específicos sobre o grupo ou imiscuídas em informações sobre grupos vizinhos. Ainda na década de 30 realiza-se a pesquisa de William Lipkind, em 1938 e 1939. Nos anos 50, foram realizadas as pesquisas de Hans Dietschy, Washington Vásquez e Maria Heloísa Fénelon Costa. Durante as décadas de 60 e 70 ocorrem as pesquisas de Marielys Siqueira Bueno. Ainda na década de 70, tem início a pesquisa de André Amaral de Toral, que seguirá por toda a década seguinte e, ainda, o início dos anos 90. Também nos anos 70 Georges Rodney Donahue realiza sua pesquisa de campo. Nos anos 80, Matthias Bauer pesquisa o ritual do Hetohokã e Nathalie Pétesch realiza a maior parte de suas pesquisas. Finalmente, na última década do século XX, três pesquisas são realizadas: a de Manuel Ferreira Lima Filho, Patrícia Rodrigues e Oiara Bonilla. Sumariamente: Década Pesquisador (ano da pesquisa) 80 (séc. XIX) Paul Ehrenreich (1888) 00 (séc. XX) Fritz Krause (1909); Wilhelm Kissenberth (1908, 1909) 10 (séc. XX) Wilhelm Kissenberth (1910) 20 (séc. XX) Gow Smith (1925) 30 (séc. XX) Herbert Baldus (1935); William Lipkind (1938, 1939) 40 (séc. XX) Herbert Baldus (1947) 50 (séc. XX) Washington Vásquez (1953, 1956); Hans Diestchy (1954); Fénelon Costa(1957, 1959) 60 (séc. XX) Marieliys Siqueira Bueno (1969) 70 (séc. XX) André Toral (1978, 1979); Marielys S. Bueno (1971, 1973) 80 (séc. XX) Nathalie Pétesch (1986, 1987); Toral (vários anos), Matthias Bauer (1984) 90 (séc. XX) Manuel Lima Filho (1990); Patrícia Rodrigues (1990); Oiara Bonilla (1996, 1997, 1998) O que chama a atenção, inicialmente, no corpus etnográfico produzido a partir dessas pesquisas, é uma relativa ausência de continuidade ou mesmo intercomunicação entre os trabalhos. Salvo algumas exceções, a maioria das etnografias deixa a impressão de um eterno 13 Capítulo 1 pioneirismo, um recomeço. Além desta característica, nota-se uma certa desvinculação a debates teóricos centrais que orientaram a etnologia produzida no Brasil. Com efeito, as exceções a essa regra vêm a produzir os trabalhos de maior rendimento analítico para o material karajá. Se, por um lado a “karajologia” se isolou dos debates teóricos, por outro, os Karajá estiveram ausentes dos esforços comparativos que envolviam os grupos indígenas do Brasil Central, dos grupos Jê-Bororo e, mais amplamente, das Terras Baixas sul-americanas6. Este cenário, mais ou menos generalizado, nos incita a questionar o que teria levado a “karajologia” a esse relativo isolamento. Por que um grupo que tanto atraía a curiosidade dos leigos, e também dos etnógrafos, como faz suspeitar o breve inventário precedente, permaneceu como elemento isolado na paisagem etnográfica? Nosso objetivo neste capítulo pode ser entendido como uma tentativa de mapear a configuração da etnografia karajá que resultou nessa dispersão do material etnográfico e também nesse relativo desinteresse, por parte da etnologia mais geral, sobre o grupo. Pretendemos, por fim, dissipar essa impressão genérica de um grupo pouco estudado e muito visitado ao ensaiar uma interpretação para aquele isolamento. * * * As primeiras investidas desbravadoras que atingiram a região do rio Araguaia datam provavelmente de fins do séc. XVI quando as bandeiras paulistas alcançam o sertão goiano à procura de ouro e em busca de escravos indígenas. A crer na hipótese de Manoel Rodrigues Ferreira (1977) de que o rio que hoje conhecemos como Araguaia era chamado, à época das bandeiras, de rio Paraupava, as primeiras bandeiras teriam percorrido o curso do rio Araguaia por volta do ano de 1590 (Ferreira, 1977: 14). Escavações arqueológicas no alto Araguaia e na região do encontro do rio Vermelho com o Araguaia (confluência que se dá alguns quilômetros ao sul de Aruanã- GO) dão conta da semelhança estilística da cerâmica arqueológica com a cerâmica karajá atual (Wüst, 1975, 1996 apud Pétesch, 2000), sugerindo a probabilidade de que esta região já fosse ocupada pelo grupo que deu origem aos Karajá atuais. 6 A expressão “Terras Baixas” no jargão americanista refere-se à região não andina da América do Sul. Capítulo 1 14 O grupo Karajá parece não ter vivenciado a migração Leste-Oeste comum a vários grupos indígenas do Brasil, decorrente da pressão populacional advinda do contato com as frentes colonizatórias do litoral. Suas migrações parecem, antes, ter sido conduzidas na direção montante do rio, do Norte para o Sul, jamais se afastando do eixo básico do rio Araguaia. Se estamos corretos, parece pertinente supor que os primeiros contatos dos Karajá com o elemento colonizador tenham se dado com aquelas bandeiras de fins do séc. XVI. Os dados arqueológicos que sugerem uma fixidez dos Karajá no eixo do Araguaia tornam-se relevantes para ponderar referências históricas do grupo, feitas por algum de seus etnônimos próximos, pois, fundamentalmente, só podemos falar numa continuidade karajá se vinculada a esse marco geográfico. É o Araguaia, mais que tudo, que permite inferir e auferir a presença karajá na documentação histórica, e é a ampla história social ao longo e em torno desse rio que “colocará” os Karajá na história. O termo Karajá não é originário da língua falada pelo grupo que atualmente conhecemos por este nome. Os Karajá chamam a si mesmos de inã (ver capítulo 3 Cosmologia - para uma exploração mais detida sobre a categoria de inã). Karajá é vocábulo de origem tupi e designaria o macaco guariba. Tal como os termos Tapuia e Botocudo7, o termo Karajá parecia ser de uso geral dos grupos tupi para designar inimigos de uma maneira algo depreciativa (Ayrosa, nota 119 apud Léry [1578] 1960: 75). Hans Staden é, até onde sabemos, o primeiro a registrar o termo Karajá. Os Tupinambá, de quem foi cativo de guerra na região que é hoje o litoral paulista, lhe teriam enumerado seus inimigos: “e do lado da terra adentro os seus inimigos são chamados Karaya” (Staden, [1557] 2000: 138). E ainda: “Mas contaram-me de uma nação, cuja terra se limita com a deles [Tupinambá], nação Karaya, moradora do interior, longe do mar, que faz sal das palmeiras” (idem: 148). À mesma época que Hans Staden, o protestante de Homberg (Hessen, Alemanha), publica sua obra, o francês Jean de Léry participa da empreitada colonizatória da França Antártica e, duas décadas mais tarde, publica seu relato dessa experiência e reitera a orientação tupi do termo, como também, a partir dela, a genérica imprecisão do etnônimo a certa classe de inimigos. No capítulo XX do seu Viagem à Terra do Brasil, Jean de Léry apresenta uma série de enumerações em tupi (de peixes, aves, plantas, aldeias, chefes, etc) e 7 Para uma história dos “Botocudo” cf. Paraíso, 1993. 15 Capítulo 1 as transcreve com comentários (originalmente) em francês. A relação dos inimigos dos Tupinambá da atual costa fluminense menciona, assim, os “Karaya”, a que Léry comenta que, enquanto “Tupinambás, Tupiniquins, Touaiaire, Teureminon e Carijós falam a mesma língua ou, pelo menos, pouca diferença existe entre elas (...), os Carajás têm maneira diversa de falar e obrar” (Léry, [1578] 1960: 257), da mesma maneira como aqueles citados como “Uetacás” (Goitacá) e “Ueanás” (Guainá) (ibidem). A descrição de Léry daria margem a que a designação “Karajá” entrasse para a cartografica histórica do Brasil como uma imprecisa “nação” indígena do interior do país. Assim, por exemplo, a edição flamenga, a cargo de Peter van der Aa, de 1706 (cerca de 130 anos depois da primeira edição) da obra desse protestante francês, abriria com um mapa da “Rota Náutica” (ou, em termos náuticos, “derrota”) do Brasil feita da França por Jean de Léry no ano de 1556, no qual consta a indicação desses “Karayas”: Van der Aa, Pieter [1706] “Brasiliaanze Scheepvaard door Johan Lerius Gedann vit Vrankryk in’t Iaar 1556” in Johan Lerius (Jean de Léry) De seer aabnerklijke en vermaarde Reys van Johannes Lerius na Brasil in America. Leiden: Pieter van der Aa. Detalhe. Fonte: Miceli (2002: 339). Capítulo 1 16 Nesse mesmo princípio do século XVIII, um outro mapa francês, também impresso nas tipografias flamengas e também, ao que tudo indica, tributário dessa tradição narrativa protestante8, reiterou a existência dessa imputação tupi na mesma incerta região centromeridional do Brasil, asseverando basear-se nas “memórias mais recentes e observações mais exatas”: Fonte: Chatelain, Henri Abraham & Gueudeville, Nicolas. 1719. “Carte de la Terre Ferme, du Perou, du Bresil et du Pays des Amazones” in ———— Atlas Historique, ou nouvelle introduction à l’histoire, à la chronologie & à la Géographie ancienne & moderne réprésentée dans des nouvelles cartes. vol. 6 (Afrique, Amérique): 122. Amsterdam: Honoré & Chatelain. Detalhe. 8 A propósito de uma “alternativa protestante” ao corpus narrativo europeu colonial sobre o Novo Mundo, ver Elliot (1992). 17 Capítulo 1 Cem anos antes dessa imponderável cartografia, entretanto, testamentos e roteiros de bandeirantes paulistas que haviam se internado nos sertões dos “goyazes” legam a seus herdeiros ou dão notícia de contingentes de índios “Carajaúnas” (Ferreira, 1977: 112 e 125), e provavelmente apenas daí poderíamos esboçar certa linha de continuidade geográfica bastante tênue com os atuais Karajá, sempre que as menções possam ser precisadas aos índios do Araguaia. As bandeiras, na verdade, não deixaram mais que alguns “roteiros” que, cruzando os sertões do Brasil Central e atingindo o Araguaia, indicariam o caminho para as lendárias minas dos Martírios9. Foi por volta do ano de 1725 que se encontrou ouro na Província de Goiás, o que veio a atrair maiores contingentes populacionais aos sertões goianos. Nesta época foram fundados diversos povoados cuja população viria a entrar em conflito com indígenas da região. O alferes José Pinto da Fonseca descreve, em 1775 em carta ao general de Goiás, o estabelecimento de contatos pacíficos com os Karajá. A ordem de seus superiores era a de convencer os silvícolas das boas intenções do governante: “com esta nação principiei a praticar as affabilidades com que V. Ex. quer que se civilisem os índios silvestres: achámos serem poucos todos os agrados e carinhos á vista dos grandes escandalos com que os trataram os nossos primeiros colonizadores”10 9 Os trabalhos de Manoel Rodrigues Ferreira (1960, 1977) indicam a possibilidade de que as tais Minas dos Martírios, ou Araés, no “Sertão do Paraupava” fossem localizadas no Araguaia. A Lagoa do Paraupava, que era uma das referências para se encontrar os Martírios, não seria outra coisa que a própria Ilha do Bananal, que durante a época das cheias do Araguaia chega a ficar 2/3 submersa. No norte da Ilha há também uma Lagoa (esta, perene), atualmente chamada de Lagoa da Confusão. Ferreira procura demonstrar que as indicações desta lagoa, e deste rio — que ligaria, segundo os cartógrafos da época, a bacia do Prata ao Amazonas — , estão presentes desde os primeiros mapas que mostram o interior do país, e sua indicação teria, inclusive, sido uma espécie de “segredo de Estado” entre portugueses e espanhóis. Uns e outros buscavam incansavelmente a tal lagoa e procurariam dissuadir o outro de sua busca. O rio Araguaia parece ter atraído curiosidade (e cobiça) também de outros países posteriormente. Um outro mapa, de 1779, impresso na Inglaterra, e não utilizado por Ferreira (1977), é um exemplo deste interesse estratégico pelo Araguaia, que ultrapassava as fronteiras das potências ibéricas. A nota curiosa deste mapa é a precisão do conhecimento sobre o curso do rio Araguaia e o desconhecimento completo de outros trechos continentais bem próximos. Além do litoral, que está também representado com bastante detalhamento, o interior do Brasil (a oeste e a leste do Araguaia) é um grande branco, “terra incógnita” (cf. D’Anville, 1779). Se as primeiras notícias que procuram localizar os Karajá como um grupo singular e específico fixado ao longo do Araguaia datam de 1775 (como adiante diremos), a partir da crônica histórica de José Pinto da Fonseca, não deixa de ser curioso que apenas quatro anos depois tenha sido possível fornecer informações tão detalhadas sobre aquele rio no mapa de Jean Baptiste D’Anville. A lenda das Minas dos Martírios ainda rendeu muitas aventuras como atesta a malfadada incursão do coronel Fawcett, já no séc. XX, que se internou nas selvas do Xingu em busca de uma cidade perdida, um Eldorado (Morel, 1944), jamais retornando. 10 Decidimo-nos a manter aqui a grafia original do texto publicado em 1867. 18 Capítulo 1 (Fonseca, [1847] 1867: 377). O mesmo alferes relata a expedição de Antônio Pires de Campos, vinte anos antes da sua, encomendada por habitantes da região com o objetivo de represália aos grupos indígenas, dos quais teriam sido feitos inúmeros escravos, vendidos em fazendas da região, e causando, ainda, assustadora mortandade entre aqueles grupos. A intérprete da expedição de Fonseca seria uma índia Karajá sobrevivente do ataque de Pires de Campos. A partir do séc. XIX as menções a um grupo chamado Karajá nos relatos de viagem passam a se fixar na região do Araguaia. As variações Carayá, Carajahí (Drummond, 1848: 35; e Silva e Souza, 1849: 471), Carajaú, Carajaúna passam a ser mais freqüentes e denominariam distintas “hordas” de um mesmo grupo Karajá. Mary Karasch (1992) defende que, em termos gerais, as relações entre índios e regionais até, pelo menos, meados do séc. XIX na região do interflúvio Araguaia-Tocantins foram caracterizadas por sangrentos conflitos e hostilidade mútua. A política indigenista idealizada na metrópole imperial supunha a transformação dos “selvagens” em trabalhadores cristãos por meio da catequese e da pacificação. O índio civilizado seria uma alternativa para o povoamento da região: “Quando os exploradores do período 1780-1822 não encontraram minas de ouro e a economia de Goiás entrou em ‘decadência’, a política oficial concentrou-se em novos esforços de desenvolvimento destinados a povoar Goiás com trabalhadores agrícolas indígenas. Como poucos imigrantes europeus chegaram a Goiás no séc. XIX e a escravidão negra entrava em franca decadência, a falta de mão-de-obra para as fazendas de criação de gado, café, açúcar e outros gêneros alimentícios, em expansão, levou autoridades e colonos goianos a procurar obter novos trabalhadores e escravos índios.” (Karasch, 1992: 398). No entanto, as tentativas de “trazer os índios à civilização” eram seguidamente fracassadas e, no nível capilar, nos extremos da “fronteira” colonizatória11, a Realpolitik 11 A noção de “fronteira” foi explorada por Otávio Velho ao tratar da ocupação do interior do Brasil pelo campesinato. O autor procura demonstrar que “fronteira” é uma noção de difícil apreensão, uma vez que no Brasil a ocupação territorial não se dava com “avanços” da civilização sobre uma terra selvagem. A figura do bandeirante seria emblemática dessa expansão de “fronteira”, em que a ocupação de um território “livre” não necessariamente produz uma projeção colonizadora sobre aquele meio. O caráter intermitente dessa “fronteira” teria levado alguns autores a preferir o termo “frentes pioneiras” ou mesmo “frentes de expansão”, “onde até a noção de ‘pioneira’, na medida em que possa implicar uma idéia de um primeiro passo numa cadeia de Capítulo 1 19 indigenista era a de deliberadamente “desinfestar” a região de índios, exterminado-os pela força das armas: “embora a política oficial de Lisboa proibisse a guerra ofensiva contra os índios e recomendasse tratamento pacífico, os governadores de Goiás e os goianos resistiam aos ataques dos índios com a força e organizavam expedições agressivas para ‘desinfestar’ as regiões por eles ameaçadas.” (Karasch, 1992: 400). É naquele conflituoso século XIX que o rio Araguaia se torna uma das preocupações centrais dos colonizadores. A navegabilidade da maior parte de seu curso é atestada por numerosas expedições12. No início daquele século, a região do rio Araguaia contava com parca população não-índia e o estabelecimento de presídios13 ao longo do rio visava garantir alguma segurança aos eventuais navegantes, acossados pelos ataques indígenas e, ainda, atrair colonos para povoar as margens do rio (Karasch, idem: 403). Se a “política” para com alguns grupos indígenas seguia sendo a repressão e o extermínio, em meados daquele século ela principia a sofrer mudanças na direção de uma estratégia mais paternalista de proteção e conversão. Ao mesmo tempo em que se continuava a realizar expedições contra os Xavante, Xerente e Kayapó, por outro lado havia recomendações governamentais para que se regalassem os Karajá, Tapirapé e Karajaú (conferir supra o uso de termos como carajaú, carajahi) com presentes (Karasch, idem: 404). Mary Karasch anota que a partir de 1850, a política indigenista em Goiás passa a se concentrar nas regiões dos rios Araguaia e Tocantins (ibidem) que eram, afinal, os caminhos concebíveis para um comércio com o porto de Belém. Em 1850, um pouco à jusante da confluência do rio Vermelho com o Araguaia é fundado o povoado de Santa Leopoldina, atual Aruanã. O general Couto de Magalhães, enquanto governador da província, teve a intenção de mudar a capital de Vila Boa de Goiás (ou simplesmente Goiás) para a beira do rio Araguaia, na cidade de Leopoldina. Couto de Magalhães também empreende expedição pelo rio, em 1862, para auferir a possibilidade de navegação do Araguaia, publicando seus diários no livro Viagem ao Araguaia (cf. Couto de Magalhães, 1902). O general considerava o Araguaia a “segunda costa” brasileira. Eixo fluvial que seria o veículo para a colonização do interior. A partir desta época, as tentativas de desenvolvimentos necessariamente ‘positivos’, é evitada” (Velho, [1976] 1979: 115). 12 Ver, por exemplo, Ribeiro (1848) que empreendeu expedição em 1815 e Segurado (1870) que realizou expedição em 1847 na condição de deputado da Assembléia Legislativa da Província de Goiás. 13 O termo “presídio”, no séc. XIX, designava instalações militares: um posto guarnecido por militares. Capítulo 1 20 catequização dos índios, que eram indissociáveis da política indigeninsta (cf. Karasch, 1998), se intensificam, com a fundação de escolas e aldeamentos. Desde aproximadamente meados do séc. XIX, as hostilidades dos Karajá, que até então não parecem ter diferido dos seus vizinhos14, arrefecem e praticamente desaparecem. Contatos pacíficos com os Karajá passam a ser reiteradamente mencionados nos relatórios de viajantes que realizam suas expedições pelo rio e os Karajá passam a ser constantemente reivindicados como apoio logístico para uma possível navegação comercial no Araguaia. Seja como remadores, seja como fornecedores de lenha para os vapores ou de provisões aos navegantes, os Karajá despontam como mão-de-obra para o comércio fluvial. Um exemplo ilustrativo é a expedição de Rufino Theotonio Segurado, de 1847, que consegue estabelecer contato pacífico com várias aldeias ao longo do rio: “Carajá manso, amigo muito. Carajá bom muito” teria lhe dito um cacique, buscando angariar a simpatia do viajante. Rufino T. Segurado demonstra seu entusiasmo pelo emprego da mão-de-obra Karajá na navegação fluvial, “no que são mui hábeis”: “Os índios já não impediam tal comércio [o comércio fluvial]: haviam se tornado parte essencial dele” (Karasch, idem: 407). Não por casualidade, até meados do séc. XX os Karajá seriam conhecidos como os “índios remeiros do Araguaia” (Palha, 1942). É, com efeito, no último quartel do séc. XIX que se iniciam as primeiras expedições etnográficas ao Brasil Central. A mais conhecida entre elas é, sem dúvida, a pioneira expedição de Karl von den Steinen, que logrou alcançar as cabeceiras da bacia do rio Xingu, estabelecendo relações pacíficas com os grupos do Alto Xingu e, ainda, inaugurando uma longa tradição de estudos etnológicos sobre aquela região. A reputação deste etnólogo alemão é a de ter sido o primeiro a realizar, no Brasil, uma expedição com objetivo essencialmente etnológico (Thieme, 1993: 38). Estas primeiras expedições foram realizadas sobretudo por pesquisadores de tradição alemã. Inspirada em conceitos românticos, no legado dos irmãos Humboldt15 e na literatura de viagens, a etnologia alemã, da qual von den Steinen era 14 Observe-se, por exemplo, a coligação armada entre Karajá, Xavante e Xerente que, em 1813, atacou o presídio de Santa Maria do Araguaia, destruindo-o completamente, deixando muito poucos sobreviventes. Este episódio é particularmente relevante, pois que os Karajá e os Xavante eram inimigos encarnecidos. O estabelecimento de relações pacíficas dos Karajá com o alferes José Pinto da Fonseca (cf supra) foram logrados a partir de promessas do alferes de proteção contra os ataques dos Xavante, a quem os Karajá muito temiam. Para mais informações sobre a coligação armada Karajá, Xavante-Xerente, cf. Chaim (1974) e Karasch (1998). 15 Os irmãos Wilhelm e Alexander von Humboldt — o primeiro lingüísta e, o segundo, naturalista e Capítulo 1 21 tributário, floresceu num ambiente específico: os Museus. Os Völkerkunde Museums, Museus Etnológicos, fomentados pelo súbito crescimento econômico de algumas cidades alemãs (principalmente a partir de 1870) e também uma certa popularização da literatura inspirada em relatos de viagem, criavam um ambiente receptivo àquela ciência nascente, a etnologia (Welper, 2002). É relevante notar que os países de língua alemã não estavam, àquela época, comprometidos com nenhuma empresa colonial. Segundo Elena Welper, “Na literatura, os alemães, como [alguns] outros europeus, e diferentemente dos americanos, puderam projetar suas imagens e estereótipos sobre os povos primitivos com maior liberdade, pois estavam, em todo caso, falando de uma realidade que não era a deles” (Welper, 2002: 19). Não é de todo supreeendente constatar, pois, que mesmo antes da primeira “edição definitiva” do relato da expedição de Couto de Magalhães ao Araguaia (realizada em 1862), ele foi publicado na cidade de Gotha, Alemanha. O livro Viagem ao Araguaia havia sido publicado na capital da Província, Goiás, em 1863 quando o General era aí Presidente. Posteriormente foi publicada em fascículos, na mesma capital, no periódico O Federalista, em 1889. Neste ínterim, o relato foi publicado, também em fascículos, entre 1875 e 1876 no Petermann’s Mittheilungen, em Gotha. A edição brasileira definitiva é de 1902, publicada em São Paulo (Couto de Magalhães, 1902). Não nos é possível avaliar o efeito da publicação dos relatos do General em terras germânicas nem uma possível influência desta publicação no despertar de uma curiosidade etnológica para com a região do rio Araguaia. No entanto, o sabor aventuresco do relato ilustra o entusiasmo dos alemães com esse tipo de literatura. Karl von den Steinen foi conduzido à etnologia por Adolf Bastian. Fundador do Museu Etnológico de Berlim e grande teórico da etnologia alemã, Bastian — que postulava que haveria uma unidade física de toda a humanidade16, unidade esta que tomaria um aspecto particular em cada ambiente (físico) em que se encontrava — acreditava que a etnologia tinha explorador —, com uma visão de mundo humanista e cosmopolita, influenciaram o desenvolvimento das Ciências (Naturais e “do Espírito”, Geistwissenschaften: Ciências Humanas) na Alemanha (Welper, 2002: 18). Alexander von Humboldt empreendeu, entre os anos de 1799 e 1804, uma famosa expedição no continente americano, centrada principalmente na região equatorial, pesquisando correntes marítimas, a ligação natural entre as águas dos rios Amazonas e Orenoco, História Natural, entre outros assuntos. 16 Além da unidade física, Bastian se fundamentava numa crença na Elementärgedanke, idéia elementar, a idéia de um divino, que Bastian acreditava comum a todos os povos. Capítulo 1 22 a tarefa urgente e inadiável de “coletar o maior número de testemunho [sobre os povos “primitivos”] o mais rápido possível” (Thieme, 1993: 45) porque aqueles povos estariam desaparecendo rapidamente em conseqüência do contato com a civilização. Para Adolf Bastian, o valor desta documentação seria o de reunir, através de coleções representativas, elementos para a comparação da multiplicação de manifestações culturais (Thieme, idem). Karl von den Steinen, no entanto, não parecia nutrir grandes ilusões quanto a essas coleções, como atesta o necrológio que escrevera por ocasião da morte de Bastian, em 1905: “miserável coleção de coisas em série. Dentro de um armário de vidro... a vida de um povo. Mas na falta de coisa melhor, esses trapos coloridos e esses vasos maravilhosos servirão para testemunhar às gerações vindouras o desenvolvimento da humanidade e, por isso, assumem progressivamente a importância de documentos, embora pareçam bagatelas” (Steinen, 1905 apud Thieme, 1993: 45). Entre os integrantes da segunda expedição17 de von den Steinen ao Xingu, estava aquele que viria a ser o primeiro etnógrafo dos Karajá, Paul Max Alexander Ehrenreich. Nascido em Berlim em 1855, Paul Ehrenreich partiu para o Brasil pela primeira vez em fins de 1884. Nessa viagem fez incursões etnográficas entre os “Botocudo” do aldeamento de Mutum, no vale do Rio Doce. Também pesquisou entre os Puri do rio São Miguel, concentrando-se em coletar dados de antropologia física (medição de crâneos, esqueletos e coleção de fotografias antropológicas) e também dados lingüísticos. Em 1885, acometido de graves crises de malária e após ter perdido, num incêndio, metade do material etnográfico que havia coletado, Ehrenreich retorna à Alemanha. Em 1887, integra a comitiva da expedição de Karl von den Steinen ao rio Xingu. É ele o responsável pelas fotografias e dados de Antropologia Física daquela expedição (Baldus, 1948a: 8). Ao fim da expedição ao Xingu, segue para o rio Araguaia. Ele descerá aquele rio desde a cidade de Leopoldina (atual AruanãGO), acompanhado de um guia Karajá, Pedro Manco, até Belém do Pará. A expedição de von den Steinen ao Xingu havia encontrado dois grupos de língua Caribe, os Bakairi e os Nahukuá, descoberta que levou (junto a outras evidências) os pesquisadores a supor que o ponto de dispersão da população de fala Caribe original teria sido a bacia do Xingu e não o nordeste da América do Sul como se supunha. A ampla dispersão 17 Von den Steinen realizou duas expedições ao Xingu. A primeira em 1884 e a segunda em 1887-8. Capítulo 1 23 dos grupos de língua Caribe já incitava a curiosidade dos especialistas àquela época: “Impunha-se agora a tarefa de seguir os rastos daquelas antigas migrações de povos, no intuito de encontrar tribos karaib que formassem o elo de ligação entre os dois grupos [os Caribe do Alto Xingu e os da região nordeste da América do Sul] dessa grande família étnica tão afastados um do outro” (Ehrenreich, 1948: 17). Segundo Ehrenreich havia uma possibilidade de que os Karajá fossem um desses elos de ligação entre os dois grupos Caribe afastados (idem) e essa parece ter sido a justificativa central de sua expedição ao Araguaia. Após sua exploração etnográfica, constata que aquele grupo não tinha qualquer semelhança lingüística com os grupos conhecidos, menos ainda com os Caribe. Esta parece ser a primeira dentre outras vezes que os Karajá aparecerão na etnologia como “provável” elo de ligação entre dois grupos. Após a expedição ao Araguaia, ele sobe os rios Amazonas e Purus, onde também recolhe material etnográfico sobre os grupos Ipuriná ou Kangati (?), Yamamadi e Paumari. Além da América do Sul, o autor viajou pelo Egito, Índia e Birmânia, igualmente publicando dados etnográficos. Segundo Baldus, o mais importante trabalho etnográfico de Ehrenreich é a “Beiträge zur Völkerkunde Brasiliens” traduzido para o português por Egon Schaden e minuciosamente comentado por Herbert Baldus (cf. Contribuições para a Etnologia do Brasil, Ehrenreich 1948). Uma publicação específica sobre a língua karajá, “Die Sprache der Caraya (Goyaz)” (Ehrenreich,1894) integrou uma coleção maior, Materielen zur Sprachkunde Brasiliens (Materiais de Lingüística do Brasil), publicada em sucessivas edições da mais importante revista de etnologia alemã, a Zeitschrift für Ethnologie, que contou com descrições sobre as línguas Kayapó, Akuén (Xavante e Xerente), Guajajara, Anambé, Apiaká18 e grupos do rio Purus. O interesse central de Ehrenreich pela cultura material dos Karajá, interesse partilhado com a tradição etnográfica em que estava inserido, não o impediu, no entanto, de registrar dados sobre a vida social do grupo. Ao lado de extensas descrições da pintura corporal, adornos, vestuário, construção de casas e preparo de alimentos, entre outros, o autor faz menção a costumes, casamento, nascimento, enterros e atividade xamanística. O autor coletou alguns dos mais conhecidos mitos karajá e descreveu brevemente as “danças de 18 Esses “Apiaká” a que se refere Ehrenreich não são o grupo atualmente conhecido como Apiaká, grupo Tupi, mas algum grupo homônimo da região. Capítulo 1 24 máscaras”, dando, naturalmente, maior ênfase à confecção mesma das máscaras. Reconhece a limitação de sua documentação afirmando que “o verdadeiro sentido dessas danças, é provável que nunca cheguemos a uma compreensão exata” (1948: 78). Se dados e interpretações de Ehrenreich foram posteriormente contestados por Fritz Krause e Herbert Baldus, o seu trabalho segue sendo fundamental no que tem de pioneiro e no que possa dele ser extraído, se lido no contexto de sua época. Suas gravuras foram exaustivamente reproduzidas por autores posteriores: os banquinhos zoomorfos, a construção das casas, a sepultura tradicional. Curiosamente, Donahue levou a campo cópias das gravuras das máscaras para dançar o Ijasó19 e as mostrou para os Karajá, que as reconheceram entusiasmados, quase cem anos após seu registro por Ehrenreich. Na primeira década do século vinte, Fritz Krause empreende expedição pelo rio Araguaia. Sua empreitada, financiada por diversas entidades de Leipzig, tinha o objetivo de reunir uma coleção para o Museu Etnográfico daquela cidade e chegou a contar com mais de 1100 peças. Partiu de Leopoldina, descendo o rio Araguaia, até o extremo norte da Ilha do Bananal. Sobe o braço direito da Ilha (também conhecido como rio Javaés) e logra alcançar uma aldeia Javaé. O autor chegou a visitar mais de vinte povoações karajá, entre aldeias maiores e casas isoladas. Krause visitou também uma aldeia Kayapó. Tentou alcançar os Tapirapé, subindo o rio de mesmo nome a partir do encontro com o Araguaia, no que foi frustado tanto por obstáculos materiais (impossibilidade de subir o rio Tapirapé durante a seca) como pela hostilidade e medo que contra eles alimentavam os seus guias karajá. Ao que consta, o intenso fluxo comercial entre os dois grupos estava, à época, suspenso e reinava a desconfiança mútua20. 19 20 As danças ijasó e todo o ciclo ritual será abordado posteriormente. Além dos Xavante e Tapirapé, as hostilidades mútuas dos Karajá também se verificavam com os Kayapó. Em seu relato da viagem realizada entre 1881 e 1882 pelo rio Araguaia, Joaquim de Almeida Leite Moraes anota, ao chegar em Santa Maria: “Na praia fronteira estava situada uma pequena aldeia de carajás pacíficos; há poucos dias fora assaltada pelos caiapós, que aí fizeram uma carnificina horrorosa, matando mulheres, crianças e seus chefes. Escapara somente o pobre índio que ali se achava. (...) Entre os carajás e os caiapós há uma guerra secular de vida e morte; são inimigos irreconciliáveis, e este ódio profundo e inextinguível transmite-se de geração em geração” (Leite Moraes [1883] 1999: 173-174). Leite Moraes nota ainda que as diferentes margens do Araguaia determinavam diferentes domínios de ocupação, um Kayapó, outro Karajá, deixando implícita a impressão de que, apesar dessa perigosa proximidade e das razias Kayapó, os Karajá não se afastavam do “seu” rio. 25 Capítulo 1 Dos escritos de Krause que foram traduzidos para o português, o de maior vulto é Nos Sertões do Brasil. Traduzido por Egon Schaden e prefaciado por Herbert Baldus, foi publicado ao longo de dez números da Revista do Arquivo Municipal de São Paulo. Nos Sertões do Brasil não nos parece um texto estritamente etnográfico, como o Contribuições... de Ehrenreich (cf. supra), e poderia ser melhor classificado como um relato de viagem pontuado com notas etnográficas. O essencial de sua obra etnográfica está em alemão, em textos sobre as máscaras das danças ijasó (1910a), sobre arte (1911) e, já naquela época, uma tentativa de circunscrever os Karajá dentro do contexto etnográfico do Brasil Central (Krause, 1924). A argumentação deste último artigo foi compilada por Padberg-Drenkpol e publicada em português (Padberg-Drenkpol, 1926). Krause teria verificado a semelhança de traços da cultura material Karajá com grupos do Xingu e do Chaco boliviano, além dos Bororo e dos Sirionó, concluindo, daí, que os Karajá “deviam morar não longe do Xingu, em comunicação com o norte, mas já sem trato com o sul e o sudeste” (Padberg-Drenkpol, 1926: 77-78). No ano em que o Museu Etnográfico de Leipzig envia Fritz Krause à região do Araguaia, o Museu Etnográfico de Berlim preparava a expedição de Wilhelm Kissenberth à mesma região. Havia entre as duas expedições um certo espírito de concorrência (cf. Hermannstädter, 2002), que parecia fazer parte do estilo de etnologia feito para Museus naquela Alemanha do início do séc. XX. Sobre a concorrência entre os Museus Etnográficos, Elena Welper anota que: “Localmente orientados, esses museus motivaram uma competição intragermânica, dando continuidade às rivalidades existentes entre os estados alemães. Ao contrário dos demais museus europeus do séc. XIX, que eram governados por objetivos nacionais ou coloniais, esses museus eram caracterizados pela forte direção exercida pelas associações locais que os administravam. Dessa forma, combinavam velhas tradições cosmopolitas, herdadas de Humboldt, com uma espécie de autopromoção cívica” (Welper, 2002: 21). Kissenberth se dispõe a percorrer, em direção ao Araguaia, um caminho nada convencional. A quase totalidade das expedições ao Araguaia fez o caminho partindo de São Paulo até Goiás Velho (às margens do rio Vermelho, tributário do Araguaia) e dali seguindo para Leopoldina, onde o rio Vermelho encontra o Araguaia. Alternativa a essa rota era subir o rio Tocantins a partir de Belém do Pará e dali seguindo para a direção montante do rio 26 Capítulo 1 Araguaia. Já a viagem de Kissenberth teve início em São Luís do Maranhão, subindo num vapor o rio Mearim até o povoado de Pedreiras e dali até Barra do Corda. Atravessou por terra o sertão maranhense até a cidade de Carolina, de onde começa a subir o rio Tocantins. Segue para a cidade de Pedro Afonso e, finalmente, alcança Conceição do Araguaia. Mapa: Renate Sander apud Hermannstädter (2002: 113), confrontado com Kissenberth (1912). A despeito de ter escolhido este roteiro por parecer menos custoso, a expedição de Kissenberth fora, até então, a mais cara expedição fincanciada pelo Museu Etnográfico de Berlim (Hermannsädter, idem). O etnógrafo visitou, além do Karajá, os Canela no Maranhão e os Kayapó no Pará (rio Pau d’Arco). Capítulo 1 27 A coleção etnográfica obtida por Kissenberth conheceu um destino que explica, em grande parte, as razões pelas quais sua expedição caiu no esquecimento. Quase metade da coleção se perdeu na Segunda Guerra Mundial (Hermannstädter, 2002: 109). O acervo que resistiu permaneceu inacessível ao público e aos pesquisadores, em arquivos da Alemanha Oriental, até 1992, originando o que a historiadora Anita Hermannstädter viria a chamar de “uma expedição esquecida” (Eine vergessene Expedition). Somente após a reunificação da Alemanha o acervo de Kissenberth foi tornado acessível ao público e ainda está por ser explorado. Há um breve artigo do autor, com um relatório de sua expedição, publicado na Zeitschrift für Ethnologie (Kissenberth, 1912). Todavia, o maior volume de informações etnográficas colhidas por Kissenberth está em seus diários, no Museu Etnológico de Berlim. Tanto o raro roteiro seguido pelo pesquisador quanto as dimensões de sua expedição, que durou três anos — entre os quais um ano e meio de comunicações com a Alemanha completamente interrompidas — sugerem que o material inexplorado do autor possa vir a contribuir para um melhor conhecimento da etnografia da sua época. Acreditamos, por exemplo, que o autor tenha visitado o subgrupo Xambioá, etnograficamente o menos conhecido subgrupo Karajá, que havia sido estudado por Ehrenreich e só tornou a ser objeto de estudo etnográfico nos anos 80 do séc. XX com André Toral (1992). O antropólogo norte-americano William Lipkind, considerado por Pétesch o responsável pelo primeiro trabalho etnográfico aprofundado sobre os Karajá (Pétesch, 2000: 3), esteve na região do Araguaia por vários meses entre os anos de 1938 e 1939. Apenas dois artigos do autor sobre os Karajá vieram à luz. Carajá Cosmography (Lipkind, 1940) é um texto breve, de quatro páginas, em que o autor descreve em linhas gerais a geografia cosmológica karajá. É também de Lipkind o artigo sobre os Karajá no Handbook of South American Indians (1948). Trata-se de um resumo dos aspectos considerados relevantes da cultura karajá. Os dados aí fornecidos sobre parentesco foram posteriormente utilizados por Alf Hornborg (1988) em sua compilação sobre parentesco e dualismo nas terras baixas sulamericanas. Assim como as notas de Kissenberth, a maior parte dos dados de Lipkind está nos diários de campo, depositados no National Museum of Natural History, no Smithsonian Institution, Washington, ao qual ainda não tivemos acesso. Capítulo 1 28 Pela riqueza das informações recolhidas e pelo inesgotável interesse que demonstrou pelo grupo, acreditamos poder denominar Herbert Baldus o “etnógrafo indireto” dos Karajá, nos anos 1940. Herdeiro de uma certa tradição enciclopedista, como atestam os volumes da sua Bibliografia Crítica da Etnologia Brasileira (1954 e 1969), Baldus foi incansável colecionista de dados sobre os mais variados grupos indígenas. A despeito de seu interesse específico recair sobre os Tapirapé, o autor deixou inúmeros artigos sobre diversos outros grupos, sejam os Kaingang, Bororo, Chamacoco, Terena ou Karajá. Sua etnografia tapirapé, obra monumental que versa sobre os aspectos considerados, à época, os mais importantes para se compreender o grupo21, conta com um tal número de informações sobre os Karajá, que quase podemos considerá-la uma etnografia Karajá via Tapirapé. Os grupos Karajá e Tapirapé vêm mantendo contato secular entre si e intercâmbios de muitas ordens. A etnografia de Baldus (1970) sugere que tenha havido uma intensa dinâmica em que se alternaram relações de aliança, comércio, guerra, aliança e assim sucessivamente. Baldus considera que “Entre todas as tribos conhecidas é a dos Karajá aquela que mais se assemelha culturalmente aos Tapirapé. É a única (...) que teve contato íntimo com esses Tupi” (Baldus, 1970: 65). Decorre daí o fato de os Karajá aparecerem ao longo de toda a etnografia e não apenas na seção destinada a “contatos com os outros índios” (na qual, por sinal, os Karajá ocupam lugar proeminente). Adornos, danças e outros elementos da cultura material são a todo instante comparados aos dos Karajá, em busca de possíveis “empréstimos culturais”. O autor atribui aos Karajá a introdução de facas, machados, tecidos e doenças dos brancos entre os Tapirapé, que estariam relativamente mais afastados das possibilidades de contato. Já entre os Karajá, alguns enfeites como o tembetá de quartzo22 eram considerados resultados de trocas com os Tapirapé. Ainda está por ser feita uma investigação etnológica e etno-histórica que aborde com profundidade as relações de guerra, aliança e comércio entre os Karajá e os Tapirapé. Em 1937 Herbert Baldus publica uma coletânea de mitos Karajá (Baldus, [1937] 1979 ). O mesmo autor elaborou um artigo com suas elocubrações sobre as relações entre os grupos do Araguaia e do Xingu, onde os Karajá figuram, novamente, assim como a busca pelos Caribe de Ehrenreich, como um “elo perdido” de uma corrente (Baldus, 21 Tais como Ambiente, Demografia, Subsistência, “Religião”, entre outros. 22 Não sabemos se os tais tembetás de quartzo ainda existem e se seriam usados. Capítulo 1 29 1938). Elaborou, ainda, um trabalho posterior com impressões sobre o trabalho do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) junto aos grupos do Araguaia (Baldus, 1948b). Nos anos 1950 temos conhecimento de três autores que abordaram etnograficamente os Karajá. Washington Vásquez, lingüista uruguaio ligado à Universidad de la República, Montevideo, o etnólogo suíço Hans Dietschy e a antropóloga Maria Heloísa Fénelon Costa. Washington Vásquez esteve entre os Karajá em 1953 e 1956. Como resultado de suas pesquisas, publica um pequeno artigo (Vásquez,1959) que é resumo de um trabalho maior ao qual ainda não tivemos acesso. De uma perspectiva tendencialmente mais européia, os moldes de seu trabalho parecem um tanto antiquados já para sua época (anos 50), a não ser que o consideremos como um curioso exemplar do neo-evolucionismo materialista da linhagem de um Marvin Harris, tão influente na América Hispânica. Parece haver uma concentração em dados mensuráveis da vida karajá, tais como estatísticas sobre produção econômica, demografia, fauna. Há pouca menção à organização social ou o sistema de parentesco do grupo (dados que já interessavam autores contemporâneos a ele e inclusive anteriores, como Lipkind e Baldus). Seria instrutivo conhecer as razões que levaram o lingüista a se ocupar dos Karajá, o que teria atraído o pesquisador. É possível supor que a relativa notoriedade pública dos Karajá nos anos 50 e 60 tenha chamado a atenção também de uma produção etnográfica relativamente periférica e afastada, como a do meio acadêmico uruguaio. No final da década de 50 os Karajá recebem a pesquisadora Maria Heloísa Fénelon Costa. Seu trabalho de campo é realizado em duas etapas — cinco meses em 1957 e mais alguns meses entre 1959 e 1960. O interesse específico da autora consistia em apreender um processo de “mudança cultural” que estaria sofrendo a “arte” karajá em decorrência do contato com a sociedade nacional. Concentra-se nos desenhos usados para decorar peças artesanais, pinturas corporais e, sobretudo, nas famosas bonecas karajá, as Litxokó. As bonecas já haviam sido alvo dos interesses de Luis de Castro Faria ([1959] 2000). As Litxokó já vêm chamando a atenção dos pesquisadores desde Ehrenreich e Krause. Este último coletou um bom número delas para o Museu Etnográfico de Leipzig. O interesse de Fénelon Costa residia nas mudanças plásticas imprimidas ao padrão que Castro Faria veio a chamar de “fase antiga” (Castro Faria, [1959] 2000), qual seja, figuras de base achatada em que pouco se Capítulo 1 30 distinguem pernas, ausência de braços e monocromatismo23. Essas mudanças originariam um padrão que o mesmo autor chamou de “fase moderna”, em que encontramos a representação morfológica um pouco mais realista (braços e pernas definidos), policromatismo e a representação de personagens ou cenas míticas e, ainda, cenas da vida cotidiana. Se, na atualidade, certas preocupações da autora nos parecem sem lugar, como a possibilidade — cogitada por Fénelon Costa e baseada em opiniões de Krause — da boneca representar ou não um “ideal de beleza” ou, ainda, o questionamento sobre se a arte figurativa Karajá seria uma “expressão de um protesto contra o grupo dominante” (Fénelon Costa, 1978: 159), a etnografia realizada pela autora aporta questões relevantes para a etnografia contemporânea. Egressa dos cursos de aperfeiçoamento em Antropologia Cultural organizados no Museu do Índio (Castro Faria, 1998: 255), Fénelon Costa é, provavelmente, a primeira antropóloga brasileira profissional a trabalhar com os Karajá. A apresentação da história do contato dos Karajá com a sociedade nacional é a mais completa que conhecemos. Além disso, sua etnografia aborda tópicos essenciais, tais como os cargos de chefia e a composição de grupos cerimoniais, que viriam a ser explorados por seus sucessores. A sua vinculação a debates teóricos que ultrapassavam a estrita descrição etnográfica parece contribuir para a atualidade de seu trabalho. Hans Dietschy, etnólogo suíço, foi quem, entre os pesquisadores dos anos 50, ofereceu a maior contribuição para a etnografia karajá. Para Pétesch, devemos a ele a literatura etnológica mais abundante e completa sobre os Karajá (Pétesch, 2000: 3). Formado na Suíça e na Alemanha (em Basel e em Berlim), Dietschy foi fortemente influenciado pela antropologia francesa tendo, inclusive, lecionado durante seis anos (1964-1970) como “Directeur d’études”, na École Pratique des Hautes Études, a convite de Lévi-Strauss. Antes de se dedicar aos Karajá, Dietschy trabalhou com a coleção iconográfica sobre o México Antigo no Museu Etnológico de Basel (Baer, 1989-1990). Veio para o Brasil em 1954 com o objetivo de conhecer as “formas sociais e culturais dos Karajá” (Baer, idem). Hans Dietschy não publicou nenhuma etnografia standard sobre os Karajá. Seus dados e análises estão dispersos por vários artigos, poucos deles traduzidos para o português e mesmo para o 23 As Litxokó da fase antiga têm uma aparência bastante próxima das famosas Vênus do Paleolítico, figuras de forma losangulada (Leroi-Gouhran, 1965) que muitas vezes foram reconhecidas como figurações de “deusas da fecundidade”, dentre as quais a famosa Vênus de Willendorf (cf. Janson, 1986: capítulo 1). Capítulo 1 31 francês. Seu artigo de 1977 foi o primeiro a sugerir explicitamente uma forma estrutural triádica para explicar o arranjo dos grupos cerimoniais karajá. Esta proposta foi aprofundada e ampliada por Pétesch (1987) e acompanhará boa parte do presente trabalho. A proposta triádica de Dietschy é também encontrada em artigo específico sobre graus de idade e parentesco (1978). Há, ainda, uma boa quantidade de artigos do autor que se nos apresentam inacessíveis nem tanto pelas dificuldades lingüísticas impostas pela língua alemã quanto pela dificuldade em obtê-los em revistas suíças de escassa circulação. Os trabalhos de Dietschy e de Fénelon Costa marcam uma espécie de transição entre as etnografias que podemos considerar “históricas”, e aquelas que chamaríamos de contemporâneas, e que dialogam com temáticas atuais. As etnografias que aqui estamos chamando de “históricas” procedem de uma certa matriz em que a antropologia não era praticada por profissionais (com algumas exceções) e estava inserida numa tradição colecionista, típica do ambiente em que a antropologia estava concentrada: os museus. Expressão desta tradição é a vocação enciclopedista de Baldus. As etnografias que chamamos de contemporâneas são produzidas por profissionais egressos dos meios acadêmicos, inseridos em diálogos teóricos que transcendem os limites do grupo específico que está sendo estudado (ou, ao menos, é o que deles se espera). Ainda que não se atenha a um tema específico, como é o caso das etnografias que se pretendem como monografias “gerais”, o compromisso com diálogos e propostas teóricas mais amplas pode ser tido como sua característica mais notável. Até meados do séc. XX, a antropologia produzida no Brasil era relativamente periférica. O interesse predominante da antropologia produzida nos grandes centros da disciplina se orientava, sobretudo, pelos problemas postos a partir dos domínios coloniais. No caso britânico, esses problemas sintetizavam-se em torno da noção de “organização social”, a partir dos estudos funcionalistas e do campo africanista. Em certa medida, ainda que fosse para se contrapor à perspectiva britânica, a antropologia francesa vinculou-se à mesma agenda. O intervalo entre a primeira expedição etnográfica aos Karajá e esse momento, que, como vimos, conheceu uma produção nada pequena sobre o grupo, é o intervalo em que a antropologia americanista ainda dependia da produção teórica voltada para os povos africanos. Nos anos 60 houve uma grande inversão neste quadro. As etnografias de Curt Nimuendaju sobre os Apinajé (1939), os Xerente (1942) e os Timbira Orientais (1946); os trabalhos de Lowie (1941, 1943) sobre os Kayapó e os grupos Jê 32 Capítulo 1 em geral; os trabalhos dos salesianos italianos junto aos Bororo (Colbachini & Albisetti, 1942; Albisetti & Venturelli 1962, 1967, 1976) e, finalmente, os estudos de Lévi-Strauss sobre o dualismo centro-brasileiro (1958) inspiraram o que podemos considerar o maior esforço etnográfico coletivo e institucionalmente planejado que o continente viria a conhecer. Trata-se do projeto Harvard-Brasil Central, que se debruçou sobre as sociedades da área etnográfica conhecida como Brasil Central, principalmente sobre os grupos pertencentes à família lingüística Jê, seus habitantes majoritários. Marcela Coelho de Souza considera que talvez este consista “no mais importante evento etnográfico do americanismo tropical” (Coelho de Souza, 2002: 178). Fruto de uma associação entre a Universidade de Harvard e o Museu Nacional, coordenado por David Maybury-Lewis e financiado pela Fundação Rockfeller, o projeto voltava-se para o fenômeno conhecido como “dualismo centrobrasileiro”, centrado nos povos de língua Jê. Ainda segundo Coelho de Souza, o objeto das pesquisas do Projeto Harvard era menos os povos Jê que “uma certa forma institucional, o (multi) dualismo ‘jê-bororo’, com sua ênfase característica sobre o código espacial e o registro sociológico, sobre o qual [os pesquisadores] se debruçam segundo uma agenda largamente delineada pelas teses de Lévi-Strauss” (Coelho de Souza, 2002: 182). Para a autora, nada justificaria a inclusão, no projeto, de grupos como os Nambikwara, a não ser a presença, entre eles, de uma forma de organização dualista e sua importância para LéviStrauss. A inclusão dos Bororo também parece, para Coelho de Souza, um tanto arbitrária: Nada, a princípio, determina que a aproximação aos materiais bororo seja intrinsecamente mais iluminadora que outras — pense-se por exemplo nos Karajá, outro grupo macro-jê cujas instituições, como as dos Bororo, apresentam ‘analogias fascinantes’ e ‘interessantes divergências’ com o material jê, e dos quais se pode dizer, como daqueles, que ‘If they were not quite Gê, it seemed that they were not quite non-Gê either’. (idem: 182). A exclusão dos Karajá dos esforços do projeto Harvard-Brasil Central — e de esforços subseqüentes — nos parece, a princípio, poder ser explicada por dois motivos. A língua falada pelos Karajá tardou a ser definitivamente classificada como uma família isolada dentro do tronco Macro-Jê. À época da tese de Georges Rodney Donahue (1982), defendida na Universidade da Virgínia, não se havia chegado ainda a um consenso sobre essa classificação. A tese de Pétesch (1992) já assinala esta classificação notando, entretanto, que Capítulo 1 33 ainda havia divergência sobre o assunto e alguns especialistas continuavam classificando a língua karajá como alófila. Cabe notar que Ehrenreich, quem primeiro estudou a língua Karajá com alguma sistematicidade, foi também quem primeiramente reconheceu sua nãosemelhança com qualquer uma das línguas indígenas conhecidas até então. Ehrenreich, no entanto, sugeriu um possível parentesco longínquo da língua Karajá com as línguas Jê (Ehrenreich, 1948). A relutante imprecisão de uma classificação lingüística poderia ser considerada como o primeiro motivo para uma marginalização dos Karajá frente aos interesses etnológicos que se orientavam para o Brasil Central. Em segundo lugar, os Karajá passam a impressão geral de “um elemento atípico, difícil de classificar”(Pétesch, 1993a: 365). Se, por um lado, algumas de suas instituições nos remetem às organizações dualistas JêBororo, por outro, elas insistentemente escapam a essa categorização, permanecendo como um traço cultural um tanto rebelde às sistematizações. Como pretendemos defender ao longo do nosso texto, a organização Karajá pode ser assumida como uma forma particular de dualismo que se configura em um triadismo latente. O projeto Harvard-Brasil Central nos anos sessenta pode ser considerado um marco na história da antropologia produzida no Brasil. Desde então, essa antropologia vem criando suas própias teorias, a partir de discussões orientadas por problemáticas autóctones. O famoso projeto teria, portanto, colocado a antropologia americanista no “mapa” da produção internacional da disciplina. Entre as temáticas abordadas pela etnografia Karajá contemporânea está aquela que é cara à antropologia brasileira e que tem suscitado debates recentes: as relações dos grupos indígenas com a sociedade envolvente, conhecidas como “relações interétnicas”. Iniciadas a partir do debate sobre uma suposta “aculturação” indígena (Schaden, 1969), o debate avançou para abordar o que se chamou de “fricção interétnica” (Cardoso de Oliveira, [1968] 1978). Atualmente, uma crítica estruturalista dos estudos de contato interétnico vem sendo feita (cf. Viveiros de Castro, 1999), juntamente com a proposta de que se deve proceder à análise da interpretação indígena das relações de contato em seus próprios termos (cf. Viveiros de Castro [1993] 2002a; Albert, 1993, 2000, Vilaça, 1996). Entre os Karajá, as relações interétnicas foram abordadas por Marielys Siqueira Bueno (1975), Christopher Tavener (1973) e Oiara Bonilla (2000). Inevitavelmente, a temática é sempre abordada pelos outros autores sem que se figurem, no entanto, como temática central, como esses que aqui mencionamos. Capítulo 1 34 A dissertação de Marielys Siqueira Bueno é baseada em curtos períodos de trabalho de campo entre 1969 e 1975 e centrada numa única aldeia, Macaúba, situada na porção norte da Ilha do Bananal, na margem direita do Araguaia. Trata-se de um trabalho pouco reflexivo, em que a autora não se empenha em ponderar sobre os modelos trazidos da teoria face aos dados etnográficos de que dispõe. Frente a expectativas apocalípticas que davam como certa a “extinção dos índios” (Bueno, 1975: 7), é surpreendente que a constatação do “vigor das suas tradições” (idem: 5) não tenham feito a autora levar a cabo considerações sobre os modelos explicativos que carregara em sua bagagem. A etnografia, não obstante, possui dados todavia aproveitáveis. As observações específicas sobre a situação de contato estão centradas na introdução, aparecendo de maneira apenas residual no restante do trabalho. Christopher Tavener, cujo artigo aqui citado é a única referência que temos dele, baseou-se em dezoito meses de pesquisa de campo entre 1966 e 1969. Desconhecemos se produziu alguma etnografia específica posteriormente. O autor se empenha em “denunciar” a ineficiência administrativa das agências governamentais (SPI e Funai), bem como sua incapacidade em lidar com os problemas específicos da região. A partir daí, pretende abordar as relações interétnicas do ponto de vista dos indivíduos, das “face-to-face interactions”. As análises do autor sugerem uma escassa profundidade e complexidade analíticas em apreender como o “grupo” lida com e interpreta a situação de contato, chegando a despropósitos como o de postular que “o significado das festas [ijasó] é limitado à manipulação das relações com as mulheres para a vantagem dos homens” (Tavener, 1973: 441), imputando irrefletidamente aos seus pretendidos “indivíduos” karajá uma racionalidade manipulatória e interesseira hipostasiada, sem aventar razões culturais ou sociológicas para isso. Ainda na esteira das relações com o “mundo dos brancos”, porém já na perspectiva da interpretação “indígena” do contato24, situaríamos a dissertação de Oiara Bonilla. Centrada num processo específico, qual seja, a desintrusão de um povoado regional que se instalara na Ilha do Bananal (Porto Piauí) e sua reapropriação pelos Karajá, com a conseqüente ressignificação karajá do espaço, transformando-o numa aldeia (Porto Txuiri), Bonilla realiza um trabalho essencialmente etnográfico. A ocupação de um espaço outrora “estrangeiro” revela o compromisso com os preceitos simbólico-espaciais próprios aos Karajá. A análise da 24 Cf. Viveiros de Castro, 1999. Capítulo 1 35 autora desdobra-se na compreensão da apropriação de outros bens simbólicos dos “brancos” como roupas e alimentos, que levam a intuir concepções nativas de corporalidade, bem como concepções analíticas de mudança e transformação (Bonilla, 2000). A abordagem específica da vida ritual karajá foi realizada por Matthias Bauer (1984) e Manuel Ferreira Lima Filho (1994). Ambos autores acompanharam o ritual Hetohokã, ciclo ritual com duração aproximada de seis meses que culmina com a entrada dos rapazes em idade apropriada, os jyré (13-14 anos), na Casa dos Homens, ou Hetokré. Por este atributo, o Hetohokã é comumente descrito como “ritual de iniciação masculino”, a despeito desta “iniciação” corresponder apenas à última e mais espetacular etapa do ciclo ritual. Matthias Bauer acompanhou o Hetohokã da aldeia de Santa Isabel do ano de 1984. Seu relatório é uma descrição minuciosa de cada passo dos últimos dias do ritual. Basta-se na descrição, e conta com uma comparação dos grupos rituais, os ijoi (voltaremos ao longo do texto à composição dos grupos rituais) a partir de dados que teriam sido colhidos por Dietschy, João Odilon Souza Filho e André Toral. A dissertação de Manuel Ferreira Lima Filho, publicada como livro (Lima Filho, 1994), é voltada para a descrição do Hetohokã, e baseia-se em seis meses de trabalho de campo entre 1989 e 1990, na aldeia de Santa Isabel do Morro. Após um breve relato da história do contato com os brancos e apresentação do grupo, o autor parte para a descrição das etapas do ciclo ritual. De caráter pseudo-literário25, a descrição pode deixar confuso o leitor que ainda não estiver familiarizado com os termos nativos, as entidades mascaradas e as 25 Note-se, por exemplo: “Vi a velha lancha subir o Araguaia devagar. Engoli em seco quando me despedi de Tebukua. Era a primeira vez que nos separávamos. Reclamei que havia esquecido as cordas da minha rede em sua casa. Ele imediatamente cortou um pedaço da corda da lancha e me deu. Na verdade o que eu queria era não me afastar dele. Sentia-me angustiado. Ele certamente percebeu e quis, com aquele ato, confortar-me. Eu resolvera passar alguns dias em Fontoura por questões etnográficas. Não queria voltar atrás. Desembarquei com muitas perguntas e poucos presentes. O dinheiro do projeto estava muito atrasado e nem havia perspectiva de liberação imediata. Apenas a vontade de continuar o trabalho de campo me sustentava. Fontoura percebeu o meu desconcerto. Com tristeza e sozinho, esperei a lancha desaparecer no Araguaia adentro. Novamente éramos o desconhecido e eu.” (Lima Filho, 1994: 79). O autor confunde etnografia com relato de viagem. Não apenas relato, mas essa forma modernista, intimista e egocentrada de relato de viagem, à maneira de um Paul Nizan, impressionado com o próprio umbigo sentimental, mesmo estando na distante Adén. Esse modelo de narrativa exageradamente egocentrada parece ter avançado muitas léguas para dentro do relato etnográfico na assim chamada antropologia pós-moderna, pretendendo substituir o esforço de objetividade descritiva por uma espécie de verdade dos sentimentos do narrador etnográfico, como se a renúncia epistemológica dos pós-modernos pela objetividade justificasse o que não deixa de ser um expediente etnocêntrico e culturalmente delimitado na história intelectual recente do Ocidente, tal como as interpretações missionárias da mesma forma o foram num passado nem tão recente. Capítulo 1 36 categorias usadas pelo autor. Alguns dados fundamentais para uma compreensão detalhada do contexto etnográfico estão nas notas de rodapé e diríamos mesmo que uma parte substancial das informações etnográficas importantes está nessas notas. No entanto, a etnografia contém boa quantidade de dados que, depurados de seu exagerado verniz “literário” podem vir a constituir parte de uma interpretação possível do ritual. Na perspectiva funcionalista do autor, o Hetohokã seria, por excelência, o veículo pelo qual se realizariam as alianças relevantes, sejam alianças “cosmológicas” com os espíritos dos mortos, sejam alianças mais “sociológicas” entre as aldeias e mesmo com setores da política indigenista. Não obstante, a explicação do ritual se basta na sua atribuição de função, e não na transação de significados. Sua existência é reduzida, assim, a esse desempenho de funções sem que se desdobrem outras explicações sobre o que veicula. Outro tema específico que foi abordado na literatura etnográfica foi o das relações de gênero na sociedade karajá. Nesta temática situaríamos o trabalho de Marielys Siqueira Bueno (1987) e o de Patrícia de Mendonça Rodrigues (1993). O trabalho de Marielys S. Bueno foi baseado, além da experiência inicial de campo para a dissertação anteriormente citada, em estadias breves entre 1984 e 1985, também na aldeia de Macaúba. A autora não parece ter colhido mais dados, sem avançar muito além daqueles disponíveis na etnografia anterior. Em plena época de um verdadeiro boom de produção etnográfica no Brasil Central, desencadeado pela experiência inicial do projeto Harvard- Brasil Central e em meio à produção de etnografias de excelente qualidade técnica e densidade teórica, a autora parecia compromissada com a agenda teórica de 40 anos antes, preocupada em descrever, de forma estanque e esquemática, aspectos como o “tipo físico” dos Karajá, subsistência e vestuário. Para os estudos de gênero propriamente ditos, Bueno se guia por autores feministas de sua época, que intentavam questionar o que chamavam de “dominação masculina”, voltando-se para o estudo da “condição feminina” nessas sociedades. Alguns autores acreditavam que a “exploração da mulher” era exclusiva das sociedades com “classe”, proposição da qual Bueno discordava. A autora procurava, então, basear-se nos “trabalhos recentes” que buscariam “reavaliar o poder das mulheres, numa vontade de ultrapassar o discurso miserabilista de opressão, de subverter o ponto de vista da dominação e de tentar mostrar a presença, a ação, a contribuição da mulher na plenitude de seus papéis.” (Bueno, 1987: 16). O propósito da autora era o de “apontar fatos e realidades da articulação Capítulo 1 37 homem-mulher percebidos no contexto do grupo Karajá” (idem). Tal como havíamos notado para sua abordagem das relações interétnicas, também aqui a autora se mostrou pouco crítica para com certas idéias pré-concebidas. Assim, mesmo diante de constatações pessoais e na bibliografia até então produzida de que “a mulher ocupa uma posição privilegiada nesta sociedade” (Bueno, 1987: 76) e de que “a relação homem/mulher entre os Karajá não se apresenta realmente sob a forma de qualquer dominação ou imposições rígidas” (idem), a autora procede a uma espécie de “caça às bruxas” etnográfica, indo buscar alguma forma de dominação masculina. Afinal, encontra-a na impossibilidade do acesso feminino ao “segredo” das máscaras ijasó e do acesso ao mundo “político”. Este “político” é vagamente definido como os papéis formais de liderança e o acesso à atividade de feitiçaria (idem: 77). A dissertação de Patrícia Rodrigues (1993), baseada em seis meses de trabalho de campo em 1990 e centrada exclusivamente no subgrupo Javaé, é uma etnografia sobre as concepções de corpo, tempo, cosmo e gênero para a sociedade javaé. A temática de gênero, a partir da ousada proposta de que a idéia de “feminino” entre os Javaé estaria associada à alteridade, perpassa toda a etnografia. A argumentação que pretende sustentar esta proposta está resumida em artigo posterior à dissertação (cf. Rodrigues, 1995). Para Rodrigues, a evasão de fluidos corporais (sangue, sêmem, suor) está diretamente relacionada à perda de uma “energia vital” que desencadearia o processo vital que leva os corpos à morte. As ocasiões de perda desses fluidos, para a autora, seriam essencialmente sociais, porque engendradas pelo encontro com o “outro”, alteridade que estaria manifesta nas concepções de “feminino”. Assim como essa “energia” acumulada no corpo, a autora acredita que os fluxos do tempo, do cosmo, da vida ritual obedeceriam a uma mesma lógica de acumulação e perda gradativas de “energia”. A dificuldade principal que encontramos no trabalho de Rodrigues é a falta de uma distinção suficientemente nítida entre categorias nativas e categorias analíticas. Com isso ficamos, em muitos momentos, sem marcos precisos para identificar as interpretações elaboradas pela própria autora: sua narrativa etnográfica homogeneizadora e naturalizadora em torno das categorizações não permite distinguir em que ponto termina a teoria nativa e inicia sua interpretação etnográfica. Não sabemos, por exemplo, se a categoria “energia vital” foi fornecida (elaborada? glosada?) por algum informante ou se teria sido construída pela própria autora para explicar o processo social (analiticamente apreendido) de fabricação de Capítulo 1 38 corpos. A autora sugere uma analogia entre essa categoria (“energia vital”) e os ciclos anuais de alternância entre secas e cheias do rio e, ainda, com o ciclo da vida ritual. Se a exteriorização desta energia vital através dos fluidos enfraquece o corpo, como defende a autora, o significado, por exemplo, das escarificações, praticadas como parte das técnicas corporais que precedem a realização das lutas ijesu, teria de ser melhor explorado, pois se ao sangramento produzido por tais escarificações reputa-se a conseqüência de prover uma maior “ligeireza” ao corpo dos lutadores, pareceria, a princípio, contraditório que a perda desse fluido corporal se conjugue necessariamente com uma idéia genérica de “perda de energia”. A despeito desta noção de energia vital, na qual a autora fundamenta sua descrição, não nos parecer, ainda, suficientemente clara para que seja instrumento de análise das concepções nativas sobre o corpo, a etnografia nos parece uma fonte inexaurível de dados os mais diversos, abundantes e variados26. Mais recentemente a autora publicou artigo em que descreve a geografia cosmológica de maneira exaustiva e detalhada (Rodrigues, 2004). Partindo de uma premissa um tanto temerária, da possibilidade de se transpor (de maneira que nos parece problemática e irrefletida) “mito” à “história” — como se esses domínios tivessem o mesmo tipo de compromisso com o que se narra — a autora vai buscar a configuração da cultura karajá a partir do que ela chama de “matrizes culturais”. Transpondo o mesmo tipo de análise para o espaço e o corpo, Rodrigues argumenta em favor de uma concepção do “ser social” (2004: 51) como essencialmente transformacional e misturado, mutável e antitético. A despeito da insistência da autora em que não se deve tomar uma “cultura” (ou “identidade cultural” como prefere a autora) como um “todo coerente e fechado” (idem: 13) e de que não haja “limites fixos e pré-ordenados entre o que é externo a cada sociedade ou cultura” (idem: 53, nota 6), a autora incorre exatamente nos essencialismos que julga evitar. Ao mapear histórica, arqueológica e etnograficamente os movimentos demográficos provavelmente responsáveis por dar à bacia do Araguaia a configuração sócio-cultural que hoje se conhece, Rodrigues essencializa características associadas de maneira geral a determinados grupos — como o pacifismo xinguano e a belicosidade Jê — para associá-los a “povos” que são mencionados na mitologia. Dessa forma, apostas como a de que “A mitologia identifica (...) duas matrizes 26 Nosso temor, inclusive, reside em incorrer em certas imprecisões ou injustiças por não termos examinado com suficiente minúcia e verificação etnográfica os dados aportados pela autora. Capítulo 1 39 culturais (...). O povo chamado Weré (...) era dotado de certas características associadas a uma matriz cultural Jê-Bororo, relacionados aos povos do Brasil Central” (idem: 15) ou a de que “os traços culturais do povo de Tòlòra [também um povo mítico], enumerados pela mitologia, correspondem, em termos gerais, aos mesmos traços encontrados no Alto Xingu” (idem: 16) nos parecem injustificáveis, por tencionar atribuir ao discurso nativo a consciência de categorias completamente alienígenas, como “Jê-Bororo” ou “Alto Xingu”. Assim, a autora toma a narrativa mítica de uma maneira estritamente “textual”, efetuando transposições imediatas entre categorias míticas e categorizações científicas, reiterando os problemas metodológicos que apontávamos no seu primeiro trabalho. Finalmente, além das temáticas específicas, dispomos da produção de etnografias standard, monografias gerais sobre o grupo, que tentam dar conta de variados aspectos de sua vida, fornecendo dele uma visão mais extensa. Três foram os autores que se dedicaram à descrição geral dos Karajá: Georges Rodney Donahue (1982), André Amaral de Toral (1992) e Nathalie Pétesch (2000). A tese de doutoramento de Georges R. Donahue (1982), baseada em extenso trabalho de campo entre 1977 e 1978, é um trabalho de caráter essencialmente descritivo. Apresentada segundo um molde estrutural-funcionalista clássico, o autor procura descrever os mais variados aspectos da vida nativa organizando-os segundo tópicos temáticos relativamente estanques tais como subsistência, parentesco, história e “religião”. Como trabalho descritivo, desempenha satisfatoriamente seu papel, se dele deixarmos de exigir qualquer análise mais apurada. André Toral (1992) foi o único antropólogo que teve a oportunidade de conhecer diretamente os três subgrupos. Sua dissertação foi baseada em longos anos de contato com os Karajá, desde 1978, quando inicia seu mestrado, e ao longo dos anos em serviços para a Funai e outros órgãos. Essencialmente etnográfica, a dissertação de Toral conta com comparações entre os três subgrupos, descrições não apenas dos rituais em suas versões completas das grandes aldeias como Santa Isabel, Fontoura, Boto Velho, ou Canoanã, mas também versões simplificadas, executadas em aldeias pequenas. Sua experiência entre os Karajá, seu acesso a renomados xamãs e seu privilegiado conhecimento da língua permitem que o esforço etnográfico seja de grande valia para interpretações posteriores. É necessário, no entanto, 40 Capítulo 1 algum conhecimento prévio da etnografia karajá para se aceder com proveito analítico às informações fornecidas pelo autor. O trabalho de Nathalie Pétesch é, a nosso ver, aquele de maior alcance analítico sobre os Karajá. Sua tese de doutoramento (1992), publicada como livro (2000), foi baseada em trabalho de campo entre os anos de 1986 e 1987, centrado principalmente na aldeia de Sta. Isabel. Trata-se de um trabalho extenso, de caráter etnológico, com análises dos rituais e debates acerca da filiação lingüística ao tronco Macro-Jê e sua relação com aspectos Tupi da cosmologia Karajá. Bastante rica em dados etnográficos, a despeito da impossibilidade da autora de percorrer outras aldeias além de Santa Isabel do Morro, a tese fornece subsídios para reflexões a respeito da organização social dos Karajá. Em artigo anterior à tese (Pétesch, 1987, posteriormente publicado em português: Pétesch, 1993a) a autora propôs uma ousada alternativa para se interpretar o material etnográfico karajá que constitui um dos eixos de discussão teórica que orientam o presente trabalho. Trata-se da proposta de uma concepção triádica do cosmos; concepção esta que ordenaria classificatoriamente o pensamento nativo, tomando o aspecto mesmo de uma “estrutura”. O mesmo artigo propõe que a estrutura social Karajá ocuparia uma posição intermediária entre os modelos dualistas Jê-Bororo e aquilo que ela veio a chamar de “hipérbole ontológica” Tupi, em que a morte é considerada um “devir outro”. Pétesch publica, ainda, artigo em que discute as posições e cargos de chefia e liderança entre os Karajá, a partir das noções de posse e propriedade, intuindo o efeito da introdução de mercadorias “ocidentais” no sistema econômico karajá (Pétesch, 1993b). * * * Objeto continuado de uma literatura (etnográfica sobretudo) bastante heterogênea quanto a seus pressupostos e interesses, os Karajá oscilam entre sua persistentemente continuada presença no eixo Araguaia e os multifacetados “retratos” que se fizeram deles. Não apenas a partir dos termos genéricos das políticas indigenistas, mas também na variedade das “políticas” (ou “economias”) do intelecto interpretativo dos “brancos”, a imagem dos Karajá nos registros que deles se fizeram só parece ter como caráter uníssono a invocação de serem um “elo perdido” em alguma cadeia sociológica. Curioso paradoxo esse no qual a Capítulo 1 41 mutabilidade dos enfoques desagua nesse lugar-tampão. Ou seria essa a única e preciosa “herança” do “caso” karajá? Conclusivamente, acreditamos ser pouco consistente a impressão genérica a que antes nos referíamos, que postulava que os Karajá foram muito visitados, mas pouco estudados. Defendemos aqui, que os Karajá foram, sim, bastante estudados, mas seus estudos ou dialogaram pouco entre si, deixando de produzir uma certa densidade na produção etnológica, ou não chegaram a ser suficientemente “levados em consideração” para debates etnológicos mais amplos no domínio do assim chamado Brasil Central. É possível mesmo que o baixo (ou nulo) impacto do material etnográfico karajá nesses debates etnológicos tenha sido resultado daquela escassa interlocução da produção específica. Assumimos, portanto, a pretensão de investir nessa outra possibilidade de confrontação e comparação do material já produzido como caminho para fazer o material karajá comparecer em debates mais amplos. No presente texto, faremos uso extensivo do material disponível na literatura etnográfica, sobretudo nas etnografias que chamamos de “contemporâneas”. A aparente ausência de intercomunicação entre as diversas etnografias nos sugere a necessidade de uma “visita orientada” a esse corpus etnográfico. Nossa ambição é, antes de tudo, fazer dialogarem as propostas interpretativas que nos pareceram mais pertinentes, contrastando os muitos dados de que dispomos e sugerindo possíveis pistas a serem seguidas por novas análises. Pretendemos, talvez ousadamente, circunscrever os Karajá na paisagem etnográfica que os cerca, inserindo-os em debates mais amplos e postulando problemas etnológicos não apenas para a literatura produzida a seu respeito como também para o cenário Macro-Jê e a literatura americanista mais geral. A opção por um trabalho estritamente bibliográfico — que é, por sua vez, um sinal dos tempos na produção de dissertações de mestrado do Brasil de hoje — nos coloca igualmente numa situação cômoda, porém desconfortável. Se podemos cometer certas injustiças mais ou menos graves por não termos acesso direto à fonte dos dados, podemos dispor de toda essa verdadeira enxurrada de dados. Esperamos poder compensar a falta de experiência etnográfica com uma análise minuciosa e pormenorizada. Se viermos a parecer intolerantes com determinadas imprecisões ou sugestões apressadas dos autores, poderemos, ao menos, retrucar que acreditamos na escrita etnográfica. Capítulo 1 42 Conta Ítalo Calvino que Maomé ouvia as palavras de Alá e as ditava para seu escriba, Abdullah. Certa vez, enquanto Maomé ditava, interrompeu uma frase no meio. Abdullah, instintivamente, sugeriu uma conclusão. Distraído, o profeta aceitou como palavra divina o que dissera o escriba. Esse fato escandalizou Abdullah, que perdeu a fé e abandonou o profeta. “Ele estava enganado. A organização da frase era, definitivamente, uma responsabilidade que lhe cabia, era incumbência sua controlar a coerência interna da língua escrita, da gramática e da sintaxe, para aí acolher a fluidez de um pensamento que se escoa exteriormente a qualquer idioma antes de fazer-se palavra, mais ainda no caso de uma palavra sobremodo fluida, como a de um profeta. A partir do momento em que decidira exprimir-se num texto escrito, Alá precisava da colaboração de um escriba. Maomé o sabia e deixava ao escriba o privilégio de arrematar as frases; Abdullah, porém, não tinha consciência do poder que lhe estava investido. Perdeu a fé em Alá porque lhe faltava a fé na escrita e em si mesmo como operador da escrita” (Italo Calvino: Se um Viajante, numa Noite de Inverno). 43 Capítulo 2 Cosmologia e escatologia karajá Karajá é inã. Auto-designação karajá, inã é uma categoria que vincula os Karajá a um passado mítico, à atualidade dos patamares cosmológicos e a isso que nós, estrangeiros, reconhecemos como grupo Karajá como um todo. Traduzido como “nós mesmos” ou “gente”, a categoria pode ser definida, segundo o contexto, por oposição a ixã, a alteridade, a exterioridade. Inã e ixã são categorias chave para se compreender o universo Karajá. Se inã é uma categoria de apreensão relativamente clara, a polissemia da categoria de ixã nos instiga a explorar seus significados. Nosso objetivo com a descrição da cosmo-escatologia karajá é buscar os elementos que nos permitam entender como a filosofia nativa concebe seu universo, como abarca o idêntico e o diferente. Acreditamos poder, dessa forma, conhecer parte do universo classificatório do grupo em questão. A composição dos patamares cosmológicos parece ser reveladora do princípio triádico de classificações e se apresentará como referência para nossas interpretações do triadismo classificatório quando operante em outros domínios do discurso nativo. A concepção de um mundo de origem como puramente consangüíneo e masculino, por sua vez, nos remeterá à busca das concepções nativas de consangüinidade e afinidade. Nesse caso, à consangüinidade pura do mundo de origem e à conjugalidade ideal do mundo celeste se encontrará oposta a afinidade total do mundo dos mortos. Os mundos cosmo-escatológicos karajá parecem testar ideologiacamente distintos arranjos do par consangüinidade/afinidade e suas conseqüências sociológicas. Cosmogonia A mitologia karajá narra duas grandes rupturas cosmológicas responsáveis por dar ao universo sua configuração atual: três patamares cósmicos sobrepostos, quais sejam, o mundo atrás do fundo das águas, o mundo terrestre e o mundo das chuvas, de modo que “o Inã, o Nós cultural, ocupa a totalidade do universo” (Pétesch, 2000: 39). Os inã primevos habitariam uma aldeia no fundo das águas. A narrativa mítica não parece preocupar-se em fornecer uma 44 Capítulo 2 cosmogênese irredutível, e os mitos sobre as origens dos inã geralmente iniciam dessa forma. O mundo subaquático é chamado de berehatxi (termo traduzido por Toral como: bero: água, hatxi: profundezas. Toral, 1992: 147). Os inã que aí habitam são chamados de ijasó (nome karajá para o peixe aruanã), que, segundo Rodrigues, seria apenas um termo para diferenciar os inã do fundo das águas dos inã terrestres (1993: 193). O mundo subaquático é descrito como um lugar muito úmido e também muito frio, onde a água brota do chão (Toral, idem). Além disso, quando é noite no nível terrestre (ou mundo de superfície), é dia no mundo subaquático, e aí o sol faz o caminho invertido, no sentido W-E (ibidem: 151). Os ijasó vivem em um mundo de muita fartura alimentar, estão sempre belamente adornados e sentados em seus banquinhos, com as cabeças voltadas para o lado em que o sol nasce (W). Não há morte no mundo subaquático de origem e por isso, dizem os Karajá, trata-se de um lugar muito apertado, superlotado, onde não é possível se mover. A característica, porém, mais notável nas descrições da aldeia do nível subaquático é a ausência de esposas ou ausência de afinidade. Sobre este patamar cósmico, Toral informa que: “Nessa comunidade [de ijasó] existe o ijoi [parte masculina da aldeia], mas não existe sua contraparte social, o ixÿhãwa (‘o pessoal da aldeia’). A geração de novos ijasó se faz sem que sejam mencionadas mulheres. O mundo dos ijasó parece como que restrito às partes masculinas da sociedade Karajá: o ijoi, o cantar, o dançar e a vida cerimonial” (Toral, 1992: 154). Essa característica também foi ressaltada por Rodrigues (1993: 227-8), que procura demonstrar, no entanto, que há, neste mundo de origem, irmãs (lerã) dos ijasó. Se o mundo subaquático é por excelência domínio do inã, o Nós cultural, a concepção de um mundo puramente consangüíneo como essencialmente masculino parece imediatamente contrariar as concepções ameríndias mais típicas, em que há uma associação entre mulheres, consangüinidade e o interior do socius, por um lado, e homens, afinidade e exterior, por outro (Viveiros de Castro, 2002: 141). A singularidade desta concepção karajá nos instiga a melhor explorá-la. Ela será trazida ao debate, para que as concepções karajá em torno do par consangüinidade/afinidade possam ser revistas. O momento de saída do mundo subaquático conhece distintas versões míticas. Seja por escutar o canto da seriema, seja por buscar mel para seu filho recém nascido, o primeiro inã vem à superfície. O nível terrestre é conhecido como ahana obira, “mundo de fora”, Capítulo 2 45 concebido como um espaço aberto, contrariamente aos outros dois níveis, entendidos como fechados. O mundo de superfíce já se encontrava inteiramente formado quando se deu a emergência dos primeiros inã. Os mitos atribuem a Kynyxiwé, o demiurgo karajá, a “pacificação” deste mundo terrestre. Anteriormente habitado por animais agressivos, numa topografia acidentada, o mundo de superfície foi todo ele transformado por Kynyxiwé, tornando-o habitável para os Karajá27. No nível terrestre os primeiros inã se encantam com os amplos espaços, com a possibilidade de movimento. Os mitos enumeram as várias descobertas karajá, entre elas a descoberta da mortalidade. Ao avistar troncos secos, Kaboí, um inã dos tempos míticos, impossibilitado de sair do patamar subaquático por seu ventre avantajado, avisa aos seus que aquele lugar era ruim por que havia morte e conclama-os a voltar ao patamar inferior. Alguns inã decidem retornar e já não podem mais. Segundo Pétesch, a possibilidade de movimento logo se tornaria uma obrigação para sobreviver no patamar terrestre (Pétesch, 1993a). As narrativas ora descrevem a permanência no nível terrestre como escolha, ora como “castigo” de Kynyxiwé, o demiurgo karajá. De algum modo, no entanto, o retorno foi tornado impossível e essa é a primeira ruptura mítica. Os inã no nível terrestre serão mortais. Suas comunicações com o mundo de origem passarão a ser mediadas pelo xamã, aquele que manteve a capacidade de mover-se entre os patamares. A invocação benéfica dos ijasó, seus antepassados, os inã primevos, ocorrerá mediante a representação destas entidades pela coletividade masculina. Claude Lévi-Strauss, em sua monumental análise das mitologias ameríndias, o complexo das Mitológicas — obra à qual recorreremos aqui outras vezes — analisa os mitos cujo tema é a origem da mortalidade humana, ou “origem da vida breve”, como prefere o autor. Entre eles há um grupo de mitos que Lévi-Strauss atribuiu o nome de “chamado da madeira podre”, do qual parece fazer parte o episódio mítico da primeira ruptura cosmológica karajá. O ouvir demais — atração pelo canto da seriema — ou o ouvir de menos — não “dar ouvidos” aos avisos de Kaboí, que antevia a morte existente naquele patamar a partir da madeira seca —, atitudes que Lévi-Strauss denomina “patologias da comunicação”, têm como conseqüência funesta a origem da vida breve, da mortalidade: “a causa principal da vida breve 27 Grandes cachoeiras teriam sido transformadas em córregos, cadeias de montanhas convertidas em planícies e morros suaves. Capítulo 2 46 consiste, portanto, numa receptividade imprudente em relação a um ruído: os homens ouvem o grito da ave e, em busca dela, encontram a madeira podre” (Lévi-Strauss, [1964] 2004: 180181)28. No mundo de superfície, os inã convivem com o demiurgo e outros heróis culturais, como Xiburé29. Diversos episódios míticos ocorrem neste intervalo narrativo. Um ato “imoral” cometido pelos inã provoca a ira de Kynyxiwé. O demiurgo, que provia os inã de todas as suas necessidades, revolta-se com a recusa de um alimento pedido30 e ascende definitivamente ao mundo das chuvas, o terceiro patamar cósmico. Leva consigo alguns inã e daí não mais retornará. Essa é, então, a segunda ruptura mítica do cosmos. Assim como na primeira ruptura, a invocação dos espíritos celestes passará a requerer sempre a mediação de um xamã31. O terceiro patamar é chamado de “pele da chuva”, biutyky (onde biu: chuva, tyky: pele) e é em suas aldeias que vão morar as almas dos xamãs após a morte, além de ser morada de heróis culturais e diversos outros seres. Segundo Toral, as narrativas xamânicas sobre o mundo das chuvas variam enormemente e são objeto de controvérsia. Em linhas gerais, pode-se dizer que a aldeia dos espíritos dos xamãs é concebida como perfeita. Ela é descrita como muito ampla, as casas são enormes, feitas de pedra, é grande a distância entre as casas e é possível enxergar muito longe. Lá não é preciso trabalhar para sobreviver por que o alimento, que é entendido como super cozido, aparece magicamente. Donahue e Toral coletaram, ainda, versões dessa descrição que 28 Outro episódio da mitologia karajá em que uma patologia da comunicação é responsável pela origem da vida breve é aquele da conquista do sol e outros astros (lua e estrelas) pelo demiurgo, Kynyxiwé. Aborrecida com a escuridão após ter tropeçado em um tronco, a sogra de Kynyxiwé se queixa à sua filha, Myreikó, dizendo que seu genro nada lhe traz (de presente). Kynyxiwé engana o urubu-rei, fingindo-se de morto, agarra-o e exige as luzes, ao que o urubu-rei traz as estrelas, a lua e, finalmente, o sol. Urubu-rei ensina, ainda, as artes da civilização aos inã. Quando é finalmente libertado, Urubu-rei levanta vôo. Nesse instante, a sogra de Kynyxiwé lembra-se de perguntar como fazer para as pessoas velhas rejuvenescerem. Urubu-rei já voava alto quando gritou a resposta. Apenas as árvores — que trocam de casca — e alguns animais — que trocam de pele — puderam ouvir o que dissera o Urubu-rei. Por não ter escutado, os humanos são mortais. 29 Xiburé é um termo controverso. Além de uma entidade mítica, é um adjetivo que designa como as coisas acontecem “magicamente” no nível celeste: ocorrem “de maneira xiburé” (Rodrigues, 1993). Segundo Toral, todos os seres celestes são formas assumidas por Xiburé e, de certa forma, elas são Xiburé e Xiburé é “dono”, -wedu, delas. 30 Dependendo da versão do mito, trata-se de uma mulher velha ou de algumas crianças que teriam pedido um alimento e recusado-se a comê-lo. Várias versões dizem tratar-se de uma “brincadeira” das crianças que pedem excrementos, mas não o queriam comer. 31 E, como veremos, não são todos os xamãs. Poucos são os xamãs que têm o poder de se comunicar com os habitantes celestes. Capítulo 2 47 dividem o patamar celeste em três camadas, cada uma habitada por diferentes seres32. Comum a todas as versões é o fato de a camada mais elevada, seja ela o nível superior como um todo, seja ela uma subpartição triádica do nível superior, ser a morada de Xiburé. Um aspecto que se sobressai nessas descrições, quando contrastadas às descrições do mundo subaquático, é que não há uma ênfase na ausência de esposas e/ou afins. Segundo Toral, “Xiburé vive num local em tudo semelhante à superfície. (...) Esse local fica lá no alto, entre as estrelas do céu, muito distante das nuvens e da lua, que estão mais próximas. Lá existem homens e mulheres numa existência semelhante à superfície da terra, num regime de fartura constante.” (Toral, 1992: 207). Rodrigues mostra que as mulheres que aí existem são belamente adornadas com todos os enfeites tradicionais e são todas dançarinas, adusidu, dos homens (Rodrigues, 1993: 394). A existência de mulheres na condição de dançarinas propõe problemas fundamentais, visto que as adusidu, dançarinas, estabelecem uma relação aparentemente ambígua com os ijasó (o par de máscaras com quem efetuam a contradança). Consideradas irmãs, lerã, dos ijasó, as dançarinas parecem estabelecer com eles uma relação de afinidade ideal, mediada pelo fornecimento de comida. Para Pétesch, as dançarinas seriam “irmãs classificatórias” dos ijasó (Pétesch, 2000: 207) e, por isso mesmo, segundo nossa interpretação, como se verá adiante, esposas potenciais. Retornaremos exaustivamente a esse ponto para desenredar as implicações da narrativa mítica. O mundo das águas e o mundo das chuvas, bem como uma dimensão invisível do nível terrestre, morada de uma infinidade de espíritos — aõní, espíritos de animais e de inimigos — são objeto de exploração dos xamãs em seus transes e viagens noturnas (sonhos). Entretanto, o nível subaquático seria o mais conhecido pelos xamãs. Segundo as idéias nativas, apenas grandes xamãs seriam capazes de, em vida, superar os obstáculos do caminho que leva à aldeia de Xiburé, situada numa terceira camada do mundo das chuvas. Esta breve descrição pretendeu delinear a concepção nativa de um movimento ascensional mítico responsável por configurar o cosmos karajá tal como é reconhecido pelos Karajá na atualidade: Um “edifício cósmico” (Pétesch, 1993a) formado por dois níveis aquáticos em suas extremidades, um celeste e um nas profundezas do rio, ambos entendidos como espaços fechados, reinos da imortalidade e da fartura, e um nível intermediário, 32 Rodrigues (2004) procede a uma descrição pormenorizada dos níveis cosmológicos mostrando que sua concepção está ligada à idéia de corpo para os Karajá. 48 Capítulo 2 terrestre, espaço aberto, onde os inã são mortais e devem trabalhar para viver. Pétesch sintetiza as características do mundo subaquático: “Mundo fechado, sem exterior e, portanto, sem alteridade, sem troca e portanto sem possibilidade de transformação, o lugar de origem conserva-se como o modelo cultural primeiro, referencial” (Pétesch, 2000: 43). Já os inã do mundo das chuvas “vivem num espaço, se não fechado, ao menos limitado, onde a eternidade disputa com a ociosidade” (idem: 44). Tríade cosmológica A partir dessa breve descrição, reconheceríamos que a cosmogênese karajá fornece um modelo triádico fundamental. Pétesch explora este modelo a fim de propor uma estrutura análoga a ele, que ordenaria o pensamento karajá. A autora chama a atenção para as similaridades entre os dois níveis extremos e a sua relação de “oposição” com o nível intermediário: “os três níveis cósmicos karajá se apresentam em uma relação de oposição assimétrica, distinguindo, de um lado, os dois extremos, e de outro, o nível mediano. De fato, o mundo subaquático habitado pelo ‘povo do fundo das águas’ e o mundo celeste ocupado pelo ‘povo da chuva’, embora espacialmente polarizados, apresentam numerosas analogias: são dois espaços considerados fechados, úmidos apesar da presença do sol, os dois têm conotação aquática (...), os dois hemisférios são o reino da imortalidade, da inatividade e imutabilidade (...)” (Pétesch, 1993a: 366). A imobilidade dos níveis extremos é oposta, pela autora, ao movimento no nível intermediário. As entidades tutelares “convidadas” para os rituais seriam caracterizadas por movimentos contidos e estereotipados, em contraposição com os seres que habitam a terra, incluindo-se aí os humanos, caracterizados pelo movimento desordenado. “Em oposição aos povos da chuva e do fundo das águas, os humanos terrestres (...) são seres móveis e mortais” (idem: 367). A autora propõe, então, uma estrutura ontológica triádica sugerida pela tripartição cósmica: “(...) numa estrutura dimensionada verticalmente e privilegiando a relação com o sobrenatural, há uma oposição manifesta entre, de um lado, as versões celeste e Capítulo 2 49 aquática do imobilismo e da permanência, (...) e, de outro, a versão única, embora mais ou menos acentuada, do movimento e da labilidade (...). Sob um aspecto verticalmente linear, o edifício cósmico parece gravitar em torno do elemento mediano” (ibidem: 369-370). Esta tripartição estrutural fundante parece ressoar em outros âmbitos do universo classificatório karajá. Elucidar as formas que esse princípio classificatório assume é um dos objetivos que perseguimos aqui. Por agora, preferimos abordar o triadismo karajá em termos de um “princípio classificatório”, visto ainda não ser possível verificar uma tríade sociológica que efetivamente encontre o grupo social dividido em três unidades, que aqui chamarei de tércias, análogas às “metades” dos grupos Jê e Bororo. O que, entretanto, pretendemos expressar ao tratar a proposta de uma estrutura triádica como uma forma de classificação? Que domínios do universo karajá acreditamos poder abarcar recorrendo a essa categoria analítica? Das formas nativas de classificação A expressão nos remete, de imediato, a uma clássica proposição de Marcel Mauss a propósito das “formas primitivas de classificação”. Entretido com o fenômeno do totemismo33, das filiações clânicas e das classificações da natureza, Mauss propõe que as classificações ditas primitivas seriam sistemas de noções hierarquizadas. As coisas classificadas não seriam dispostas em grupos isolados, mas guardariam entre si relações bem definidas. As classificações “primitivas” teriam por objetivo tornar inteligíveis as relações entre os seres. A classificação das coisas seria, portanto, função da classificação dos homens: 33 Os debates seminais da ciência antropológica, aqueles que buscavam formular ou construir uma idéia de “sociedade primitiva”, consideravam o parentesco como a forma de organização social mais primitiva, enquanto a religião mais primitiva seria o totemismo, ou animismo. O totemismo poderia ser definido sumariamente como a associação de um grupo humano a um animal, planta ou fenômeno da natureza (trovão ou vento, por exemplo), que seriam dotados de alma (anima em latim, daí o termo animismo). Reconhecemos, todavia, a precariedade desta definição, pois os fenômenos que foram chamados de totemismo são demasiado variados para poderem agrupar-se sob uma definição unívoca. O escândalo lógico do totemismo, para os primeiros pesquisadores, seria a crença, atribuída aos nativos, no parentesco ancestral do grupo com o animal totêmico. Recentemente, Philippe Descola propôs a retomada do conceito de animismo para dar conta da relação dos ameríndios com aquilo que nós, ocidentais, chamamos de “natureza”, uma vez que a maioria desses grupos atribui a muitas plantas e animais características da vida em sociedade (Descola, 1992: 113). 50 Capítulo 2 “A sociedade não foi simplesmente um modelo a partir do qual o pensamento classificatório trabalhou; foram seus próprios arcabouços [cadres] que serviam de molde [cadre] ao sistema. As primeiras categorias lógicas foram categorias sociais; as primeiras classes de coisas foram classes de homens nas quais essas coisas foram integradas. É por que os homens estavam agrupados e se pensavam sob forma de grupos que eles agruparam idealmente os outros seres.” (Mauss, [1903]: 1976: 83). Os dados acumulados sobre sociedades de todas as partes do mundo e o refinamento do conhecimento sobre os fenômenos chamados de totemismo foram responsáveis por dissolver o totemismo enquanto problema. Em 1962, Lévi-Strauss torna a explorar o fenômeno, mas reporta-se a ele apenas para descartá-lo enquanto problema teórico, introduzindo, em seu lugar, o problema geral das categorias humanas de classificação. Para o autor, o totemismo seria uma “ilusão”, uma idéia que teria servido, assim como a concepção de “histeria”, para a psicologia pré-freudiana, para salvaguardar a ordem moral aceita: “... a noção de totemismo poderia ajudar a distinguir sociedades de maneira quase radical, senão rejeitando sempre algumas dentre elas na natureza (...), ao menos classificando-as em função de sua atitude para com ela tal como se exprime pelo lugar destinado ao homem na série animal, e pelo conhecimento ou suposta ignorância do mecanismo da procriação. (...) O totemismo é, antes de tudo, como por um tipo de exorcismo, a projeção, fora do nosso universo, de atitudes mentais incompatíveis com a exigência de uma descontinuidade entre homem e natureza, que o pensamento cristão considerava essencial” (Lévi-Strauss, [1962] 1976: 102). Lévi-Strauss faz referência aos trabalhos de Goldenweiser sobre as instituições chamadas totêmicas. Para Lévi-Strauss, não era possível superpor os fenômenos de: 1) organização em clãs, 2) atribuição de nomes ou emblemas animais a esses clãs e 3) a crença no parentesco do clã com o seu totem. Alguns grupos teriam totens sem dispor de organização em clãs, enquanto outros teriam clãs com nomes de animais que não seriam totens. Para LéviStrauss, enfim, a variedade de fenômenos associados ao totemismo seria de tal ordem que escaparia a todo esforço de definição absoluta (idem: 103-104). Independente de qualquer possibilidade de verificação empírica, os fenômenos entendidos como totêmicos possibilitaram a Lévi-Strauss formular uma de suas propostas mais interessantes para o estudo das classificações humanas. As variadas concepções de totemismo o levaram a reconhecer um certo padrão nas associações de grupos humanos a animais. Grosso modo, para Lévi-Strauss, 51 Capítulo 2 o que estaria em jogo não seriam as semelhanças entre os grupos humanos e seus totens enquanto representações de ancestrais, mas sim as relações de diferença no interior desses grupos. Nas palavras do autor, “Se nos é permitida a expressão, não são as semelhanças, mas sim as diferenças que se assemelham. Entendemos por isto, primeiramente, que não há animais que se assemelham entre si (por participarem do comportamento animal) e ancestrais que se assemelhem entre si (por participarem do comportamento ancestral), enfim, não há uma semelhança global entre dois grupos mas, de um lado, animais que diferem uns dos outros (...) e, de outro, homens — cujos ancestrais formam um caso particular — que diferem entre si (...). A semelhança que as representações ditas totêmicas supõem é entre estes dois sitemas de diferenças” (Lévi-Strauss, [1962] 1976: 163). Para o autor, o totemismo estaria reduzido, assim, a um modo particular de formular um problema geral: “fazer com que a oposição, em lugar de obstáculo à integração, sirva antes para produzi-la” (idem: 171). Ao tratar genericamente o triadismo karajá como uma “forma de classifcação”, pretendemos ampliar seu alcance para o universo simbólico mais largo. Acreditamos que o triadismo que aqui chamamos de “sociológico”, ou seja, a divisão da sociedade em três grupos sociais, as tércias “grupo de cima”, “do meio” e “de baixo”, pode ser considerado a expressão social de um sistema classificatório geral. Assim como propõe Lévi-Strauss para o dualismo ameríndio, que seria mais que uma forma de organização social, alcançando o status de filosofia indígena (Lévi-Strauss, [1991] 1993: 204-217, passim), o triadismo karajá parece revelar-se como princípio classificatório, ideologia nativa. Tríades espaciais Um procedimento já tornado clássico entre os Jê-ólogos é a verificação, na formação espacial da aldeia, uma espécie de microcosmo das concepções nativas, no caso, dualistas. Citando Maybury-Lewis, “Os próprios índios consideram o arranjo da aldeia como uma representação paradigmática de sua sociedade” (Maybury-Lewis, 1989: 98). O esquema espacial da aldeia karajá — uma ou mais fileiras de casas residenciais ao longo do rio e, em sua altura mediana, oposta a elas e voltada para a mata, a Casa dos Homens 52 Capítulo 2 — parece ter causado alguma decepção em Georges Donahue. Seu modelo não-circular parecia não corresponder a uma certa expectativa: “O formato da aldeia em alguns grupos indígenas está intimamente ligado à organização social da tribo (...). Entre os Karajá, no entanto, a planta da aldeia não desempenha um tal papel gráfico integral. Diferentemente dos outros casos citados [Kayapó, Xavante e Bororo], que compreendem plantas de aldeias circulares, a aldeia Karajá é linear. As casas são construídas aproximadamente em linhas retas paralelas ao rio. A representação gráfica aqui é a orientação do rio” (Donahue, 1982: 180-181). Fonte: Pétesch, 2000: 38 Mencionamos, na Introdução, a tríade sugerida por Lévi-Strauss como forma limite do dualismo concêntrico. Ela foi proposta para interpretar a aparente exogamia de metades bororo que se revelara, na realidade, como uma endogamia de grupos tripartidos no interior da aldeia. O autor propôs, ainda, a expressão gráfica desta tríade, sugerida a partir da “abertura” do modelo dual concêntrico: “... se é possível estender o círculo periférico sobre uma reta 53 Capítulo 2 [referindo-se ao círculo exterior da representação gráfica concêntrica] o centro será exterior a esta reta, sob forma de um ponto. No lugar de dois segmentos de reta [que se poderia supor, uma vez que se tratava de dois círculos], teremos então uma reta e um ponto” (Lévi-Strauss, 1958: 159). A semelhança da planta da aldeia Karajá com a proposta levistraussiana de abertura da estrutura dual concêntrica numa reta foi primeiramente notada por Dietschy (1977) que, curiosamente, percorreu o caminho inverso, ou seja, “fechando” a linha das casas residenciais: “se fecharmos a linha reta da organização da aldeia para formar um círculo ao redor da praça dos homens, nos encontraremos face à uma estrutura concêntrica no sentido de Lévi-Strauss” (Dietschy, 1977: 300). Pétesch explora mais detidamente tal idéia, afirmando ser a planta tradicional da aldeia uma representação “simbólico-espacial perfeita” do modelo ideológico (1993a: 371). A autora interpreta a função lógica da Casa dos Homens não como o centro de um esquema circular, mas como diametralmente oposta às casas. Como para Lévi-Strauss (1958), em que a planta da aldeia corresponde a um modelo gráfico, a Casa dos Homens seria um centro exteriorizado: “Constatamos assim que o ponto mediano da tríade estrutural karajá pode ser considerado um centro, o qual, por sua oposição aos outros dois pontos, cristaliza a expressão dualista das representações ideológicas, sob forma de pares antitéticos: grupos patrilineares vs. unidades uxorilocais; humanos celestes e aquáticos vs. humanos terrestres; mortos vs. vivos.” (Pétesch, 1993: 371, grifo nosso). Esta dualidade abstrata de pares antitéticos foi revelada como assimétrica no que a autora chamou de “nível funcional”: o espaço das casas residenciais e os grupos de praça, que se agrupam em tércias: “A exemplo dos níveis cósmico e territorial, a distinção e a separação entre os três elementos da trilogia é ideologicamente básica (...) a tripartição do espaço doméstico feminino se reproduz no espaço público masculino, particularmente por ocasião do ritual de iniciação dos rapazes” (Pétesch, 1993a: 371-373). Neste nível funcional, portanto, haveria novamente uma separação tripartite entre as tércias grupo de “cima”, iboó, associado à direção montante do rio, grupo de “baixo”, iraru, associado à jusante, e grupo do “meio”, itya. O grupo do meio não se encontra associado em especial a nenhuma orientação espacial (como montante e jusante dos dois outros grupos). No entanto, ele terá nitidamente um papel 54 Capítulo 2 de mediação. Um exame detalhado da composição desses grupos será realizado no capítulo dedicado à atividade ritual. Interessa-nos agora, preliminarmente, observar que as manifestações do universo classificatório karajá sugerem uma relação não trivial entre arranjos duais e triádicos. Nosso exame minucioso desses arranjos permitirá propor uma hipótese preliminar para as relações entre dualismo e triadismo. No entanto, reconhecemos que esses modelos requerem um maior refinamento por análises posteriores a partir da produção de mais dados etnográficos. Detemo-nos aqui na expressão espacial do cosmos karajá. A oposição dualista espaco masculino/espaço feminino na formação espacial da aldeia nos sugere empreender aquele procedimento de buscar na disposição espacial da aldeia uma expressão dos modelos ideológicos. Encontramos aí uma formação análoga àquela entre níveis aquáticos-nível terrestre. No vértice de um triângulo imaginário (ou na ponta de um leque, imagem sugerida por Toral) — formado pela “ligação” das extremidades da fileira de casas residenciais com a Casa dos Homens —, situa-se o espaço masculino, o ijoina, praça cerimonial. Oposta ao ijoina está a fileira (ou as fileiras) de casas residenciais, espaço que também é conhecido como hirarina, o lugar das meninas34. Os Karajá concebem o mundo subaquático e o mundo das chuvas como espaços fechados e, em contrapartida, o mundo terrestre é concebido como espaço aberto. Analogamente, a fileira de casas, ixã, está aberta tendo o rio como eixo referencial, enquanto a Casa dos Homens é um espaço fechado. A associação dos níveis cosmológicos com o espaço da aldeia toma o aspecto mesmo de uma teoria nativa, já que o termo que designa o nível terrestre, ahana obira, glosado por Rodrigues como “mundo aqui de fora”, é usado para designar, também, o coletivo de mulheres: ahana obira mahãdu, “o povo do mundo de fora” (Rodrigues, 1993: 361, nota). Dessa forma, a ixã enquanto espaço feminino, estaria para o ijoi, espaço masculino, assim como o nível terrestre estaria para os níveis aquáticos (sub e super aquáticos, fundo das águas e mundo das chuvas). Segundo Pétesch, “O espaço doméstico feminino, ou ixã, tanto como unidade territorial quanto como imputação terrestre da humanidade karajá, representa a parte terrestre do corpo social, enquanto o espaço público masculino, ou ijoi, tanto como unidade cultural 34 Hirari é a categoria de idade feminina composta pelas meninas que ainda não passaram pela menarca e, conseqüentemente, pela reclusão pubertária. 55 Capítulo 2 quanto lugar de agrupamento das representações dos Inã cósmicos, representa sua parte aquática” (Pétesch, 2000: 188). A posição do espaço feminino, ixã, com relação ao espaço masculino, ijoi, e sua situação estruturalmente equivalente à relação de oposição entre os mundos terrestres e aquáticos nos sugeririam uma primeira concordância com a proposta de Rodrigues para interpretar a relação entre os gêneros masculino e feminino. Para a autora, o feminino, entre os Karajá (ou Javaé) estaria associado à alteridade, à exterioridade e mesmo à afinidade, enquanto o masculino seria associado à identidade, consangüinidade e interior do socius. O mundo terrestre parece ser o locus da alteridade, da predação e da mortalidade. É nesse patamar que todos os inã têm de lidar com a alteridade, a ixã. A associação sócio-espacial do feminino à ixã, alteridade, parece-nos um indício da aplicabilidade do modelo proposto por Rodrigues. Voltando a atenção para o caráter essencialmente móvel do nível terrestre, Pétesch sugere que, neste nível, os inã que ascenderam do mundo subaquático, aquela humanidade originária, são obrigados a trocar a imobilidade característica de seu mundo de origem pelo movimento, uma vez que o alimento não é mais abundante, inesgotável e obtido sem esforço. E o movimento no nível terrestre implica em agredir e ser agredido por um ambiente hostil (Pétesch, 1987: 79). A identidade inã, que os Karajá partilham com habitantes dos três níveis cósmicos, encontra, no patamar intermediário, seu reverso, a alteridade, a ixã: “Sobre a terra, a identidade dá lugar à alteridade; a partilha, à predação; e, conseqüentemente, a vida eterna, à morte. (...) Conservando sua humanidade original, sua identidade propriamente karajá de natureza aquática, ou Inã, este ser adquire uma humanidade estrangeira, uma identidade terrestre, ou Ixã, que é diversamente compartilhada entre todos os habitantes da terra, karajá ou não.” (Pétesch, 2000: 49). Exploraremos aqui a multiplicidade semântica da categoria ixã para caracterizá-la como a expressão de variadas formas de aleridade. As muitas faces de Ixã Capítulo 2 56 Entre os significados da categoria de ixã, dois deles parecem sintetizar o sentido dos demais. Ixã é um grupo humano diferente daquele ao qual se pertence (Pétesch, 2000: 49) e, nesse sentido, um ixã seria um não-inã, toda alteridade humanizada. Essa definição contrastiva (B é um não A, ou ixã é um não-inã) é, no entanto, bastante deficitária. Serve-nos aqui meramente por sua clareza esquemática. Ela adota um ponto de vista que chamaríamos de “inãcêntrico”. Como veremos logo adiante, em muitos casos é possível definir-se a si como ixã ou como fazendo parte de um grupo ixã. Pétesch se utiliza de uma analogia geométrica para retratar as dimensões do universo karajá. A categoria inã seria onipresente na dimensão que ela veio a chamar de “vertical”, ou seja, considerando-se o “edifício cósmico” como um todo, sua presença se daria nos três níveis cósmicos, pensados esquematicamente como sobrepostos. Já na dimensão “horizontal” do cosmos, ou seja, estendendo-se os limites concebíveis de alteridade no nível terrestre, encontraríamos a categoria de ixã, a alteridade humanizada, característica comum a todo inã terrestre. Um segundo significado de ixã — que, em realidade, é um desdobramento do primeiro — é a designação de identidades coletivas associadas a um território. O subgrupo do norte é chamado de “grupo amigo”, ixã biowa. Grupos indígenas vizinhos e, pejorativamente, também os Javaé (o subgrupo “do meio”) são chamados de ixãju, que pode ser traduzido como “grupo dentado”. A classificação dos três subgrupos, Karajá, Javaé e Xambioá, conheceu uma interpretação elaborada por Pétesch. A autora fez uma associação da tripartição “sub-étnica” com o edifício cósmico que anteriormente mencionamos. Os Xambioá, localizados mais ao norte do território karajá, são chamados de iraru mahãdu, o povo de baixo, ou o povo à jusante. Os Karajá propriamente ditos, habitantes das regiões centrais e ao sul da Ilha do Bananal, são conhecidos como iboó mahãdu, o povo de cima, ou o povo à montante. Finalmente, os Javaé, situados preferencialmente no braço direito do Araguaia — ou rio Javaé, que, com aquele, forma a Ilha do Bananal — e também o interior da Ilha, são chamados de itya mahãdu, o povo do meio/centro35. Segundo a autora, para os Karajá, os Javaé caracterizar-se-iam por uma existência mais terrestre, ocupariam uma posição 35 O termo Tya quer dizer meio, centro, núcleo. O meio dia é chamado de txuu tya, o centro, meio do caminho do sol (Rodrigues, 2004: 41), um meio a partir do qual o sol começa a retornar para o mundo de origem. Capítulo 2 57 etnicamente central e dominante. Seu xamanismo é reputado mais eficaz e temível, é para suas aldeias que acorrem os doentes graves e os xamãs ainda aprendizes, em busca do conhecimento dos xamãs experientes. Da mesma maneira, é-lhes atribuída maior capacidade de controlar as entidades terrestres: “Como no plano cósmico, esta repartição intra-étnica de aspecto vertical [por classificar os grupos como cima, meio e baixo] toma a forma de um dualismo assimétrico, com o elemento mediano opondo-se e se impondo aos dois elementos polares relativamente equivaentes” (Pétesch, 1993a: 370). A caracterização dos grupos Xambioá e Javaé como ixã biowa e ixãju respectivamente nos sugere uma digressão sobre a função classificatória que parece operante aqui. Incluir os Javaé, mesmo que de maneira pejorativa, na categoria de ixãju, desloca-os para o locus privilegiado da alteridade. Ixãju são os grupos indígenas vizinhos, tais como Wou, Tapirapé, ou Karalahu, Kayapó, inimigos, outros. A questão que se nos apresenta é: qual o significado, nesse gradiente classificatório, da caracterização dos Xambioá como grupo amigo? A que lugar se se refere, no jogo de identidade/alteridade, ao grupo de baixo? Qual motivo levaria os Javaé a serem classificados como grupo estrangeiro, ixãju e quais significados desse termo? A sugestão dos Xambioá como “amigos” nos remete a outros “amigos”, aqueles do sistema de parentesco. Como será abordado no capítulo 3, os pares de máscaras que representam as entidade tutelares, os ijasó, eram encenados por dois homens que mantinham entre si uma relação de amizade formal36. Esta relação formal implicava em ajuda mútua ao longo da vida e interdição do casamento com as respectivas irmãs. Além disso, os amigos formais chamavam um ao outro de “meu irmão mais novo”. Escapando ao binarismo consangüíneos/afins, o amigo formal karajá parece encontrar-se naquela posição que Viveiros de Castro veio a chamar de “terceiros incluídos” (Viveiros de Castro, [1993] 2002: 154). Os “terceiros incluídos” seriam a expressão de um ternarismo que parece latente nos regimes concêntricos da sociabilidade amazônica (idem). Na classificação intra-étnica karajá, à posição de identidade inã dos Karajá e à alteridade ixãju dos Javaé impõe-se uma terceira posição, aquela dos “amigos” Xambioá. Não tão idênticos, por que ixã, os Xambioá não seriam também tão diferentes, como os ixãju, sendo por isso, grupo amigo, ixã biowa. É 36 Na atualidade já não se pode ter certeza da existência desta instituição da amizade formal entre os dançarinos. Pétesch crê que atualmente se dança “avec n’importe qui”. Capítulo 2 58 válido lembrar que ao apresentarmos esta classificação estamos deliberadamente assumindo um ponto de vista, o dos Karajá. Os Javaé têm uma outra classificação pejorativa37 cuja interpretação, por agora, ainda escapa ao nosso alcance. Acreditamos, ainda, que os Xambioá também possuam algum tipo de classificação, porém as informações sobre este grupo ainda são demasiado escassas. O termo ixãju, que aqui traduzimos como “grupo dentado” (ju = dente) foi traduzido por Marielys S. Bueno como “dente de porco” (Bueno, 1987: 30). Com efeito, ixã também designa o queixada, ou pecari de lábio branco (Rodrigues, 1993: 341; Pétesch, 2000: 85). Entre os inúmeros jogos que ocorrem ao longo do ciclo ritual que aqui chamaremos de Festas dos Ijasó38, há um conhecido como ixã x inã, que Rodrigues glosa como “gente versus porco queixada”. A utilização de um mesmo termo para designar o porco queixada e, igualmente, grupos humanos ligados a um território requer uma interpretação. Pétesch sugere que “o pecari, animal gregário, ligado um território, é considerado a forma mais humanizada da animalidade terrestre, próxima da ‘ixãcidade’ da qual ele porta o nome.” (idem:85). Buscando inspiração nas proposições de Lévi-Strauss sobre as classificações humanas, acreditamos que “não são as semelhanças, mas as diferenças que se assemelham” (Lévi-Strauss, [1962] 1976: 163). Para este autor, não haveria uma semelhança global entre dois termos. No caso de uma associação totêmica, não há a semelhança do grupo A com o animal X e do grupo B com o animal Y. Na interpretação estruturalista, o que importa são as relações de diferença: “de um lado, animais que diferem uns dos outros (...) e, de outro, homens (...) que diferem entre si” (idem). No nosso caso particular, o que parece estar em jogo são as relações entre os ixã, porco queixada, com os outros animais, de um lado, e as relações entre inã, gente, e ixãju, grupos estrangeiros, “menos gente”, de outro. Por reproduzirem uma organização coletiva ligada a um território, os queixadas se apresentam como seres mais sociais, diferentes, portanto, dos outros animais. Por se apresentarem como agressivos, menos sociais que os inã verdadeiros, os ixãju, grupos estrangeiros (ou grupo 37 Segundo Rodrigues, os Javaé chamam os Karajá pejorativamente de “povo do rio”, bero mahãdu, cuja natureza ofensiva ainda não compreendemos. Outra alcunha pejorativa para os Karajá é iwa yre, aleijado, sem um pé. A mesma autora anota que “Apontar os defeitos do corpo é uma das piores formas de xingamento entre os Javaé” (Rodrigues, 1993: 11). 38 Voltaremos ao tema dos ciclos rituais em capítulo específico. Por agora acreditamos suficiente informar que a vida ritual karajá se compõe de dois ciclos rituais, as Festas dos Ijasó e o Hetohokã. 59 Capítulo 2 dentado), são remetidos à alteridade, aos limites da humanidade. Dessa forma, sugeriríamos os seguintes pares de correlações: queixadas (ixã) : outros animais :: humanos verdadeiros (inã) : grupos estrangeiros (ixã) Se os ixã, queixadas, podem ser a forma mais humanizada da animalidade (cf. Pétesch, supra), os ixã, grupos estrangeiros, seriam a forma mais animalizada do humano. Note-se que a mitologia karajá, assim como a maioria senão totalidade das mitologias ameríndias, está repleta de narrativas que relatam como os animais da atualidade eram gente nos tempos míticos. Sua transformação em animais — ao menos na mitologia karajá — deve-se, no mais das vezes, à atitudes consideradas anti-sociais tais como a mesquinharia, o egoísmo ou a exagerada voracidade sexual. A matriz para as transformações, no entanto, é humana. Esse fenômeno do pensamento indígena foi denominado “multinaturalismo” por Eduardo Viveiros de Castro. O termo multinaturalismo foi cunhado por especularidade ao conceito ocidental de “multiculturalismo”39. Para os ameríndios, o substrato comum entre homens e animais seria a cultura: “O relativismo (multi) cultural supõe uma diversidade de representações subjetivas e parciais, incidentes sobre uma natureza externa, una e total, indiferente à representação; os ameríndios propõem o oposto: uma unidade representativa ou fenomenológica puramente pronominal, aplicada indiferentemente sobre uma radical diversidade objetiva. Uma só ‘cultura’, múltiplas ‘naturezas’” (Viveiros de Castro, 1996: 128). Além do porco queixada, identificamos na bibliografia a referência a três outros animais que são entendidos como posuidores de uma organização social análoga à humana: os macacos guariba, os urubus e as tartarugas. Os vários tipos de urubu são designados com termos de parentesco, que os relaciona entre si40. As tartarugas, por sua vez, são classificadas 39 Citando, “Esse reembaralhamento das cartas conceituais leva-me a sugerir o termo multinaturalismo para assinalar um dos traços contrastivos do pensamento ameríndio em relação às cosmologias ‘multiculturalistas’ modernas. Enquanto estas se apóiam na implicação mútua entre unicidade da natureza e multiplicidade das culturas — a primeira garantida pela universalidade objetiva dos corpos e da substância, a segunda gerada pela particularidade subjetiva dos espíritos e do significado — , a concepção ameríndia suporia, ao contrário, uma unidade do espírito e uma diversidade dos corpos. A cultura ou o sujeito seriam aqui a forma do universal; a natureza ou o objeto, a forma do particular.” (Viveiros de Castro, [1996] 2002: 348). 40 O urubu-rei, rararesa, é irmão da mãe do urubu preto, rara. Este, por sua vez, é primo de Hureru, um 60 Capítulo 2 segundo categorias etárias humanas41. O termo ixã ocorre também como prefixo para os vocábulos que denotam a liderança tradicional. Ixãdinodu, “líder do povo”, ixãwedu, “dono/responsável pelo povo” e ixãtaby, pai do povo, são termos mutuamente intercambiáveis para designar uma liderança de aldeia42. O “pai do povo” é um líder “para fora”, uma espécie de diplomata, mediador das relações entre muitos “nós” e os “outros” a eles correspondentes. É ele o responsável por receber visitantes, na condição de representante da aldeia. É de seu encargo, da mesma maneira, receber os visitantes “sobrenaturais”, ou seja, as diversas entidades cosmológicas que fazem sua aparição na aldeia no decorrer dos dois ciclos rituais. Finalmente, ele tem a atribuição de mediar as relações entre a coletividade masculina da aldeia, o ijoi, e a coletividade feminina, a ixã: “Seus deslocamentos da aldeia [a ixã] para o ijoina [o lugar do ijoi, praça cerimonial onde se localiza a Casa dos Homens] são sempre marcados ritualmente, sendo carregado nos ombros, ou acompanhado de um séquito de homens e mulheres. Em outras ocasiões o coletivo dos homens do ijoi deixa o ‘seu’ lugar e dirige-se para a casa do ixÿtyby [que escrevemos ixãtaby, pai do povo] na aldeia” (Toral, 1992: 88). Toral fornece uma pista para a elucidação dessa posição mediadora do ixãtaby: “ele é um ‘da aldeia’ [ou seja, pertence à ixã, espaço feminino] e ao mesmo tempo líder dos grupos de homens do ijoi” (idem: 88). O deslizamento do ixãtaby, o “pai do povo”, entre as duas categorias sócio-espaciais da aldeia, ixã e ijoi, permite a ele exercer esse papel mediador. Aqui, mais uma vez, a noção de “mediação” implicaria em remeter o elemento mediador “para fora”. O ixãtaby deve estar nas categorias ixã e ijoi para não estar em nenhuma delas e poder exercer seu papel de mediação. Visita ao Hades karajá: os mundos dos mortos tipo de gavião (Rodrigues, 1993: 54). 41 Algumas tartarugas são classificadas na categoria de idade senadu, mulheres velhas, outras na categoria de weryry, menino às vésperas da iniciação e outras, ainda, seriam ijadoma, moças em idade de casar (Rodrigues, 1993: 54). 42 Para uma explicação detalhada dos usos dos sufixos -du, -wedu e -dinodu e, ainda, para uma descrição do papel das lideranças de aldeia nas disputas faccionais karajá, cf. Toral, 1992, pp. 77-88. 61 Capítulo 2 A extensão dos domínios do patamar terrestre, locus privilegiado da alteridade, alcança o lugar dos mortos. Se o mundo de origem do patamar subaquático era o lugar da consangüinidade total, o mundo dos mortos será o seu inverso, o lugar da afinidade, da alteridade. Uma incursão pelas concepções acerca dos destinos escatológicos concebidos pelos karajá nos permitirá investigar as elaborações da filosofia nativa sobre as relações de consangüinidade e afinidade. Nas filosofias ameríndias, a morte e a afinidade estão intimamente conectadas e o “problema” da afinidade parece indissociável do “problema” da mortalidade: “Não é possível separar o problema da afinidade do problema da mortalidade, sobretudo atribuindo ao primeiro uma primazia sociológica ou política diante da evanescência ‘cosmológica’ do segundo. A morte e a aliança são condições conexas do socius, como atestam aquelas utopias ameríndias que, negando uma, negam conjunta e necessariamente a outra. A economia política do casamento, em sua modalidade amazônica, é a face local de uma economia simbólica da morte. (...) Os limites da autonomia local não são apenas aqueles impostos à vontade endogâmica pela demografia ou a política: eles são limites cosmológicos impostos pela mortalidade. Os outros são necessários para a administração, no duplo sentido, da morte. A perfeita autonomia só seria possível se os homens fossem imortais (mas aí é a soceidade que seria inviável — um tema recorrente nas escatologias ameríndias), ou se a morte não fosse um problema para a razão” (Viveiros de Castro, [1993] 2002b: 171-2). O “espírito” ou “alma” da pessoa que está viva é chamado de tykytaby, traduzido como “pele velha” (em que tyky = pele, invólucro, roupa43; e taby = velho; pai). Seriam as “peles velhas” dos xamãs que o permitiriam viajar pelos diferentes níveis cósmicos e também pela dimensão invisível do nível terrestre. A contrapartida “visível” da “pele velha” é a tykytyhy, “pele de verdade” (tyhy= verdadeiro), que se confunde com o corpo do vivente. Um Javaé teria glosado esse segundo conceito, para Rodrigues, como “nós mesmos, agora” (Rodrigues, 1993: 83). No entanto, a dualidade desta concepção karajá não parece poder ser reduzida àquela dualidade “ocidental” entre corpo e alma pois, como insistiam os informantes de Rodrigues, tanto a “pele velha” quanto a “pele de verdade” — que desavisadamente 43 Além de pele, invólucro, casca e roupa, o termo tyky também significa “vagina” (Rodrigues, 1993: 81). Capítulo 2 62 poderíamos tentar glosar como corpo — transformar-se-iam numa “alma” após a morte. Os Karajá dizem que o xamã “traz” a pele velha das pessoas que já morreram para instalá-las na barriga das mulheres grávidas, numa concepção próxima à de reencarnação. Segundo Rodrigues, todas as pessoas estão usando as “peles velhas” que já foram de alguém, mas não teriam qualquer ligação com o antigo possuidor: “As pessoas sabem que têm a pele velha [de uma pessoa específica] por que o xamã informa aos parentes da criança, no dia de seu nascimento, ou aos parentes do morto, que pediram para que o feiticeiro trouxesse seu tykytaby [pele velha]” (Rodrigues, 1993: 385). Aqui darei preferência à glosa “alma” para me referir ao tykytaby, pele velha. Donahue observou que este conceito se assemelha à idéia de fotografia, imagem ou mesmo um “segundo eu”. Esta definição aproxima o conceito de “pele velha” (tykytaby) ao conceito de karõ dos Krahó, tal como descrito por Carneiro da Cunha: “o termo abrange entre seus denotata a fotografia, o reflexo, toda ‘imagem do corpo’” (Carneiro da Cunha, 1978: 10). No entanto, a pele velha karajá perde esse nome quando o corpo morre, passando a ser chamada de worasã ou kuni, enquanto entre os Krahó, o karõ mantém este nome após a morte e a pessoa só é considerada plenamente morta quando o karõ passa a comungar com a aldeia dos mortos, partilhando sua comida, mantendo relações sexuais com os outros karõ e fazendo corrida de toras (características do convívio em sociedade para os Krahó). Quando da morte de uma pessoa, a “alma” (tykytaby) que a acompanhou em vida sofre uma transformação, abandonando aquele corpo para se tornar um espírito de morto. Os etnógrafos que trabalharam predominantemente com os Karajá propriamente ditos (Pétesch, Donahue, Toral e Lima Filho) afirmam que aqueles que morrem assassinados, de morte considerada violenta ou, ainda, que não têm sepultamento adequado44 transformam-se em kuni45. Os que tiveram morte considerada normal transformar-se-iam em worasã. Já Rodrigues, que trabalhou exclusivamente com o subgrupo Javaé, afirma que todos os que morrem são inicialmente transformados em kuni e, depois de algum tempo podem tornar-se worasã, possibilidade esta inacessível aos que morrem assassinados, jamais saindo do estado de kuni. O termo worasã, que grosso modo significa “almas dos mortos”, é também um termo 44 Pétesch é a única a mencionar esta terceira condição, 2000: 58. 45 Kuni na pronúncia feminina. Os homens dizem uni. Capítulo 2 63 polissêmico. Além de designar o coletivo de mortos, designa igualmente a coletividade masculina da aldeia em situações específicas. Segundo André Toral, os worasã, coletivo masculino, seriam os representantes dos worasã, coletivo de mortos. O mesmo autor faz uma diferenciação da designação do coletivo masculino segundo o contexto em que surge. Durante as etapas do ritual Hetohokã, a totalidade dos homens é referida como ijoi, enquanto worasã é o termo utilizado para o coletivo masculino nas Festas dos Ijasó. Em ambas ocasiões, esse coletivo é definido por oposição ao “povo da aldeia”, ixãhawa. Outros significados do termo worasã, que não terão importância para nossa discussão seriam, segundo Rodrigues, um tipo de vento e certas doenças (feitiços) originadas pela ação do xamã. Doravante utilizarei a glosa “mortos” para worasã e “assassinados” para kuni. Quando o termo worasã se referir ao coletivo masculino, será assim especificado. O destino dos mortos enquanto corpos é o wabedé, o cemitério. Seu destino enquanto “almas” é o wabedé, a aldeia dos mortos. Os dois espaços são designados pelo mesmo termo, mas são diferenciados segundo suas concepções. O termo bedé é polissêmico. Pode significar “mato” (terreno não cultivado), mundo ou tempo: “Wabedé seria ‘meu mundo/lugar/tempo’. É uma dimensão terrestre, lugar das ‘almas’ dos mortos” (Rodrigues, 1993: 377, nosso grifo). Segundo Toral, wabedé pode ser entendido como o “lugar dos meus ancestrais” (Toral, 1992: 214). Locais de antigas aldeias são reconhecidos pela presença do cemitério, e os mortos daquela aldeia são reputados continuar morando naquele wabedé específico. A aldeia dos mortos, situada abaixo do cemitério, foi descrita como um espaço sociomórfico análogo ao da distribuição espacial da aldeia (Pétesch, 2000: 62; Donahue, 1982: 163). Pétesch, em sua argumentação que identificava o modelo estrutural triádico karajá como intermediário entre o dualismo Jê e as concepções tupi, afirmou que a morte, entre os Karajá, não seria um “tornar-se outro” como para os grupos tupi, mas um retorno às origens, um “voltar a si” (Pétesch, 1993a: 368). Seu argumento está baseado na possibilidade do espírito do morto, após um certo período, poder encaminhar-se para a aldeia do mundo subaquático, deixando, portanto, a condição de “alma” e confundindo-se com os espíritos que aí habitam. No entanto, o destino imediato do morto é o wabedé, a aldeia dos mortos e, nesse sentido, os mortos compartilhariam com os vivos o mesmo patamar cosmológico: o mundo terrestre: “Os mortos das pessoas comuns compartilham, sob um estado diferenciado de existência, o mesmo nível cosmológico que os vivos: a superfície da terra” (Toral, 1992; 213). Capítulo 2 64 Segundo Rodrigues, os mortos estariam numa “dimensão invisível” do nível terrestre, que apenas os xamãs seriam capazes de enxergar (Rodrigues, 1993: 366). Os mortos, worasã, sofrem com a falta dos parentes vivos e tentam retornar à aldeia para se comunicar com eles, sendo dissuadidos pelos outros mortos. O lugar onde habitam os mortos é descrito como escuro e frio. A água é amarelada e a comida é apodrecida. O lugar é cheio de lama e há um pouco de fogo. Os mortos passam fome e frio, apesar da chuva ser quente. Eles têm de trabalhar na roça, que é muito fraca, onde quase não nasce nada. Os mortos são todos afins entre si e há muita “fofoca” (termo nativo, bababa, característica do convívio com afins, em Rodrigues, 1993: 405) e se o morto tiver relações sexuais ele morre novamente e renasce no mesmo lugar, mais fraco. Ressaltaríamos que os mortos, worasã, enquanto almas, são concebidos como afins46, seja entre si, como procura demonstrar Rodrigues, seja em sua relação com os inã terrestres, explicitada no oferecimento de alimento, que, entre os Karajá, parece marcar uma relação de afinidade entre os gêneros, tendo mesmo a conotação de uma relação sexual. No wabedé, aldeia dos mortos, haveria um rio, rubuo mahãdu bero, o rio dos mortos, que separaria a aldeia dos mortos da aldeia dos assassinados, kuni. Os assassinados são descritos, de forma unânime, como seres agressivos, “assombrando” a aldeia em geral e os parentes em particular47, que deixam suas casas nas primeiras noites, indo dormir em outras casas, tal é o pavor que os assassinados inspiram. A aldeia dos assassinados parece exacerbar todas as características negativas do anterior. Os kuni, assassinados, sofrem procurando seus parentes vivos e choram muito. Não há relações sexuais entre os assassinados. Segundo Rodrigues, eles não seriam nem consangüíneos, nem afins, ficando sozinhos. Os objetos (casas, canoas, pás, enxadas) são imprestáveis, furados, apodrecidos. Não há fogo nem roça, a carne é crua e vermelha, assim como a água dos rios, igualmente vermelha. A chuva é muito quente, queimando os assassinados ao cair e, não obstante, eles passam muito frio. Os assassinados estão sempre brigando e lutando e ficam por isso muito cansados. Eles perpetuam o estado em que morreram, derramando sangue, tendo todas as feridas abertas. (Rodrigues, 1993: 408-409). 46 47 Os mortos enquanto corpos serão abordados no capítulo relativo a parentesco e gênero. Mexem nas panelas, ou na palha das casas: qualquer ruído nas primeiras noites após a morte é atribuído aos assassinados. Capítulo 2 65 Seja a versão Karajá ou Javaé, dispomos da concepção de dois destinos post-mortem (sejam eles sucessivos ou paralelos), quais sejam, transformação em assassinados (kuni) ou mortos (worasã). Uma terceira concepção vem se somar a elas, enquanto destino imediato do morto. Trata-se do destino das almas dos xamãs e seus familiares, que é a aldeia do nível celeste48. O mundo celeste é em tudo oposto às aldeias dos mortos. As casas são grandes, perfeitas, são enormes as distâncias entre as casas, não é preciso trabalhar para comer, por que a comida aparece “magicamente” (de maneira xiburé, mágica). É possível enxergar muito longe por que há muita claridade. As pessoas estão sempre belamente adornadas e as mulheres são todas dançarinas, adusidu, dos homens. A aldeia do mundo celeste, como descrita inicialmente, é, assim como o mundo subaquático, o reino da imortalidade. Pétesch e Rodrigues mencionam, além da aldeia dos mortos, um outro destino escatológico. Após algum tempo, os mortos poderiam se encaminhar para o mundo subaquático: “Se, num primeiro momento, o worasã [morto] fica pessoalmente ligado aos parentes vivos, a perda da memória de sua descendência o permite pouco a pouco se instalar definitivamente no anonimato aquático dos habitantes do fundo do rio, ou dos habitantes da chuva, no caso dos xamãs” (Pétesch, 2000: 58). Para a autora, os worosã, mortos, não perderiam seu aspecto “terrestre”, uma vez instalados no mundo subaquático. Mencionando essa alternativa após a morte, Rodrigues diz: “No céu ou no fundo das águas não são mais ‘mortos’ [ou seja, não são mais chamados de worasã], mas o ‘povo do céu’ (biu mahãdu) ou o ‘povo das águas’ (berehatxi mahãdu), lado a lado com os Aruanãs [ijasó]” (1993: 391). Esta autora menciona, ainda, que os mortos que vão para o mundo subaquático ou celeste retornam à condição de tykytaby, pele velha (Rodrigues, 2004: 34). Acreditamos, no entanto, que para analisar a escatologia mortuária propriamente dita, é preciso considerar a aldeia dos mortos e o mundo das chuvas, mencionados como destino imediato dos mortos, principalmente por que, se integrados ao mundo subaquático, já não seriam considerados mortos. Mais uma vez, o que nos interessa na formulação nativa dos destinos escatológicos é menos uma “realidade empírica” (se essa expressão couber aqui...) do que aquilo que elas possam nos informar em comparação umas com as outras. Ou, se se 48 Rodrigues foi informada de que não apenas parentes do xamã podem ascender ao mundo das chuvas, mas também aqueles cujos parentes vivos pedem aos xamãs que encaminhem aquela “alma” para o mundo celeste, recompensando o xamã por este “serviço”. 66 Capítulo 2 preferir, o que nos interessa são as relações e não os termos. Há aqui uma associação cromática que é importante reter. A aldeia dos assassinados parece ser o extremo imaginável da alteridade. E é a esta concepção que encontramos a cor vermelha associada, seja em seus rios rubros, seja em sua alimentação, que é constituída de carne crua. No outro extremo está a aldeia do céu, descrita como perfeita. Ali os alimentos, inclusive da roça, são muito bem cozidos e a água é límpida, transparente. Rodrigues mostra que a cor branca é associada tanto ao céu (biura: céu branco) quanto ao alimento bem cozido. Encontraremos, ainda, um terceiro matiz cromático, o preto, associado ao mundo subaquático. Esse gradiente cromático será importante para o próximo capítulo, em que o exploraremos no domínio do parentesco. Rodrigues formula a marcação cromática dizendo: “Há uma associação à cor vermelha (isó) no extremo dos hure [kuni, assassinados], enquanto a cor branca (ura) aparece associada ao céu. A carne muito cozida é considerada branca, assim como a transparência da água parece ser ‘branca’ também [49](...). Já o wabedé [aldeia dos mortos, worasã] e o berehatxi [mundo das chuvas] estão associados a cores mais neutras ou intermediárias entre o branco e o vermelho, como o amarelo das águas não cristalinas” (Rodrigues, 1993: 423). Lévi-Strauss, em sua obra de maior fôlego sobre as mitologias dos índios do continente americano, propõe uma análise que nos parece pertinente para explicar o universo cosmo-escatológico karajá. O autor se propõe como unidade de análise todo o complexo mitológico ameríndio. Ele parte de um mito Bororo de origem da água, tomado como Mito de Referência, para explorar uma variedade monumental de mitos dos índios do continente americano, entendidos como transformações uns dos outros. A culinária, na filosofia indígena, teria o papel de marcar a passagem da natureza para a cultura (Lévi-Strauss, [1964] 2004: 197). Os mitos de origem do fogo culinário, das técnicas de agricultura e origem da mortalidade humana estão armados segundo uma mesma estrutura, qual seja, a estrutura de aliança, de uma afinidade primordial e fundante. A instauração da sociedade, ou seja, passagem da natureza para a cultura, tem, nos mitos, esses dois elementos mediadores típicos: 49 A associação da cor da água do mundo celeste, cristalina, ao branco, é uma especulação da autora, não parece ter sido assim formulada pelos nativos. Neste caso, também apostaríamos na mesma especulação, visto a cor da água nas duas aldeias de mortos (vermelha e amarelada) serem alvo de interesse nativo, o que demonstra sua posição conceitual relativa para o pensamento karajá. Parece-nos pertinente associa-la à cor branca, que encontraremos associadas ao mundo celeste em outras formulações nativas. 67 Capítulo 2 fogo de cozinha e agricultura. O fogo culinário seria um mediador, responsável por manter uma distância adequada entre o céu e a terra: “Entre o sol e a humanidade, a mediação do fogo de cozinha se exerce, portanto, de dois modos. Por sua presença, o fogo de cozinha evita uma disjunção total, ele une o céu e a terra e preserva o homem do mundo podre que lhe caberia se o sol realmente desaparecesse. Mas essa presença é também interposta, o que equivale a dizer que afasta o risco de uma conjunção total, da qual resultaria um mundo queimado” (idem: 336). Observando as formulações da filosofia karajá, notamos que na aldeia dos assassinados não há fogo, tampouco roça. A ausência do fogo culinário parece acarretar a junção total entre céu e terra, quando a chuva estabelece entre eles um contínuo e vem queimar os assassinados. A total separação entre o céu e a terra estaria representada na ausência de luz: há uma escuridão profunda, os assassinados sentem muito frio e a carne, o único alimento dos assassinados, é sempre crua. Já a aldeia do céu parece inverter as concepções da aldeia dos assassinados. Os alimentos seriam aí super cozidos, a temperatura é ideal (não se fala em calor ou frio) e seria, ainda, descrita como muito clara, seus habitantes podem enxergar muito longe. Retemos a atenção, ainda, para os outros mundos cósmicos e escatológicos. A roça também está ausente no mundo subaquático (Rodrigues, 1993: 401), informação esta que é consistente com a conquista da agricultura como evento logicamente posterior à vida nesse patamar, conquista dos inã terrestres. A alimentação dos ijasó consiste exclusivamente de carne de caça ou de pesca, e não é tão bem cozida como o alimento do patamar terrestre. Na aldeia dos mortos, por sua vez, há uma roça em versão enfraquecida, que fornece pouco alimento, a partir de muito e custoso trabalho. Além disso, os mortos se alimentam de comida podre. A transformação “natural” do alimento fresco em podre seria freqüentemente formulada, segundo Lévi-Strauss, nos mitos Tupi de origem do fogo. Já os mitos Jê sobre o mesmo tema formulam geralmente a transformação “cultural” do alimento cru em cozido. “Verifica-se assim que os mitos jê de origem do fogo, assim como os mitos tupiguarani sobre o mesmo tema, operam por meio de uma dupla oposição: entre cru e cozido de um lado, entre fresco e podre do outro. O eixo que une o cru e o cozido é 68 Capítulo 2 característico da cultura, o que une o fresco e o podre, da natureza, já que o cozimento realiza a transformação cutural o cru, assim como a putrefação é sua transformação natural ”(Lévi-Strauss, [1964] 2004: 172). A cosmo-escatologia karajá parece efetuar uma síntese entre as duas operações lógicas de transformação do alimento. Se quisermos, essa síntese poderia ser um indício a mais da posição estruturalmente intermediária da filosofia karajá entre as concepções JêBororo e Tupi, como argumentou Pétesch alhures (1987,1993a). Porém, encontramos na formulação karajá um elemento a mais e, conseqüentemente, uma terceira transformação. Trata-se do alimento super-cozido que encontramos na aldeia do mundo celeste. Se, por um lado, encontramos dois domínios onde não há agricultura, quais sejam, o mundo subaquático e a aldeia dos assassinados, por outro lado, encontramos a roça em variadas versões. São elas, a roça comum das aldeias dos inã do patamar terrestre, a roça fraca da aldeia dos mortos e a super-roça da aldeia do céu. A carne de caça e de peixe seriam o alimento comum a todos os domínios cosmo-escatológicos. O alimento podre da aldeia dos mortos parece uma transfomação natural do alimento fresco, que é encontrado no patamar terrestre. O alimento cozido do patamar terrestre parece uma transformação cultural do alimento cru encontrado na aldeia dos assassinados. Finalmente, o alimento super cozido da aldeia celeste escapa a essas duas formulações. Inicialmente imagináramos poder descrevê-la como uma transformação “sobrenatural” do alimento, visto que ele é obtido sem qualquer esforço, com “mágica”, xiburé, na aldeia do céu. Carne crua (assassinados) => transformação cultural => carne cozida (terra) Carne fresca (terra) => transformação natural => carne podre (mortos) Carne cozida (terra) => ? => carne super cozida (céu) A presença do nível celeste tanto nas concepções cosmológicas quanto na escatologia50 expressa sua importância conceitual para a elaboração de um mundo ideal, destino sofregamente buscado, seja na narrativa mitológica, seja na teoria escatológica. Pétesch enfatiza que a ascensão ao mundo das chuvas não pode ser entendida como uma 50 E aqui estou ignorando deliberadamente as proposições de Rodrigues e Pétesch no que diz respeito à possibilidade do morto (worasã) seguir para o munado subaquático após um determinado período. Capítulo 2 69 transcendência, como para os grupos tupi, em que a ascensão mítica “linear” dispõe Natureza, Cultura e Sobrenatureza (Pétesch, 1993a: 368). O xamã que completa a ascensão não seria, por isso, divinizado. Se o mundo subaquático era um mundo de consangüíneos e masculino (Toral chega a dizer que ele seria composto apenas pelo ijoi, a parte masculina da aldeia), no mundo celeste existem as casas residenciais, que são muito afastadas umas das outras e é mencionada a existência de mulheres. Rodrigues insiste na ausência de afins também no nível celeste, em que as mulheres existentes são todas dançarinas dos homens. Como veremos no último capítulo, a dança das moças saídas da reclusão pubertária, as adusidu, com as entidades cosmológicas, os ijasó, tem um caráter altamente sexualizado (chegou a ser denominado “rito de fertilidade” por Dietschy) e é concebida como uma relação de afinidade. Esta afinidade não se revela como afinidade efetiva, ou atual, como aquela entre cunhados ou entre genro e sogro. Não é tampouco uma afinidade virtual, aquela entre possíveis futuros cônjuges (primos cruzados, tio materno e sobrinha) ou potencial (cognatos distantes)51. Ela nos parece, antes, a elaboração de uma afinidade ideal — e, exatamente por isso, irrealizável — entre cônjuges. Uma conjugalidade perfeita. A despeito de não poder ser entendido como uma transcendência, acreditamos ser pertinente pensar no mundo das chuvas em termos de superação. Neste caso, seria uma superação da afinidade enquanto problema. Dessa forma, seria pertinente postular que as concepções cosmo-escatológicas karajá parecem testar vários arranjos possíveis para as relações de consangüinidade (C) e afinidade (A). Analiticamente, em termos não apenas formais, mas também semânticos, os arranjos combinatórios não seriam redutíveis simplesmente à presença ou ausência de C ou A na definição de uma dimensão cosmológica (no que resultariam apenas quatro possiblidades lógicas52). Postularíamos outra forma de dispor esses arranjos, sugerindo que a filosofia Karajá testa pelo menos cinco combinações. Para representar essas combinações de consangüinidade (C) e afinidade (A) na filosofia nativa propomos a seguinte convenção: a indicação “+” indica que, no caso (ou seja, na dimensão cosmológica específica), a presença da característica parece ter um valor moral positivo na concepção do ambiente, segundo a leitura nativa das relações entre seus entes; o sinal “-” indica que sua presença tem um valor 51 Para uma diferenciação entre esses três tipos de afinidade, cf. Viveiros de Castro, [1993] 2002b: 128. 52 Se, por exemplo, assumíssemos os sinais + e - como presença e ausência de uma característica, as combinações seriam C+ A+, C+ A-, C- A+ e C- A-. Capítulo 2 70 moral negativo; e o sinal ø indicaria a simples ausência da característica. Nosso uso dos sinais + e - repercute, assim, uma valoração externa à uma estrita funcionalidade intrínseca (formal) do sistema, e é isso o que quisemos dizer logo acima ao nos referirmos a “termos não apenas formais, mas também semânticos” (diferentemente, portanto, do uso que é feito desses sinais numa análise formal, como o faz, por exemplo, Lévi-Strauss (1958)). Vejamos quais são essas combinações e as características do ambiente a elas associado: # Aldeia dos assassinados (wabedé kuni): Não há consangüinidade, nem afinidade (Cø, Aø). Não há relações sexuais. Só há caça, a comida é crua, a cor associada é o vermelho (sangue dos assassinados, os rios e a cor da carne), muita escuridão e frio A chuva é muito quente, queima os assassinados, guerra de todos contra todos. A aldeia dos assassinados seria um “Zero” lógico nas concepções de consangüinidade e afinidade. Os assassinados estão em movimento constante. # Mundo subaquático (berehatxi): Só há consangüinidade (C+, Aø). Não são necessárias relações sexuais para o surgimento de novos seres. Não há roça, a comida é caça e não é muito cozida. O ambiente é escuro e frio. A cor a que é associada é o preto. Imobilidade. # Mundo terrestre (ahana obira): Há consangüinidade e afinidade em desarmonia, a afinidade é um problema (C+, A -). Há relações sexuais. Trabalha-se para obter alimentos da roça, a comida é cozida. Há caça. Mobilidade. # Aldeia dos mortos (wabedé worasã): Só há afinidade, se um morto tem relaçõs sexuais morre e renasce no mesmo lugar, mas a afinidade se manifesta marcada pela sua expressão deletéria: há constante conflito na convivência (fofoca, brigas), e assim: Cø, A-. Há caça e uma roça fraca e trabalhosa, o alimento é apodrecido e a água é amarelada. Há escuridão e frio e a chuva é quente. # Aldeia do céu (biú): Há consangüinidade e afinidade em harmonia (C+, A+), a comida é super-cozida, obtida sem esforços, magicamente. Não se fala em relações sexuais reais, mas metafóricas: a dança das adusidu (dançarinas) com os ijasó (inã do mundo celeste); a comida é abundante e a cor associada é o branco. Capítulo 2 71 A interpretação da transformação alimentar efetuada na aldeia do céu, que a princípio supúnhamos como sobrenatural assemelha-se mais a uma transformação “supercultural”. A aldeia do céu parece um super-cultura em que os problemas advindos da relação com a alteridade estão superados. A aldeia do céu parace o espaço utópico de construção imaginária da sociedade ideal, da superação de conflitos. É escassa e controversa informação que se pode ter sobre ela. Parece-nos o lugar de possbilidade da especulação, como se o mundo ideal estivesse por ser concebido, ou construído. Como o lema do Unioni Inquilini (associação de sem-teto italianos), aqui também, “un altro mondo è in costruzione”. 72 Capítulo 3 Parentesco e Gênero Embrenhar-se na floresta do sistema terminológico de parentesco karajá pode parecer um tanto assustador para aqueles que, como nós, apenas iniciam a dar os primeiros passos nesse campo sui generis (mas ao mesmo tempo seminal) da etnologia. Não dispondo de uma terminologia Crow-Omaha clássica, tão comum entre os grupos Jê do Brasil Central, a terminologia Karajá possui características “quelque peu disparates” (Pétesch, 200: 194). O caráter havaiano da terminologia em G 0, para Ego masculino, e seu caráter sudanês em G+1 tornam o sistema karajá um sistema trop compliqué. Nossa intenção, ao abordar as relações de parentesco karajá não é, absolutamente, esgotar as possibilidades interpretativas que o sistema sugere. As elaborações da ideologia nativa em torno das relações de consangüinidade e afinidade, por terem perpassado os domínios analíticos que nos propusemos a abordar (quais sejam, Cosmologia, Parentesco e Ritual), sugerem que devemos buscar no sistema terminológico a elaboração primeira sobre essas relações. Entre os Karajá, as utopias cosmológicas de um mundo sem afins bem como os infernos escatológicos da afinidade total derivam, ao que parece, de uma necessidade da filosofia karajá de solucionar o “problema da afinidade”. Na América indígena, a afinidade, a diferença, aparecem como problemas para o pensamento: “A diferença, cujo esquema sociológico básico é a afinidade, aparece ao mesmo tempo como necessária e perigosa, como condição e limite do socius, e portanto como aquilo que é preciso tanto instaurar quanto conjurar. A afinidade revela-se, com isso, o elemento por excelência do político e o horizonte negativo de utopias sociológicas e escatológicas.” (Viveiros de Castro, [1993] 2002b: 103). Ao nos voltarmos para o sistema terminológico de parentesco karajá, nossa tentativa é a de apreender os sistemas de relações entre consangüíneos e afins. Se o lugar problemático da afinidade está elaborado nos mais distintos códigos do discurso nativo, acreditamos que a terminologia de parentesco possa se revelar como iluminadora dessas relações. É preciso mencionar que consideramos a terminologia fundamentalmente como um sistema 73 Capítulo 3 classificatório, aquele que ordena o mundo social em afins e consangüíneos, diferentes e semelhantes, alteridade e identidade. Notaremos no sistema terminológico um fenômeno que aparenta ser uma tentativa de assimilar os parentes por afinidade a consangüíneos. Esse parece ser o papel da utilização de tecnônimos, amplamente difundido para termos de afinidade. Uma exceção a essa difusão, no termo para “marido da filha”, nos indicará a operacionalidade, na terminlogia de parentesco, de um outro princípio classificatório, aquele que se utiliza de um gradiente cromático. Esse gradiente nos remete, mais uma vez, à elaboração filosófica sobre o cosmos karajá. A análise dos sistemas de aliança na Amazônia e a constatação da nãofuncionalidade da “aliança simétrica” como fórmula global sugeriram a Eduardo Viveiros de Castro a condição limitada do parentesco na Amazônia: “É justamente por que a aliança simétrica não funciona sob uma fórmula global, na Amazônia, que os limites do parentesco se traduzem numa limitação do foco sobre o parentesco no dar conta das propriedades globais dos sistemas da região. Os limites da aliança como princípio de organização coletiva são, em larga medida, os limites do grupo local (aldeia, nexo endógamo); para além deste círculo, a aliança serve essencialmente de substrato indutivo para a operação de circuitos de intercâmbio de outra natureza: cerimoniais, guerreiros, funerários, ‘metafísicos’, que funcionam como tantos outros princípios sociológicos. A sociologia da Amazônia não pode limitarse ao parentesco (ou à sua mera ‘sublimação’ cosmológica) por que o parentesco é limitado e limitante ali” (Viveiros de Castro, [1993] 2002b: 105-6). Voltaremos nossa atenção para a terminologia de parentesco karajá imaginada, antes, como fonte de informação sobre as categorias de parentes para com os quais determinadas relações devem ser instauradas do que como posições pré-definidas que devem ser preenchidas por pessoas previamente classificadas. Os etnólogos que se dedicaram detidamente à exposição e interpretação da grade terminológica foram Hans Dietschy (1960, 1977, 1978), Georges Donahue (1982) e Nathalie Pétesch (2000). A seguir apresento a terminologia tal como foi descrita por Pétesch, que não conta com nenhuma diferença significativa com relação à terminologia apresentada por Donahue. Pétesch deu preferência aos termos de referência, relativos à terceira pessoa, e não os termos vocativos. Donahue mostra que estes termos variam consideravelmente. Um exemplo é o Capítulo 3 74 termo para “pai”, que tem três distintas raízes segundo o possessivo for de 1a, 2a ou 3a pessoa. O termo para meu pai é waha, para teu pai é boó e pai dele é taby. Este autor observa, ainda, que, além dessas variações, a todos os termos de parentesco é possível acrescentar o prefixo que indica possessivo de primeira pessoa, wa-, para designar especificamente parentes de quem fala, praticado como termo vocativo. Alguns rótulos descritivos foram reduzidos, nos casos em que Pétesch repetia, por exemplo, MZS e MZD, ao que reduzimos a MZC (Mother’s sister’s child, filhos da irmã da mãe, quando o termo independe do gênero)53. Fizemos a diferença segundo os termos se apliquem a consangüíneos ou afins e, ainda, segundo se trata de termos simples ou tecnônimos. 53 Utilizamos aqui a convenção mais comum para os termos de parentesco. Eles são reduzidos a rótulos correspondentes à primeira letra de seus termos em inglês (com exceção de irmã, “sister”, para a qual usamos a letra Z evitando a confusão com S de “son”, filho), ou seja, F= pai, M= mãe, S= filho, D= filha, B= irmão, Z= irmã, C= filhos (children) independente do gênero, H= marido, W= esposa. As letras e e y antes de uma sequência indicam primogênito e caçula, respectivamente. Os termos compostos devem ser lidos de trás para frente, de forma que, por exemplo, MBD é a filha do irmão da mãe. As especificações de mais velho e mais novo, quando aparecerem antes de uma letra, correspondem a primogênito ou caçula daquele parente. Se aparecerem antes de toda uma seqüência, entre parênteses, correspondem ao parente específico a que se refere a seqüência inteira. Por exemplo, FeBC são os filhos do irmão mais velho do pai. Já (e)MZS é o filho mais velho da irmã da mãe. Os diagramas de parentesco encontram-se em apêndice. 75 Capítulo 3 Termo simples G+2 Consangüíneo Tecnônimo Labie - FF, MF Lahi - FM, MM G+1 Consangüíneo Taby- F, MH Së- M, FW Taby ura- FeB (“pai branco”) Së ura- MeZ (“mãe branca”) Labri- FyB Ladire- MyZ Lana- MB Labetyrã- FZ Afim Labri- MZH, FZH Riore labie- WF, HF Ladire- FBW, MBW Riore lahi- WM, HM Lana- FZH, MZH Labetyrã- MBW, FBW G0 Ego Masculino Termo Simples Consangüíneo Tecnônimo Nyrã- (e) B, FBS, MZS, MBS, Së riore- B, Z FZS Labri riore- FyBC Ixi- (y) B, FBS, MZS, MBS, FZS Ladire riore- MyZC Lerã- Z, FBD, MZD, MBS, FZD Lana riore- MBC Labetyrã riore- FZC Afim Riore lana- WB Ra taby- ZH Riore së- W, BW Riore së ura- WeZ Riore ladire- WyZ 76 Capítulo 3 Ego Feminino Consangüíneo Nymã- (e) Z, FBD, MDZ, MBD, Së ritxore- B, Z FZS Taby ura ritxoreIsoru- (y) Z, FBD, MZD, MBD, FeBC FZD Së ura ritxoreHi- (e) B, FBS, MZS, MBS, FZS MeZC Ixi- (y) B, FBS, MZS, MBS, FZS Labri ritxore- FyBC Ladire ritxore- MyZC Lana ritxore- MBC Labetyrã FZC Afim ritxore- Ritxore labetyrã- HZ Ritxore Së- BW Nabeso yZH Taby- Ritxore HeB taby H, ura- Ritxore labri- HyB G-1 Ego masculino Consangüíneo Termo Simples Tecnônimo Riore- S, D, BC Nyrã riore- eBC Ra- ZC Ixi riore- yBC Lerã riore- ZC Ego Feminino Afim Ra laby(“cabeça”/“sobrinho” preto) Consangüíneo Ritxore- S, D, BC, yZC Nymã ritxore- eZC Nabeso- eZC Isoru ritxore- yZC DH Riore riore së- SW Hi ritxore- eBC Ixi ritxore- yBC Afim Ra laby(“cabeça”/“sobrinho” preto) DH Ritxore ritxore sëSW 77 Capítulo 3 G-2 Consangüíneo Riore riore- CC Tecnônimos, consangüíneos e afins Uma das características da terminologia de parentesco karajá é a ampla utilização de tecnônimos. Os termos tecnônimos são sempre compostos pelo termo simples riore, filho, seja o tecnônimo ascendente ou descendente. Como exemplo poderíamos citar o termo para “esposa”, riore së, mãe de meus filhos; ou então o termo para “filho de irmão caçula” (yBC), ixi riore, ou seja, filho de ixi (yB). O termo riore (filho) pode ser substituído pelo nome do filho primogênito do casal e, mesmo que esse filho venha a falecer, seu nome permanecerá como referência para o uso do tecnônimo. O uso de tecnônimos é difundido tanto para designar parentes consangüíneos quanto para os parentes por afinidade. No primeiro caso, geralmente há um termo classificatório simples e também a opção de um tecnônimo. Esse é o caso, por exemplo, do termo para (e)MBS para Ego feminino, que pode ser chamado tanto pelo termo classificatório simples Hi como também pelo tecnônimo descritivo Lana riore, filho de Lana, filho do irmão da mãe. Entre os parentes por afinidade, com exceção do termo para DH, todos os termos utilizados são tecnônimos. Esta exceção no termo para “marido da filha” é fundamental e será trazida à discussão. O amplo uso de tecnônimos é bastante comum nas terminologias de parentesco e parece denotar uma tentativa terminológica de “camuflar” a afinidade, assimilando afins a consangüíneos, com a fórmula afim = consangüíneo de consangüíneo. O termo para DH, marido da filha, é o único, entre os termos de afinidade, que não comporta o uso descritivo de um tecnônimo. O marido da filha é chamado de ra laby, termo que foi traduzido por Pétesch como “cabeça preta” ou “sobrinho preto” (ra=cabeça, sobrinho e laby= preto). Ra é o termo utilizado por ego masculino para referir-se aos filhos de ambos os sexos de sua irmã. Ego feminino refere-se aos ZC por termos bastante diferenciados: os eZC são Nymã ritxore e os yZC são Isoru Ritxore. No entanto, o termo Ra laby, para DH é comum tanto para ego feminino quanto pra ego masculino. Capítulo 3 78 Este termo usado para designar o marido da filha sugere duas discussões importantes. A primeira delas advém de um contraste entre as categorias recíprocas aí implicadas: DH-WF, e ZS-MB. O que a relação entre genro e sogro pode sugerir para as relações de afinidade? Por que motivo ao genro não se aplica um termo tecnônimo? Que tipo de relação existe entre o irmão da mãe e o filho da irmã? Por que um DH é assimilado a um ZC, mas de “natureza” diferente, ou seja, “preto”, laby? A segunda discussão decorre justamente dessa marcação cromática, laby (preto) para um afim. Ela chama a atenção se contrastada a uma outra marcação cromática na terminologia de parentesco. Os primogênitos paralelos na geração dos pais de ego (eFB, eMZ) levam a marcação “branco”, -ura sendo denominados “pai branco”, taby ura, e “mãe branca”, së ura. Aqui, nossas indagações recairão sobre as relações entre eByB, primogênito-caçula. Sobre essa relação, nossa interpretação ainda será bastante especulativa. O contraste primogênito/caçula, entre os Karajá, parece repleto de significados que, segundo acreditamos, ainda não foram suficientemente descritos pela etnografia e, conseqüentemente, não podem senão ser sugeridos pelas interpretações. Pétesch coletou uma terminologia que se presta à distinção de idade entre um grupo de germanos, distiguindo entre primogênitos e caçulas. Trata-se da utilização dos termos umãdela para primogênitos e tuhana para caçulas. Estas categorias ignoram as distinções de gênero. Por exemplo, os germanos primogênitos de Ego, independente do gênero, seriam chamados de Wa umãdela (Wa: possessivo de primeira pessoa do singular), que poderia ser glosado como “meu primogênito”. Este termo seria aplicável a eB, eZ, FeBC, FeZC, MeBC, MeZC, FeBCC, MMeBCC, etc. Já os germanos caçulas de Ego seriam todos chamados de Wa tuhana, que poderia ser glosado como “meu caçula” e seria aplicável a yB, yZ, FyBC, FyZC, MyBC, MyZC. Esta distribuição implica em que sempre seria possível classificar um parente segundo sua idade relativa54. Os cargos tradicionais de chefia, transmitidos patrilinearmente, não concernem senão ao filho mais velho na linha de chefia. Um tema mítico comum na américa indígena, o do casamento da estrela d’alva com um ser humano e a origem das plantas cultivadas, apresenta, entre os Karajá, a distinção entre primogênito e caçula. Uma moça — primogênita — se apaixona pela estrela d’alva e deseja se casar com ela. A estrela desce à terra sob a forma de 54 Poderíamos citar exemplos em outras geraçãos. O termo Wu labie tuhana, que podemos glosar como caçula (tuhana) de meu avô (labie) é usado para se referir a FFyB, FFyZ, MFyB, MFyZ. Capítulo 3 79 um senhor muito velho e enrugado. A moça não o reconhece e, enojada, recusa o casamento. A sua irmã mais nova, compadecida, aceita casar-se com o velho-estrela. O velho será o responsável por trazer as plantas cultivadas à humanidade. Outros dados sobre a distinção de idade são aportados por Rodrigues. Segundo essa autora, os irmãos mais novos são considerados pedaços do cordão umbilical do irmão mais velho (Rodrigues, 1993: 71). Os mais novos se refeririam ao mais velho como “meu primeiro corpo”. Os dados acima mencionados não são ainda passíveis de uma interpretação minimamente satisfatória e, portanto, não retornaremos a eles no decorrer de nossa argumentação. Eles sugerem, entretanto, a necessidade de uma exploração etnográfica mais detida. Retornando à terminologia de afinidade, a aproximação entre o termo para ZC, ra, e o termo para DH, ra laby, nos sugere que filho da irmã e marido da filha estariam, de alguma forma, relacionados. Poderíamos supor a existência de uma preferência matrimonial do casamento de Ego masculino com a prima cruzada matrilateral (MBD). No caso deste casamento ser efetivado, implicaria na necessidade do sogro fazer a distinção terminológica entre ZC, sobrinho, e DH, genro, chamando o genro de ra laby, sobrinho preto. Ao analisar o mesmo ponto, Pétesch dispôs dos dados de dois rescenceamentos dos casamentos na aldeia de Sta. Isabel: o de Dietschy, realizado em 1955 e o seu próprio, de 1990. Há, nesses dados, uma preferência oposta àquela que inicalmente supomos, ou seja, a preferência estatística pelo casamento patrilateral. Pétesch encontrou uma proporção de 44% de casamentos com a FZD contra 22% com a MBD, enquanto Dietschy teria encontrado 57% de casamentos patrilaterais contra 20% de casamentos matrilaterais. É relevante notar que ra laby, o único termo de afinidade para o qual não há um tecnônimo, aplica-se ao único afim com quem se coabita (marido da filha), uma vez que estamos em plena regra uxorilocal de casamento. É importante sublinhar que quando dizemos “único afim com quem se coabita” estamos implicitamente adotando o ponto de vista dos pais desta filha que traz o afim, por meio do casamento, para a residência. Se adotássemos o ponto de vista do homem que está se casando e deslocando-se para a residência de sua esposa, afins seriam todos (sogros, cunhados, cunhadas). É ele o elemento “estrangeiro” naquela casa. Com o passar dos anos ele tomará o lugar de seu sogro e receberá seus próprios genros, que ali entrarão tão estrangeiros como ele fora outrora. Voltando-nos para a segunda das categorias recíprocas implicadas naquela terminologia (MB-ZS), caberia nos questionar qual seria o lugar, então, do irmão da mãe Capítulo 3 80 nesse sistema. O irmão da mãe está presente em momentos cruciais da vida de um Karajá. Durante o ritual Hetohokã, em seu trecho mais propriamente “iniciático”, qual seja, a reclusão dos iniciandos durante sete dias na Casa Grande, o jyré, garoto iniciando, é levado nos ombros do irmão de sua mãe à Casa Grande (a Hetohokã) para ali ficar recluso entrando em contato com os segredos masculinos 55 . A relacão de MB com ZC em geral é também expressa na reclusão pubertária da garota, que ocorre após a menarca. Ela fica dias confinada no interior de sua própria casa, num canto especial, a ela reservado, sobre uma esteira, onde deve permanecer imóvel. Segundo Rodrigues, é também o irmão da mãe responsável por retirar a menina de seu confinamento (Rodrigues, 1993: 58). De alguma forma, o MB parece estar em posição de mediação, seja entre o mundo feminino da ixã e masculino do ijoi para o garoto, seja entre a imobilidade e a volta ao movimento, na reclusão pubertária, para a garota. Voltaremos a este ponto. Marcações cromáticas O sufixo cromático laby, preto, para DH nos incita a contrastá-lo com os termos para primogênitos paralelos em G+1. O irmão mais velho do pai e a irmã mais velha da mãe recebem o sufixo -ura, branco, acrescido aos termos para pai e mãe sendo, assim, chamados de pai branco e mãe branca. Donahue enfatiza que os termos para “pai” e para “pai branco” bem como seus equivalentes femininos jamais são confundidos. Na geração de ego, em que os termos usados para os irmãos são igualmente aplicáveis a primos bilaterais, desde que observado o contraste primogênito/caçula, há uma distinção conforme o gênero de ego. Ego feminino faz a distinção etária entre germanas do mesmo sexo — a idade relativa de suas “irmãs” — e a distinção etária dos germanos de sexo oposto: irmãos primogênitos e caçulas. No entanto, ego masculino dispõe de apenas um termo para irmãs e germanas de sexo oposto: lerã. Pétesch mostra que as “irmãs” são diferenciadas por ego masculino segundo sua 55 Há outro momento em que o homem Karajá é levado nos ombros. Na cerimônia de casamento, é levado para a casa da noiva nos ombros de parentes patrilaterais. Igualmente, a família patrilateral é a responsável por levar o corpo de um falecido ao cemitério. Abordaremos essas mediações adiante. 81 Capítulo 3 proximidade, que acreditamos genealógica ou geográfica. Diferenciam-se as lerã tyhy, irmãs verdadeiras, próximas, das lerã teheriare, irmãs distantes e, por isso mesmo, esposas potenciais (Pétesch, 2000: 196-7). O reconhecimento de níveis de distância lateral (tyhy, próximo; teheriare, distante) é comum aos sistemas amazônicos chamados de dravidianos. Nesses sistemas, o gradiente próximo/distante, gradiente geográfico, e o real/classificatório, que opera uma distinção genealógica, são superpostos ao contraste binário consangüíneos/afins (Viveiros de Castro, 1993: 165; Silva, 1995)56. Um sistema terminológico diferente mas com um traço bastante similar foi apresentado por Françoise Héritier e a levou a constatar o fenômeno da “dominação masculina” — ou “minorização” feminina, no sentido de status de menor — numa terminologia que, no entender da autora, não estabelecia, aparentemente, diferença entre os sexos. Trata-se do sistema Gonja, descrito por Esther Goody (Héritier, 1989). Nesse sistema, a filiação é bilateral e a terminologia é havaiana na geração de Ego e iroquesa nas primeiras gerações ascendente e descendente57. No sistema Gonja, “apenas os irmãos paralelos do pai e da mãe (FB, MZ) são diferenciados por ego em função de seu estatuto relativo de mais velho ou mais novo relativamente ao pai e à mãe de Ego: existem assim ‘pais mais velhos’ (subentende-se do que o pai), ‘pais mais novos’, ‘mães mais velhas’, ‘mães mais novas’. Mas existe apenas um termo para designar o irmão da mãe e a irmã do pai” (Héritier, 1989: 40). No entanto, os Gonja afirmam que as mulheres são sempre “mais novas”. Num sistema em que a posição genealógica indica diferença de status (o mais novo deve obediência ao mais velho), além de preferência sucessória e direito de herança, aquela afirmativa significa que as mulheres não transmitem direitos nem propriedades. Naquele sistema, como no sistema karajá, os homens dispõem de dois termos para irmãos, estabelecendo a diferença entre o mais velho e o mais novo e apenas um termo para irmãs. No entanto, entre os Karajá a recíproca fica comprometida (ao contrário dos Gonja), uma vez que 56 Este dado — o contraste entre irmãs reais ou classificatórias — na perspectiva demasiado “generizada” (infletida pelo gênero) de Rodrigues é interpretado apenas como sinal do “caráter ambíguo” da figura da mulher. 57 Terminologia havaiana é aquela em que os termos para irmãos são aplicáveis tanto para os primos paralelos quanto cruzados. Já na terminologia iroquesa, os termos para irmãos são os mesmos para primos paralelos e diferenciados dos termos para primos cruzados. (Ghasarian, 1996: 214). Capítulo 3 82 as mulheres dispõem de termos que diferenciam primogênitos e caçulas tanto para irmãs quanto para irmãos. Não intentamos arriscar aqui uma interpretação precipitada. Entretanto, há um problema a ser resolvido por investigações posteriores. Se a primogenitura exerce um papel já bastante bem descrito de preferência em cargos de chefia, cerimonial, aplicação de tecnônimo e, como veremos no ritual, posse de entidades espirituais, o papel da ultimogenitura e das distinções etárias e de gênero por parte das mulheres ainda não está elucidado. Adiante voltaremos ao tema, dessa vez simbólico, da posição de irmão caçula. É importante notar que, em G +1, os parentes que entram na família por relação de afinidade recebem os mesmos termos que os caçulas ou que os parentes cruzados. Esta distribuição de termos poderia significar um desnível de status dos parentes cruzados, caçulas e afins com relação aos paralelos, primogênitos e consangüíneos. Pode, ainda, ser a manifestação terminológica da prática de casamento entre grupos de irmãos, no qual, por exemplo, Ladire, a irmã mais nova da mãe seria uma e a mesma pessoa que Ladire, a esposa do irmão do pai. A marcação cromática para termos de parentesco, que observamos nos termos para eFB, eMZ e DH, tem chamado a atenção dos autores desde Dietschy e conhece algumas interpretações. É consenso que o termo -ura, branco, indica famílias de prestígio. Apesar de não ter sido especficado pela bibliografia, acreditamos que esse “prestígio” se refira à capacidade daquela família de mobilizar e angariar reconhecimento, seja dispondo de cargos de chefia na aldeia, seja mobilizando a parentela para, por exemplo, “pagar” um ritual de iniciação para seus filhos. Os rituais completos são ditos serem muito caros pelos Karajá e apenas famílias detentoras de uma roça farta podem levar a cabo esses rituais, assumindo os pesados encargos cerimoniais que eles requerem. Um dos grupos cerimoniais, ou grupos de praça58, é chamado de Saurá, que foi glosado por André Toral como “grupo da cauda do carcará”. Entre os Javaé existem apenas três grupos de praça e o Saurá equivale aos iboó mahãdu, o “grupo de cima”, montante, dos Karajá, uma das três tércias sob as quais se arranjam os grupos de praça, como veremos no último capítulo. Já Hans Dietschy faz menção a este grupo de praça, saurá, que o autor traduziu como “famílias de prestígio” onde sa: família e ura: branco, prestígio. O uso de um sufixo cromático, ura, branco, para a distinção 58 Vamos abordar o tema dos grupos de praça no capítulo referente aos rituais. 83 Capítulo 3 de primogênitos, para a designação de um grupo de praça e para indicar famílias (Sa) de prestígio (ura) nos instiga a questionar se não haveria uma conexão entre esses três dados. Seria possível que um grupo de praça reunisse famílias de prestígio? Seria possível este mesmo grupo ser composto apenas por primogênitos provenientes de diversas famílias? Pétesch entende o sufixo -ura como reforçando “a proximidade parental, o forte grau de consangüinidade. Isto está de acordo com o simbolismo cromático que faz da cor branca a representação da identidade sócio-cultural, ou mesmo de uma certa superioridade estatutária, com relação ao preto, sublinhando a alteridade.” (Pétesch, 2000: 195). É possível fazer uma objeção, partindo dos próprios dados da autora, ao que ela veio a chamar de um forte grau de consangüinidade. É preciso observar que ego feminino, para quem as diferenças primogênito/caçula são marcadas tanto para parentes masculinos quanto femininos, tem os filhos associados a yZC e diferenciados de eZC, justamente afastando aqueles que a autora considera fortemente consangüíneos: “se do lado masculino, Ego opõe os filhos de sua irmã aos filhos de seu irmão, identificando os últimos aos seu próprios filhos, do lado feminino, os filhos de irmão são assimilados aos filhos de Ego. E os filhos de irmã são diferenciados em função da idade de suas mães com relação a Ego: os filhos da irmã caçula são igualados aos filhos de Ego e aos filhos de irmão, que, por sua vez, são distintos dos filhos da irmã primogênita.” (Pétesch, 2000: 197). A figura a seguir mostra esquematicamente esta atribuição de termos. Os símbolos hachurados são chamados pelo mesmo termo por ego. Os sinais + e – correspondem a primogênito e caçula, respectivamente: Acreditamos que o termo -ura esteja essencialmente ligado ao prestígio e a uma Capítulo 3 84 superioridade estatutária inerente à posição de primogênito, além de preferência em prerrogativas cerimoniais. Esse parece ser o caso, por exemplo, da herança do cargo de “deridu”. Deridu é um cargo cerimonial. Trata-se de uma criança que é dita ser a “dona” das Festas dos Ijasó e foi glosado como “filho predileto” por Pétesch (1993b). Segundo a autora, existem dois deridu em cada aldeia. É um cargo essencialmente ligado às cerimônias, e apenas primogênitos podem ser escolhidos como deridu. Igualmente, o cargo de ioló, chefia tradicional, é exclusivamente destinado a primogênitos. Transmitido entre gerações alternadas, de avô para neto, o ioló é criado enclausurado, treinado especialmente para assumir o cargo da chefia tradicional, que consiste basicamente em mediar e apaziguar disputas internas na aldeia. Seus deslocamentos pela aldeia são bastante cerimoniosos: ele é carregado nos ombros, seus pés não devem tocar diretamente o solo sendo, por isso, providenciadas esteiras onde ele pisará59. Recordemos que o uso de tecnônimos recai exclusivamente sobre o primeiro filho e, mesmo que este venha a falecer antes dos pais, eles conservarão o tecnônimo com referência ao primogênito morto. Um contraste cromático tão bem marcado entre FeB/MeZ e DH nos leva a questionar se não haveria uma diferenciação cromática formulada em outro código, que não o parentesco, capaz de iluminar a relação/diferença entre ura, branco, e laby, preto. Encontramos essa diferenciação, ainda mais matizada, nas representações das entidades tutelares, um dos ijasó60: o latení. Latení (trad. Late: peixe cachorro, ní: parecido com) é uma entidade cosmológica representada por uma máscara única. O mais comum é que os ijasó, categoria de seres cosmológicos da qual faz parte o Latení, sejam representadas por duas máscaras. Trata-se da única representação mascarada que pode adentrar as casas residenciais, aterrorizando as crianças e aconselhando a todos sobre bom comportamento. Essa entidade tem uma atuação ritual muito específica, de grande importância para os Karajá61. Ele seria uma espécie de guardião dos valores morais da sociedade. Pétesch o indica como uma figura punitiva dos que atentam contra as regras de bom funcionamento da sociedade e do cosmos 59 Sobre os cargos de ioló e deridu, cf. Pétesch, 1993b. 60 Ijasó é aquela categoria de seres cosmológicos ancestrais dos inã (humanos) atuais. 61 Em nossa breve experiência de campo, ainda na graduação, tivemos informações sobre Latení, o que mostra sua relevância para os Karajá. Latení nos foi definido como “protetor da comunidade”. Em uma aproximação, Pétesch faz uma analogia do Latení com o père Fouettard, figura do folclore francês, uma antítese do Papai Noel, como também é o Knecht Ruprecht do folclore alemão, de caráter antes punitivo que compensatório. 85 Capítulo 3 (2000: 81). É também o Latení o responsável por retirar de sua casa o garoto que será iniciado na Casa dos Homens, numa versão simplificada da iniciação masculina (Toral, 1992: 260). Segundo André Toral, haveria três tipos de Latení. O Latení habitante do mundo subaquático seria chamado de Latenilaby, sendo que -laby: preto. O Latení habitante do mundo das chuvas seria branco, Lateniura. O terceiro seria habitante do nível terrestre e introduziria aqui na nossa exposição uma terceira referência cromática, o vermelho, uma vez que o Latenisó do patamar intermediário seria vermelho (isó: vermelho) (Toral, 1992: 185). Em que, entretanto, a gradação cromática dos níveis cósmicos pode contribuir para a interpretação do uso de termos de parentesco, ra laby, “sobrinho preto” ou “cabeça preta” para denominar DH? Pétesch fornece uma interpretação que ela chamou de dissociativa, com relação a este simbolismo cromático: “enquanto a cor branca, no caso dos irmãos primogênitos do pai e da mãe, parece acentuar o grau de consangüinidade com relação aos genitores; a cor preta, antipodal, pode, ao contrário, servir para acentuar a diferenciação com relação à categoria implicada, ou seja, ZS ≠ DH, e indicar, por conseguinte, um casamento preferencial com uma prima patrilateral” (Pétesch, 2000: 200). Nossa interpretação, no entanto, será distinta daquela fornecida por Pétesch. Se entendemos o nível terrestre como o lugar da alteridade, de se lidar com ela e com a morte, seria plausível conjeturar se o vermelho do Latenisó estaria indicando a alteridade em seu grau máximo. A coloração vermelha parece associada, pelo discurso nativo, à “aldeia dos assassinados”, lugar para onde vão as almas daqueles que morrem derramando sangue, na concepção escatológica. Esse é o local daquilo que chamamos de “zero lógico” das combinações de relações de consangüinidade e afinidade. Naquele destino post mortem, os seres existentes não são considerados nem consangüíneos nem afins. A inexistência de um termo de parentesco a que seja acrescida a marcação cromática vermelha, isó, pode ser interpretada, mais uma vez, como a “ausência de relação” a que é associada essa coloração. Comparado ao nível terrestre, o mundo subaquático é lugar de consangüinidade pura, de ausência de afinidade e, no entanto, de imobilismo. É a este nível que encontramos associado o Latenilaby, preto. Já o mundo das chuvas parece constituir uma espécie de mundo de superação no qual a alteridade/feminilidade não impede que ele seja concebido como perfeito, uma vez que sua presença não implica na relação problemática com a afinidade. É nesse Capítulo 3 86 mundo ideal que encontramos o Lateniura, branco, coloração que foi associada à “identidade” e a um maior prestígio social por Pétesch e Dietschy. Em distintos códigos da ideologia nativa, há uma tentativa de se assimilar os afins, sobretudo os esposos, a verdadeiros consangüíneos. Analisando o mesmo fenômeno (consangüinização de afins) para o caso Timbira62, Coelho de Souza procura mostrar que “as particularidades da afinidade efetiva diante de outros vínculos de tipo ‘cerimonial’ (...) está em que ela se converte, no final, em uma relação de parentesco e, mais do que isto, em uma relação ‘de substância’” (Coelho de Souza, 2004: 29). No caso karajá, a aproximação de um afim co-residente, o DH, a um ZS parece demonstrar um mesmo esforço. E isto não é tudo. A utilização da marcação cromática preta, laby, que encontramos associada ao mundo subaquático na descrição do Latení, sugere, mais uma vez, a mesma “tentativa terminológica”, visto que o mundo subaquático é caracterizado pela ausência de afinidade. Já a cor vermelha, isó, encontrada na descrição da aldeia dos assassinados — os kuni, descrita na escatologia — que neste caso e também no caso do Latení parece associada a um extremo de alteridade e ao nível terrestre, não parece ser concebida como possível para um termo de parentesco. Amizade formal e inclusão de “terceiros” Abandonado o prestígio e as prerrogativas da primogenitura e da marcação cromática a ela associada, nosso questionamento se volta para a posição de caçula. Donahue observou que o único termo comum para ego masculino e feminino em G 0 é “ixi” para yB (Donahue, 1982: 319). Tal constatação torna-se relevante se levamos em conta a informação de Dietschy sobre os pares que dançam portando as máscaras ijasó63. Segundo este autor, os pares de dança teriam uma relação de amizade formal entre si e chamariam um ao outro de waixi, meu irmão mais novo (ou wali, meu amigo). Dietschy observa, ainda, que o uso dessa terminologia implicava na interdição do casamento com as respectivas irmãs dos amigos formais e 62 Subdivisão da família linguística Jê, que compreende os Apinayé, Krinkati e Ramkokamekra, entre outros. 63 Mais informações sobre a dança dos ijasó terão lugar no capítulo dedicado à atividade ritual. 87 Capítulo 3 implicaria, também, na obrigação de ajuda mútua ao longo da vida. Este termo de parentesco aplicado à uma relação de amizade formal, tal como descrito por Dietschy, subverte o princípio de equivalência entre os termos de parentesco, em que, por exemplo, quando Ego chama alguém de irmão mais novo, deve ser por ele chamado de irmão mais velho. Ainda segundo Dietschy, o amigo formal deveria necessariamente ser alguém de outro grupo de praça64 (Dietschy, 1963 apud Pétesch, 2000). A instituição da amizade formal é um clássico tema dos estudos Jê. Manifesta sob o signo da solidariedade bem como o da evitação, a amizade formal está entre aquelas categorias que escapam à contrastividade bipolar consangüíneos/afins. É comum haver, por um lado, relações de evitação65 para com o amigo formal e, por outro, relações jocosas66 para com os consangüíneos do amigo formal (cf. Carneiro da Cunha, 1978: 82, para os amigos formais Krahó; Vidal, 1977: 100, para os Kayapó-Xikrin). Para Viveiros de Castro, o amigo formal seria a manifestação Jê de uma categoria comum nas sociedades amazônicas, que ele chamou de “terceiros incluídos”, posições que escapam ao “dualismo consangüíneos/afins e parentes/estrangeiros e que desempenham funções mediadoras fundamentais.” (Viveiros de Castro, 1993: 178). Os terceiros incluídos seriam expressão do ternarismo inerente ao regime concêntrico da sociabilidade amazônica, “essas encarnações da ‘thirdness’ são soluções específicas para o problema da afinidade. Elas são o testemunho de um trabalho de ternarização, isto é, de significação) da oposição simplesmente formal entre a consangüinidade (uma ‘firstness’) e a afinidade (uma ‘secondness’) indeterminadas, tal como exprimidas na grade terminológica. Os terceiros incluídos dão ao sistema seu dinamismo propriamente racional. E eles são efetuações complexas da afinidade potencial, cristalizações rituais e políticas desta categoria tipicamente amazônica” (Viveiros de 64 “Grupo de praça” ou “grupo cerimonial” é o termo que utilizamos para se substituir ao termo nativo ijoi. Ijoi é um grupo de filiação patrilinear com encargos cerimoniais específicos. Os distintos grupos de praça agrupam-se sob as tércias iboó mahãdu, grupo de cima, montante, iraru mahãdu, grupo de baixo, jusante e itua mahãdu, grupo do meio. Um exame detalhado da composição destes grupos e suas implicações para o sistema classificatório karajá terão lugar no último capítulo, dedicado à atividade ritual. 65 A relação de evitação pode se manifestar sob diversas formas, desde a interdição de se pronunciar o nome da pessoa com a qual se estabelece essa relação, proibição de se alimentar no mesmo local ou até mesmo a interdição de ocupar o mesmo ambiente ou cruzar o caminho da pessoa. 66 Relações jocosas são a glosa em português para o termo “joking relationship”, que já conheceu a tradução “relações de brincadeira”. São caracterizadas pela licenciosidade, a piada, a brincadeira, o constrangimento intencional da pessoa com a qual se mantém a relação (Radcliffe- Brown, 1952). 88 Capítulo 3 Castro, [1993] 2002b: 154). Pétesch explorou o mesmo dado de Dietschy a respeito da instituição da amizade formal, constatando sua atual inoperância, que a autora atribui à ação desagregadora da depopulação e do contato com os brancos. A endogamia dos ijoi, os grupos de praça, estaria prejudicada e, com ela, a necessidade do estabelecimento de laços formais de amizade com um membro de outro grupo patrilinear (Pétesch, 2000: 228). Infelizmente o dado sobre esta instituição de amizade formalizada é demasiado fragmentário e não podemos senão entrever algo de sua relação com o sistema de parentesco karajá. Acrditamos, inclusive, que a obtenção de maiores informações sobre esta instituição seja tarefa ingrata, já que o segredo masculino da dança dos ijasó consiste justamente em ocultar a identidade dos dançarinos ou, mais precisamente, ocultar a “humanidade” do portador da máscara, como se ela fosse ocupada exclusivamente pelo espírito. Os brotyré Entre as soluções elaboradas pela ideologia nativa para o problema da afinidade está a categoria de brotyré. Formulada em torno do casal, com referência aos filhos gerados por esta união conjugal, a categoria de brotyré nos parece uma maneira de sancionar uma afinidade efetiva. Entre os Karajá, o início de um casamento é dominado por uma tensão constante, sobretudo entre o sogro e seu novo genro, havendo entre eles uma disputa velada. Sobre a relação WF-DH são elaborados alguns temas míticos fundamentais, como o da conquista do sol pelo demiurgo e da origem da menstruação, a partir da intenção de dois heróis culturais em se casar com as filhas do sol. O tema mítico de um sogro potencialmente canibal que provê os homens de bens culturais é bastante comum na mitologia ameríndia. A figura do “sogro canibal” parece encarnar a posição paradigmática de “doador de mulheres” a quem o receptor permanece sempre em dívida. Para Viveiros de Castro, “Se podemos dizer que a predação entre afins potenciais é a estrutura que comanda as relações supralocais no socius amazônico (que são as relações Capítulo 3 89 propriamente políticas), a relação WF e DH é, por seu turno, o modelo dominante da hierarquia interpessoal, e mesmo a matriz real e imaginária de toda relação de poder.” (Viveiros de Castro,[1993] 2002b: 177). As famílias dos recém casados se observam com desconfiança. Os irmãos da esposa têm a obrigação de se vingar caso ela seja abandonada ou agredida pelo marido. Por sua parte, o marido tem obrigação de trabalhar na roça do sogro, do contrário seria mal visto: “Se um homem não vai morar na casa dos pais de sua esposa ao casar, imediatamente ele é acusado de ‘sovinice’ pois estaria deixando de dar o ‘pagamento’ (kowy) pelo acesso à vagina (tyy) da mulher.” (Rodrigues, 1993: 105). O tema mítico da conquista do sol pelo demiurgo, Kynyxiwé, é interpretado pelos nativos segundo essa mesma linguagem da aliança. O demiurgo vai buscar o sol após as queixas de sua sogra, que havia tropeçado num toco devido à escuridão. O sol conquistado pelo demiurgo seria, segundo os informantes de Rodrigues, o pagamento, kowy, da vagina, tyky, de Myreikó, a esposa do demiurgo. Um jovem marido só passará a ser respeitado a partir do nascimento de seu primeiro filho, quando começa a ser chamado pelo tecnônimo “pai de criança” (ou o termo “criança” sendo substituído pelo nome do primogênito). A partir desse momento ele poderá fazer uso da palavra na Casa dos Homens e, segundo Pétesch, passará a fazer as refeições na casa de sua esposa. Até esse momento, ele as fazia na Casa dos Homens e ia à casa de sua esposa apenas para dormir. É nesse momento que os parentes bilaterais do casal se reúnem sob a alcunha de brotyré, com o objetivo de proteger e assegurar o crescimento da criança. Vários dos autores aqui mencionados concordam que sob a alcunha de brotyré reúnem-se irmãos e irmãs dos pais, bem como os avós bilaterais da criança. Os brotyré participam de momentos liminares da vida da criança (Toral, 1992: 135). É mencionado na literatura etnográfica, por exemplo, o nascimento, quando: 1. participam do corte do cordão umbilical (MeZ e MyZ); 2. dão o primeiro banho (FZ, FM, MM), segundo Rodrigues (1993: 70); 3. fazem escarificação na criança com suas próprias unhas; e 4. oferecem dentes de capivara, que são presentes de alto valor (Lima Filho, 1994: 110). Outro momento liminar é o das iniciações masculina e feminina. No Hetohokã, Festa da Casa Grande, entendido como iniciação masculina, os brotyré são submetidos aos mesmos procedimentos que seus protegidos, os iniciandos: pintam o corpo de preto e têm seus cabelos raspados. Eles se sentam ao redor do garoto na reclusão e na furação do beiço (Lima Filho, 90 Capítulo 3 1994: 93) oferecendo-se, ainda, como proteção contra inúmeras entidades que os ameaçam violentamente, em alguns dos jogos do ritual. Ao final do confinamento da garota que teve sua primeira menstruação, “ocorre uma refeição ritual feita pela categoria de pessoas chamada borotyré [no dialeto javaé, em karajá se diz brotyré]” (Rodrigues, 1993: 59). No casamento tradicional, (termo nativo, harãbie, prática que parece estar em desuso), os brotyré sentavamse numa esteira que Donahue chama de “wedding mat”, junto aos seus protegidos, aconselhando-os sobre a vida conjugal (Donahue, 1982: 149). Há uma ênfase, por parte dos Karajá, de que os brotyré devem ser de gerações ascendentes à da criança: “Só as pessoas mais velhas que a criança podem ser seu brotyré (...) o brotyré não pode ser da mesma geração da criança e em caso algum poderão se tratar por termos correspondentes os diversos tipos de ‘primos’” (Toral, 1992: 134). Em todas essas participações, o brotyré tem direito a exigir dos pais da criança um presente, que também é chamado de brotyré (Donahue, idem: 149; Rodrigues, idem: 127). Toral enfatiza que tudo o que acontece à criança deve acontecer também ao brotyré (idem: 133), como se o corpo do brotyré estivesse à disposição da criança contra ameaças de inúmeros seres sobrenaturais. Num primeiro momento nos pareceu possível tratar a categoria de brotyré como uma “comunidade de substância”, visto que as pessoas assim designadas são submetidas aos mesmos procedimentos que seus protegidos, como escarificações, pinturas corporais, raspagem dos cabelos, entre outros. A idéia de comunidade de substância, formulada por Seeger ([1975] 1980) e consagrada por um já clássico artigo de Seeger, da Matta e Viveiros de Castro (1978), serviria para substituir a de grupo de descendência, cunhada nas etnografias britânicas sobre comunidades africanas, que se revelara pouco útil ao material etnográfico sulamericano: “As sociedades indígenas deste continente estruturam-se em termos de categorias lógicas que definem relações e posições sociais a partir de um idioma de substância. Mais importante que o grupo, como unidade simbólica, aqui é a pessoa; mais importante que o acesso à terra ou às pastagens é aqui a relação com o corpo e com os nomes. Se o idioma social Nuer era ‘bovino’, estes aqui são ‘corporais’” (Seeger, Da Matta e Viveiros de Castro, 1978: 24). Uma peculiaridade relevante da categoria de brotyré se a fôssemos considerar uma “comunidade de substância”, é a ausência dos pais da criança em sua composição. A estes Capítulo 3 91 cabe fazer “pagamentos”, ou retribuições, aos brotyré pela atuação em favor de seus filhos, pagamentos estes que excluem a comida. Parece-nos que tanto a ausência de comida nas retribuições aos brotyré quanto a ausência de pessoas da mesma geração de Ego na composição da categoria de brotyré — “primos”, segundo Toral, portanto afins potenciais — indicam que esta seria uma relação deliberadamente não sexualizada, seja entre os brotyré e seus protegidos, seja entre os brotyré e os pais da criança, enfatizando-se aí a consangüinidade. Pétesch notou que a função de “pais de ijasó”, função cerimonial distribuída por famílias abastadas da aldeia (provavelmente as tais “famílias de prestígio” a que se referem Pétesch e Dietschy) para o ritual das Festas do Ijasó, implica no contínuo fornecimento de alimento para a realização da festa. Nesse caso — e apesar da autora não ter feito menção à categoria distintiva de brotyré em nenhum momento — o casal só é capaz de manter o cargo ritual pela contribuição, em forma de alimento que será oferecido às entidades tutelares (e redistribuído por toda a população da aldeia), por parte dos brotyré de seus filhos. Segundo Rodrigues, “Nessas ocasiões de transição (...), as famílias perdem quase todos os bens que possuem, pois devem ser distribuídos aos borotyré” (1993: 127). Mais que apenas uma forma de retribuição segundo o mecanismo clássico da dádiva (dar, receber, retribuir, cf. Mauss, 1974), a perda de coisas é constitutiva da fundação dessa “comunidade”, o que nos leva a conjeturar se os brotyré compõem tão simplesmente uma comunidade de substância. Donahue encontrou o termo brotyré associado aos presentes que são dados a esta parentela, e não como referência aplicada a estes parentes (informação também encontrada no trabalho de Rodrigues, para além de denominar propriamente os parentes em questão). Já Bueno encontrou o termo brotyré designando a própria “festa” que se realiza no dia seguinte à cerimônia tradicional de casamento (Bueno, 1987: 52). A tradução de Donahue para o termo foi dádiva (gift). Descrevendo os casamentos entre os Karajá, registra: “Estas pessoas recebem qualquer presente que pedirem. Esta dádiva é conhecida como brotyré. Em inúmeras festividades um brotyré é requisitado e fornecido. (...) É um modo efetivo de distribuição de recursos por toda a sociedade” (Donahue, 1982: 148-9). O reconhecimento do brotyré como o próprio presente dado às pessoas que são chamadas pelo mesmo termo sugere a ampliação das implicações desse, que poderia ser considerado um sistema de dádivas, para aquilo que Strathern sugere como objetificação e reificação: “Elementos de riqueza (...) objetificam relações dando a elas a forma de coisas; 92 Capítulo 3 elas podem também objetificar relações fazendo pessoas, ou seja, posições das quais as pessoas se percebem umas às outras” (Strathern, 1999: 15). Dessa forma, sugiro que brotyré pessoas, brotyré coisas e as próprias crianças podem ser expressões de relações sociais e, dessa forma, uma “reificação”, no sentido usado por Strathern, da relação fundada com o par de esposos. É consenso na literatura etnográfica que as uniões matrimoniais, extremamente instáveis e facilmente desfeitas até então, tornam-se consideravelmente mais estáveis após o nascimento do primeiro filho. O esforço da parentela, agora, realiza-se no sentido de assegurar o crescimento saudável da criança. Dessa forma, os brotyré parecem “reificar”, no sentido atribuído por Strathern a esse termo, a relação conjugal. Como afirma Coelho de Souza, “O sentido fundamental do conceito lévi-straussiano da afinidade como relação de troca está na prioridade que atribui à relação sobre os termos. A ‘obrigação de retribuir’ não é uma norma sancionada socialmente, mas a expressão de uma relação interna à qual os termos não podem ser vistos como preexistentes; criados nela, só subsistem enquanto nela permanecerem, e por isso se os parceiros podem ou não, certamente, retribuir, a não retribuição não implica tanto na dissolução da relação quanto na dissolução dos parceiros − constituídos por suas relações, as pessoas não permanecem sendo as mesmas ‘fora’ delas.” (Coelho de Souza, 2004: 52). Dessa forma, acreditamos que a reunião de uma parentela, a princípio antagonista, sob uma categoria única, parece denotar a aprovação, a sanção de uma afindade efetiva, aquela relação conjugal. Nesse sentido a categoria em questão reificaria aquela relação de conjugalidade: sem brotyré, presentes, não há brotyré, pessoas e, presume-se, não haverá conjugalidade possível. O “fenômeno brotyré” soa familiar no horizonte da etnografia Jê. Entre os Krahó, Julio Cesar Melatti interpretou a relação entre categorias de nominadores e genitores da criança que vem ao mundo. A nominação, entre os Krahó, filia o indivíduo a uma das metades Wakmenye e Katamye. Estas são duas entre as muitas metades do sistema dualista krahó, que não tem qualquer função de regulação matrimonial. Os genitores krahó, mãe e pais67, têm 67 A todos os que tiveram intercurso sexual com a mulher durante o período de gestação é atribuída contribuição para a formação do feto e são, por isso, considerados pais — ou genitores — da criança. Capítulo 3 93 com a criança uma relação de identidade corporal, de substância: “As coisas se passam como se o organismo dos genitores continuassem nos organismos daqueles que geraram, de modo que, se algum fenômeno afetar o corpo do genitor, afetará também o corpo de seu filho” (Melatti, 1976: 143). Além dos parentes responsáveis pela procriação, entre os Krahó, há aqueles que oferecem seus nomes. São recrutados entre MB, MF, FF e primos paralelos, no caso do nominado ser um homem, e entre FZ, FZD, FM, MM e primas paralelas, para a nominada mulher, com a preferência estatística para MB e FZ, respectivamente. Nominador e nominado passam a ocupar a mesma posição, num sistema de metades, com relação a inúmeros parentes e compartilham as mesmas prerrogativas na metade à qual se filiam pelo nome. Eles são entendidos pelos Krahó como “quase a mesma pessoa”. Para Melatti, os Krahó enfatizariam uma bifurcação na transmissão de laços de substância e laços sociais68. Nas palavras do autor, “Ao entrar no mundo, posto por seus genitores, o indivíduo não passa de um organismo a mais. Ao receber, entretanto, um nome, o indivíduo passa a formar um nó de uma vasta rede de relações sociais” (idem: 145). Uma variação do sistema de nominação descrito por Melatti, e as categorias de parentesco aí implicadas, foi encontrada por Da Matta entre os Apinayé, com complicações a mais, que envolvem não duas, mas três categorias de parentes. Para além dos genitores e dos nominadores, entre os Apinayé existe uma categoria intermediária, que exerce papel de mediação. Trata-se dos “arranjadores de nomes”, conhecidos também por “pais adotivos” (ou de criação). Menos ritualizada que a relação entre nominadores e nominados, a relação entre pais e filhos adotivos deve ser cordial como aquela entre pais e filhos. Os pais adotivos são responsáveis pelo que se passa com o corpo de seus “filhos”, e são responsáveis, ainda, pela resolução de conflitos entre esses “filhos” e a esfera mais pública, menos doméstica, tais como interferir em casos de disputas, pagar e receber indenizações em casos de divórcio e mediar conflitos em casos de crimes. Os pais adotivos são irmãos de mesmo sexo do pai e da mãe, enquanto os nominadores estão nas categorias de irmãos de sexo oposto a pai e mãe e, ainda, os avós bilaterais, que, em conjunto, representam o limite da parentela Apinayé. 68 Utilizamos aqui o termo “substância”que se consagrou algum tempo depois do artigo de Melatti. O autor utiliza-se do termo “laços biológicos” que consideramos deveras problemático por estar demasiado compromissado com a “nossa” concepção de Biologia ou Natureza. 94 Capítulo 3 Essa relação com o exterior é tipicamente concêntrica a partir do núcleo familiar. Segundo Da Matta, haveria uma “troca simbólica” de pais: “após a ênfase inicial nos genitores, nas relações de sangue e nos membros da família nuclear (isso é o que o resguardo simboliza) [parentes incluídos no conjunto central da figura abaixo, conjunto I], há um deslocamento ou transferência da ênfase para os aspectos sociológicos da paternidade (com os irmãos do mesmo sexo do pai e da mãe sendo enfatizados como pais adotivos e arranjadores de nomes) [parentes pertencentes ao conjunto II] e, finalmente, depois da transmissão de nomes, outro deslocamento para uma pessoa situada fora da família nuclear, numa categoria marginal: (...) os nominadores [conjunto III]. A saída de uma criança do grupo nuclear, portanto, é feita de modo gradativo” (Da Matta, 1976: 121). Fonte: Da Matta, 1976: 121. Entre os Karajá, a categoria de brotyré é atribuída aos mesmos parentes que, entre os Apinayé, constituem os arranjadores de nomes e os nominadores, ou seja, a parentela bilateral nas gerações ascendentes à de Ego. Entre os brotyré não estão incluídos os “primos”, parentes da mesma geração de Ego, como foi mencionado para o caso dos nominadores Krahó (cf. supra). Talvez isso se deva àquela manifestação dravidiana da terminologia karajá, em que a proximidade ou distância dos primos determina sua situação de esposos potenciais e/ou irmãos classificatórios. Se, como supomos, a categoria de brotyré está relacionada à transformação de afins efetivos em consangüíneos, a presença de cônjuges potenciais em sua 95 Capítulo 3 composição pareceria deslocada. Se o resguardo, entre os Karajá, é limitado aos genitores, aquela relação “de substância” envolve todos os brotyré, que devem se solidarizar em momentos liminares, seja em rituais específicos, seja em casos, por exemplo, da criança se ferir, caso em que o brotyré deve manifestar-se como se tivesse sido também atingido pela dor. A categoria de brotyré, no entanto, não parece efetuar as mediações verificadas para os nominadores Krahó e os arranjadores de nomes Apinayé. A saída do homem do grupo doméstico e seu ingresso como membro efetivo de um grupo de praça, momento ritualizado no Hetohokã, é efetuada segundo uma dinâmica de oposições, entre elas aquela em que se opõem os parentes patri e matrilaterais, que estavam outrora reunidos sob a categoria de brotyré. Os rapazes devem ser “extirpados” do mundo feminino (Pétesch, 2000: 147). Casas karajá Segundo Pétesch, o pertencimento a uma unidade territorial, o grupo doméstico, é transmitido matrilinearmente. Acreditamos que as casas residenciais karajá constituam algo mais que unidades territoriais e talvez cheguem a constituir uma espécie de Casa enquanto pessoa jurídica (personne morale). O conceito de Casa enquanto pessoa jurídica foi proposto por Lévi-Strauss a partir da idéia de casa nobre advinda da Europa medieval. Para ele, há sociedades que seriam constituídas de unidades que não podem ser definidas como famílias, clãs ou linhagens e seria, portanto, necessário introduzir a noção de “casa” definida como “pessoa jurídica [pessoa moral69] detentora de um domínio, que se perpetua pela transmissão do seu nome, de sua fortuna e de seus títulos em linha real ou fictícia, considerada como legítima somente na condição de que essa continuidade possa se expressar na linguagem do parentesco ou da aliança e, na maioria dos casos, das duas em conjunto” (Lévi-Strauss, 1986: 186). O fenômeno das Casas como pessoas jurídicas seria verficado, sobretudo, em 69 Alteramos aqui a tradução feita por Carlos Nelson Coutinho do texto original em francês. LéviStrauss se utiliza do termo “personne morale”, figura jurídica que corresponde à “pessoa jurídica” no Direito brasileiro. O tradutor usou o termo “pessoa moral”. Capítulo 3 96 sociedades que dispõem de princípios antagônicos ou mesmo mutuamente excludentes tais como filiação e residência, endogamia e exogamia ou, na terminologia medieval, direitos de raça e direitos de escolha. No Brasil Central, a noção de Casa como pessoa jurídica foi melhor descrita e tratada com maior ênfase entre os Kayapó-Mebengokré por Vanessa Lea (1986, 1993). Acreditamos que o diálogo da noção de casa mebengokré com a noção karajá possa ser de grande rendimento analítico. Cada aldeia mebengokré se remeteria a uma aldeia ideal, “constituida pela totalidade das Casas dispersas pelas aldeias que compõem a sociedade mebengokré” (Lea, 1993: 266). A Casa mebengokré seria uma pessoa jurídica possuidora de um patrimônio, qual seja, nomes pessoais, prerrogativas e referências mitológicas: “Cada Casa é uma unidade exogâmica, cuja identidade distintiva é substancializada metaforicamente por bens simbólicos inalienáveis que integram seu patrimônio. (...) os bens herdáveis na sociedade mebengokré são imateriais: nomes pessoais e prerrogativas” (idem: 267). As prerrogativas mebengokré — direito de usar certos enfeites, criar determinados animais de estimação ou, ainda, de consumir certas porções da carne de um animal — estão associadas a eventos míticos que deram a cada Casa a possibilidade de usufruir daquele determinado direito: “O uso dos nomes e nekrets [prerrogativas] dos antepassados cancela o vácuo temporal entre eles e os vivos. Tudo que os antepassados tinham de imperecível é encontrado entre os vivos. É como se a essência de cada Casa fosse transmitida num vasto fio composto por nomes e prerrogativas” (Lea, 1993: 273). Entre os etnólogos dos Karajá, quem descreveu a composição das unidades territoriais com maior detalhamento foi André Toral. Segundo o autor, as aldeias seriam formadas por parentelas que se reconheceriam como uma unidade — à qual Toral atribui o nome de grupo de descendência — e que tenderiam a permanecer fisicamente unidas devido à regra uxorilocal de casamento: “As novas famílias [nucleares] residem por algum tempo na casa dos pais da mulher e, posteriormente, constroem suas casas pegadas ou nas proximidades da anterior. Formam-se assim verdadeiros ‘bairros’, formados por parentelas que habitam casas contíguas” (Toral, 1992: 54). A aldeia seria, então, constituída por uma reunião desses “bairros, ‘vizinhanças’ou ‘setores’, conhecidos sob o nome de seu principal” (Toral, idem). O autor descreve, ainda, a formação de uma espécie de “pátio interno” entre essas casas unidas, onde as pessoas passariam a maior parte do tempo em seu dia-a-dia. As famílias extensas Capítulo 3 97 karajá seriam constituídas por um casal, os pais, filhos solteiros, filhas e genros (idem: 59). Seriam conhecidas “pelo nome do homem cabeça da família seguido de um sufixo pluralizador, boho” (ibidem). Segundo Toral, os Karajá fariam um esforço em evitar a “evasão de homens” (sic) procurando casar seus filhos com os filhos de seus irmãos ou de seus primos (ibidem). O termo nativo que acreditamos corresponder à noção de “casa” é wasã (wa: meu, minha; sã: família, lugar). Segundo André Toral, o termo seria utilizado para designar “minha família”, “meu lugar” ou ambos (Toral, 1992: 57). Patrícia Rodrigues entende o termo como significando “minha casa” e “meu parente”. A explicação que a autora recebeu de um Javaé foi a de que o termo pode significar “que todos os parentes são uma pessoa só e que ‘a gente está dentro dela’” (Rodrigues, 1993: 50). Um homem, ao se casar, muda-se para a residência de sua esposa. No entanto, ele jamais deixa de pertencer à Casa de sua mãe. Esse pertencimento se expressa quando da morte de um homem, momento em que seu corpo é carregado e percorre o caminho inverso ao da iniciação, retornando à Casa de sua matrilinha (Pétesch, 2000: 172), habitada por suas irmãs (se a mãe não estiver mais viva). O pertencimento ao grupo de praça, ijoi, seria transmitido por linha paterna. Na iniciação, o homem é conduzido nos ombros pelo seu MB à Casa dos Homens (Toral, 1992: 260)70. A natureza da mediação exercida pelo irmão da mãe não está ainda clara para nossa análise. Constatamos que a mediação, entre os Karajá, parece ser sempre exercida por um elemento exterior aos domínios que estão sendo aproximados. Entretanto, o irmão da mãe pertence à mesma Casa que seu sobrinho. Por regra uxorilocal de residência pós-marital, o irmão da mãe provavlemente não coabita com o garoto a ser iniciado. Supomos que, exatamente por ser estranho tanto ao grupo de praça para o qual o garoto está sendo conduzido como membro efetivo, quanto à residência do garoto, o irmão da mãe pode exercer esse papel de mediação. No entanto, essa explicação ainda não nos parece suficiente nem definitiva, carecendo de mais dados etnográficos para que possa ser ou refutada ou confirmada e, esperamos, refinada. 70 Lima Filho, mais interessado em fazer “literatura” que etnografia, falhou enormemente em fornecer esse tipo de dado. Ao descrever esse momento ritual, Lima Filho apenas relataa que “Os meninos (...) foram carregados nos ombros por seus parentes para o espaço dos homens” (Lima Filho, 1994: 93). O autor menciona apenas os nomes dos parentes, sem especificar seu grau de parentesco com os garotos. Dessa maneira, qualquer interpretação mais minuciosa fica seriamente comprometida. Capítulo 3 98 Segundo Donahue, na cerimônia de casamento, o rapaz seria carregado nos ombros pelos seus parentes patrilaterais, geralmente irmãos classificatórios do pai (Donahue, 1982:149). A mediação exercida por essa parentela, para além de ser uma mediação entre dois grupos humanos e dois momentos radicalmente distintos da vida do rapaz71, parece-nos ser entre dois grupos territoriais, quais sejam, a Casa materna e a residência conjugal. É justamente por que a linhagem paterna é externa àqueles dois grupos, linhagem cujo idioma identitário e transmissão de bens não é terrena/territorial (ixã) e sim cosmológica (inã), parece poder exercer a mediação entre aqueles grupos territoriais. O diagrama seguinte mostra os três pertencimentos do homem e as fidelidades a eles associados. Legenda: Grupo I: grupo de parentes pertencentes à mesma Casa de Ego Grupo II: pertencentes ao mesmo ijoi, grupo de praça, de Ego Grupo III: pertencentes à mesma residência de Ego (residência pós-marital) A passagem entre os grupos I e II é ritualizada na iniciação masculina, Hetohokã, quando o rapaz é levado pelo seu MB de sua residência à Casa dos Homens, onde ele passará a ser um membro efetivo do ijoi, o grupo de praça. A passagem entre os grupos I e III é ritualizada na cerimônia tradicional de casamento, harãbié, quando os parentes patrilaterais 71 Após casado, o homem passa a ter responsabilidades econômicas diante da nova família, responsabilidades até então estranhas ao rapaz, que dispensava seu dia-a-dia nas preparações para os rituais e na Casa dos Homens. Capítulo 3 99 carregam o noivo da Casa dos Homens até a residência de sua esposa. Donahue notou que o pai do noivo não toma parte nessa cerimônia e se ausenta completamente da cena do casamento. Por fim, há o retorno do homem à Casa de sua matrilinha, passagem entre os grupos III e I, marcada pelos procedimentos funerários. O homem é carregado por parentes patrilaterais até a casa de sua matrilinha e, posteriormente, até o cemitério (Donahue, 1982: 163)72. Poderíamos, finalmente, sugerir que o nascimento do primeiro filho do casal, o próximo nó nessa teia de relações sociais, marca, de certa forma, a mediação e a (parcial) anulação das tensões entre aqueles três grupos de parentes. Gêneros e espécies Nossa preocupação em questionar a natureza da relação entre esposos — cujas possibilidades classificatórias havíamos inicialmente limitado à consangüinidade e afinidade, sem cogitar conjugalidade ou mesmo consangüinização de afins — advém da afirmação de Toral e Rodrigues a respeito da inexistência de mulheres no mundo subaquático de origem. Na argumentação de Rodrigues encontramos inicialmente a “inexistência” e posteriormente a autora fala em existência de mulheres enquanto irmãs, mas jamais esposas. Advém, principalmente, da ousada proposta de Rodrigues de que o feminino (ou as mulheres) estaria associado, para os Karajá, à alteridade, à exterioridade. Se tal proposição se confirmasse, este se configuraria como um caso um tanto raro no contexto ameríndio. A mesma proposição chamou a atenção de Silva (1998)73, e o levou a fazer um contraponto das idéias javaé 72 Patrícia Rodrigues menciona, ainda, outro participante nos procedimentos funerários. Sem explorar detidamente o dado, Rodrigues mostra que um “não-parente” colaboraria nestes procedimentos e que a esposa desse “não-parente” contribuiria com as oferendas de comida, que são feitas pelas parentes femininas, ao morto. A recorrência da presença de um não-parente nas exéquias, que entre os grupos Jê está relacionada às obrigações da amizade formal, nos faz suspeitar que encontraríamos aqui uma categoria de não-parente que deve ser melhor explorada. Quem seria esse não-parente que contribui com a família no enterro? Qual a relação dessa pessoa para com o morto? Estariam eles ligados por laços de amizade formal? Estaria este suposto amigo formal obrigado a contribuir com os procedimentos funerários? Seriam as obrigações dessa amizade formalizada estendidas ao cônjuge? Estas são perguntas que só podem ser resolvidas com a realização de mais investigações etnográficas. 73 Em realidade, foi Márcio Silva quem chamou minha atenção para a raridade do caso (com. pess. 2003). 100 Capítulo 3 sugeridas por Rodrigues com o contexto dos Enawene-Nawe. O autor sugere uma solução para o impasse entre as críticas feministas ao modelo lévi-straussiano de aliança (em especial à polêmica expressão “troca de mulheres”) e a réplica de Lévi-Strauss, de que “as estruturas de aliança, que fundam e organizam a sociabilidade, funcionariam da mesma maneira com mulheres trocando homens” (Silva, 1998: 163). Para Silva, a superação do impasse entre simetria e assimetria inter-gêneros se daria com a “interpretação das relações de gênero no contexto mais amplo do que se poderia chamar de relações de ‘espécie’ (consangüinidade/afinidade)” (idem: 162), uma vez que “No modelo lévi-straussiano, as relações de gênero não têm como suporte uma oposição entre ‘masculino’ e ‘feminino’ tomados como termos absolutos e substantivos, simétrica ou hierarquicamente relacionados, mas sim um feixe de oposições complexas de relações entre indivíduos do mesmo sexo e indivíduos do sexo oposto” (Silva, 1998: 162-3). O autor investe, então, em uma comparação de seus dados com aqueles aportados por Rodrigues sobre os Javaé (que examinaremos em detalhe aqui). O que se sobressai nos dados Javaé seria exatamente essa divergência, a “inversão de pólos”, em que há uma associação do feminino à afinidade e do masculino à consangüinidade. A “divergência javaé” conduz Silva a conclusão de que “o pensamento ameríndio parece acenar com diferentes possibilidades de combinação dos signos gênero e espécie, o que equivale a dizer que não se sustenta qualquer generalização etnográfica que tenha como resultado o congelamento dessa combinação, isto é, a associação a priori entre um gênero e uma espécie” (idem: 171). O autor analisa em linhas gerais a vida ritual do grupo Enawene Nawe74 em termos das relações entre os gêneros (masculino e feminino) e entre as espécies (consangüíneos e afins) notando que “a consangüinidade e o feminino se articulam à interioridade, à identidade e à relação de gênero, enquanto a afinidade e o masculino se articulam à exterioridade, à diferença e à relação de espécie” (idem: 170) Tratando dos paradoxos do dravidianato amazônico, Viveiros de Castro sublinha a marcação de gênero dos valores da exterioridade e interioridade do socius que, neste caso, tomariam aspecto de afinidade e consangüinidade, respectivamente: “Os materiais jívaro e cashinahua, por exemplo, atestam a pertinência de uma relação entre as mulheres, a 74 Enawene Nawe é um grupo indígena de língua Aruak da amazônia meridional. Capítulo 3 101 consangüinidade e o interior do socius, ao passo que os homens estão associados à afinidade e à exterioridade” (Viveiros de Castro, [1993] 2002b: 141). O autor retorna a este tema ao enumerar algumas manifestações de um diagrama que mostra a infinita bipartição da nãoafinidade, indicando que a identidade seria um caso particular da diferença e que o estado de consangüinidade pura seria inatingível “pois ele significaria a morte do parentesco (e é ele que a morte significa). (...) Ele seria um estado estéril de não relacionalidade, de indiferença, no qual a construção [do parentesco] se autodesconstruiria” (Viveiros de Castro, 2002: 432). Aplicando, então, o diagrama às associações de gênero no regime social achuar, o autor mostra que “A consangüinidade pura parece só ser atingível por e entre mulheres, assim como a afinidade pura é uma condição masculina” (idem: 448). Entre os argumentos de Rodrigues que defendem uma associação entre o feminino e a alteridade, gostaríamos de destacar dois que nos parecem relevantes e talvez iluminadores das relações de consangüinidade e afinidade entre os Karajá: os mitos que narram a existência dos inã no mundo subaquático, antes de sua emergência à superfície da terra e as relações entre duas entidades sobrenaturais no ritual Hetohokã. No Capítulo 2 destacamos a afirmação de Toral a respeito da ausência de mulheres no mundo subaquático. Já Rodrigues fala em presença de mulheres, mas que seriam todas irmãs, lerã, dos homens, que são os ijasó. É importante lembrar que lerã é o termo usado por ego masculino para referir-se às mulheres de sua geração, havendo uma especificação terminológica em que lerã tyhy é irmã “verdadeira, próxima” e lerã teheriare é “distante” e, por isso, esposa potencial (Pétesch, 200: 196-7). Rodrigues expõe o mito da origem da menstruação para demonstrar que a aliança foi a instauração da sociedade. Dois heróis culturais desejavam desposar as filhas do sol, ao que o futuro sogro impõe duras provas. Quando, enfim, Sol cede suas filhas, as moças avisam aos maridos que o pai havia instalado piranhas em suas vaginas. Os rapazes resolvem o problema eliminando as piranhas com o veneno de timbó75. A menstruação seria resultado de uma última piranha que restara no útero das filhas do Sol e que periodicamente morderia as paredes do útero causando dores e sangramentos. Para a autora, a evasão dos fluidos corporais 75 Timbó é um cipó utilizado para pesca em águas represadas. A técnica utilizada é a de martelar os cipós na água de maneira que eles liberem a substância venenosa que não mata, mas adormece os peixes que sobem à tona e dessa forma são retirados da água em enorme quantidade. 102 Capítulo 3 advindos do contato sexual (sangue menstrual e sêmen) dá início ao que a autora chamou de “morte em sociedade”. A contenção destes fluidos corporais estaria ligada à manutenção da vida no mundo subaquático e sua perda, ao início da morte.: “Dá-se a passagem de um tempo em que não havia relações sexuais entre as pessoas para um tempo em que as pessoas passam a fundir fluidos corporais. Foi depois do casamento, do encontro entre homem e mulher, da aliança entre o pai das moças e os homens da outra família, que o tempo teve início (...). A aliança foi a instauração da sociedade” (Rodrigues, 1993: 62). A afirmação de que a aliança é a origem da sociedade nos remete à teoria levistraussiana da aliança, em que a proibição do incesto — enquanto único fenômeno comum à natureza e à cultura — é entendida como passagem da natureza à cultura e confundida com a regra de casamento: “Considerada do ponto de vista mais geral, a proibição do incesto exprime a passagem do fato natural da consangüinidade ao fato cultural da aliança” (LéviStrauss, 1982: 70). Curiosamente, a autora acredita estar se opondo à concepção de Lévi-Strauss: “O mundo pré-social é concebido como um mundo de indivíduos autosuficientes, que não envelhecem nem se reproduzem pois não estão presos a nenhum ritmo universal da matéria [?], não sendo cabível chamá-lo de ‘estado de natureza’. Mesmo sendo apenas um conceito para pensar a passagem de um mundo não social para a vida em sociedade, a idéia lévi-straussiana de ‘natureza’ carrega em si uma visão ocidental da relação entre o homem e o mundo ‘natural’. (...) Como já foi visto até agora, fatos como a menstruação ou a própria passagem do tempo, para os Javaé, são produtos da intervenção humana, produtos das regras sociais, não sendo concebidos como dados da natureza. Desse modo, o conceito de natureza não cabe aqui para se contrapor ao que é social, pois os Javaé não separam a ordem natural da ordem social” (Rodrigues, 1993: 84-85). Segundo nosso entendimento, quando Lévi-Strauss fala em passagem entre natureza e cultura (e não em “estado de natureza”, tal como os jusnaturalistas britânicos, desde Hobbes e Locke), o que faz é uma proposição lógica de diferença entre duas condições: uma em que não se formulava a diferença e outra em que se formula a diferença entre irmãs e esposas. Nessa segunda condição, os homens abdicam de tomar as irmãs por esposas em prol da troca Capítulo 3 103 através da qual se instaura a sociedade e a socialidade. Trata-se de uma teoria positiva do tabu do incesto. A diferença — entre irmãs e esposas — tem como conseqüência fundar a relação de aliança entre marido da irmã e irmão da esposa. O que há de “original” na concepção Javaé e Karajá não está aqui, mas na idéia de um mundo pré-social e consangüíneo como um mundo masculino. Se o mundo originário do patamar subaquático era um mundo dos “entre-si”, da não-afinidade e se a morte no patamar terrestre é a contrapartida da vida em sociedade, da aliança, do encontro com a alteridade ou da evasão de fluidos corporais, a concepção javaé ou karajá de aliança não parece contradizer a proposição levistraussiana de passagem — lógica — da natureza, enquanto condição de indiferenciação e consangüinidade, à cultura, fundada no tabu do incesto e no imperativo da troca. Um segundo argumento da autora, que aqui queremos expor, reporta-se às representações rituais. Patrícia Rodrigues faz uma análise em termos das relações de gênero contrapondo duas categrias de seres cosmológicos, os ijasó e os aõní. O mundo dos ijasó (antepassados dos Karajá atuais) seria um mundo de consangüíneos em que os seres seriam indiferenciados quanto ao gênero, enquanto o mundo dos aõní seria um mundo de estranhos entre si. Os humanos se situariam “em um ponto intermediário entre a consangüinidade absoluta dos Aruanãs [ijasó] e a afinidade absoluta dos aõní” (Rodrigues, 1995: 146). A autora caracteriza os ijasó como seres pré-sociais e os aõní como seres de insatisfação crônica, da afinidade extremada, associando de maneira imediata os primeiros aos homens e os segundos às mulheres. Os ijasó são os antepassados míticos — inã — dos Karajá atuais. Eles se caracterizam pela imobilidade em seu mundo de origem, o mundo subaquático, imobilidade esta que, na superfície da terra, é expressa em seus movimentos estereotipados e controlados. Suas músicas são inteligíveis, seus passos ritmados e contidos. Os aõní seriam, segundo Rodrigues, em tudo opostos aos ijasó. Seres preferencialmente da superfície terrestre, de movimentação descontrolada, soltando grunhidos incompreensíveis, esfomeados de comida e sexo, traços que Rodrigues associa às mulheres, que estão caracterizadas, para a autora, como seres essencialmente anti-sociais 76. 76 A caracterização da mulher como tendo atitudes anti-sociais está exposta ao longo da dissertação de 104 Capítulo 3 O momento paradigmático da relação aõní-ijasó, para a autora, é um jogo de flechar, que ocorre durante o Hetohokã. Em uma espécie de cercado feito com varas, os ijasó “flecham” os aõní. Estes se comportam de maneira ameaçadora, tentando sair do cercado e segurar as flechas dos ijasó. Segundo Rodrigues, este é considerado um momento de perigo já que os aõní não são controláveis pelos xamãs como o são os ijasó (1993: 354). Os javaé dizem que é diversão dos ijasó flechar os aõní. O dado definitivo que levou a autora a adotar a idéia de que “as mulheres”, ou o feminino, eram o paradigma da alteridade, foi a explicação de um javaé, como expomos: “O dado que me fez mergulhar de vez na hipótese, levantada a princípio, mas sem maiores confirmações, de que os aõní eram imagens paradigmáticas das mulheres, enquanto os Aruanã [ijasó] representavam a masculinidade, foi a fala de um homem que, em rápida explicação, disse que os aõní eram ijasó wedena. O termo wedena é uma das palavras utilizadas para se referir às mulheres, mas com um sentido próximo da palavra aderanÿ, que se remete às mulheres enquanto parceiras sexuais. Os aõní seriam as ‘mulheres dos Aruanãs’, ou seja, teriam uma relação simbólica com os Aruanã equivalente à relação entre homens e mulheres” (Rodrigues, 1993: 348). São necessários alguns apontamentos sobre a argumentação da autora antes de avançarmos a discussão. O primeiro é sobre o termo aõní. A própria autora reconhece que se trata de um termo genérico sob o qual confundem-se muitas entidades incluindo-se aí os próprios ijasó, o que nos leva a imediatamente questionar uma oposição diametral entre as duas categorias de seres, aõní e ijasó. Várias entidades sob a designação de aõní têm comportamento ameaçador, o que leva alguns autores a traduzi-lo por “monstro” (cf. Pétesch, monstro canibal)77. André Toral mostra que o termo refere-se a seres que estão em todos os níveis cosmológicos, e não apenas no nível terrestre78. Este autor acredita, ainda, que a Rodrigues, mas a argumentação específica sobre alteridade/feminilidade encontra-se resumida em artigo posterior (Rodrigues, 1995). 77 Essa parece ter sido a tradução de David Fortune, missionário evangélico ligado ao Summer Institute of Linguistics que estudou a língua karajá por mais de trinta anos, em texto ao qual ainda não tive acesso. 78 Ainda está por ser feita uma análise que considere as concepções espaciais karajá que incluam suas idéias acerca de um espaço socializado e um espaço “inculto”, nos três patamares cosmológicos. A presença dos aõni e inclusive de outros seres ameaçadores nos outros níveis além do terrestre e a tradução dos espaços dos inã subaquáticos e celestes como “aldeias” sugere que a concepção de espaço socializado se estende a esses níveis. Capítulo 3 105 tradução de aõní como “monstro” seja enganosa, uma vez que alguns aõní são bastante queridos pela comunidade. Toral e Pétesch traduzem aõní como aõ = coisa e ní = “parecido com”. O sufixo -ni pode indicar a presença de um aõní no objeto designado (Toral, 1992: 169). Acreditamos que em seu sentido lato, aõní seja uma categoria de tipo mana, que foi sugerida por Lévi-Strauss como um “significante flutuante”, que se opõe à ausência de significação (Lévi-Strauss, 1974). Segundo exposto por Toral, “Os Karajá gostam de traduzir aõní como ‘bicho’ simplesmente. Com efeito, ‘bicho’ é em alguns sentidos bastante semelhante a aõní: designa animais, mas não só animais. Designa também certas coisas de natureza desconhecida (‘Que bicho é esse?’)” (idem: 170). Dessa forma, consideramos fundamental especificar a que tipo de “aõní” nos referimos ao usar o termo. Em seu sentido estrito pode significar especificamente os tais seres monstruosos a que a literatura se refere. Um segundo apontamento com relação à argumentação da autora refere-se à maneira como lhe foi definido o aõní no jogo de flechar. O Javaé teria lhe dito que os aõní seriam “ijasó wedena” (ou ijasó aderanã, como ela aponta). A associação imediata entre a relação ijasó-aõní e a relação homem-mulher, ou mesmo seu reducionismo a “marido e mulher” no trecho do artigo em que a autora resumiu esta argumentação, esconde uma conceituação mais sutil da ideologia nativa: “Os aõní são chamados de ijasó wedena, ou seja, ‘mulheres dos Aruanãs [ijasó]’. O termo wedena é uma das palavras utilizadas para se referir às mulheres enquanto parceiras sexuais, de modo que os aõní e Aruanãs teriam uma relação simbólica equivalente à relação entre marido e mulher” (Rodrigues, 1995: 138-9, grifo nosso). O termo aderanã costuma ser traduzido para o português como “prostituta” pelos Karajá. É utilizado para referir-se às mulheres que porventura venham a violar certas regras sociais. A mais notável entre elas é a descoberta do “segredo masculino” das máscaras dos ijasó. No caso, a punição é descrita de maneira unânime como a violação coletiva da mulher em questão, por vezes até a morte. Outra situação em que a mulher pode tornar-se aderanã é descrita pela própria autora. Trata-se do confinamento pubertário: na primeira menstruação, em que a menina deve ficar reclusa, sentada sobre uma esteira, movendo-se o mínimo possível. A menina que não ficar imóvel durante o tempo suficiente sairá da reclusão Capítulo 3 106 transformada em aderanã (Rodrigues, 1993: 58)79. Observemos, então, outra concepção de feminino, para além do aõní/aderanã, também idealizada no ritual, que parece inverter as características dos aõní. Estamos falando da dança dos ijasó, quando estão acompanhados das meninas recém saídas da reclusão pubertária e ainda não casadas, na categoria de idade de ijadoma. Uma descrição mais detalhada da dança estárá no capítulo 4, relativo à atividade ritual. O que convém reter aqui é o caráter sexualizado da dança, que inclusive levou autores como Dietschy a interpretá-la como “rito de fertilidade” (Diestchy, 1977). Acreditamos que a dança dos ijasó formule a relação mediada de gênero, caracterizada pelo oferecimento de comida. Como em muitos grupos, comida e sexo entre os Karajá têm uma notável equivalência simbólica. Na dança dos ijasó, as ijadoma fornecem comida, de maneira ritualizada, aos ijasó. As ijadoma são motivo de orgulho e preocupação para seus pais. São idealmente as mulheres mais atraentes da aldeia, paramentadas com muitos enfeites. Ao mesmo tempo, estão na idade em que as atitudes são muito controladas pelos pais e pela comunidade de modo geral. É muito mal visto andarem desacompanhadas, pouco saindo do âmbito de suas casas. Em todos estes aspectos, as ijadoma invertem as aderanã e os aõní, caracterizados seja pela “imoralidade” das primeiras, seja pelo excesso de movimento dos segundos. Acreditamos, portanto, que aderanã e ijadoma seriam idealizações opostas do “feminimo”, idealizações estas mediadas pela relação que ritualmente estabelecem com os ijasó80. 79 Note-se que os Karajá parecem inverter a “nossa” concepção de prostituta, definida essencialmente como uma mulher que recebe pagamento em troca de sexo, ou seja, uma relação mediada pelo dinheiro. Para os Karajá a relação mediada pelo pagamento, kowy, da vagina, tyky (Rodrigues, 1993: 103) é justamente a relação conjugal. A relação com a aderanã seria uma relação não-mediada, sem pagamento; ou, como nos sugeriu Márcio Silva (2004, com. pess.), a aderanã seria uma afim sem cunhados ou sogros. 80 Os detalhes etnográficos sobre o jogo de flechar relatado por Rodrigues poderiam introduzir uma segunda crítica à concepcão dos aõni como imagens paradigmáticas das mulheres como a autora sugeriu. O ato de flechar parece ter, entre os Karajá, a conotação de um ato sexual. Neste sentido, é possível interpretar a relação dos aõni com os ijasó como uma relação sexualizada. No entanto, Donahue também mencionou um jogo em que os ijasó flecham os aõni. Nesse caso, o aõni seria uma representação hiper sexualizada, já que além de ser flechado pelos ijasó, seria dotado de um pênis gigantesco: “Um quinto jogo do Aruanã é quando o ijasso flecha com pequenos arcos e flechas outro Karajá vestido com um traje que os Karajá chamam ‘o bicho’ [“the wolf”, aqui o autor não especificou qual seria a palavra em português, como faz em outros momentos, mas acreditamos que “wolf” tenha sido a melhor tradução que o autor encontrou para “bicho”]. Na verdade, o que há de mais notável no traje do ‘bicho’ feito de palha é que ele inclui um grande pênis medindo vários pés” (Donahue, 1982: 263). Cientes de que os jogos rituais são inúmeros e sem poder comprovar etnograficamente nossas suspeitas, não podemos ter certeza de que o jogo a que Donahue se refere seria o mesmo a que Rodrigues se referiu. Se nossas supeitas se confirmassem, a caracterização do aõni comprometeria definitivamente sua associação à idéia de “feminino”, uma vez que se trataria de uma criatura portadora de um Capítulo 3 107 Sobre a mesma problemática, Pétesch faz a distinção entre uma sexualidade consentida e outra imposta: “A uma sexualidade consentida, posta em cena no ritual ijasó, se opõe uma sexualidade imposta pela violência, que remete mais uma vez à alteridade, ao inimigo” (Pétesch, 2000: 147). Esta sexualidade consentida seria fecundante: “O ijasó, nutrido por um pai e uma mãe é tratado ao mesmo tempo como um filho e como um genro e dança com suas irmãs classificatórias. Esta relação sexual simbólica é fecundante, já que consentida pelas mulheres que se roçam o ventre [referindo-se ao movimento de mãos feito pelas moças ao dançar]” (idem: 207). Seja na concepção cosmológica, seja no microcosmo espacial da aldeia, as mulheres, ou o feminino, parecem estar logicamente associadas aos homens assim como a exterioridade está associada à interioridade. Mulheres, afinidade e alteridade estão associados ao nível terrestre. Homens, consangüinidade e identidade estão associados, numa primeira aproximação, ao nível subaquático81. No entanto, percebemos que as características mais notáveis do mundo terrestre, quais sejam, a mobilidade e a mortalidade, contradizem as características associadas às mulheres ou ao feminino. A elas é interdito o contato com o morto e com os assuntos ligados à morte. Só lhes é permitido chorar82 e falar de um morto no momento mesmo de sua morte. Sua movimentação excessiva pela aldeia é bastante mal vista pela comunidade, sobretudo na categoria de idade ijadoma, que aqui opusemos à aderanã. As elaborações acerca da reclusão pubertária feminina parecem gravitar em torno do par antitético mobilidade/imobilidade. Decorre daí nossa principal resistência em aceitar a associação das mulheres em geral aos aõní (“monstro”) proposta por Rodrigues. A associação imediata entre dois termos que pertencem a distintos feixes de relações produz uma considerável distorção interpretativa. A aproximação feita pelo javaé ao dizer que os aõní seriam as “prostitutas” dos ijasó (ijasó wedena ou ijasó aderanã) nos coloca frente a, no mínimo, quatro tipos de relações: 1. ijasóaõní (monstro); 2. ijasó-adusidu (dançarinas); 3. marido-esposa; 4. homem-aderanã (glosada em português como “prostituta”). Nesse caso, a comparação oferecida pelo nativo poderia se gigantesco pênis (!). 81 Quanto ao nível celeste, nossa interpretação é ainda demasiado especulativa, como deve ter ficado explícito no tópico relativo à cosmologia, em que o suponhamos como um estado de superação. 82 Os choros rituais femininos foram descritos por Rodrigues, 1993. 108 Capítulo 3 resumir no seguinte esquema: ijasó : aõní :: homem : aderanã Ao mesmo tempo em que às mulheres é interdito o contato com o morto e os assuntos da morte, os homens são diretamente associados aos mortos. O termo worasã designa tanto o coletivo de mortos quanto o coletivo de homens. Além disso, os assuntos da morte são exclusividade deles. Viveiros de Castro sugeriu que “A morte e a aliança são condições conexas de possibilidade do socius (...) é a morte que impõe a abertura heterônima da mônoda matrimonial. Ela sempre vem de fora, dos inimigos, animais e espíritos, ela sempre produz um exterior” ([1993] 2002b: 171). No caso karajá, o mundo subaquático, um mundo anterior, logicamente, à terra e portanto, à aliança, é perfeito, não há morte nem necessidades, não há afins. No entanto, ele é um mundo de imobilidade, “engessado”. Viveiros de Castro propõe que um estado de consangüinidade pura seria inatingível. Conforme já citamos: “Ele seria um estado estéril de não-relacionalidade, de indiferença, no qual a construção [do parentesco] se autodesconstruiria. A afinidade é o princípio de instabilidade responsável pela continuidade do processo vital do parentesco” (Viveiros de Castro, 2002: 432). É neste sentido que devemos entender a associação do coletivo masculino aos mortos, worasã. A consangüinidade pura seria a morte da sociedade. Ainda citando, “a consangüinidade pura só pode ser alcançada na morte: ela é a conseqüência última do processo vital do parentesco, exatamente como a afinidade pura é a condição cosmológica deste processo. A morte divide a pessoa, ou revela sua essência dividida: como almas desencorpadas, os mortos são arquetipicamente afins (...); como corpos desespiritualizados, porém, eles são supremamente consangüíneos. A morte, assim, desfaz a tensão (a diferença potencial) entre afinidade e consangüinidade que move o processo do parentesco, completando o percurso de consangüização, isto é, de desafinização, visado por este processo” (Viveiros de Castro, 2002: 445). Um belo exemplo etnográfico da completude do parentesco efetuada na morte é relatado por Rodrigues. Ao falar dos choros rituais femininos, a autora menciona um caso, que teria ocorrido muitos anos antes de sua estada entre os Javaé, em que uma velha senhora chorava a morte de seu marido. Em seu choro, ela referiu-se a ele pelo termo de parentesco Capítulo 3 109 referente a “irmão”, e não “marido”, o que parece ter sido marcante para os que assistiam, tendo sido lembrado por muitos anos (Rodrigues, 1993: 258, nota). Percebemos aqui que uma abordagem às relações de gênero, ou às relações entre os gêneros masculino e feminino, é indissociável de uma análise das relações entre as “espécies” consangüíneos e afins. Se num primeiro momento causou-nos estranheza aquela associação imediata, proposta por Rodrigues, entre o feminino e a alteridade — que nos obrigou, um tanto a contragosto, a enveredar pelos debates sobre gênero — foi necessário reconhecer que, em muitos domínios do discurso nativo, é possível entrever uma correlação entre masculino, interior do socius e identidade, por um lado, e feminino, exterioridade e alteridade, por outro. Admitimos, contudo, que essa correlação não é uma constante na ideologia nativa. Se fosse uma constante, introduziríamos aqui um “paradoxo karajá”, pois que o feminino se encontraria associado àquele domínio do mundo social que às mulheres é negado, qual seja, o domínio dos assuntos da morte. Nesse caso produziríamos definitivamente uma dissociação do que entendemos por “feminino” daquilo que entendemos por “mulheres” (dissociando, portanto, gênero de sexo...). Uma vez mais, acreditamos que as interpretações ainda são um tanto precárias e sugerimos que as análises das relações entre os gêneros estão bastante longe de serem solucionadas. O refinamento de nossa interpretação requer a produção de mais dados etnográficos com a necessária consideração das relações de espécie e de gênero concebidas no “mundo perfeito” da aldeia celeste. Enfim, podemos propor provisoriamente que para os Karajá a exterioridade, que, no dualismo concêntrico das sociabilidades amazônicas, fornece a assimetria e o desequilíbrio fundamentais para a manutenção de sua dinâmica, parece estar em relação com a interioridade da maneira que o feminino está associado ao masculino. Se para os Krahô analisados por Carneiro da Cunha (1979), os mortos são os outros, para os Karajá, os mortos somos nós83 e as mulheres são os outros. 83 Lima Filho e Pétesch chegaram à mesma conclusão ao contrastar o material Karajá com o Krahô: “ao contrário dos Krahô (...) os mortos não estão lá, não são os outros, mas nós.” (Lima Filho, 1994: 165) 110 Capítulo 4 Rituais A vida cotidiana de uma aldeia karajá é animada pela “visita” quase diária de entidades cosmológicas que, embaladas pelo som de chocalhos e canções, evoluem mascaradas, dançando nas trilhas que ligam a aldeia propriamente dita (a ixã, fileira de casas residenciais) à Casa dos Homens. Essas danças integram o ciclo anual de rituais do grupo. A pouca freqüência com que os Karajá surgem nos debates mais amplos da etnologia brasileira contrasta com um sem-número de descrições de sua vida ritual por parte de viajantes, missionários e etnógrafos. O mais freqüente assunto na literatura não especializada é a chamada “dança dos aruanãs”. Aruanã é um vocábulo regional de origem tupi que designa um peixe bastante comum na região do Araguaia. O mesmo peixe é chamado de ijasó pelos Karajá. O peixe empresta seu nome a certas entidades cosmológicas encontradas, sobretudo, no patamar inferior do cosmo karajá. A relação entre ijasó, peixe, e ijasó, entidade cosmológica, ainda é controversa nas etnografias. As entidades cosmológicas não são a mesma coisa que o peixe e também não seriam “representantes” ou mesmo responsáveis pela existência e aparecimento dos peixes. No entanto, o mito que narra a ascensão dos humanos ao patamar terrestre relata que alguns dos inã originais que tentaram retornar ao mundo subaquático de origem (mergulhando nas águas do rio em busca da passagem pela qual ascenderam ao nível terrestre) não teriam sido exitosos e teriam se transformado no peixe ijasó. O ritual que é chamado de “dança dos aruanãs” pelos regionais são as Ijasó Anarakã: festas/danças dos ijasó. Os dois mais importantes ciclos rituais karajá são as Festas dos Ijasó e o Hetohokã, festa da Casa Grande, que culmina com a aceitação pública dos jyré, os meninos iniciandos, na Casa dos Homens. Nossa abordagem à vida ritual do grupo buscará analisar a vida ritual dos Karajá como expressão em ato da ideologia nativa. Entendemos que as concepções nativas acerca de seu universo encontram, no ritual, um palco privilegiado para suas manifestações. Procuramos, assim, no ritual, a expressão formalizada daquilo que viemos chamando de princípios classificatórios. O que o ritual pode nos informar acerca das relações de afinidade? Capítulo 4 111 Poderia a afinidade simbólica com os espíritos dos mortos (principais protagonistas “sobrenaturais” do Hetohokã) representar algum tipo de relação com a exterioridade do socius? Que tipo de relação estaria expressa nas danças das moças solteiras com as máscaras representantes de seres cosmológicos? O que os arranjos classificatórios dos grupos cerimoniais podem informar sobre as dinâmicas entre dualismo e triadismo? Essas são algumas das indagações que guiarão aqui nossa exposição. A vida ritual karajá foi abordada pela etnografia sob diferentes óticas. Para Lima Filho (1994), que descreveu apenas o Hetohokã, o ritual seria, para além da imediata conotação de iniciação masculina, o mecanismo chave para o estabelecimento de alianças entre aldeias, alianças com entidades cosmológicas e, estendendo o alcance dessa lógica política da aliança, com setores da política indigenista. Com o interesse voltado para as relações de gênero, Patrícia Rodrigues (1993) entende que a Festa dos Ijasó (um dos dois grandes conjuntos rituais) “tem como um de seus fios condutores a elaboração simbólica a respeito da energia vital” (Rodrigues, 1993: 188). Segundo nosso entendimento, a autora interpreta o ritual como uma metáfora do ciclo de vida individual em que haveria acúmulo e perda graduais de “energia vital”, cujo esgotamento é causador da morte do corpo. Da mesma maneira, a intensidade da vida ritual seria gradual, conheceria um ápice, e seu fim seria o equivalente metafórico da morte (Rodrigues, 1993: 253). Georges Donahue, talvez preocupado com a manutenção de uma coerência interna ao grupo Karajá, considera que a Festa dos Ijasó seria a mais importante atividade integrativa dos Karajá (1982: 276). O Hetohokã forneceria “a única oportunidade para as aldeias Karajá de se juntar para um propósito comum e também permite ritualizar o antagonismo em várias formas ritualizadas de conflito” (Donahue, 1982: 282). Já André Toral entende o Hetohokã como a legitimação da “vitalidade” da comunidade (Toral, 1992: 258-9). Segundo o mesmo autor, as Festas dos Ijasó tematizariam as disputas simbólicas entre homens e mulheres ou entre mortos, worasã, e o restante da aldeia (idem: 148). Nathalie Pétesch, por sua vez, aborda o ritual como “tratamento simbólico das relações da sociedade karajá com seu universo” (Pétesch, 2000: 95). Mais restrita ou mais abrangente, mais funcionalista, mais fenomenológica ou mais estrutural, a interpretação da ritualidade karajá sugere-nos a expressão, numa certa escala e linguagem, do universo de relações simbólicas e sociais do grupo. 112 Capítulo 4 Temporalidade do Ritual Os momentos de início e término dos dois ciclos rituais não são consenso na bibliografia etnográfica. Ao que tudo indica, eles podem ser realizados conjuntamente ou, em alguns casos, apenas as Festas dos Ijasó são realizadas. O Hetohokã não é necessariamente realizado ano a ano. André Toral formula a marcação do tempo ritual pelo ciclo anual das chuvas. Segundo o autor, o ciclo teria início no final do período das chuvas (por volta de março/abril), durando pouco mais de um ano e terminaria novamente no período chuvoso (Toral, 1992: 243): “Um ciclo inicia-se com as Ijasó Anaràky, ‘festividades dos ijasó’, que tem seu auge no apogeu do verão [período seco: agosto/setembro]. A essas vão sendo agregados progressivamente, um outro conjunto delas, ligadas basicamente à recepção dos aõní [categoria geral de seres cosmológicos] e outros seres que participarão da festa da Casa Grande. À medida que nos aproximamos da estação das chuvas esse último conjunto de cerimônias cresce de importância, até atingir seu ápice com a reunião final dos seres cosmológicos que comporão o elenco dos ‘habitantes da Casa Grande’ em plena estação das chuvas, em fevereiro/março.” (idem: 243). Pétesch considera desconcertante a “aperiodicidade” do ritual ijasó: “Colocando em cena os Inã (Karajá) cósmicos, perenes e atemporais, o ritual ijasó não tem efetivamente um tempo, ou melhor, seria inscrito no ‘grande tempo mítico’, na sacralidade contínua do tempo.” (Pétesch, 2000: 95). Para a autora, o ritual teria um ritmo permanente. Donahue considera a construção da casa das máscaras (termo que ele usava para Hetokré, Casa dos Homens) e a confecção mesma das máscaras como o marco para o início das Festas dos Ijasó. Ao que parece, a Casa dos Homens não ficava permanentemente erguida na aldeia à época em que o autor realizou suas pesquisas (1977 e 1978). Atualmente não há o costume de queimar a casa ao fim do ritual, como relatou o autor. Toral nos informa que os ijasó, entidades cosmológicas advindas, em sua maioria, do mundo subaquático, “pedem” ao xamã que a festa seja realizada, e anunciam o que querem comer84 durante o ritual. O xamã anuncia que os ijasó estão chegando e os preparativos têm início. Apresentamos 84 A importância e o significado da alimentação ritualizada dos ijasó serão expostos adiante. Capítulo 4 113 sinteticamente, a partir dos dados de Donahue, os seguintes pontos referenciais das atividades rituais. Síntese das atividades rituais: • Festas dos Ijasó (Ijasó Anarakã) 1) Xamã avisa a aldeia que os ijasó estão chegando. 2) Xamã presenteia os ijasó às crianças de famílias de prestígio. A família terá de sustentar economicamente o ritual. 3) É construída a Casa dos Ijasó (Casa dos Homens, ou Hetokré. A etnografia recente não menciona essa atividade provavelmente devido à extinção do costume de queimar a casa ao fim do ritual). Confecção das máscaras. 4) Os ijasó aparecem cantando e dançando acompanhandos das ijadoma (moças em idade de se casar) ou sozinhos. Essa atividade ocorre ao longo do ano, é praticamente diária e só interrompida pela falta de alimento abundante ou pela morte de algum membro da aldeia. 5) Seis festas com jogos rituais ao longo do ano, divididos segundo as estações e distribuídos sob a alcunha de Festas do Peixe Pequeno, do Mel Pequeno, Festas do Peixe Grande e do Mel Grande. 6) Fim do ritual. Queima das máscaras e da Casa dos Ijasó (esta última atividade não é realizada atualmente, conforme mencionado. O fim da festa não tem um marco definido). • Festa do Hetohokã (Casa Grande) 1) Os pais dos iniciandos avisam ao cacique (ixã wedu) que seus filhos estão aptos a serem iniciados. 2) É feito um convite formal a uma aldeia vizinha. 3) Encenação da “chegada” dos mortos da aldeia anfitriã. Luta corporal ijesu na praia polarizando homens casados e solteiros. 4) Três visitas inter-aldeias. Para cada uma é confeccionada uma esteira na qual se sentará o neófito. Ao fim de cada visita a esteira é presenteada a algum brotyré do neófito. 5) Primeira visita: lutas corporais e jogos de ameaça aos neófitos. 6) Segunda visita: disputa pelo toó (mastro erguido no pátio ritual). Capítulo 4 114 7) Terceira visita: construção da parafernália ritual e confinamento dos jyré, os iniciandos, nas construções do pátio da aldeia (Casa Grande, corredor e Casa Pequena). Caçadas rituais. Furação do beiço dos meninos que serão iniciados futuramente. 8) Saída dos meninos da reclusão. Fim do ritual. Desmonte da parafernália ritual. Abordaremos primeiramente as Festas dos Ijasó analisando as relações sociais aí implicadas, as relações simbólicas com as entidades cosmológicas no intuito de fornecer elementos para uma discussão sobre as relações de consangüinidade e afinidade entre os Karajá. Em seguida abordaremos o Hetohokã, em busca dos elementos que vão configurar a manifestação de um triadismo sociológico. Festas dos Ijasó As Festas dos Ijasó têm como principal protagonista “sobrenatural” os ijasó. Conforme mencionamos no capítulo 2, Cosmologia e Escatologia, os ijasó são os antepassados dos humanos, inã, atuais e habitam, em sua maioria, o patamar subaquático. Todo ijasó é identificado por um nome particular, geralmente um nome de animal. A associação dos ijasó a animais gera alguma controvérsia na literatura etnográfica. Não está claro se eles são representações de animais, se estão ocupados por espíritos de animais ou se são donos (-wedu) dos animais. Cada ijasó é representado por um par de máscaras. No entanto, alguns ijasó como o Latení — uma importante entidade cuja caracterização havia sido relevante para uma discussão sobre a classificação cromática no domínio de parentesco — são representadas por uma única máscara. O par de portadores de máscaras dança só, ou acompanhado de um par de dançarinas, as adusidu, normalmente moças em idade de casar, pertencentes ao grau de idade em que são chamadas de ijadoma 85. As relações coletivas e ritualizadas com os ijasó são necessariamente mediadas por 85 Mulheres casadas e também mulheres com a idade já avançada também dançam, porém apenas à noite, quando a escuridão esconde seus corpos. Caso contrário seriam mal vistas na aldeia e sua atitude seria interpretada como exibicionismo ou como a intenção de conseguir um marido (Rodrigues, 1993: 221). O caráter sexualizado da dança será abordado adiante. Para uma discussão específica sobre os graus de idade entre os Karajá, cf. Dietschy, 1978. 115 Capítulo 4 um xamã86. Cada xamã é responsável por “controlar” alguns desses ijasó e, nesse sentido, são entendidos como “donos”, -wedu, dos ijasó. Quanto maior a quantidade de ijasó que o xamã controla, maior seu prestígio em determinada aldeia. “Somente os xamãs ‘completos’, que assumem sua identidade publicamente, enquanto curadores, podem ser ‘donos’ de Aruanã [nome regional do ijasó]” (Rodrigues, 1993: 211). Além deste primeiro “dono”, o xamã-mediador, o ijasó tem outro “dono”, considerado seu verdadeiro possuidor. O ijasó “pertence” a uma criança de família de prestígio87. Os pais dessa criança são chamados de “pais de ijasó” e são responsáveis pela manutenção do ritual, fornecendo continuamente a alimentação destas entidades: “a principal obrigação destes possuidores é de assegurar uma alimentação abundante e variada a seus ‘filhos espirituais’ durante os rituais que lhes são consagrados” (Pétesch, 1993b: 88). Os ijasó são oferecidos às crianças como presentes. “Quando nasce um filho, ou na ocasião da passagem de algum menino pelo Hetohokã, os tios (...) oferecem Aruanãs [ijasó] como presentes.” (Lima Filho, 1994: 115). Pétesch observou que os ijasó são transmitidos em linha direta, de pai para filho (ou de tio paterno para filho da irmã) bem como os nomes pessoais: “É por essa linha de filiação que circula o patrimônio propriamente karajá, essencialmente representado pelos nomes próprios e as entidades espirituais ijasó. Assim como os aroe, entidades tutelares e nominadores bororo, o patrimônio nominativo e espiritual karajá inscreve cada indivíduo na continuidade de uma descendência genealógica e mítica especificamente Inã” (Pétesch, 2000: 213). A nominação, entre os Karajá, não tem um papel preponderante, como entre os seus vizinhos Jê. Entre os Kayapó, por exemplo, os nomes são como patrimônios pertencentes a uma Casa88 (cf. Lea, 1986 e 1993) e circulam entre as gerações. Entre os Karajá, os nomes são escolhidos por parentes de mesmo sexo, pertencentes à segunda geração ascendente ao 86 Os Karajá costumam mencionar “encontros” fortuitos com os ijasó. Eles seriam vistos espontaneamente — ou seja, sem serem invocados por um xamã e representados pelas máscaras, encenados ritualmente — saindo da água ou atravessando a trilha de um caminhante solitário na mata. 87 O que estamos chamando aqui de “famílias de prestígio” são as famílias numerosas que dispõem de roças fartas. Os ijasó são presenteados aos filhos dessas famílias, informação que conduziu André Toral a propor que a distribuição de ijasó pelas famílias seria um mecanismo de controle sobre a acumulação de bens, exercida pela comunidade sobre as famílias mais abastadas (Toral, 1992:166). Provavelmente essas mesmas famílias sejam as mais destacadas nas dinâmicas de disputas faccionais. 88 A Casa mebengokré é uma “pessoa jurídica” que possui um “patrimônio distintivo de nomes pessoais, prerrogativas e referências mitológicas e/ou históricas” (Lea, 1993: 266). Capítulo 4 116 nominado. Geralmente são escolhidos nomes de pessoas que já morreram. Uma série de nomes é atribuída à criança e a pessoa que escolheu aquele nome que finalmente se fixa recebe como recompensa um presente dos pais da criança. Os nomes karajá não filiam indivíduos a grupos sociais (Pétesch, 2000: 213). Patrícia Rodrigues anotou que há uma relação de identidade da criança com o “seu” ijasó, relação que a autora identificou como aquela entre “parentes de criação”, discordando de Toral, que havia traduzido a relação como aquela entre a criança e um animal de estimação, um xerimbabo. Segundo Rodrigues, “A criança e o Aruanã [ijasó] são um o reflexo do outro” (Rodrigues, 1993: 205). Note-se que os pais da criança são chamados de ijasó së e ijasó taby, ou seja, mãe e pai do ijasó, respectivamente. Esses apelativos assumem um caráter tecnônimo. Da mesma forma, os irmãos, tios e avós da criança são chamados de irmãos, tios e avós de ijasó. Acreditamos que a mencionada relação de identidade de uma criança com seu ijasó deva-se ao fato de ambos ocuparem, num sistema de parentesco, a mesma posição relacional diante de um mesmo grupo de parentes89. Mencionamos, no capítulo anterior, o sistema de nominação Krahó tal como descrito por Júlio César Melatti. Naquele sistema, o parente que oferece seu nome fornece, em conseqüência, uma persona social num sistema de metades: o nominado krahó ocupará a mesma posição relacional que o seu nominador. No caso da transmissão do ijasó, entre os Karajá, a relação de identidade se estabelece entre uma criança e uma entidade espiritual que deve protegê-la. Ao tornar-se adulto pleno (ao entrar para a Casa dos Homens), no entanto, o possuidor não mais será o “dono” (-wedu) do ijasó. Quando do nascimento de seu primeiro filho ele poderá, então, transmitir a seu filho o ijasó que fora seu. O patrocínio de uma Festa de Ijasó em benefício de seu filho parece testar a união conjugal entendida aqui como uma unidade produtiva. A capacidade do casal tanto em produzir o alimento que será o motor do ritual, quanto em moblilizar sua parentela em torno do mesmo objetivo, parece ser demonstrada quando se assume o pesado cargo de “pais de ijasó”. A função do ijasó manifesta pelo discurso nativo é exatamente a mesma daquela 89 Rodrigues entendeu como paradoxal a família considerar como idênticos um parente “de substância”, a criança, e um parente “de criação”, o ijasó. A autora “resolve” o tal paradoxo concluindo que os Javaé concebem todo “amor” como resultado da convivência e não, como talvez a mesma autora parecia supor, como resultado da relação “de substância” (Rodrigues, 1993: 258-9). 117 Capítulo 4 categoria de parentes denominada brotyré, qual seja, assegurar o crescimento saudável da criança. Tanto a transmissão dos ijasó, efetuada por linha paterna, quanto a categoria de brotyré são mobilizadas a partir do nascimento da criança. O ijasó e os brotyré parecem ambos manifestações da sanção social e cosmológica da união conjugal. É relevante notar que a transmissão de ijasó se dá na mesma linha — paterna — em que ocorre a transmissão da identidade grupal: o pertencimento a um grupo de praça (ijoi) específico. Pétesch sublinha uma bifurcação na transmissão das identidades: “A bilateralidade da afiliação a estes dois aspectos da identidade karajá [uma identidade inã, cósmica, e uma identidade ixã, terrestre] é claramente expressa através desse esquema espacial: matrilinear no que concerne sua dimensão terrestre (membro de um grupo territorial) e patrilinear no que concerne sua dimensão cósmica (membro de um grupo de descendência sócio-cultural)” (Pétesch, 2000: 210). A dança dos ijasó é conduzida mediante a farta e contínua alimentação daquelas entidades. O mundo de origem dos ijasó é caracterizado pela fartura alimentar e esta fartura deve ser repetida quando da visita (representação) destas entidades ao patamar terrestre. A alimentação dos ijasó parece ter dois significados fundamentais. Donahue nota que há um caráter ambíguo em toda entidade cosmológica. Apenas algumas delas podem ser controladas pelo xamã. Alimentar as entidades seria apaziguá-las, retirando delas seu potencial malfazejo. Além deste caráter, a alimentação tem um aspecto altamente sexualizado. Como entre muitos outros povos, os Karajá associam simbolicamente a alimentação e a relação sexual. Conforme mencionamos no capítulo anterior, a alimentação das entidades parece-nos formular a relação mediada entre os gêneros. A evocação da dança das moças solteiras, as ijadoma, com os ijasó, na elaboração do “paraíso escatológico” da aldeia do mundo das chuvas, reiteraria nossa proposição. A dança com os ijasó expressaria, então, a afinidade ideal, a afinidade sem sexo da aldeia do céu. Se os pricnipais protagonistas “sobrenaturais” das Festas dos Ijasó são os próprios ijasó, as protagonistas “humanas” seriam as ijadoma, recém saídas da reclusão pubertária. Nesse sentido, a dança dos ijasó teria um caráter mais feminino, do ponto de vista das relações de gênero, ou um caráter de afinidade ideal, do ponto de vista das relações de “espécie” (relações de parentesco). Capítulo 4 118 A alimentação do ijasó é realizada durante a dança. Eles dançam na direção da casa de seus “donos” e entregam às adusidu, as dançarinas que estão acompanhando o par de máscaras, pertencentes à categoria de idade ijadoma, uma cuia vazia, que é devolvida cheia de alimento na dança posterior e levada para a Casa dos Homens pelo jyré, o rapaz recém iniciado. Os gestos de dar e receber comida são prescritivos à execução do ritual, e representam um entroncamento entre a execução formal do rito e um certo grau de disponibilidade de comida, de forma que, se não houver comida abundante, o ritual não é executado (Toral, 1992: 264). O papel assumido pelo “pai” e pela “mãe” do ijasó (pai e mãe da criança a quem o ijasó “pertence”) é um papel de destaque e um sinal de prestígio (Rodrigues, 1993: 207). Assumi-lo significa uma honra e uma obrigação de sustentar economicamente o ritual. A família que recebe a entidade tutelar deve possuir uma roça farta, além de caçar e pescar para sustentar o ritual. André Toral acredita mesmo que a distribuição de ijasó pelas famílias seja uma tentativa de controle, por parte da comunidade, sobre a acumulação de bens dessas mesmas famílias (Toral, 1992: 166). Segundo Pétesch, a parentela bilateral do casal (os pais de ijasó) acorre para auxiliar na manutenção desse pesado cargo ritual. Esse parece ser mais um dos atributos da categoria de parentes chamada brotyré, mobilizada em torno da criança90: “é graças à contribuição contínua de comida da parte de seus germanos respectivos e afins recíprocos que um homem e uma mulher podem assumir por vários meses o pesado cargo de realizar um ritual ijasó e/ou um heto hokã em favor de seus filhos” (Pétesch, 2000: 211). Segundo Pétesch as principais participantes das Festas dos Ijasó são as ijadoma e o ritual ocorre em ambiente intra-comunitário, ou seja, concerne apenas os habitantes de uma determinada aldeia. Para além das danças dos ijasó propriamente ditas, o ritual envolve uma infinidade de jogos91 que se repetem ao longo do ciclo. Em sua maioria, os jogos opõem em “times” homens e mulheres. Há exceções a esse arranjo, em jogos que opõem os homens entre si. No entanto, a freqüência de jogos que opõem homens e mulheres é de tal monta que André Toral propõe que as Festas dos Ijasó teriam como tema central as disputas entre os sexos. O caráter intra-comunitário das Festas dos Ijasó e a natureza das atividades a elas relacionadas nos levam a propor que seriam elas uma elaboração ritual da afinidade inter90 Cf. capítulo anterior para uma discussão detalhada sobre a categoria de brotyré. 91 Os jogos das Festas dos Ijasó são chamados são chamados de ijasó lyrena. Capítulo 4 119 gêneros, expressa nos jogos realizados. Voltaremos a esse ponto ao propor uma comparação com o Hetohokã. O Hetohokã O Hetohokã, ou festa da Casa Grande, é talvez o ritual com o maior número de descrições entre os Karajá. Sua última fase é a mais “espetacular”, para a qual são convidadas autoridades locais, representantes da Funai e, por vezes, presidentes da República (como foi o caso com Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek). A última fase culmina com a entrada dos jyré para a Casa dos Homens. Para além de ser um “ritual de iniciação masculina” (cf. Lima Filho, 1994), o Hetohokã pode ser considerado um ritual de invocação dos espíritos dos mortos e da relação dos iniciandos com a alteridade e a exterioridade. De duração mais curta que as Festas dos Ijasó (aproximadamente seis meses, segundo Lima Filho), o Hetohokã tem como principais visitantes “sobrenaturais” os worasã, os mortos, representados com pinturas corporais nos homens e encenações que imitam o comportamento de animais. Worasã é um termo polissêmico. É usado para designar o coletivo dos mortos e também a coletividade masculina de uma aldeia. Segundo Pétesch, “Do início ao fim do ritual [Hetohokã], o chefe cerimonial não dirige seres viventes, mas a representação coletiva e anônima dos mortos karajá” (Pétesch, 2000: 130). Embora sejam os worasã os principais protagonistas do ritual, há também a representação dos ijasó, e em muitos momentos os dois ciclos rituais podem se confundir. Além dos homens enquanto representação coletiva dos mortos, na última fase do ritual — aquela mais propriamente “iniciática” — os protagonistas são os jyré, os garotos iniciandos. No Hetohokã a relação com o “exterior” é fundamental. Como já mencionamos, os iniciandos devem entrar em contato com várias manifestações da alteridade encontrada no patamar terrestre do cosmos karajá. Além da “visita” dos espíritos dos mortos, é fundamental a visita de uma aldeia convidada, quando ocorrem confrontos ritualizados. Ao longo deste ritual são realizadas três visitas inter-aldeias. Na primeira ocorrem Capítulo 4 120 lutas corporais, ijesu92, na praia onde as canoas dos visitantes desembarcaram, em que se opõem anfitriões e visitantes. No dia seguinte há um jogo de ameaça aos neófitos em que novamente estão opostos os anfitriões, que devem proteger os garotos, e os visitantes, que devem ameaçá-los. Na segunda visita ocorre a disputa pelo toó, um gigantesco mastro erguido na praça cerimonial da aldeia93. Os homens da aldeia visitante, reunidos sob a designação genérica de iraru mahãdu, grupo de baixo, devem tentar derrubar o toó, enquanto os homens da aldeia anfitriã, denominados então de iboó mahãdu, grupo de cima, devem impedir a tentativa. A derrubada do toó significaria uma grande desmoralização da aldeia anfitriã e apenas um caso destes foi relatado94. A interpretação do toó como um símbolo fálico é expressa pelos próprios Karajá e o mastro foi interpretado como símbolo da “vitalidade” da aldeia por Pétesch. Para a terceira visita ergue-se uma parafernália ritual. Entre os Karajá são erguidas duas casas, uma grande e uma pequena (a Casa dos Homens pode fazer-se de Casa Pequena) e entre elas é erguida uma passagem coberta, um corredor. Entre os Javaé apenas uma casa é erguida, contendo três portas95. Nesta última fase os neófitos serão reclusos no interior dessas construções, onde ocorrerá a fase mais propriamente iniciática do ritual. Pétesch destacou o caráter intercomunitário do Hetohokã, em contraste com as Festas dos Ijasó, de caráter intracomunitário. A autora notou que as principais protagonistas da Festa dos Ijasó são as ijadoma, as moças em idade de casar. A festa concerne geralmente aos membros da aldeia e o responsável é o xamã, mediador das relações com o sobrenatural. Em contrapartida, no Hetohokã, cujo tema central é a relação com a morte e a alteridade, os protagonistas são os jyré, os neófitos, que devem ser “extirpados” do mundo feminino, na expressão de Pétesch (2000: 147). No Hetohokã, a despeito da onipresença do xamã, a mediação por excelência é exercida pelo chefe, o ixã wedu. A orientação “centrífuga” de um ritual essencialmente masculino, quando em contraste com as Festas dos Ijasó — que, se não podem ser definidas como femininas em sua 92 Ijesu é uma luta corporal masculina semelhando ao uka uka alto-xinguano. 93 A disputa pelo toó é exclusiva do Hetohokã e foi apontada por Donahue como a principal diferença deste ritual com relação às Festas dos Ijasó. 94 No final dos anos 80 o toó da aldeia de Santa Isabel foi derrubado pela aldeia visitante e, segundo Toral, essa derrubada foi interpretada pelos Karajá como sinal da “perda da vitalidade e da força dos homens dessa aldeia em função de doenças, consumo de pinga e comida de tori [brancos]” (Toral, 1992: 257). 95 O exame detalhado dessas casas e sua associação aos grupos de praça será realizado adiante. Capítulo 4 121 essência têm, ao menos, o feminino como protagonista — parece perturbar a proposta de Rodrigues (1993) de se associar o feminino com o paradigma da alteridade, o exterior, o estrangeiro. Vergonha/respeito e distância social Para Pétesch, a relação individual, assimétrica, de germanidade classificatória e afinidade real é a que estaria representada nas Festas dos Ijasó. Ela destaca que as relações individuais fora dos limites da aldeia são marcadas pela terminologia de consangüinidade. É relevante notar, também, que a relação individual com uma coletividade “estrangeira” é caracterizada por uma prescrição ético-comportamental usualmente glosada como “vergonha”. Essa atitude e sua respectiva glosa não são incomuns na paisagem etnográfica do Brasil Central. A atitude de respeito manifesta como retraimento, silêncio e contenção, referida em português como “vergonha”, é recorrente nos grupos Jê, como discorreremos a seguir, e também entre os grupos alto-xinguanos (Basso, 1973; Franchetto, 1986). Prescrição definidora de um ethos nativo, ela pode ser também reconhecida pelo próprio grupo como um traço diacrítico da sua “humanidade” específica. Arutana, um cacique karajá que recebeu quase todos os antropólogos que estiveram na aldeia de Sta Isabel desde os anos 50 até os anos 90 do séc. XX, relatou a Fénelon Costa que o Karajá não seria como tori (termo que usam para designar o não-índio) que, ao chegar a um lugar “vai logo falando com todo mundo, não tem ‘vergonha’. Karajá fica quieto, calado, espera que falem com ele e só depois de algum tempo começa a conversar” (Fénelon Costa, 1978: 91). A mesma autora destaca que foi provavelmente essa “vergonha” a responsável por deixar os remadores Karajá, empregados por Fritz Krause em sua expedição, calados e cabisbaixos quando chegavam a uma aldeia que não era a sua. Krause acreditava, no entanto, que tratava de vergonha por servir a um estrangeiro. (Krause, 1943: 197). A categoria de vergonha/respeito é um tema comum na etnografia Jê. Geralmente esta categoria (pahám entre os Timbira, piâm entre os Apinayé) está fundamentalmente associada à distância social e à observância da etiqueta (cf. Da Matta, 1976: 166 e Carneiro da Cunha, 1978: 122-3). Coelho de Souza, analisando o tabu do incesto e a transformação da Capítulo 4 122 relação entre afins reais (esposos) em relações “de substância” entre os Apinayé (a partir dos dados de Da Matta), mostra que “ter pahám distingue o ser humano, mas ninguém nasce com ele; trata-se de algo que se aprende e se cultiva; assim como os mortos, os animais ou os estrangeiros, as crianças pequenas são tidas como desprovidas de pahám, bem como os ‘namoradeiros’” (Coelho de Souza, 2004: 30). Da mesma maneira, o início do casamento, entre os Karajá, é caracterizado por intensa “vergonha”. Desde o momento em que se ajoelham na esteira para ouvir os conselhos do matuari, o velho, no casamento tradicional (conhecido como harãbié, Bueno, 1987: 52), os jovens — principalmente o jovem marido — se portam de maneira muito tímida e contida em relação ao cônjuge. A consumação do casamento, sua efetivação por meio da relação sexual, demora alguns dias, ou até um mês (Dietschy, 1978). O rapaz não dorme na casa de sua esposa, e sim na Casa dos Homens nos primeiros dias após o casamento (Donahue, 1982: 151) e só passa a fazer suas refeições na nova casa a partir do nascimento do primeiro filho (Pétesch, 2000: 114). No entanto, diferentemente do proposto por Coelho de Souza para o pahám Jê, a “vergonha” Karajá não estaria exatamente na “delimitação e mediação das fronteiras entre domínios sociais diferentes [diferença geracional, sexual ou etária]” (2004: 32), simplesmente, mas na mediação dessas fronteiras quando se trata de um indivíduo frente a uma coletividade. Quando estamos diante de uma relação entre coletividades, ela toma o aspecto bastante marcado que poderíamos chamar de agressão ritualizada: “num plano coletivo e em particular cerimonial, as relações entre aldeias, ou agrupamentos de aldeias, são de natureza nitidamente mais antagonistas e são expressas através de um comportamento e uma terminologia que releva mais claramente a afinidade” (Pétesch, 2000: 207). A autora não especificou que tipo de afinidade estaria expressa no ritual Hetohokã, como o fizera para o ritual Ijasó, em que a define como uma afinidade real (cf. supra). Acreditamos que, por seu caráter de agressão, a afinidade expressa no Hetohokã seria de tipo potencial96. Ora, o Hetohokã trata exatamente de ritualizar o encontro de grupos, de coletividades distintas: aldeias anfitriã e visitante, vivos e mortos, inã e ixã. As Festas dos Ijasó, com sua orientação “centrípeta”, parece tematizar tanto relações 96 2002b. Para uma definição dos tipos de afinidade real, virtual e potencial, cf. Viveiros de Castro, [1993] Capítulo 4 123 de afinidade efetiva entre homens e mulheres, expressas nos jogos rituais, quanto as relações de afinidade ideal, expressas na dança dos ijasó (entidades tutelares) com as ijadoma (moças recém saídas da reclusão pubertária). Essa afinidade ideal, mediada pelo oferecimento de alimento é aquela testada na elaboração do mundo perfeito da aldeia do céu. Por sua vez, o Hetohokã, com sua orientação “centrífuga”, parece testar os limites da alteridade, tematizando as relações de afinidade potencial. Interessaria, aqui, retomar a terminologia proposta por Márcio Silva para interpretar as relações rituais entre os Enawene Nawe (Silva, 1998). O autor sugere interpretar as relações entre os gêneros (masculino e feminino) no contexto, segundo ele, mais “amplo” das relações de “espécie”, ou seja, as relações de mesma espécie — consangüinidade — e espécie diferente — afinidade. Na vida ritual karajá, as Festas dos Ijasó parecem elaborar as relações inter-gêneros expressas seja na afinidade ideal das dançarinas com os ijasó, seja na afinidade efetiva dos “times” de homens e mulheres que se opõem nos jogos. O Hetohokã seria elaborado segundo o idioma da afinidade potencial, das relações intra-gênero masculino ou, usando a terminologia de Silva, a relação entre a espécies diferentes, consangüíneos e afins, expressa na agressão ritualizada. Os ijoi e os arranjos cerimoniais Para além de experssar de maneira formalizada as relações dos Karajá com as dimensões de seu cosmos e, como procuramos demonstrar, formular cerimonialmente distintas formas de afinidade, a vida ritual karajá vai igualmente manifestar a operacionalidade daquilo que viemos chamando de princípios classificatórios. Formulados naquilo que denominamos arranjos cerimoniais, os princípios classificatórios vão, aqui, tomar um aspecto sociológico, classificando grupos sociais. Os arranjos cerimoniais na forma dos ijoi, os grupos de praça, parecem se revelar como particularmente iluminadores das relações entre dualismo e triadismo a partir dos Karajá. Ijoi, termo que traduzimos aqui como grupos de praça ou grupos cerimoniais, é um termo polissêmico. Definido por oposição ao espaço feminino, ixã, o ijoi seria o espaço masculino, a praça onde ocorrem os rituais. A praça, situada diante da Casa dos Homens, Capítulo 4 124 pode também ser chamada de ijoina, “o lugar dos ijoi”. Outro significado de ijoi são os ditos “grupos de praça” (Toral, 1992: 117). Os diversos autores aqui tratados concordam em afirmar que a população de uma aldeia se dividiria em dois ou mais grupos de praça97 que cooperariam competitivamente. Donahue chama essas duas unidades (mínimas) de metades patrilaterais (1982: 280). A referência aos ijoi como “metades” seria pertinente uma vez que eles se agrupam, cotidianamente, sob duas denominações abrangentes “grupo de cima”, ou montante, iboó mahãdu e “grupo de baixo”, ou jusante, iraru mahãdu. No entanto, um terceiro grupo, o grupo “do meio’, itya mahãdu, vem a perturbar essa dicotomia, sugerindo um arranjo cerimonial não mais em metades, e sim em tércias98. Dietschy (1977) mencionou a formação dos grupos de praça, caracterizando-os como endógamos e patrilineares. Segundo o autor, os Karajá teriam lhe dito expressamente que um homem deveria casar-se com a filha de outro homem do seu próprio grupo. Acreditamos que a contradição de uma regra de endogamia em presença de uma transmissão patrilinear pode ser resolvida. Especulamos que quando o autor menciona patrilinearidade estaria se referindo à transmissão do pertencimento a um grupo específico, como por exemplo, saurá (grupo da cauda do carcará), que está associado à tércia, iboó mahãdu, “ grupo de cima” (montante). Ao falar de endogamia, o autor poderia estar se referindo à endogamia de tércia, iboó, de cima, iraru, de baixo ou itya, do meio. Nesse sentido, haveria uma exogamia de grupos rituais (ijoi) ao mesmo tempo em que haveira uma endogamia de tércia. A caracterização dos ijoi, ou grupos de praça, como “grupos cerimoniais” é um tanto limitada. Se eles se tornam mais visíveis nos rituais, estão igualmente presentes na vida cotidiana99 e têm um papel fundamental nas disputas faccionais da aldeia: “Cada um dos ijoi recebe um nome, geralmente de pássaros, que designa um grupo de homens, liderados por um dinodu ou um deridu [chefia tradicional] que atua como grupo diferenciado de caça, pesca, coleta e consumo de alimentos, além, é claro, de ter funções cerimoniais bem definidas” 97 Doravante, usaremos o termo “grupos de praça” para referirmo-nos a esses ijoi, especificamente. Quando a tradução for “coletividade masculina” ou “a parte masculina do espaço da aldeia”, será dessa forma especificado. 98 Por analogia ao termo “metade”, buscamos cunhar aqui um conceito que se substituísse à expressão “uma das três subdivisões”. A preferência por tércia (do latim tertia, a terceira hora, ou a terça parte de um todo) em lugar de terça ou terço seria justificada pelo uso demasiado popularizado destes dois últimos termos. 99 Além disso, a divisão entre vida cotidiana e “cerimonial” pode revelar-se problemática e arbitrária, uma vez que muitos trechos de rituais podem ocorrer diariamente. Capítulo 4 125 (Toral, 1992: 117). No interior da Casa dos Homens, come-se agrupado segundo o ijoi a que se pertence. Segundo Toral, a situação do homem no seu ijoi particular seria um termômetro do seu prestígio na aldeia. Os líderes de uma aldeia já foram líderes em seus ijoi. Lima Filho documentou, ainda, esquemas táticos em que estão espacialmente arranjadas as posições de cada grupo. Estes esquemas eram utilizados em expedições guerreiras e, atualmente, seriam operante em caçadas rituais coletivas (Lima Filho, 1994: 130). A proposta de composição dos ijoi e seu arranjo em tércias conheceu alguma polêmica e considerável discordância nas descrições etnográficas. A existência de metades ou de tércias100 varia segundo o autor. Lipkind fala em metades em seu verbete do Hanbook of South American Indians (Lipkind, 1948). Segundo Dietschy, os grupos de praça seriam compostos exclusivamente por homens, o que contrasta com a exposição de Toral, para quem as mulheres também fazem parte dos ijoi. O pertencimento a esses grupos de praça determinaria, para a mulher, apenas seu posicionamento em determinados rituais. O agrupamento dos ijoi em metades ou tércias e sua composição são polêmicas também entre os próprios Karajá. Fénelon Costa alega que Arutana, seu principal informante, contradizia os outros índios enxergando classes de homens (segundo sua própria expressão) divididos segundo a linha paterna, da maneira que havia sido descrito por Dietschy. Os outros Karajá afirmavam que homens e mulheres estavam classificados em gente da Casa Grande e gente da Casa Pequena (Fénelon Costa, 1978: 39). Voltaremos a este ponto. As pesquisas posteriores forneceram pistas para, se não uma “resolução” da polêmica — metades ou tércias? — ao menos uma revelação da dinâmica entre dualismo e triadismo entre os Karajá. Para tanto, a fase final do Hetohokã é especialmente rica em informações. Cotidianamente, os grupos de praça parecem agrupar-se nas metades “de cima”, iboó e “de baixo”, iraru. O arranjo em tércias se tornará explícito na última fase do Hetohokã, para a qual são erguidas, no ijoina, a praça cerimonial, construções que parecem reveladoras daquele princípio triádico de classificações. Nesse caso, esse princípio triádico tomará o aspecto de um triadismo sociológico, compondo as tércias anteriormente mencionadas. Uma certa alternância entre arranjos dualistas e triádicos, antes de nos conduzir a propor uma 100 cf supra. Ressaltamos que nenhum dos autores mencionados utilizouse do termo “tércia” que cunhamos aqui. 126 Capítulo 4 “solução” entre essas duas alternativas, nos permitiria supor que aqui estaria operando uma dinâmica entre dualismo e triadismo. Iremos propor, de maneira tentativa, uma hipótese para o funcionamento desta dinâmica. Entre os Karajá propriamente ditos101 são erguidas duas casas na praça cerimonial. Uma grande, a Hetohokã (trad. Heto = casa, hokã = grande) e uma pequena, Hetoriore (trad. riore = pequeno; filho), que são associadas pelos nativos respectivamente aos grupos de cima, iboó, e baixo, iraru. O eixo de orientação das casas, naturalmente, é o rio Araguaia e, portanto, a Casa Grande fica mais à montante enquanto a Casa Pequena fica mais à jusante. É importante notar que, quando da visita da aldeia convidada, os grupos da aldeia anfitriã homogenizam-se, agrupando-se sob a alcunha de iboó, instalando-se na Casa Grande. Já os grupos da aldeia visitante se fundem e desaparecem sob a alcunha genérica de iraru, sendo instalada na Casa Pequena. Na última semana do Hetohokã, a fase mais espetacular, é construído um corredor entre as duas casas, chamado Hererawo. No interior desse “corredor” é possível conhecer os grupos cerimoniais. Os esteios que dão sustento à estrutura do corredor são ditos pertencerem aos grupos de praça. Além de ser associado a um ijoi, grupo de praça, específico, cada esteio corresponde a um dia da fase final do Hetohokã e à atividade daquele dia (caça de um animal específico, pesca). Dessa maneira, o corredor poderia ser sugerido como um calendário ritual. Segundo André Toral, a quantidade de esteios varia segundo a quantidade de grupos de praça, ijoi, existentes na aldeia. Toral observou que nas maiores aldeias, “os diversos ijoi [grupos de praça] ocupam os mesmos ‘endereços’ no Hererawo [o corredor que une as casas. Os nomes dos grupos de praça, normalmente um nome de animal, são comuns às várias aldeias]. (...) Nesse sentido cada ijoi [grupo de praça] Karajá parece poder ser agrupado dentro de uma série de espécies vegetais desde que sejam, como ele, ‘de baixo’ ou ‘do alto’” (Toral, 1992: 117). 101 A parafernália ritual Javaé será explorada adiante. Capítulo 4 127 À época das pesquisas de Hans Dietschy, nos anos 50 do séc. XX, era feita uma outra construção, no interior daquele corredor, que atualmente parece ter sido abandonada pelos Karajá. A caracterização desta construção é relevante para que possamos revelar a dinâmica do arranjo social triádico no ritual. Tratava-se de uma construção cônica no interior do corredor, chamada de Hetoweri, que Dietschy glosou como “Casa dos Mahãdu” (Dietschy, 1977: 298). Esta pequena construção encontrava-se na altura do toó, tronco erguido para as disputas interaldeãs. No caso específico javaé há algumas distinções complementares, mas que não parecem alterar o esquema fundamental. É importante informar que entre os Javaé há apenas dois grupos de praça: o Saurá (ou grupo da cauda do carcará), que é associado à montante, e à tércia de cima, iboó; e o Hirètu (grupo dos macacos), associado à jusante e à tércia de baixo, iraru. Os Javaé referem-se especialmente aos nomes desses dois grupos, sem necessariamente fazer menção às metades iboó e iraru, cima e baixo. Toral menciona ainda um terceiro grupo, os Itya, glosado como “grupo do meio” e que só seria visível em funções cerimoniais específicas. Para a ocasião do Hetohokã javaé é erguida apenas uma única Casa Grande (podendo a Casa dos Homens, servir a essa função) que reúne os três grupos, sendo que os Itya ficam em posição mediana, entre os Saurá, de cima, que ficam na ponta sul (ou montante) da casa, e os Hirètu, de baixo, que ficam na ponta norte (à jusante). Os troncos que dão a sustentação a essa casa são de espécies distintas e cada um dos grupos é dito ser o “dono” de um deles. Além disso, esta casa grande possui três portas, cada uma pertencendo a um grupo (Bauer, 1984). Observemos na figura a seguir o arranjo das construções entre os Karajá e os Javaé. 128 Capítulo 4 O detalhamento quase excessivo de nossa descrição das construções da parafernália ritual erguida por ocasião do Hetohokã é fundamental para se desvelar o arranjo triádico dos grupos de praça. É justamente aqui que encontraremos a divisão social triádica formulada enquanto discurso nativo. A terceira tércia, o “grupo do meio” (itya mahãdu), se revela no “corredor”, Hererawo, que une as Casas Grande e Pequena. A associação dos grupos de praça às construções do Hetohokã é feita pelos próprios nativos. Como mencionamos anteriormente, a existência de metades ou tércias é polêmica também entre os nativos. Discordando de todos os outros informantes, Arutana, o principal informante de Fénelon Costa, insistia na existência de três tércias e não duas metades. Arutana justificava sua afirmação exatamente fazendo menção às construções cerimoniais: “Todos os informantes, portanto, com exceção de Arutâna, mencionaram a existência de dois e não três grupos cerimoniais. Arutâna explicou que entre a Casa Grande e a Pequena seria construída a Casa do Meio, onde ficaria a gente do meio, Ituamahadô e, de fato, mais tarde foi feito um caminho coberto, ligando as duas casas; o homem que personificaria uma das máscaras de dança (...), o Ulabiehekã (Avô Grande), integraria, junto com o xandinodô [chefia tradicional, chamada de ixã dinodu ou ixã wedu] da aldeia e com outros dois moradores de Sta. Isabel, a “2a. . 129 Capítulo 4 classe” enquanto os da Casa Grande seriam a 1a; e da 3a seria a gente da Casa Pequena, de que faz parte o próprio Arutâna” (Fénelon Costa, 1978: 40). Ainda sobre o corredor que une as duas casas, Lima Filho sublinha: “...no espaço de 40m entre a Casa Grande e a Casa Pequena é construído um corredor de palha chamado Hererawo. (...) As árvores [é como ele denomina os esteios] decrescem em altura a partir da Casa Grande (...). A primeira árvore a contar da Casa Grande (...) pertence a um grupo especial de homens chamado Mahãdu Mahãdu. [A] árvore da entrada da Casa Grande e as outras duas que ficam após a árvore do Mahãdu Mahãdu pertencem aos homens de cima, os Iboó Mahãdu, e as últimas três mais próximas da casa Pequena são dos homens de baixo, os Iraru Mahãdu” (Lima Filho, 1994: 85). O autor observa ainda que os homens que fazem parte do grupo Mahãdu Mahãdu seriam oriundos tanto dos grupos de cima quanto dos de baixo (idem: 99). A título de ilustração, fornecemos a seguinte figura a partir da descrição de Lima Filho. É importante recordar que esse é apenas um exemplo e, como observou Toral, a quantidade de esteios varia segundo a quantidade de ijoi, grupos de praça, daquela aldeia. 130 Capítulo 4 A especificidade javaé sobre o pertencimento ao grupo do meio é revelada por André Toral: “Uma pessoa não se liga aos Itya como se liga aos Hirètu e Saurá. Os itya, ‘os do meio’, são um grupo formado por pessoas de outros ijoi [grupos de praça] para exercerem funções cerimoniais específicas” (Toral, 1992: 123). Hans Dietschy menciona a terceira tércia, para além de iboó e iraru, cuja existência “atual” (final dos anos 1950) o autor não pôde assegurar. Teria sido o grupo mais numeroso. O nome deste terceiro grupo de praça era Saurá, que o autor traduziu por “famílias de prestígio” (onde ura, branco, estaria fazendo as vezes de “prestígio”: “As ‘famílias’ (...) as quais traduzi a propósito do sufixo ura (‘branco’) pela perífrase ‘de prestígio’ são as ‘três classes de famílias hereditárias’ de Lipkind [referindo-se ao artigo de Lipkind no Handbook of South American Indians]: as famílias dos ‘chefes’, dos ‘xamãs’ e dos distribuidores do alimento por ocasião da festa da ‘Casa Grande’, estes últimos sendo chamados de mahãdu (‘habitantes’) ” (Dietschy, 1977: 298). É curioso que o grupo do meio tenha sido identificado por Dietschy pelo nome de Saurá. Entre os Javaé, Saurá é o nome de uma das tércias102, associado ao iboó, grupo de cima (montante) e não do meio Itya como parece sugerir a descrição de Dietschy. Entre os Karajá, Saurá é o nome de um dos grupos de praça (grupo da cauda do carcará, segundo Toral) que pertence à tércia “de cima”, iboó mahãdu. Além disso, o sufixo -ura, como vimos, é acrescido aos termos de parentesco para pai e mãe, para denominar os primogênitos paralelos em G +1. Ambos os problemas não parecer poder ser resolvidos por agora, enquanto não temos dados mais detalhados sobre as tércias javaé para proceder a uma análise comparativa mais detalhada103. O grupo do meio — itya mahãdu, para os Javaé, Mahãdu mahãdu, para os Karajá —, único grupo que compõe a terceira tércia, tem na atualidade, ao que tudo indica, uma composição intermitente. Quem seriam, afinal, os componentes desse terceiro grupo? Pétesch, Lima Filho e Toral concordam aqui que os Mahãdu mahãdu seriam os membros mais velhos 102 103 Os Javaé parecem ter apenas três grupos de praça identificados às três tércias. Está por ser feita uma comparação entre os subgrupos Karajá e Javaé que revelem as diferenças entre eles. Entre os nativos, os Javaé são reconhecidos por terem uma ritualística mais elaborada, mais “perfeita”, sua feitiçaria é considerada mais poderosa (e temida). Sobre os Xambioá, infelizmente, dispomos de escasso e fragmentário material etnográfico. 131 Capítulo 4 da aldeia. São anciãos, não participam das caçadas e pescarias rituais, mas preparam e distribuem os alimentos oriundos dessas caçadas. A comida e bebida dos Mahãdu Mahãdu é interdita aos outros dois grupos, assim como também é interdito acesso à fogueira deles que está sempre acesa junto ao esteio a eles correspondente. Essa fogueira parece ser um resquício da “casa dos mahãdu” mencionada por Dietschy, aquela pequena construção cônica (Hetoweri) que se localizava no interior do corredor na altura do toó. Os componentes do grupo do meio são os responsáveis pela distribuição ritual da caça, que curiosamente também se divide em três partes: os membros posteriores e a cabeça são dados aos Iboó Mahãdu (os de cima), os membros traseiros são dos Iraru Mahãdu (os de baixo) e o meio, parte mais gordurosa da caça, pertence aos Mahãdu Mahãdu. Ainda sobre a distribuição alimentar, comentaremos um elemento sobre o qual ainda não podemos discorrer, mas que parece também revelador da posição intermediária do grupo Mahãdu. Lima Filho, ao descrever os sete dias de atividades rituais da semana da reclusão dos jyré, os rapazes iniciandos, enumera a alimentação de cada dia. No único dia de atividade correspondente aos Mahãdu (correspondendo, igualmente, ao esteio a eles associado) a comida era peixe, os outros dias (e grupos) correspondendo à alimentação de carne vermelha. O dado é ainda residual, mas suspeitamos que ele possa informar especificidades sobre as preferências e interdições alimentares. Se o terceiro grupo mencionado por Dietschy, que parece poder ser associado ao grupo do meio, perdeu duas de suas antigas funções (chefia e ofício ritualístico), a distribuição de alimentos parece ter permanecido como de sua responsabilidade. Os dados parecem indicar uma importância conceitual ainda não revelada da distribuição alimentar, tanto em termos de atribuição ritual quanto em proibições e prescrições, para além da já exaustivamente mencionada a associação nativa entre comida e sexo. Sobre o arranjo triádico das tércias, Dietschy observa que: “Não existem metades patrilineares propriamente ditas (muito menos matrilineares ou clãs), mas três grupos patrilineares. Os Karajá foram e são principalmente tricáicos (...). Mas os ‘verdadeiros moradores’ [os Mahãdu, grupo do meio] (...) se opõem com seus privilégios aos dois outros grupos tanto quanto estes, divididos entre ‘gente de rio acima’ [iboó, montante] e ‘gente de rio abaixo’ [iraru, Capítulo 4 132 jusante] competem entre si; tal como cada aldeia se apresenta como unidade frente ao conjunto de hóspedes anfictiônicos na festa dos mortos. Temos de contar, portanto, com esta situação dialética entre dualismo e triadismo” (Dietschy, 1978: 78). Finalmente estamos em condição de propor uma comparação desta parafernália ritual com a partição cosmogônica fundamental. Dispostas verticalmente segundo a orientação do eixo do rio, as construções do Hetohokã dispõem de duas Casas (Heto). Elas são unidas entre si por um corredor (Hererawo) que parece fornecer a esta estrutura sua dinâmica propriamente temporal: o corredor opera como um calendário ritual. Além disso, o corredor parece prover a essa estrutura sua característica de marcador (diferenciador) sócio-espacial: os esteios — espaço — são associados aos grupos sociais, os ijoi. Por sua vez, o cosmo karajá é constituído de dois patamares extremos — o mundo das chuvas e o mundo subaquático — que se opõem conceitualmente a um meio — o mundo terrestre — que os une e os separa. É no patamar intermediário que o tempo tem lugar. Comparado com os reinos da imortalidade e imobilidade dos patamares extremos, o mundo terrestre é o espaço dinâmico da afinidade efetiva, da passagem do tempo, do movimento, da mortalidade. Curiosamente, a glosa do termo Hererawo como “corredor” revela a coincidência com a idéia de que o patamar intermediário é o local de passagem, onde se dá necessariamente a mobilidade. Nesses termos, acreditamos ser pertinente associar as Casas Grande e Pequena aos patamares celeste e subaquático respectivamente. O terceiro elemento que os conecta seria o corredor (Hererawo), para as construções rituais e o patamar terrestre, para a geografia cosmológica. Se o triadismo sociológico karajá é operante apenas em situações cerimoniais e não cotidianamente, se o grupo do meio é apenas intermitente, se sempre o foi ou se perdeu funções e membros com o tempo, são questionamentos que não acreditamos poder resolver por agora. Mencionamos anteriormente os privilégios e as prerrogativas dos primogênitos em diversas situações da vida social karajá. Se as potenciais chefias (como o cargo de ioló, chefe mediador de conflitos internos da aldeia) e cargos cerimoniais (tal como o deridu, dono das Festas dos Ijasó) são transmitidos apenas para primogênitos, parece plausível supor que a terceira tércia, o grupo do meio, que segundo Dietschy agrupava as famílias de chefia, oficiantes de rituais e distribuidores de alimentos, fosse composto apenas de filhos primogênitos. Isso explicaria o motivo pelo qual Dietschy os chamou de “famílias de prestígio” expressão que ele acreditava a melhor tradução para Saurá. Reconhecemos que esta Capítulo 4 133 postulação é um tanto arriscada e especulativa. Na atualidade o grupo do meio é pouquíssimo numeroso e conta apenas com os membros mais velhos da aldeia. No entanto, o status do primogênito, no passado, talvez pudesse igualar-se com o daquele dos membros senis do grupo intermediário. Já os ofícios de xamã e de cacique, “pai do povo”, aquele que, como mencionamos, exerce mediação entre diversas identidades e alteridades a elas associadas, não parecem requerer de seu oficiante a posição de primogenitura. Os rituais Hetohokã e Festas dos Ijasó parecem ativar o que Pétesch veio a chamar de as duas dimensões do cosmos karajá. Na dimensão vertical, aquela em que estão distribuídos os três patamares cósmicos, as Festas do Ijasó se destacam. Elas conectam e aproximam o três níveis cósmicos. O Hetohokã, por seu turno, se destaca na dimensão horizontal do cosmo: o patamar intermediário. Neste ritual são testados os limites da alteridade, com a qual os iniciandos são ensinados a lidar. Numa análise dos cargos de liderança tradicionais — o guerreiro, o xamã, o cacique e o oficiante do ritual —, Pétesch compara as distintas atuações de cada um. Nas palavras da autora, “O xamã e o guerreiro trabalham paralela, mas separadamente, na dupla dimensão cosmológica e ontológica do universo karajá. O primeiro reativa o campo vertical da ‘inãcidade’; o segundo amortece o campo horizontal da ‘ixãcidade’”(Pétesch, 2000: 183). O papel destacado do xamã nas Festas dos Ijasó ressalta o caráter “vertical” deste ritual, ou seja, o ritual lida essencialmente com os inã dos três níveis cosmológicos. Já a mediação efetuada pelo cacique, ixã wedu e, ainda, a presença do “guerreiro” no Hetohokã põe em destaque, mais uma vez, seu caráter “horizontal”, de relação com a alteridade, seja ela sociológica, revelada na presença de visitantes de outras aldeias, seja ela cosmológica, revelada na presença dos espíritos dos mortos. A categoria de ixã, que, como vimos, parece denotar uma alteridade terrestre, se encontra nas duas dimensões desse cosmo, seja quando significa a alteridade constituinte de todo inã que se encontra no patamar intermediário, no eixo vertical, seja quando se refere à exterioridade feminina (ixã enquanto coletivo das mulheres) ou dos inimigos, ixãju, no eixo horizontal. Como é comum entre os grupos ameríndios, “a alteridade [ixã, aqui] ou exterioridade, é interna e constituinte” (Viveiros de Castro, [1993]2002b: 150). Parece-nos razoável propor que entre os Karajá, ontologicamente, a inã engloba a ixã (ou a interioridade Capítulo 4 134 engloba a exterioridade), enquanto que sociologicamente a ixã engloba a inã. Nesse caso, representada pelo ijoi, a polaridade masculina, a parte masculina da população da aldeia. Em face da interpretação que ora propomos para o arranjo cerimonial enquanto princípio classificatório, acreditamos poder sugerir uma hipótese para explicar o funcionamento da dinâmica entre dualismo e triadismo a partir de uma perspectiva karajá. Se os regimes da sociabilidade amazônica se revelaram, na análise de Viveiros de Castro, como estruturalmente constituídas por um dualismo concêntrico, essencialmente assimétrico, em que no interior encontramos a consangüinidade e, ao afastarmo-nos dele encontramos uma graduação de formas de afinidade/alteridade, que, por fim, se revela triádica — “A oposição entre consangüinidade e afinidade, direta e indiretamente expressa nas terminologias dravidianas, funciona, então, nos sistemas amazônicos, segundo um regime concêntrico, potencialmente ternário e graduável” (2002: 134) — entre os Karajá, curiosamente, o inverso parece ocorrer. No interior do socius encontramos o que venho chamando aqui de triadismo sociológico, em que encontramos efetivamente três grupos, iboó, itya, iraru, cima, meio e baixo, respectivamente, ainda que assimétricos, com uma valorização estatutária do grupo de cima, iboó104, e uma característica de mediação do grupo do meio, itya, expresso na partição do alimento. Já se nos afastamos do “centro”, em direção à exterioridade, o regime vai se revelando menos matizado e essencialmente dualista. Ainda não seríamos capazes de precisar qual tipo de dualismo, mas tendemos a acreditar que se trataria de um dualismo concêntrico. Um exemplo paradigmático desta dinâmica seria a relação interaldeias no Hetohokã, em que os homens da aldeia anfitriã, outrora agrupados em seções de cima, meio e baixo, rearranjam-se para denominar a si mesmos de grupo de cima, iboó, recebendo com disputas rituais a aldeia visitante, também rearranjada, sob a alcunha de grupo de baixo, iraru. A assimetria é explicitada no jogo da disputa pelo toó, em que o grupo de cima deve, obrigatoriamente, vencer, impedindo a derrubada do toó, assegurando sua superioridade estatutária. Reconhecemos que esta proposta pode ser demasiado prematura. No entanto ela nos tem parecido pertinente para explicar o caso karajá. Acreditamos que os arranjos cerimoniais 104 Infelizmente não tenho como avaliar aqui a proposta de Dietschy, em que o meio é hierarquicamente superior aos outros dois, advindo daí as lideranças política e religiosa, além dos distribuidores de comida. Capítulo 4 135 karajá possam contribuir para uma compreensão mais ampla das dinâmicas entre dualismo e triadismo. A contribuição maior que o conhecimento dessas dinâmicas pode fornecer seria o refinamento dos modelos teóricos que venham a dar conta daqueles aspectos mais problemáticos do dualismo centro-brasileiro. 136 Conclusão Conclusão Após esta travessia, que consideramos desde o início uma espécie de visita orientada à etnografia karajá, nos encontramos diante da necessidade de, enfim, chegar a algum lugar. Para que o aglomerado de informações sobre os quais nos debruçamos ao longo dessas páginas seja mais que uma “miserável coleção de coisas em série” dentro de um armário de vidro, como pareciam a Karl von den Steinen as “bagatelas” de suas coleções etnográficas, é preciso que nós transportemos esses “trapos coloridos e esses vasos maravilhosos” a algures. E o lugar, assim esperamos, é o lugar dos Karajá na paisagem etnográfica americanista. A orientação primeira desta visita ao corpus etnográfico foi, como mencionamos, a tentativa de averiguar a pertinência do modelo de uma estrutura triádica, tal como proposto por Nathalie Pétesch, para o exercício da função classificatória entre os Karajá. O modelo triádico foi sugerido a partir da concepção cosmogônica fundamental que estabelece o cosmos como dividido em três camadas sobrepostas, com peculiaridades próprias que as caracterizam como essencialmente assimétricas. O modelo cosmológico pareceu-nos reproduzido morfologicamente no arranjo espacial da aldeia. Disposta verticalmente ao longo do rio, a aldeia karajá reproduz ideologicamente o cosmos. Um elemento mediano — o patamar terrestre no modelo cosmológico, a Casa dos Homens no modelo espacial — se opõe e se impõe a dois pólos associados e assemelhados — os patamares subaquático e celeste no modelo cosmológico, as partes à jusante e à montante da aldeia, no espacial — efetuando entre eles uma mediação (Pétesch, 1987, 1993a). A reprodução de um modelo em códigos tão distintos do discurso nativo, como a elaboração cosmológica e o arranjo espacial, sugeriu a busca deste modelo, pensado como um princípio classificatório, em outros lugares uma vez que “se em algum lugar há leis, estas devem existir em toda parte” (Tylor, 1871). O teste da hipótese do modelo triádico configurou-se, efetivamente, como o fio de Ariadne desta visita, mas não foi seu único eixo temático. A proposta de Patríca Rodrigues de uma associação, atribuída aos nativos, entre a idéia de feminino à alteridade, a partir da concepção de um mundo de origem puramente consangüíneo como masculino, foi Conclusão 137 responsável por nossa busca em compreender as elaborações nativas me torno das relações de consangüinidade e afinidade. Se a hipótese de Rodrigues estivesse correta, os Karajá passariam a ocupar um lugar bastante exótico na paisagem etnográfica das Terras Baixas da América do Sul, onde a associação mais típica é entre a consangüinidade e o feminino, de um lado e a afinidade e o masculino, de outro. O modelo da estrutura triádica proposto por Pétesch mostrou-se pertinente para explicar vários aspectos do universo classificatório karajá e acreditamos, inclusive, na possibilidade de sua operacionalidade se estender a domínios ainda não desvendados desse universo. Na vida ritual o triadismo toma um aspecto sociológico mais explícito. Os grupos humanos encontram-se arranjados em tércias, três subdivisões que mantêm entre si relações de cooperação e competitividade. No sistema de parentesco, o funcionamento do modelo triádico ainda não está suficientemente claro. É possível reconhecer três grupos de parentes (os pertencentes à Casa, os que pertencem ao ijoi, grupo de praça, e os que pertencem à residência conjugal do homem) que engendram fidelidades distintas e às vezes conflitantes. A dinâmica entre esses grupos ainda não foi descrita, mas podemos entrever uma certa assimetria entre eles e uma possível mediação exercida sempre por um elemento exterior. Em quase todas as manifestações do triadismo karajá encontramos um elemento exterior que parece fazer a mediação entre os dois outros elementos da tríade que, a princípio, são antagônicos. Este é, por exemplo, o caso da mediação exercida pela liderança tradicional, ixãtaby, “pai do povo”, entre os pólos espaço feminino (ixã), espaço masculino (ijoi) da aldeia. O desafio teórico que se impõe agora é o de revelar a dinâmica interna, o funcionamento do triadismo karajá e suas relações com o dualismo. Com efeito, suspeitamos que a lógica triádica seja operante no domínio “interior” do socius. Quando se trata de relações com os diversos tipos de exterior, a alteridade, a lógica classificatória parece assumir um caráter francamente dualista. Esse deslizamento entre lógicas triádicas e duais é particularmente nítido nas atividades rituais. Enquanto a atividade ritual concerne apenas a aldeia, encontramos os homens agrupados em tércias. Quando se trata de visitas e confrontos ritualizados inter-aldeias, as tércias desaparecem para dar lugar ao enfrentamento entre as metades “de cima”, a aldeia anfitriã, e “de baixo”, a aldeia visitante. Acreditamos que haja, ainda, muito a ser feito no refinamento dos modelos que dêem conta do universo Conclusão 138 classificatório karajá. Nossa abordagem às relações de consangüinidade e afinidade, relações que estão elaboradas nos diversos domínios aqui abordados (cosmologia, parentesco, ritual) em busca de averiguar a pertinência ou não da proposta de Rodrigues — que postula uma associação do feminino à alteridade —, nos conduziram a observar uma tentativa da ideologia nativa de suprimir a afinidade assimilando os afins aos consangüíneos. A afinidade, a diferença, se apresenta como um problema para o pensamento karajá. Problema que, por não poder ser resolvido, é constantemente reformulado no discurso nativo. A afinidade está ausente no mundo de origem. Sua presença, em níveis extremados parece responsável pela insatisfação total existente na aldeia dos mortos comuns. Finalmente, o “problema” da afinidade — ou a afinidade enquanto problema — parece esvair-se no mundo perfeito da aldeia celeste, mundo de plenas satisfações em que a afinidade ideal é simbolizada na dança dos ijasó com as esposas potenciais, as ijadoma. A hipótese sugerida por Rodrigues da associação do feminino à alteridade nos pareceu pertinente. Ela pode ser inicialmente verificada na ausência da noção de feminino na elaboração de um mundo puramente consangüíneo, o mundo de origem. Em segundo lugar, o espaço feminino da aldeia, quando definido por oposição ao espaço masculino, guarda uma associação com a exterioridade do socius, sendo chamado pelo mesmo termo que denota a alteridade: ixã. Nossa diferença fundamental com relação a Rodrigues é a dimensão analítica de nossas abordagens. Talvez tributária de uma tradição britânica, a autora propõe suas análises com associações imediatas entre termos e não entre relações entre eses mesmos termos, o que, a nosso ver, produz certas distorções como a de associar a relação dos aõni com os ijasó à relação conjugal. O mesmo automatismo verifica-se na maneira pela qual a autora se apropria dos discursos nativos de maneira a transformá-los imediatamente em modelos analíticos, como se nessa passagem nada se perdesse ou tivesse que se transformar, observada no caso de seu artigo mais recente (Rodrigues, 2004. Cf. Introdução da presente dissertação para uma crítica a essa abordagem da autora). No primeiro capítulo deste trabalho efetuamos uma análise de todas as etnografias karajá buscando pontos em comum entre elas que nos permitissem propor uma certa continuidade que caracterizasse esse corpus bibliográfico. Verificamos uma recorrente reivindicação dos Karajá como um “elo perdido” numa cadeia sociológica. Os Karajá 139 Conclusão pareceram, a muitos pesquisadores, poder unir dois lados de uma corrente, sejam os grupos Caribe de Ehrenreich, seja o caminho entre os Jê e os povos do Xingu, para Krause e Baldus. Recentemente, no artigo em que propõe o modelo triádico para os Karajá, Nathalie Pétesch sugeriu que esse triadismo seria um indício da posição intermediária dos Karajá entre os modelos dualistas Jê-Bororo e a “hiérbole ontológica” tupi: “Forma intermediária entre dois esquemas estruturais opostos, o modelo Karajá nos revela o potencial assimétrico e vertical do dualismo e nos permite entrever a probabilidade de uma continuidade, de uma lógica transformacional entre as estruturas Jê e Tupi. A sociedade Karajá se apresenta, afinal, como um justo equilíbrio entre um dualismo estático e uma tripartição dinâmica, uma centralidade estruturante e uma verticalidade fugaz [fuyante], uma dosagem sutil entre estatismo e movimento” (Pétesch, 1987: 90). É possível supor que a rebeldia da forma estrutural karajá seja responsável por essa posição reiteradamente anômala que ocupa nas generalizações analíticas, frente aos grupos que a cercam. Entretanto, parece-nos igualmente possível supor o contrário, que sua posição anômala seja responsável pela morfologia rebelde do modelo karajá. Na atividade comparativa que estamos ensaiando, estabelecer relações causais parece um tanto arriscado ou mesmo impertinente. O que parece importar, aqui, é a recorrência das duas características juntas: a posição anômala e a morfologia, digamos, problemática. O que, exatamente pensamos fazer quando comparamos? Estabelecemos semelhanças para verificar diferenças? Comparamos diferenças? O estudo etnológico dos grupos de língua Jê, a partir do projeto Harvard-Brasil Central mas também após ele, apresentava-se como sedutor pelas possiblidades comparativas que fornecia. Para Aracy Lopes da Silva, “Uma das possibilidades mais fascinantes do estudo das sociedades Jê é, sem dúvida, a da análise comparativa em que se pode perceber a variedade de construções sociais a partir de certos temas básicos e de um acervo de elementos recorrentes entre os vários grupos Jê. A comparação tem, ao mesmo tempo, dois produtos complementares: leva à generalização que, no caso, significa a compreensão e expressão do ‘padrão’ Jê; e permite a percepção, em cada sociedade particular, de certos aspectos que na sua configuração geral são obscurecidos ou de difícil captação 140 Conclusão mas que, em uma outra sociedade jê, têm expressão clara e privilegiada, inclusive pela importância que os próprios atores lhe conferem” (Lopes da Silva, 1986: 183). Se os modelos dualistas Jê-Bororo fizeram moda nos anos 60, quando o dualismo pareceu, à antropologia brasileira, acenar para a possibilidade de entrar para os grandes debates da disciplina, na atualidade, sua excessiva coerência interna não parece comungar com a moda “desconstrutivista” em que até a idéia de sociedade (que traria em si o pecado de supor uma mônada auto-contida) é posta em questão. O que importaria agora seriam os “fluxos”, as correntes, as redes de relações. Nesse sentido, as sociedades amazônicas parecem receber melhor a predisposição analítica a esse tipo de crítica. A atividade comparativa que nos propomos tencionaria lançar pontes que façam vencer as distâncias — teóricas — entre as áreas etnográficas do Brasil Central e da Amazônia. Reiterando a impressão geral dos karajólogos, acreditamos que o grupo Karajá ocupe uma posição intermediária entre essas duas áreas. É fundamental sublinhar que não tencionamos essencializar os termos da nossa comparação. Tanto Brasil Central quanto Amazônia são abstrações teóricas que correspondem a determinadas generalizações elaboradas a partir da constatação da recorrência de certos modelos na área que se pretende recortar. Poderia ser até mesmo temerário falar de um “tipo ideal” Jê e outro Tupi. A manifestação de uma estrutura triádica pode se revelar, segundo acreditamos, como uma das “pontes” entre Brasil Central e Amazônia. Viveiros de Castro acredita que os grupos de língua Pano sejam também uma dessas pontes: “Na Amazônia temos a prevalência do ‘dualismo’ concêntrico — a oposição diametral consangüíneos/afins está subordinada à oposição concêntrica dentro/fora. Nos Jê, temos o inverso: o dualimso concêntrico periferia/praça (etc.) está subordinado aos demais dualismos diametrais de metades (...). Os Pano ofereceriam a mediação: um dualismo diametral ainda qualificado de modo forte por valores concêntricos.” (Viveiros de Castro, 1993: 204). Reconhecemos o caráter um tanto especulativo dessa hipótese. A noção de triadismo, como já mencionamos, foi proposta por Lévi-Strauss como forma limite do dualismo concêntrico e conheceu uma polêmica desde o seu início. Em seu artigo “Les organisations dualistes existent-elles?” (1958), Lévi-Strauss se esforçara em demonstrar que 141 Conclusão “o estudo das organizações ditas dualistas revelou tantas anomalias e contradições com relação à teoria em vigor, que teríamos interesse em renunciar a esta última [teoria] e em tratar as formas aparentes de dualismo como distorções superficiais de estruturas cuja natureza real é outra e bem mais complicada” (1958: 179). O principal oponente da proposta levistraussiana de que haveria uma estrutura triádica subjacente às estruturas dualistas foi o mentor do projeto Harvard-Brasil Central, David Maybury-Lewis. Lévi-Strauss criticava, naquele clássico artigo, a idéia de que as organizações duais seriam necessariamente simétricas. Sobre esse ponto, Maybury Lewis sublinha: “concordo com a idéia de que as chamadas ‘sociedades dualísticas’ nem sempre devam ser interpretadas em termos de um único modelo simétrico. Eu não chegaria, no entanto, a substituir uma ortodoxia por outra, insistindo que [as organizações duais] devam ser interpretadas como casos limítrofes de tríades” (Maybury-Lewis, 1984: 363). Para este autor, os modelos que melhor explicariam a sociedade Xavante seriam os modelos diádicos (idem: 366). No entanto — e apesar dos debates surgidos em torno do dualismo centro-brasileiro terem sido bastante frutíferos e influentes — casos de arranjos sociais triádicos também foram relatados. Lévi-Strauss faz menção a um brevíssimo artigo de Alfred Métraux, elaborado com base em dados etnográficos coletados por Curt Nimuendaju. Métraux compara a organização social dos Kaingang de Santa Catarina105 e os do Rio Grande do Sul. Segundo Métraux, os Kaingang seriam divididos em duas metades exogâmicas (Kanyerú e Kamé), associadas a transmissão de nomes e pinturas corporais. Independente destas metades, o grupo se subdividia em quatro classes arranjadas em tércias106. Uma seria “geral” e as outras seriam consideradas cerimonialmente superiores ou inferiores àquela. As três tércias, ou “classes específicas” seriam chamadas de Paí, Votóro e Penye. Já os Awéikoma (Kaingang de Santa Catarina) seriam divididos em três grupos exogâmicos, patrilineares e não-localizados, que se considerariam, cada um, parentes de um chefe que seria um herói cultural mítico. Para Alfred Métraux, os dois sistemas estavam intimamente relacionados: “O sistema dos Kaingang é 105 À época daquela publicação fazia-se uma diferença entre os Kaingang do norte do Rio Grande do Sul dos de Santa Catarina dando a esses últimos o nome de Kaingang-Awéikoma. 106 O autor, naturalmente, não se utilizou do termo tércia, que cunhamos aqui para dar conta dos arranjos do grupo Karajá. 142 Conclusão simples e consistente; aquele dos Awéikoma está aberto à discussão, especialmente por que sua divisão tríplice seria única no Brasil” (Métraux, 1947: 150). Herbert Baldus encontrou uma divisão tripartite entre os Tapirapé com funções de realização conjunta de atividades específicas. Após o trabalho coletivo numa roça, que era feita especialmente para o tempo das chuvas, os Tapirapé apresentavam-se sob uma nítida divisão em três grupos que incluía apenas os homens da aldeia. Cada um destes grupos levava o nome de uma ave mítica (Tanavé, Ananchá e Vuiranchingó) e tinha um par de chefes. Charles Wagley acreditava que estes três grupos eram classes de idade nas quais as metades cerimoniais patrilineares se subdividiam. Baldus, no entanto, não partilhava dessa opnião. O autor faz referência à comunicação apresentada por Lévi-Strauss no 29o Congresso Internacional de Americanistas de 1949 e ao artigo de 1958 (ao qual nos referimos, cf. supra) em que foi proposta a estrutura triádica assimétrica que se apresentaria disfarçada de dualismo simétrico. Baldus, no entanto, não ensaia qualquer explicação para a divisão tríplice Tapirapé. Ele aporta dados de Hans Dietschy para uma comparação com os Karajá. Dietschy reconheceria oposições duais entre os Karajá, mas sua organização se efetuaria em três grupos de homens, endógamos e patrilineares. Baldus compara, ainda, seus dados com os de outros grupos Jê concluindo que “Com a organização karajá em três grupos de homens, os vuira [ave que dá nome aos grupos] tapirapé se parecem por serem patrilineares, dançarem enfeitados de penas e sem máscara e manifestarem a tripartição também ao comerem em três lugares distintos, tendo, porém, cada um daqueles grupos karajá um líder e não dois como os vuira. Ambas as tribos apresentam traços de dualidade cerimonial, mas não uma ordem matrimonial em metades nem classes vitalícias de idade” (Baldus, 1967: 59). Finalmente, Baldus crê que o material comparativo de que ele se utilizou “parece corroborar a suposição da tripartição não-etária dos vuira dentro da dualidade cerimonial Tapirapé” (idem). Mais recentemente, Elizabeth Ewart também se utilizou da proposta de um modelo estrutural triádico para explicar a relação dos Panará com o exterior, a alteridade107. Os Panará, grupo Jê que é cultural e lingüisticamente próximo dos Kayapó, dispõem de uma 107 Agradecemos à Vanessa Lea a indicação deste texto e o fornecimento do contato com sua autora. 143 Conclusão aldeia cirular com uma Casa dos Homens, no centro, um modelo Jê típico. Ewart se propõe a interpretar de maneira divergente daquela levada a cabo pelos Jê-ólogos do projeto Harvard as relações entre centro e periferia da aldeia: “a relação entre o centro e a periferia não é linear, o que quer dizer que o centro não é sempre relativamente mais panará [na oposição bipolar panará= gente, hipe= estranhos, alteridade] quando oposto à periferia mas, mais precisamente, em certos contextos, o centro e o exterior emergem como mais hipe [categoria nativa que denota alteridade] em relação ao espaço residencial das casas da aldeia” (Ewart, 2003: 262). A interpretação mais comum efetuada pelos Jê-ólogos é aquela que opõe o centro à periferia da aldeia associando o primeiro à cultura, ao masculino e à plena identidade social enquanto a segunda é associada à natureza e ao feminino. Ver, por exemplo, Maybury-Lewis, para quem um princípio fundamental da cultura (dualista) do Brasil Central é o de que “o centro masculino está no centro do palco. É o mundo social e o foco da vida simbólica da comunidade. Os homens, que são considerados os únicos seres totalmente sociais, entram neste mundo por meio da iniciação e através dos nomes que lhes são conferidos” (MayburyLewis, 1989: 101)108. O estabelecimento de contatos pacíficos com os brancos conduz os Panará a uma espécie de remodelamento dessas relações na forma de oposições duais. Os antigos conflitos foram substituídos por trocas e discussões que têm lugar na praça central da aldeia. Este dado leva Elizabeth Ewart a propor que os não-Panará tornaram-se parte de uma oposição modelada segundo uma organização dual de relações de metades: “pela lógica do esquema da aldeia é possível conceber a Alteridade como centralmente localizada, ou seja, situada precisamente no lugar onde a casa dos homens se localiza hoje em dia, ao invés de ser considerada somente como um aspecto do domínio externo, não social, da aldeia.” (Ewart, 2003: 270). A autora faz referência ao artigo de Dietschy que já foi aqui citado (Dietschy, 1977), e se propõe a proceder o inverso do que fizera Dietschy com o arranjo espacial da aldeia Karajá, ou seja, abrir o círculo das casas, exteriorizando seu centro: “Isto tem efeitos 108 Para uma crítica a partir dos Kayapó-Mebengokré dessa perspectiva cf Lea, 1986. Conclusão 144 profundos no modo como o centro da aldeia é percebido e já não é ‘geometricamente óbvio’ que o centro seja necessariamente o coração da cultura. Na verdade ele pode ser visto exatamente como o oposto, ou seja, o ‘coração da Alteridade’” (2003: 271). Para a autora, a oposição que ela formula revela-se como “de fato uma oposição triádica entre os clãs residenciais Panará, o centro e o exterior da aldeia” (idem: 276). Essas diferentes descrições e análises que revelam lógicas triádicas subjacentes em estruturas aparentemente duais sugerem que a proposta lévi-straussiana, aparentemente esquecida pelas análises, pode revelar-se como iluminadora dos aspectos mais problemáticos da estrutura dual. Se o caso karajá nos parece o modelo mais explícito, em que as representações ideológicas se apresentam como uma elaboração nativa desse modelo, a comparação do modelo triádico karajá com outros pode vir a iluminar as dinâmicas entre dualismo e triadismo. Se o debate percorrido ao longo dessas páginas tiver sido suficiente para o leitor ser apresentado aos Karajá pelo caminho analítico das formas de classificação e, ainda, localizar os Karajá na etnologia das Terras Baixas, teremos cumprido nosso propósito. A tarefa que se nos impõe agora é buscar resolver problemas sugeridos pelas etnografias e também pelas análises. Em primeiro lugar, acreditamos que a geografia cosmológica karajá, que foi descrita segundo a mitologia do grupo, possa nos informar algo da concepção de um espaço socializado e um espaço inculto, “selvagem”. A denominação dos espaços habitados pelos inã cosmológicos como “aldeias” — a aldeia do fundo das águas, a aldeia do céu — sugere que estes mundos sejam concebidos da mesma maneira que o patamar intermediário, morada dos humanos, inã atuais. Com efeito, os Karajá opõem duas categorias que mostram sua concepção de espaço. O termo wasã, minha família/casa, também é usado para designar “minha aldeia” e, nesse sentido seria definida por oposição a wabedé que, se num sentido estrito quer dizer cemitério, no sentido mais amplo refere-se ao espaço inculto do território, o “mato”. Bedé quer dizer, ainda, mundo e também tempo. O mundo dos mortos também é concebido como um espaço sociomórfico análogo à aldeia. Acreditamos que a exploração da concepção de espaço entre os Karajá possa ser reveladora da idéia de uma relação com o exterior, a alteridade e, por isso mesmo, iluminador da dinâmicas entre dualismo e triadismo. Conclusão 145 No sistema de parentesco encontramos, ainda, diversos problemas a serem explorados pelas futuras etnografias. O que se sobressai — e conduz aos outros problemas — são as relações entre primogênito e caçula. Se há um desnível de status em favor do mais velho, o mais novo parece uma matriz para a elaboração da amizade formal. Emergem daí algumas indagações não-triviais. Por que os amigos formais seriam mutuamente irmãos caçulas? Por que a terminologia de parentesco aproxima primogênitos, parentes paralelos e consangüíneos, de um lado, e caçulas, parentes cruzados e afins, de outro? Por que a terminologia usada por Ego feminino faz a distinção etária de irmãos e irmãs enquanto Ego maculino só diferencia a idade relativa dos germanos de mesmo sexo? A operância atual desta relação de amizade formal deveria ser averiguada e, caso confirmada sua extinção, seria relevante buscar entender quais os mecanismos que levaram ao seu desaparecimento e que relações teriam se substituído a ela. Ainda nas relações de parentesco, declaramo-nos insatisfeitos com nossa interpretação das relações entre os grupos pertencentes à Casa, ao grupo de praça e à residência conjugal de um homem. A movimentação entre esses grupos e a mediação exercida por elementos exteriores, expressa ritualmente no ato de “carregar nos ombros” sugere que a dinâmica aí operante obedeceria a um princípio triádico. No entanto, para uma análise mais precisa, falta-nos uma descrição exaustiva dos grupos envolvidos e as relações entre eles. Como se desenvolve o grupo doméstico, como as famílias estabelecem suas alianças mobilizando e captando prestígio numa aldeia? Enfim, é preciso observar estas categorias “em ação”. Se, para os Apinayé, tal como descritos por Da Matta, a saída de um homem do núcleo familiar em direção ao “exterior” obedece a uma lógica concêntrica, a movimentação de um homem karajá no mesmo sentido não está, todavia, explicada. Suspeitamos do funcionamento de uma lógica ternária. A categoria de brotyré, que reúne uma parentela bilateral ascendente em torno de uma criança, parece também ser iluminadora das relações com o exterior. Brotyré, categoria que inicialmente pensamos poder tratar como uma comunidade de substância e que tratamos, por fim, como uma “reificação” (no sentido proposto por Strathern) da relação conjugal, merece uma investigação à parte. Sua composição, que exclui os afins potenciais, sua relação com os pais da criança em torno da qual a parentela é mobilizada, sua identificação corporal e solidariedade em momentos liminares sugerem que brotyré seja uma categoria chave para a 146 Conclusão compreensão de algumas relações de parentesco e sua articulação com o idioma corporal. Mencionamos exaustivamente a analogia simbólica feita pelos nativos entre sexo e comida. Para além desta analogia, pudemos perceber uma importância da alimentação e da distribuição alimentar. A distribuição ritual da caça nos últimos dias de atividade do Hetohokã é efetuada por aqueles membros da tércia do “meio”, os Mahãdu mahãdu. Na Casa dos Homens, come-se agrupado segundo a tércia à qual se pertence. Acreditamos que essas e outras relações com a alimentação possam ser relevadoras das relações de substância entre os Karajá e também das concepções de corporalidade. Havíamos sugerido no primeiro capítulo, e reiteraremos aqui, a necessidade de uma investigação etnológica e etno-histórica que aborde as relações e a dinâmica em que se alternavam guerras, aliança e comércio entre os Karajá e os Tapirapé. O grupo Tapirapé parece se configurar como o “inimigo predileto” dos Karajá. As relações comerciais entre os dois grupos já foram bastante intensas. O principal participante sobrenatual em trechos de rituais é o “espírito de guerreiro tapirapé”, wouní. Uma investigação desta natureza pode revelar como os Karajá concebem um Outro próximo. Além disso, os Tapirapé parecem caminhar na mesma direção e em sentido contrário aos Karajá naquela “ponte” Jê-Tupi. Se os Karajá são um grupo Macro-Jê que apresenta instituições tupi e variações atípicas de instituições Jê, os Tapirapé são uma ilha tupi no mar Jê do Brasil Central. Contam com aldeia redonda e casa dos homens do centro, paisagem tipicamente Jê: “Os Tapirapé, muito possivelmente devido à influência Karajá e Kayapó, apresentam uma morfologia social de tipo “centro-brasileiro”, com segmentações globais da sociedade: grupos de idade, metades cerimoniais, grupos de festa, etc. Não obstante, tais sistemas não parecem possuir o mesmo rendimento sociológico e densidade cosmológica que seus “modelos” Macro-Jê. A baixa operacionalidade dos segmentos Tapirapé talvez não fosse, à época das pesquisas de Wagley e Baldus [autores das duas monografias tapirapé], fruto da desorganização social pós-contato, e sim um traço intrínseco dessa forma organizacional.” (Viveiros de Castro, 1986: 92). Finalmente, além dos pontos específicos aqui enumerados, não podemos nos furtar a ressaltar a necessidade da produção de uma etnografia do subgrupo Xambioá. Visitados pessoalmente por apenas dois pesquisadores — Paul Ehrenreich em 1888 e André Toral em 1982 — os Xambioá carecem de uma etnografia específica. Descritos por Ehrenreich como o 147 Conclusão grupo mais numeroso dentre os grupos Karajá109, os Xambioá foram considerados “praticamente extintos” na compilação de Lipkind para o Handbook of South American Indians (Lipkind, 1948). Segundo Lipkind, os Xambioá contariam, em 1938-9 com uma população de apenas 65 pessoas. A “exogamia radical” com a população regional permitiu aos Xambioá recuperar lentamente sua população, que atualmente soma 150 indivíduos. Questionar o que significariam e o que significam, portanto, os regionais com os quais os Xambioá se casaram, segundo a lógica classificatória xambioá, nos conduzirá necessariamente a matizar isso que aqui chamamos provisoria e apressadamente de “exogamia radical”, e conduzirá também à compreensão de como esses “brancos” são apropriados frente (em relação a) outros grupos vizinhos e outros subgrupos karajá. Os brancos não precisam necessariamente ser uma alteridade radical essencializada frente a uma suposta “alteridade relativa” interna a uma generalidade indígena. A comparação entre os subgrupos Javaé e Karajá revelou-se produtiva para a elucidação de princípios estruturais comuns que operam de maneira diferente em cada um dos grupos. Acreditamos que uma etnografia Xambioá traria elementos novos a essas análises comparativas e essa tarefa é a que tomamos para nós no próximo passo de nossas pesquisas. Poderíamos chegar aqui a uma conclusão algo paradoxal frente à assertiva que defendíamos no primeiro capítulo do presente trabalho, a de que os Karajá não foram pouco estudados. Cremos, sim, que eles foram razoavelmente estudados, tanto quanto ainda o falta serem. E talvez por isso eles tenham sido ainda tão pouco considerados, pois talvez o passo que lhes falta seja o de uma maior consideração etnológica, consideração que já foi intuída por alguns, que aqui nominalmente citamos, já que esse é o passo necessário a toda etnografia, e ele deve ser trabalhado e explicitado. A formulação de modelos interpretativos mais amplos e de problemas teóricos mais abrangentes sobre a diversidade das sociedades humanas, esse que é o trabalho da etnologia, se descuidado, assume o olhar que se lança sobre essas mesmas sociedades como uma naturalidade trivial. O debate etnológico não deve faltar nem para aqueles que apenas queiram se desculpar como bons etnógrafos. Não existe etnografia “estritamente técnica” e voluntariosa. Não existe etnografia naïf110. 109 Ehrenreich descreve quatro grandes aldeias, o que nos faz supor uma população de aproximadamente 800 pessoas. 110 Existem, quando muito, etnógrafos... ingênuos. 148 Bibliografia Bibliografia ALBERT, Bruce. 1993. “L’or cannibale et la chute du ciel: une critique chamanique de l’économie politique de la nature” in: L’Homme. 106-107: 87-119. ————— 2000. “Introdução. Cosmologias do contato no Norte-Amazônico” in: ALBERT, B. & RAMOS, Alcida R. (orgs.) Pacificando o Branco. Cosmologias do Contato no NorteAmazônico: 9-21. São Paulo: Ed. Unesp/Imprensa Oficial/IRD. ALBISETTI & VENTURELLI, 1962-1976. Enciclopédia Bororo (3 vols.). Campo Grande: Museu Regional Dom Bosco. AURELLI, Willy. 1943. Expedição à Serra do Roncador (Jornal da Bandeira Piratininga). São Paulo: Editora Universitária. ————— 1952. Bandeirantes d’Oeste. São Paulo: Edições Leia. BAER, Gerhard. 1989-1990. “Im Gedenken an Hans Dietschy (1912-1991)” in: Bulletin Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft 53-54: 7-9. BALDUS, Herbert. 1938. “Uma ponte etnográfica entre o Xingu e o Araguaia” in: Revista do Arquivo Municipal XLIII: 7-12. ————— 1948a. “Introdução” in: Paul Ehrenreich. Contribuições para a Etnologia do Brasil (in Revista do Museu Paulista vol II n. s.: 7-16). ————— 1948b. “Tribos da Bacia do Araguaia e o Serviço de Poteção aos Índios” in: Revista do Museu Paulista. vol. II. n.s.: 137-168. ————— 1954. Bibliografia Crítica da Etnologia Brasileira. São Paulo: Comissão do IV Centenário da cidade de São Paulo. ————— 1967. “Aspectos da Organização Social Tapirapé: Tripartição, Dualidade e Graus de Idade” in: Revista do Museu Paulista. n.s. vol. XVII: 49-61. ————— 1968. Bibliografia Crítica da Etnologia Brasileira. vol II. Hannover: Volkerkundliche Abhandlungen. ————— 1970. Tapirapé. Tribo Tupi do Brasil Central. São Paulo: Companhia Editora Nacional/ Editora da Universidade de São Paulo. Bibliografia 149 ————— [1937] 1979. “Mitologia Karajá e Tereno” in: Ensaios de Etnologia Brasileira. São Paulo: Companhia Editora Nacional. BASSO, Ellen B. 1973. The Kalapalo Indians of Central Brazil. Nova Iorque: Holt, Rinehardt and Winston. BAUER, Matthias. 1984. Das Heto-Hokã der Karajá in S. Isabel im Jahr 1984. Manuscrito. BONILLA JACOBS, L. O. 2000. Reproduzindo-se no Mundo dos Brancos: Estruturas Karajá em Porto Txuiri. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: Museu Nacional UFRJ. BUENO, Marielys S. 1975. Macaúba- Uma aldeia Karajá em contato com a civilização. Dissertação de Mestrado. Goiânia: Universidade Federal de Goiás. ————— 1987. A Mulher Karajá de Macaúba. Tese de doutorado. São Paulo: Universidade da São Paulo. CÂNDIDO DE OLIVEIRA, Haroldo. 1949. Índios e sertanejos do Araguaia. Diário de Viagem. São Paulo: Melhoramentos. CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. [1968] 1978. “Problemas e Hipóteses relativos à Fricção Interétnica” in: ————— Sociologia do Brasil Indígena: 83- 131. Brasília/Rio de Janeiro: Ed. UnB/ Tempo Brasileiro. CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. 1978. Os mortos e os outros: Uma análise do sistema funerário e da noção de pessoa entre os índios Krahó. São Paulo: Hucitec. CASTRO FARIA, Luis de. 1959. A figura humana na Arte dos índios Karajá, Rio de Janeiro: Museu Nacional. ————— 1998. “Maria Heloísa Fénelon Costa (1927-1990)” in: Antropologia - escritos exumados. Espaços circunscritos - tempos soltos 1: 253-260.Niterói: EdUFF. CHAIM, Marivone M. 1974. Aldeamentos Indígenas na Capitania de Goiás (1749-1811), Goiânia: Oriente. COELHO DE SOUZA, Marcela. 2002. O traço e o círculo. O conceito de parentesco Jê e seus antropólogos. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: Museu Nacional - UFRJ. ————— 2004. “Parentes de sangue: Incesto, Substância e Relação do pensamento Timbira” in: Mana, Estudos de Antropologia Social (10)1: 25-60. COLBACCHINI, Antonio & ALBISETTI, Cesar. 1942. Os Boróro Orientais. Orarimogodogue Bibliografia 150 do Planalto Oriental de Mato Grosso. São Paulo: Companhia Editora Nacional. D’ANVILLE, Jean Baptiste Bourguignon. 1779. A map of South America containing TierraFirma, Guyana, New Granada, Amazonia, Brasil, Peru, Paraguay, Chaco, Tucuman, Chili and Patagonia from Mr. d’Anville with several improvements and additions and new discoveries. Londres: Rob Sayer and Jno. Bannet. DA MATTA, Roberto. 1976. Um mundo dividido: a estrutura social dos indios Apinayé. Petrópolis: Vozes. DESCOLA, Philippe. 1992. “Societies of nature and the nature of society” in: KUPER, Adam. Conceptualizing Society: 107-126. Londres: Routledge. DIETSCHY, H. 1960. “Note à propos des Danses des Carajá. ‘Pas de deux’, Amitié formelle et Proibition de l’inceste” in: Bulletin de la Société Suisse des Américanistes 19: 1-15. ————— 1963. “Le système de parenté et la Structure sociale des indiens Carajá” in: Actes du VIe Congrès International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques. II. (1). pp. 43-47. ————— 1977. “Espace Social et ‘Affiliation par Sexe’ au Brésil Central (Karajá, Tapirapé, Apinayé, Mundurucu)” in LVIIe Congrès Internationale des Américanistes (Actes...) vol. II: 297-308. Paris: Societé des Américanistes. ————— 1978. “Graus de Idade entre os Karajá do Brasil Central” in Revista de Antropologia 21: 69-85. DONAHUE, Georges R. 1982. A contribution to the ethnography of the Karajá Indians of Central Brasil Tese de Doutorado, University of Virginia, Fairfax:Virginia. DRUMMOND, Antonio M. V. de. 1848. “Observações” (ao Roteiro de Viagem... etc. - ver Francisco de Paula RIBEIRO) in Revista Trimensal de História e Geographia (ou Jornal do Instituto Historico e Geographico Brasileiro) tomo X: 15-80. EHRENREICH, Paul. 1894. “Materialien zur Sprachkunde Brasiliens I: Die Sprache der Karajá (Goyaz)” in Zeitschrift für Ethnologie XXVI: 49-60. ————— [1891] 1948. “Contribuições para a etnologia do Brasil” in Revista do Museu Paulista v. 2, n.s.: 7-135. ELLIOT, John H. 1992. “De Bry y la imagen europea de América” in Theodor de Bry. América: 7-13. Madrid: Siruela. (Edição da obra de 1590-1634, a cargo de Gereon Sievernieh). Bibliografia 151 EWART, Elizabeth. 2003. “Lines and circles: images of time in a Panara village” in The Journal of the Royal Anthropological Institute (9) 2: . FALAISE, Rayliane de la. 1939. Carajá... kou! Trois ans chez les indiens du Brésil. Paris: Plon. FÉNELON COSTA, Maria Heloísa. 1979. A arte e o artista na sociedade karajá. Brasília: FUNAI FERREIRA, Manoel Rodrigues. 1960. O Mistério do Ouro dos Martírios. São Paulo: Melhoramentos. ————— 1977. As Bandeiras do Paraupava. São Paulo: Secretaria da Cultura - Prefeitura do Município de São Paulo. FONSECA, José Pinto da. [1847] 1867. “Carta” (ao Exmo. General de Goyazes, dando-lhe conta do descobrimento de duas nações de índios... etc). in Revista Trimensal de História e Geographia (ou Jornal do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil) tomoVIII, segunda edição: 376-390. FRANCHETTO, Bruna. 1986. Falar Kuiukuro. Estudo Etnolingüístico de um grupo Karibe do Alto Xingu. Rio de Janeiro: PPGAS - Museu Nacional - UFRJ. Tese de Doutorado. HÉRITIER, Françoise 1989. “Masculino/feminino” in ————— (org.). Parentesco: . (Enciclopédia Einaudi vol. 20). Lisboa: Imprensa Nacional / Casa da Moeda. HERMANNSTÄDTER, Anita. 2002. “Eine vergessene Expedition. Wilhelm Kissenberth am Rio Araguaya 1908-1910” in Deutsche am Amazonas. Forscher oder Abenteuerer? Expeditionen in Brasilien 1800 bis 1914: 106-131. Berlim: Lit Verlag. HORNBORG, Alf. 1988. Dualism and Hierarchy in Lowland South America. Trajectories of Indigenous Social Organization. Stocolmo: Almquist & Wiksell. (Uppsala Studies in Cultural Anthropology 9). JANSON, Horst W. 1986. History of Art. Nova Iorque: Harry N. Abrams. 3a edição. KARASCH, Mary. [1993] 1998. “Catequese e Cativeiro. Política indigenista em Goiás: 17801889”. in: CARNEIRO DA CUNHA, Manoela (org). História dos índios no Brasil: 396412. São Paulo: Companhia das Letras. KISSENBERTH, Wilhelm. 1912. “Über die hauptsächichsten Ergebnisse der Araguaya-Reise” in Zeitschrift für Ethnologie 44: 37-59. KRAUSE, Fritz. 1910a “Minha incursão investigadora à Região Central do Araguaia” in: Bibliografia 152 Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. LXXXIII: 261-275. ————— 1910b “Tanzmaskennachbildungen vom Mittleren Araguaya (Zentralbrasilien)” in Jahrbuch des Städtischen Museums für Völkerkunde zu Leipzig. vol. III: 97-122. ————— 1911. “Die Kunst der Karajá Indianer (Staat Goyaz, Brasilien)” in Baessler Archiv II(1): 1-31. ————— 1925. “Beiträge zu Ethnographie des Araguaya-Xingu-Gebietes” in XXI Congrès International des Americanistes (Analles...). Göteborg: Göteborg Museum. ————— 1940-1943. “Nos Sertões do Brasil” in: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo. nrs. 66-75. LEA, Vanessa. 1986. Nomes e nekrets entre os Kayapó: uma concepção de riqueza. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro; Museu Nacional- UFRJ. ————— 1993. “Casas e Casas mebengokré”. in: VIVEIROS DE CASTRO. E & CARNEIRO DA CUNHA. M. (orgs.). Amazônia. Etnologia e História Indígena. São Paulo: Fapesp/ NHII. LEITE MORAES, Joaquim de Almeida. [1883] 1999. Apontamentos de Viagem. São Paulo: Companhia das Letras. (Edição a cargo de Antônio Cândido). LELONG, Maurice. 1953. Le fleuve des Carajás. Paris: Éditions Juillard. LEROI-GOURHAN, André. 1965. Préhistoire de l’art occidental. Paris: Mazenod. LÉRY, Jean de. [1578] 1960. Viagem à Terra do Brasil. São Paulo: Martins. (Edição de Sérgio Millet e Plinio Ayrosa, a partir da edição framcesa de Paul Gaffarel). LÉVI-STRAUSS, C. 1958. Antropologie Structurale. Paris: Plon. ————— 1974. “Introdução à obra de Marcel Mauss” in: Marcel Mauss. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Edusp. ————— [1962] 1976. Totemismo Hoje. São Paulo: ed. Abril Cultural (col. Os Pensadores, vol. L). ————— 1982. As Estruturas Elementares do Parentesco. Petrópolis: ed. Vozes ————— [1991] 1993. História de Lince. São Paulo: Companhia das Letras ————— [1964] 2004. Mitológicas vol 1: O Cru e o Cozido. São Paulo: Cosac & Naify LIMA FILHO, M. F. 1994. Hetohokÿ, um rito karajá. Goiânia: Ed. UCG. Bibliografia 153 ————— 2001. “A Fundação Brasil Central: o Fio da História e outras Cosmologias no Médio Araguaia” in: Revista de Divulgação Cinetífica (IGPA) 4: 37-66. LIPKIND, William. 1940. “Carajá Cosmography” in The Journal of American Folklore. vol. LIII. New York. pp. 248-251. ————— 1948. “The Carajá” in J. Steward (org.). Handbook of Southe American Indians. v. 3: 179-191. Smithsonian Institution, Washington. LOPES DA SILVA, Aracy. 1986. Nomes e amigos: da prática xavante a uma reflexão sobre os Jê. São Paulo: FFLCH-USP. LOWIE, Robert. 1941. “A note on the Northern Gê tribes of Brazil” in American Anthropologist XLIII: 188-196. ————— 1943. “A note on the northern Kayapó” in American Anthropologist XLV: 633-635. MACHADO, Othon Xavier de Brito. 1947. Os Carajás (Inan-son-werá). Rio de Janeiro: Conselho Nacional de Proteção aos Índios - Ministério da Agricultura. MAUSS, M. 1974. “O ensaio sobre a dádiva” in ————— Sociologia e Antropologia vol. II. São Paulo: EPU/Edusp. MAYBURY-LEWIS, David, 1984. A sociedade Xavante. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora. ————— 1989 “Social theory and social practice: binary systems in central Brazil” in: The Attraction of Opposites: Thought and Society in the Dualistic Mode. The University of Michigan Press. MÉTRAUX, Alfred. 1947. “Social Organization of the Kaingang and Awéikoma according to Curt Nimuendaju’s unpublished data” in American Anthropologist. n.s. 49: 148-151. MICELLI, Paulo (org. ) 2002. O Tesouro dos Mapas. A Cartografia na Formação do Brasil. São Paulo: Instituto Cultural Banco Santos. MOREL, Edmar. 1944. E Fawcett não voltou. Rio de Janeiro: Edições “O Cruzeiro”. NIMUENDAJU, Curt Unkel. 1939. The Apinayé. Washington: Catholic University of America Press. ————— 1942. The Serente. Los Angeles: Frederick Webb Hodge Anniversary Publication Fund. ————— 1946. The Eastern Timbira. Berkeley e Los Angeles: University of California Press. Bibliografia 154 PADBERG-DRENKPOL, J.A. 1926. “Situação histórico-cultural dos Karajá” in Boletim do Museu Nacional: 71-82. PALHA, Frei Luiz. 1942. Índios Curiosos ... Lendas, Costumes, Língua acompanhado de Ensaio de Gramatica e Vocabulario da língua Karajá, falada pelos índios remeiros do rio “Araguaia”. Rio de Janeiros (?): Gráfica Olímpica/ Missão Dominicana do Brasil/ Prelazia de Conceição do Araguaia (?). PARAÍSO, Maria Hilda. 1993. “Os Botocudos e sua trajetória histórica” in Manuela Carneiro da Cunha (org.). História dos índios no Brasil: 413-430. São Paulo: Companhia das Letras. PÉTESCH, Nathalie. 1987. “Divinités Statiques, hommes en mouvement. Structure et dynamique cosmique et sociale chez les indien Karajá du Brésil Central”. in Journal de la Société des Americanistes LXXIII: 75-92. ————— 1992. La Pirogue de Sable - Modes de représentation et d’organization d’une societé du fleuve: les Karajá de l’Araguaia (Brésil Central). Tese de Doutorado, Université de Paris X, Paris. ————— 1993a. “A trilogia Karajá: sua posição intermediária no continuum Jê-Tupi” in: E. Viveiros de Castro & M. Carneiro da Cunha (orgs). Amazônia. Etnologia e História Indígena. 365-382. São Paulo: NHII-USP/FAPESP. ————— 1993b. “L’enfant-maître et le bien-enfant. A propos de la possesion-filiation chez les indiens Karajá d’Amazonie brésilienne” Annales de la Fondation Fyssen 8: 83-90. ————— 2000. La Pirogue de Sable. Pérénnité cosmique et mutation sociale chez les Karajá du Brésil central. Louvain/Paris: Peeters/Selaf. RADCLIFFE-BROWN, R. R. 1952. Structure and Function in Primitive Society. Londres: Routledge & Kegan Paul Ltd. RIBEIRO DA SILVA, Hermano. 1948. Nos Sertões do Araguaia. Narrativa da expedição às glebas bárbaras do Brasil Central. São Paulo: Edições Saraiva. RODRIGUES, Patrícia. 1993 O Povo do Meio. Tempo, Cosmo e Gênero entre os Javaé da Ilha do Bananal. Dissertação de Mestrado: Universidade de Brasília. ————— 1995. “Alguns aspectos da construção do gênero entre os javaé da ilha do Bananal” in Cadernos Pagu 5: 131-146. ————— 2004. “O povo do meio: uma paradoxal mistura pura” in: Revista de estudos e Bibliografia 155 pesquisas (Funai) 1(1): 11-63. SCHADEN, Egon. 1969. Aculturação Indígena. São Paulo: Livraria Pioneira Editora. SEEGER, Anthony. [1975] 1980. “Corporação e corporalidade: ideologias de concepção e descendência.” in Os índios e nós. Estudos sobre Sociedades Tribais Brasileiras: 127132. Rio de Janeiro: Editora Campus. SEEGER, Anthony, DA MATTA, Roberto & VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 1987. “A construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras” in João Pacheco de Oliveira Fº (org.). Sociedades Indígenas e Indigenismo no Brasil: 11 a 29. Rio de Janeiro: UFRJ/ Ed. Marco Zero. SEGURADO, Rufino Theotonio. 1848. “Viagem de Goyaz ao Pará” in: Revista Trimensal de Historia e Geographia (ou Jornal do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro) tomo X: 178-212. SILVA, Márcio. 1995. “Sistemas dravidianos na Amazônia: o caso waimiri-atroari” in Eduardo B. Viveiros de Castro (org.). Antropologia do Parentesco. Estudos Ameríndios: 25-60. Rio de Janeiro: Editora UFRJ. ————— 1998. “Masculino e feminino entre os Enawene-Nawe” in Revista Sexta-Feira 2: 162-173. SILVA E SOUSA, Pe. Antonio da. [1812] 1849 “Memória sobre o descobrimento, governo, população e cousas mais notaveis da Capitania de Goyaz” in Revista Trimensal de Historia e Geographia (ou Jornal do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro) tomo XII: 429-510. STADEN, Hans. [1557] 2000. Duas Viagens ao Brasil. São Paulo: Beca. (Reedição da tradução de 1900, de Alberto Löfgren, feita a partir do original de Marburg). STEINEN, Karl von den. 1905. “Gedächtnisrede auf Adolf Bastian” in: Zeitschrift für Ethnologie 37: 1-2. STEWARD, Julian (org). 1946-1959. Handbook of South American Indians (7 vols.). Washington: Smithsonian Institution. STRATHERN, M. 1999. Property, Substance and Effect: anthropological essays on persons and things. Londres: Atlone. TAVENER, Cristopher. 1973. “The Karajá and the Brazilian frontier” in: Daniel Gross. (ed.) People and Cultures of Native South America. Nova Iorque: The American Museum of Bibliografia 156 Natural History. THIEME, Inge. 1993. “Karl von den Steinen: Vida e Obra” in: PENTEADO, Vera Coelho. (org).Karl von den Steinen: Um século de Antropologia no Xingu. São Paulo: EdUSP. TORAL, André 1992. Cosmologia e Sociedade Karajá. Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro: Museu Nacional – UFRJ. TYLOR, Edward. 1871. The origins of culture, Part 1 of Primitive Culture. Nova Iorque e Evanston: Harper and Row. VÁSQUEZ, W. 1959. Los Karayá: Una sociedad ágrafa. Montevideo: Universidad de la República. VELHO, Otávio Guilherme. [1976] 1979. Capitalismo Autoritário e Campesinato. São Paulo, Rio de Janeiro: DIFEL. VILAÇA, Aparecida. 1996. “Cristãos sem fé: alguns aspectos da conversão entre os Wari’ (Pakaa Nova)” in Mana 2(1): 109-137. VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 1986. Araweté. Os deuses canibais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. ————— 1993. “Alguns aspectos da afinidade no dravidianato amazônico” in Manoela Carneiro da Cunha & Eduardo Viveiros de Castro (orgs.). Amazônia: Etnologia e História Indígena: 149-210. São Paulo: Fapesp/NHII. ————— 1996. “Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio” in Mana. Estudos de Antropologia Social 2(2): 115-144. ————— 1999. “Etnologia brasileira” in Sérgio Micceli (ed.). O que ler na ciência social brasileira (1975-1995) vol. 1 (Antropologia). São Paulo: ANPOCS ————— 2002. “Atualização e contra-efetuação do virtual: o processo do parentesco” in —— ——— A Inconstância da Alma Selvagem: 401-455. São Paulo: Cosac & Naify. ————— [1993] 2002a. “O mármore e a murta: sobre a incosntância da alma selvagem” in — ———— A Inconstância da alma selvagem: 181-264. São Paulo: Cosac & Naify. ————— [1993] 2002b. “O problema da afinidade na Amazônia”. in ————— A Inconstância da Alma Selvagem: 87- 180. São Paulo: Cosac & Naify. WELPER, Elena. 2002. Curt Unckel Nimuendaju: um capítulo alemão na tradição etnográfica brasileira. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: PPGAS- Museu Bibliografia 157 Nacional- UFRJ. WÜST, Irhmild. 1975. “A cerâmica Karajá de Aruanã” in Anuario de divulgação científica (Univ. Católica de Goiás) 2: 91-165. ————— 1996. Vistoria de um sítio arqueológico em São Félix do Araguaia, Mato Grosso. Relatório à 14a CR do IPHAN, Brasília. WUSTMANN, Erich. 1959. Karajá. Indianer von Rio Araguaia. Leipzig: Neumann Verlag. 158 Apêndice I Apêndice I Vocabulário de termos nativos Aderanã – Mulher que violou certas regras rituais, tais como “descobrir” os segredos masculinos da Casa dos Homens, ou não permanecer suficientemente imóvel durante a reclusão pubertária. Glosada pelos nativos como “prostituta”, por sua presumida condição de imoralidade, repercutida sobre o domínio sexual. Adusidu – Dançarinas. Moças que acompanham a dança dos ijasó Ahana Obira – Mundo Terrestre. Patamar intermediário do cosmo karajá. Traduzido como “mundo aqui de fora”. Aõní – 1) “Significante flutuante” (cf. Lévi-Strauss, 1974), que se opõe à ausência de significação, designando coisas de natureza desconhecida. 2) Categoria geral de seres cosmológicos habitantes dos três paamares cosmológicos. 3) Categoria específica de seres cosmológicos, “monstro canibal”. Bedé – 1) Espaço, Mundo e Tempo; 2) Espaço “inculto” de um território, “mato”. Berehatxi – Nível subaquático ou mundo das águas. Patamar inferior do cosmos karajá, localizado atrás do fundo das águas. Mundo de origem dos inã (humanos) atuais. Habitat preferencial dos ijasó. Traduzido como: bero = água, hatxi= profundezas. Biú – Nível celeste ou mundo das chuvas. Patamar superior do cosmos karajá. Destino post-mortem das almas dos xamãs e seus familiares. Morada de seres como o demiurgo, Kynyxiwé, e Xiburé. Brotyré – 1) Categoria dos parentes que se reúnem quando do nascimento de uma criança, com o objetivo de assegurar ritualmente seu crescimento saudável. É constituída pelos parentes bilaterais nas gerações ascendentes à da 159 Apêndice I criança, com exceção dos pais, a quem cabe fazer pagamentos em forma de presentes por essa participação ritual dos brotyré; 2) Nome do próprio presente que é dado aos parentes, “dádiva”. Deridu – Criança de família de prestígio. Primogênito. É dito ser o “dono” das Festas dos Ijasó. Prerrogativa transmitida tradicionalmente de pai para filho. Hererawo – Corredor que une as casas Grande e Pequena, erguido na última semana do Hetohokã. Hetohokã – 1) Casa (heto) Grande (hokã), construção erguida por ocasião do ritual de mesmo nome; 2) Ritual que culmina com a aceitação pública dos jyré na Casa dos Homens. Hetokré – Casa dos Homens. Hetoriore – Casa (heto) Pequena (riore). Construção erguida por ocasião do ritual Hetohokã. Hetoweri – Pequena casa cônica que à época das pesquisas de Dietschy era erguida no interior do Hererawo na altura do toó. Também chamada de casa dos mahãdu. Pertencia ao grupo do meio, mahãdu mahãdu. Não é mais construída atualmente. Hirari Hirarina – Categoria de idade das meninas às vésperas da menarca. – “Lugar das hirari”. Termo usado para definir o lugar das mulheres na aldeia. Definido por oposição ao ijoina. Ijadoma – Categoria de idade das moças recém saídas da reclusão pubertária e em idade de se casar. Ijasó – Seres cosmológicos habitantes preferencialmente do Berehatxi. Entidades cosmológicas protetoras. Antepassados dos inã atuais. Ijasó Anarakã – Festa/dança dos Ijasó. Ijoi Ijoina – 1) Coletividade masculina da aldeia; 2) grupo de praça ou grupo cerimonial. – “Lugar dos ijoi”. Praça cerimonial, localizada na frente da Casa dos Homens. Definido por oposição ao hirarina ou à ixã. 160 Apêndice I Ijesu – Luta corporal masculina, semelhante ao uka-uka alto-xinguano. Inã – Auto-designação dos Karajá. “Gente”, “nós mesmos”. Também é a terceira pessoa do plural. Ioló – Cargo tradicional de chefia que se transmite em gerações alternadas (de avô para neto), sempre entre primogênitos. Criado enclausurado, treinado para assumir o cargo, que consiste fundamentalmente em apaziguar disputas internas da aldeia. Ixã Ixãju – 1) Alteridade; 2) parte feminina da aldeia (a fileira de casas residenciais). – 1) Porco queixada; 2) grupos inimigos; 3) grupo humano ligado a um território. Jyré – 1) Categoria de idade dos garotos que estão passando pela iniciação masculina. 2) ariranha. Kynyxiwé – Demiurgo Karajá. Kuni – Alma de uma pessoa que tenha morrido assassinada, de morte violenta ou que não tenha sido beneficiada por um sepultamento adequado. Matuari – Velho. Categoria de idade dos homens idosos. Senadu – Velha. Categoria de idade das mulheres idosas. Toó – Mastro erguido na praça cerimonial para a segunda visita ritual do Hetohokã. Alvo de uma disputa entre os membros da aldeia visitante e os da aldeia anfitriã. Wabedé – 1) Cemitério físico, local onde estão enterrados os mortos; 2) “aldeia dos mortos”, local onde moram as almas dos mortos: kuni e worasã. Pertecente ao nível terrestre. Worasã Xiburé – Alma da pessoa que teve uma morte considerada “normal”. – 1) Entidade cosmológica habitante do patamar superior do mundo das chuvas; 2) Adjetivo que denota como as coisas acontecem “magicamente” no terceiro patamar. 161 Apêndice II Apêndice II Diagramas de parentesco Apêndice II 162 Apêndice II 163 Apêndice II 164 Apêndice II 165
Download