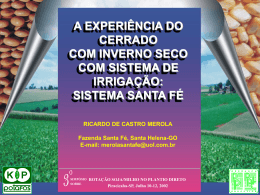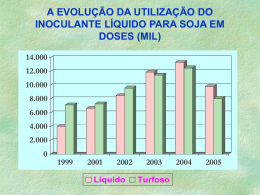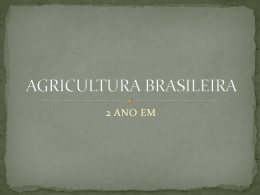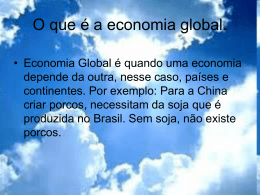AS TRANSFORMAÇÕES DA AGRICULTURA DO SUDOESTE DE GOIÁS: DA AGROPECUÁRIA EXTENSIVA A FORMAÇÃO DE CLUSTER DE GRÃOS Izula Luiza Pires Bacci Pedroso Mestranda em Geografia pelo Instituto de Geografia – UFU 208 Sul Alameda 15 lote 08 Bloco C Apto. 117 – Palmas – TO E-mail: [email protected] Antenor Roberto Pedroso da Silva Professor e Coordenador dos cursos da Área de Gestão Escola Técnica Federal de Palmas – TO Mestrando em Agronegócios – UFG 208 Sul Alameda 15 Lote 08 Bloco C Apto 117 – Palmas – TO e-mail: [email protected] Área Temática: Sistemas Agroalimentares e Cadeias Agroindustriais Forma de Apresentação: Apresentação com presidente da sessão e presença de um debatedor AS TRANSFORMAÇÕES DA AGRICULTURA DO SUDOESTE DE GOIÁS: da agropecuária extensiva a formação de cluster de grãos RESUMO Após 1960, a modernização da agricultura através das políticas públicas de incentivos fiscais, proporcionou profundas modificações no campo brasileiro. O Estado de Goiás, em especial a microrregião do Sudoeste de Goiás, através dessas políticas, foi uma das áreas que sofreu profundas alterações em sua base agrícola, mudando toda a dinâmica regional. A microrregião, nos últimos cinco anos, vem se consolidando como importante pólo de crescimento agroindustrial, alavancada principalmente por suas atividades agropecuárias, produção de soja, algodão, arroz, milho, carne bovina, suína e de frango, proporcionando de maneira geral as condições para a formação dos chamado cluster. Palavras-chave: modernização da agricultura, agroindústria e cluster de grãos. ABSTRACT After 1960, the agriculture modernization through the public politics of fiscal incentives, provided deep modifications in the Brazilian field. The Goias State, the small area of the Southwest of Goias especially, through those politics, one of the areas that suffered deep alterations in your agricultural base was especially, changing the whole regional dynamics. The small area, in the last five years, is consolidating if as important pole of growth agro industrial, motivated mainly for your agricultural activities, soy production, cotton, rice, corn, bovine meats, pork and of chicken, providing the conditions in a general way for the formation of the calls cluster. Key words: modernization of the agriculture, agro industry and grains’ cluster. AS TRANSFORMAÇÕES DA AGRICULTURA DO SUDOESTE DE GOIÁS: da agropecuária extensiva a formação de cluster de grãos INTRODUÇÃO O desenvolvimento do Estado de Goiás, nos últimos vinte anos, é inegável, principalmente da região Sudoeste que tem na agricultura o seu principal setor de crescimento. No entanto é preciso relembrar que o desenvolvimento do Estado de Goiás deve ser analisado juntamente com o processo de crescimento da Região Centro-Oeste, que até as décadas de 1950 e 1960 era vista como “celeiro” na qual sua função era produzir matérias-primas e produtos de necessidade básica para o restante do país. A partir da década de 1960, através da Revolução Verde e com o novo pacote tecnológico, que agricultura brasileira vinha consolidando em função do novo alcance das fronteiras agrícolas e pela utilização de novas tecnologias como maquinário, fertilizantes e defensivos, é que a Região Centro-Oeste inicia seu processo de crescimento através das políticas públicas, tendo o Estado como importante definidor de fundos necessários para sua execução. Esse crescimento fez com que a Região Centro-Oeste deixasse de ser uma região tipicamente de fronteira para se tornar uma área de produção agroindustrial e se integrar na nova dinâmica econômica do país. O crescimento do Centro-Oeste tem sido alavancado por diversos pólos de crescimento espalhados pela região. Um dos mais expressivos é o da microrregião do Sudoeste de Goiás, cujo principal município é Rio Verde, que tem entre as suas principais atividades agropecuárias a produção de soja, algodão, arroz, milho, carnes bovina, suína e de frango. Assim, esse trabalho tem por objetivo apresentar através do levantamento bibliográfico, as transformações agropecuárias, principalmente as agrícolas, em uma das novas regiões consideradas como importante pólo de crescimento agroindustrial, o Sudoeste de Goiás, sendo palco de grandes e profundas modificações sócio-espaciais nos últimos trinta anos, com destaque para a formação do cluster de grãos da microrregião sediada pelo município de Rio Verde. No primeiro item, caracterizamos as transformações que o Sudoeste Goiano sofreu nos últimos e o importante papel dos incentivos que o Estado promove. No segundo item, tecemos algumas considerações sobre o processo agroindustrialização e a influência das políticas públicas para o desenvolvimento regional. No terceiro item, abordamos as condições gerais para a formação de cluster e definimos segundo alguns autores o que seria um cluster. Caracterização e transformações da agricultura do Sudoeste de Goiás. O recente desenvolvimento do Estado de Goiás deve ser compreendido dentro do próprio processo de crescimento da região Centro–Oeste, que desde a década de 60 sofreu uma forte e acelerada mudança em sua base produtiva. Para que esse desenvolvimento fosse possível, a presença do Estado se tornou fundamental, como provedor das políticas públicas e dos fundos necessários para a sua execução, através do Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Centro-Oeste (PLADESCO), Programa de Desenvolvimento do Cerrado (POLOCENTRO), Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e outros programas. Sendo assim, o entendimento do processo de desenvolvimento capitalista do Estado de Goiás deve ser analisado a partir da era Vargas, que em seu primeiro mandato se preocupava com a expansão da fronteira agrícola e exploração territorial, vendo na região Centro-Oeste essa grande possibilidade para sustentar o desenvolvimento das regiões Sul e Sudeste. Mais tarde esse período pode ser analisado como a “Marcha para o Oeste”, onde o Estado de Goiás mais especificamente, seria o estado fornecedor de alimentos e matéria-prima para o restando das regiões mais industrializadas do país (FERREIRA e FERNANDES FILHO, 2003). A construção de Brasília e a conseqüente transferência da capital federal, juntamente com a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), requereram pesados investimentos em infra-estrutura, gerando a criação de novos empregos e grandes oportunidades de investimentos privados na região. Esse desenvolvimento regional teve como determinante a intervenção estatal, que tinha como objetivo diminuir as desigualdades regionais. Desta forma foram implementadas diversas políticas públicas de desenvolvimento regional, onde pode se destacar o incentivo a expansão da fronteira agrícola. Com a incorporação das áreas de cerrado na expansão da fronteira agrícola, e com o novo padrão tecnológico da Revolução Verde, culturas que até então não eram comuns nesta região, como é o caso da soja, foram introduzidas substituindo o antigo padrão praticado nas áreas de cerrado: pecuária extensiva e produção de alimentos básicos. Segundo os dados do Censo Agropecuário do IBGE (2000), a maior parte da produção de grãos e as atividades pecuárias altamente modernizadas, se concentram no Estado de Goiás, que é o quarto produtor de grãos entre os Estados brasileiros, com uma produção de 9,2 milhões de toneladas, contribuindo com 8,98% na produção nacional. O Estado possui também o terceiro maior rebanho de bovinos de corte do país. No entanto, é importante lembrar que, a pecuária como um produto economicamente viável e a agricultura de subsistência, demarcam historicamente vilas e cidades, sendo que a pecuária exerceu um papel histórico determinante após a fase mineratória. Graças à pecuária se evitou a falência econômica de Goiás, funcionando como elemento de fixação do homem e de ocupação de novas áreas do território goiano (DOLES apud. FERREIRA e FERNANDES FILHO, 2003). Assim pode-se observar, que as transformações mais marcantes provocadas pela expansão capitalista no meio rural do interior de Goiás foi, o trabalho assalariado e a transformação da terra em valor de troca (LABAIG, 1995). A partir da década de 1960 a região faz a opção pela agricultura comercial que se consolida a partir de 1970, com infra-estrutura, estradas e meios de transporte mais adequados, além do crédito agrícola subsidiado, o suporte armazenador, e a organização política e econômica do produtor rural. Nos anos 70, a região se consolida como importante área de expansão da agropecuária nacional. Assistiu-se a um acelerado processo de expansão da área cultivada, incorporação de novas tecnologias e diversificação de culturas. A estrutura de produção existente foi drasticamente afetada, ocorrendo uma redução da participação relativa das tradicionais culturas, principalmente arroz e feijão, e aumento da importância de culturas voltadas à exportação, geração de energia e utilização como matéria-prima das agroindústrias. Esse processo de modernização e diversificação pode ser mais bem exemplificado pelo caso de Goiás. A produção do milho, apesar de sua menor importância relativa, aumenta de 14% para 20% do total produzido no Sul-Sudeste entre 1985 e 1987. Depois de atingir 19% da produção nacional em 1989, nos dois anos subseqüentes, a participação regional cai para 10% da produção nacional, devido à “adversidades da conjuntura”. O caso da soja é, no entanto, o mais ilustrativo da acelerada expansão da agricultura da região. De uma posição praticamente insignificante nos anos 70, a produção da região chega a representar 60% do total produzido no Sul-Sudeste em 1988. Em 1991, a região chega a responder por cerca de 44% da produção nacional, de acordo com os dados do IBGE (2000). Segundo Helfand e Rezende (1998), a importância relativa do crescimento da produção de soja do Centro-Oeste, não se deveu apenas ao aumento absoluto, da ordem de 258% no período 1980/86, mas também à queda, em termos absolutos, ocorrida no Sul-Sudeste. A expansão da produção no Centro-Oeste se inscreveu, portanto, em um movimento de “redistribuição regional da produção de soja no Brasil”. A produção de milho e de soja cresceu em um ritmo muito mais intenso no Centro-Oeste, comparado com o restante do país. A taxa geométrica de crescimento desses produtos, entre 1980 e 1989, na região foi, em média, 9,41% e 16,54% ao ano respectivamente; enquanto que para o conjunto do país a média é de 2,7% e 4,7% respectivamente. 1 Sem dúvidas, é no caso da soja que o desempenho do Centro-Oeste vis-à-vis o de outras regiões pode ser mais bem avaliado. Em relação ao conjunto do país, a região apresentou um rendimento entre 10 a 20% superior, principalmente a partir de 1985.2 Diferentemente do caso do milho, a produção da soja caracteriza-se por grande homogeneidade dos padrões tecnológicos utilizados, fazendo com que a média de rendimento do país se compare aos níveis internacionais. Esta observação é importante porque demonstra que “este mesmo padrão tecnológico é capaz de apresentar, ainda, rendimentos crescentes nas condições do cerrado”. De acordo com Helfand e Rezende (1998), a explicação para a “explosão” do CentroOeste, mais explicitamente vinculada ao caso da soja, deve ser buscada menos nos novos conhecimentos sobre o manejo dos solos de cerrado do que na descoberta de novas variedades dessa leguminosa aptas às condições da região. No entanto, o autor enfatiza que além dessas vantagens associadas a inovações biológicas, outros “aspectos ainda pouco enfatizados na análise da ‘aptidão agrícola’ regional”, como a maior viabilidade da motomecanização agrícola, contribuíram para a grande expansão da soja no Centro-Oeste. Portanto, esta “aptidão agrícola”, refere-se mais às características da topografia do que às do solo, que sabidamente é menos fértil que o restante do Centro-Sul. Os maiores gastos com a “correção” do solo (calagem e adubação), são compensados não só pelo menor preço da terra, mas pelos ganhos de escala devido à 1 2 IBGE, Indicadores de Produção Agroindustrial 1990/2001. GOIÁS EM DADOS, Secretaria Estadual de Planejamento, 2003. mecanização. Outro fator importante é a qualidade da soja, que apresenta menor grau de umidade e maior percentual de proteínas, o que é considerada uma grande vantagem na produção de ração. Assim desde o início da ocupação, a agricultura foi, e ainda é, a base econômica da região, e vem apresentando algumas fortes características. Uma primeira é, a constante queda do emprego agrícola, devido principalmente, à incorporação tecnológica em culturas que demandam mão-de–obra, principalmente, cana de açúcar, tomate, algodão, feijão; ao aumento da área de culturas mecanizadas, que vem dispensando mão-de-obra assalariada (soja, algodão, cana-deaçúcar) e a intensa “pecuarização” da região. Outra característica marcante é a concentração fundiária. Apesar do processo que vem se dando nos últimos anos de ocupações de terras, praticamente não houve nenhuma alteração na estrutura fundiária nos últimos dez anos (1985-1996). O Centro-Oeste continua sendo uma região com alta concentração de terras. Em 1996, os estabelecimentos de até 100 hectares somavam 59% do total e perfaziam 4,5% da área. Os com mais de 1.000 hectares totalizavam 8,5% e detinham 72% da área total. O número total dos estabelecimentos caiu 6,6% entre 1985 e 1996. Houve diminuição dos estabelecimentos de até 100 hectares (16,3%) e, ao mesmo tempo, um aumento de cerca de 20% dos estabelecimentos com mais de 100 hectares (IBGE 1990/2001). Com isso ocorreu uma significativa modernização da produção agropecuária, principalmente daquela voltada para os grãos, que foi acompanhada de perto pela agroindustrialização da região a partir dos anos 80. O processo de agroindustrialização do Sudoeste de Goiás e as Políticas de Incentivos Fiscais. O setor industrial do Centro-Oeste está vinculado, basicamente, ao beneficiamento e à transformação de matérias-primas ligadas à agropecuária e ao setor mineral. Em 1985, as indústrias dependentes da transformação agropecuária (produtos alimentares, têxtil, mobiliário, farmacêutica, madeira, borracha, couro/peles e papel/papelão) eram responsáveis por cerca de 44,9% do valor de transformação industrial (VTI) e por aproximadamente 48,6% do pessoal ocupado no setor, o que, acrescido dos 22,6% do VTI e os 18,8% do pessoal ocupado no setor mineral (indústria extrativa mineral e indústria de minerais não-metálicos), leva a concluir que cerca de dois terços da indústria do Centro-Oeste estão ligados às atividades de base primária (incluindo a mineração) (GOIÁS EM DADOS, 2003). As indústrias mais representativas estão localizadas nas principais cidades do Estado de Goiás, como Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Catalão, Itumbiara, e Centro-Oeste, Campo Grande (MS), Dourados (MS), Cuiabá (MT), Rondonópolis (MT), destacando-se, conforme mencionado anteriormente, aquelas voltadas para o processamento de produtos primários. Dentre as políticas de desenvolvimento regional, adotadas para o Centro-Oeste, até o início da década de 80, as que mais se direcionaram para o Estado de Goiás foram o PLADESCO, elaborado pela SUDECO no âmbito do I PND (Plano Nacional de Desenvolvimento – 1972-74) e o Programa de Ação do Governo para a região Centro-Oeste, feito no II PND (1975-79). Foram criados programas especiais de desenvolvimento regional, sendo o mais importante para Goiás o POLOCENTRO, concebido para dinamizar a empresa agrícola tecnificada através de investimentos na pesquisa e experimentação agrícola (sobretudo com a EMBRAPA), do crédito agropecuário subsidiado, de incentivos fiscais para florestamento e reflorestamento, da construção/conservação de estradas, da construção de linhas de transmissão de energia elétrica, da construção de redes de armazenamento, dos investimentos em eletrificação rural, da instalação de equipamentos pra moagem de grandes quantidades de calcário (fundamental para corrigira a acidez dos solos do cerrado), da produção local/regional de fertilizantes e de apoio para instalação de várias agroindústrias. Em Goiás, nas duas últimas décadas, algumas regiões vêm se tornando pólos econômicos e atraindo investimentos em função dos incentivos do Estado, destacando-se Goiânia, que pela sua posição estratégica, infra-estrutura e relativa qualidade e baixo custo de vida, já se tornou pólo indutor de desenvolvimento para toda região Centro-Oeste 3 . Outra região de destaque é a de Anápolis, especialmente na indústria farmacêutica. Segundo a GAZETA MERCANTIL (23 de abril de 1998), "com foco nos genéricos, oito laboratórios estão investindo R$ 369,5 milhões até 2003". Catalão é outro destaque, onde grandes montadoras (MMC e Cameco) instalaram-se na região em 1997, além das empresas mineradoras. Estima-se que até 2002 o município receberá investimentos da ordem de US$ 330,4 3 A Embratel, Rewico do Brasil, Serrana, Tend-tudo e Quality são algumas das grandes empresas que devem investir na capital goiana nos próximos anos. milhões. Por último, a região que vem merecendo os maiores destaques é Rio Verde. Na onda da Perdigão, aparecem dezenas de outras indústrias instalando-se na região. Estimativas da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento apontam que os investimentos a curto prazo podem chegar a R$ 55 milhões. A projeção é de que a partir de 2003, "a economia de Rio Verde passará a movimentar em torno de R$ 1,5 bilhão por ano ou o equivalente a 5,7% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado”. (GAZETA MERCANTIL. Balanço Anual 2000). Esse impulso industrial está diretamente relacionado com as políticas de atração de indústrias do governo do Estado de Goiás. Essas empresas foram beneficiadas pela política de incentivos fiscais. O Programa Fomentar, criado em 1984 atraiu, apenas na primeira metade do ano de 1997, investimentos da ordem de R$ 952,5 milhões. Naquele período foram aprovados 357 projetos e distribuídos créditos fiscais no valor de R$ 9,04 bilhões, beneficiando 212 empresas 4 . O Fomentar era centrado basicamente na isenção do ICMS. Ou seja, financiava 70% do ICMS com juros de 2,4% ao ano, sem correção monetária e a prazos de até 25 anos. Atualmente, esse programa foi substituído pelo Produzir, que apesar de algumas alterações, continua na mesma linha do programa anterior. A proposta é financiar 73% do ICMS por um prazo máximo de 15 anos, limitado a 2020, a juros de 2,4% ao ano, sem correção monetária. Além desses incentivos, as indústrias podem contar com recursos do FCO e do BNDES que está investindo milhões no Estado. Ainda, contam com recursos alocados pelas prefeituras, que também têm em seus programas de governo, políticas de atração de indústrias (Revista EXAME/23 de Junho de 2004). Os incentivos, as políticas públicas e os programas como o POLOCENTRO, proporcionou a instalação de inúmeras empresas agroindustriais no Sudoeste de Goiás. A região vem se constituindo em um pólo agroindustrial que reúne a comercialização e processamento de insumos e bens de produção para a agricultura. A ocupação do Sudoeste de Goiás iniciou-se, por volta do século XIX. Por não fazer parte do ciclo mineratório, a atividade que surgia na qual a economia se baseava era a pecuária, que seria consolidada como o novo eixo central da produção goiana. 4 RIO VERDE EM DADOS. Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento (2000). Essa ocupação vai sendo incrementada com a formação dos núcleos de Rio Verde e Jataí, decorrente de forte emigração de Minas Gerais no final da primeira metade do século XIX, notadamente a partir de 1838, quando a Lei Imperial isentou por 10 anos o pagamento de dízimos e de impostos sobre a criação pecuária. Em 1882, a Lei Provincial nº 670, como forma de estimular o povoamento, eleva o município de Rio Verde à categoria de cidade. Apesar de não aumentar o número de povoados, a população cresce rapidamente, chegando, segundo algumas estimativas a 13.500 habitantes na Comarca cuja sede era Rio Verde, em 1886 (CUNHA NETO apud. FERREIRA e FERNANDES FILHO, 2003). Até os anos de 1960, eram predominantes em Rio Verde à produção pecuária bovina e a cultura de arroz, como ocorria também em quase todo Estado de Goiás. A partir de 1970, começou um processo acentuado de modernização da agricultura no Estado de Goiás e Rio Verde diversifica sua produção. O Estado começa a se despontar no cenário nacional como um grande produtor de grãos, além de conservar sua já relevante posição na pecuária bovina onde Rio Verde marca presença fundamental neste processo. A ocupação econômica de Rio Verde apresenta dois grandes períodos. O primeiro vai de sua fundação até a década de 1920, cuja característica principal é a produção bovina e o uso de extensões muito grandes de terra. O segundo período, pode ser considerado o da produção de grãos, passando pelo arroz, milho e atualmente a soja, com extensões cada vez menores de terras, em função de vários motivos, como ao acolhimento de grandes levas de imigrantes, que veio ocorrendo desde então, e se intensificou bastante a partir da década de 1970, agora com a vinda de sulistas e, em seguida, de paulistas que ocuparam grande parte do Sudoeste de Goiás . Este último período tem ainda duas características marcantes. Primeiramente, a produção é extensiva, baseada sobretudo, em relações de trabalho pouco formais, até a intensificação da mecanização, do uso de insumos e equipamentos agrícolas, que marca uma segunda fase ainda em curso. No início desta última fase já se percebe a aceleração das atividades urbanas e de atividades econômicas bem dinâmicas. Em função dessa dinamização, nos últimos anos Rio Verde se caracteriza como um dos principais agropólos de Goiás, pela estreita associação entre os principais segmentos das cadeias produtivas agropecuárias e agroindustriais e a ênfase na inovação tecnológica, que torna esta relação muito competitiva e eficiente no aproveitamento das potencialidades desenvolvidas ao longo dos anos. A formação do agropólo decorre de condições naturais favoráveis para o desenvolvimento do agronegócio regional, com a instalação ou deslocamento de unidades agroindustriais para as áreas produtoras beneficiadas com obras de infraestrutura e serviços tecnológicos. Segundo Lunas e Ortega (2003), observa-se à constituição de alguns complexos agroindustriais na região, como é o caso dos complexos de carne de frango e suíno, e da soja 5 . Os complexos agroindustriais têm encontrado na região condições adequadas para se instalarem: disponibilidade de grãos, grande oferta de mão-de-obra, proximidade do mercado consumidor, incentivos fiscais, condições climáticas e infra-estrutura. Segundo Pedroso et.al (2004), o maior impacto do POLOCENTRO na região CentroOeste ocorreu no estado de Goiás, especificamente em Rio Verde, onde segundo Muller (1990), 42% da área dos cerrados foram incorporadas ao processo produtivo com destaque para a soja. Assim, a sua atividade econômica é baseada na produção intensiva de grão e sua localização é privilegiada dentro do Sudoeste, constituindo-se atualmente no maior produtor de soja, feijão, sorgo granífero e tomate, do Sudoeste de Goiás, sendo que da produção de sorgo granífero o município produz mais da metade da produção. O município é ainda o terceiro maior produtor de algodão, milho e trigo, com 23,89%, 14,10% e 24,37%, respectivamente, da produção do Sudoeste de Goiás (PEREIRA, 2001, p.71). Rio Verde é um entroncamento rodoviário, localiza-se às margens da BR 060, que liga Goiânia a Cuiabá, e as margens da BR 452(liga Rio Verde a BR 153), e da GO 174 (liga Rio Verde ao Mato Grosso e a BR 364 com destino a São Paulo). Dessa forma, “o município foi escolhido por agroindústrias para sua instalação já que ele é dotado de boa infra-estrutura locacional e disponibilidade de grão, basicamente soja e milho” (PEREIRA, 2001). A microrregião tem na agricultura a sua crescente base de sustentação econômica, sendo a produção de grãos e de gado de corte os itens de maior destaque. Os dados mostram que o Estado de Goiás está atraindo as indústrias, especialmente agroindústrias. Se esta é a “vocação” goiana, é importante analisar melhor as suas dinâmicas e estratégias produtivas, para avaliar os impactos que esse processo de agroindustrialização poderá causar na região. 5 O complexo da soja se constituiu num dos atrativos para o complexo de carnes de aves e suínos, já que estes têm no farelo de soja um dos insumos fundamentais para a produção de ração, que representa o mais elevado componente de custo de produção de animais. A formação do cluster de Rio Verde (GO). O conceito de cluster relaciona-se à idéia de aglomerado de empresas vinculada industrial ou comercialmente. De acordo com Porter (2001), são aglomerados geográficos de empresas de determinado setor de atividades e outras empresas correlatas. Os clusters são típicos de determinados segmentos e regiões e não genéricos, como pode ser observado no Vale do Silício e na região de Hollywood, ambos na Califórnia, EUA. Por outro lado, envolvem tanto características de cooperação como de competição. Já para Haddad (1999), os clusters consistem de indústrias e instituições que tem ligações particularmente fortes entre si, tanto horizontais quanto verticalmente e, usualmente, incluem: empresas de produção especializada; empresas fornecedoras; empresas prestadoras de serviços; instituições de pesquisa; instituições públicas e privadas de suporte fundamental. A análise dos clusters focaliza os insumos críticos, num sentido geral, que as empresas geradoras de renda e de riqueza necessitam para serem dinamicamente competitivas. A essência do desenvolvimento de clusters é a criação de capacidades produtivas especializadas dentro de regiões para a promoção de seu desenvolvimento econômico, ambiental e social. Normalmente, estes tipos de aglomerados ou cadeias se expandem em direção aos clientes e canais de distribuição e atraem para si empresas fabricantes de produtos complementares e serviços afins. Assim, em que pese à globalização comercial dos dias de hoje, os clusters apresentam algumas características que os estimulam, como o maior acesso aos fornecedores, o acesso a sistemas de informações especializados, o marketing vinculado à fama, o acesso equivalente a instituições e bens públicos, o estímulo à inovação pela competição existente e a melhoria da motivação e da avaliação de desempenho das empresas participantes. Segundo Wedeckin (2002), o elemento central de um agricluster 6 é a cadeia produtiva, em torno do qual se organizam os clientes e canais de distribuição, a indústria de insumos e de fatores de produção especiais, a infra-estrutura especializada, que fornece a logística para a redução do custo por inteiro, uma rede de prestadores de serviço, as associações e entidades de apoio, universidades e institutos de pesquisa, o serviço de treinamento e a capacitação da mão-deobra. Esse conjunto de elementos deve se integrar para permitir o crescimento do agricluster como um todo. 6 O termo agricluster usado por WEDECKIN, é formado pela junção do termo cluster com áreas rurais. A importância dos clusters reside no fato de que a concorrência moderna depende em alto grau da produtividade e não do acesso a insumos ou da economia de escala de empreendimentos isolados, sendo esta produtividade dependente do grau de sofisticação da gestão das empresas, a qual é fortemente influenciada pelas condições do ambiente empresarial local, vinculadas aos diferentes clusters. Assim, de acordo com Porter (2001), os clusters afetam a maneira das empresas competirem de três formas principais: aumentando a produtividade das empresas sediadas na região; indicando a direção e o ritmo da inovação que sustentam a produtividade futura; e estimulando a formação de novas empresas, o que reforça o próprio cluster. Conforme descrito por Haddad (1999), em seu estudo denominado: A Competitividade do Agronegócio: Estudo de Clusters, o roteiro metodológico adotado para estabelecer a análise de clusters nos estudos efetuados foi: a) Delimitação da área geográfica relevante: para delimitar a área geográfica de cada cluster, podem ser utilizados três critérios de regionalização: • Área homogênea: um espaço caracterizado pela homogeneidade física, econômica, cultural, social, etc; • Área polarizada: um espaço caracterizado por um núcleo de atividades que polariza uma área de influência; • Área-programa: um espaço caracterizado pela definição políticoinstitucional de intervenção programática. b) Indicadores de performance setorial (produção, produtividade, qualidade): todos indicadores devem ser levantados para a região relevante e comparado com regiões concorrentes no país e no exterior. Cada indicador deve ser definido tecnicamente e registradas as fontes de dados. Quando possível, os indicadores devem ser preparados por municípios da região relevante; c) Aglomerados ou complexos produtivos: para cada cluster deve ser preparada a estrutura de seu complexo produtivo; d) Serviços de suporte empresarial ao cluster; e) Suporte fundamental: como logística, telecomunicações, sistemas educacionais de qualidade, etc; f) Indicadores de desenvolvimento social da região onde opera o cluster: principalmente o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano -, divulgado pela ONU – Organização das Nações Unidas. g) Indicadores ambientais: manejo de dejetos produzidos, reciclagem de resíduos; h) Desenvolvimento de cultura organizacional: qualificação do empresariado, técnicas de gestão e planejamento estratégico; i) Demanda e necessidade de insumos de conhecimento, de pesquisa e de ciência e tecnologia no cluster; j) Mecanismos de inserção da Embrapa e do CNPq. (HADDAD, 1999). Amorim (1998), chama atenção para uma definição e implementação de uma política industrial no Brasil. Estes se tornaram nos últimos anos cada vez mais freqüentes, haja vista a falta de incentivos para estimular os setores industriais considerados estratégicos para o desenvolvimento nacional. A partir do início do processo de abertura da economia brasileira, iniciado em 1990, quando o Brasil passa a se inserir de forma mais explícita no fenômeno da globalização da produção, a indústria nacional foi tomada de sobressalto com o relaxamento de algumas medidas protecionistas, e com a adoção de instrumentos que facilitavam a entrada de produtos industrializados no País. Ficou então evidente a falta de competitividade de muitos produtos brasileiros frente aos similares estrangeiros, muito dos quais produzidos em países de economia até recentemente bem mais frágeis do que a brasileira (Tigres Asiáticos, China, Chile). A conclusão que um segmento dos estudiosos do processo de desenvolvimento defende, é que, para enfrentar um sólido conjunto de barreiras que prejudicam sua competitividade, as empresas precisam adotar novas formas de organização que lhes possibilitem reagir positivamente a esses desafios. Dentro desta ótica, a experiência de clusters de pequenas, médias e grandes empresas, a exemplo do que vem sendo implementado em outros países — por exemplo, Itália, Estados Unidos, e mesmo em outros menos desenvolvidos como o Paquistão, o México e o Chile, além de algumas localidades no Brasil — surge como uma oportunidade a ser utilizada para estimular o processo de industrialização das várias regiões que compõem o país. O grande mérito do modelo de cluster reside no fato de que ele resgataria o poder de competitividade principalmente das pequenas empresas, uma vez que adota um esquema de organização que lhes permite auferir economias de escala, antes um privilégio de grandes estabelecimentos. Segundo alguns estudiosos, a organização de pequenas empresas em clusters permite a essas se tornarem tão eficientes — e em muitos casos até mais — quanto as empresas que operam grandes escalas de produção. Em uma economia com crescente globalização, paradoxalmente, muitas das vantagens competitivas residem, cada vez mais, em aspectos locais do tipo conhecimento, relacionamento e motivação, que os concorrentes, a distância, não podem alcançar. Dessa forma, esforços centrados em clusters estimulam as empresas a se tornarem muito mais interessadas e envolvidas no processo de desenvolvimento. O diálogo empresa-governo-universidade tende a ocorrer com maior grau de concentração, tornando as ações possíveis. Em Goiás, apesar do desenvolvimento da agricultura, a abordagem de formação de clusters é relativamente nova. Nos últimos vinte anos, a produção de grãos, mostra que a soja, milho, feijão e sorgo são produtos em expansão rápida, enquanto arroz, trigo e aveia estão em fase decrescente de plantio e produção. Todo esse movimento favorece, então, a formação de um conjunto especial para plantio, negociação e distribuição da safra, o que virá a ser o cluster de grãos. Segundo Couto e Monteiro (1999), a microrregião tem na agricultura a sua crescente base de sustentação econômica, sendo a produção de grãos e de gado de corte os itens de maior destaque e a soja o principal produto cultivado com a finalidade apenas comercial em função da sua grande participação nas transações comerciais, onde geralmente é negociada a um preço melhor, acabando por constituir o produto mais importante na renda do agricultor. O milho, o feijão e o sorgo seguem o mesmo caminho da soja e tem seu plantio em escala comercial aonde a soja vai bem, porque, não sendo tão importante como fonte de renda, funcionam como estabilizador quando o preço da soja cai e na ocupação de áreas que já se cultiva soja por mais tempo há necessidade de uma rotação de cultura para equilíbrio biológico do solo. Com a introdução da irrigação e do Sistema de Plantio Direto ocorreu uma maior produção de feijão e mais recentemente o plantio de sorgo granífero. Todos esses produtos integram um conjunto de atividades, uma vez que os equipamentos básicos para a produção são os mesmos, variando apenas alguns componentes da mesma máquina ou algum implemento específico para determinada operação. As culturas se sucedem no mesmo solo, de duas a três vezes no ano (COUTO e MONTEIRO, 1999). Segundo informações fornecidas pelos membros do Clube dos Amigos da Terra de Rio Verde, atualmente 90 % da soja e 60 % do milho plantados em outubro de 1999 já são cultivados através do Plantio Direto Sobre Palha. Por outro lado os plantios de safrinha, em fevereiro/abril, são totalmente feitos sobre palha. A aplicação desta tecnologia, associada ao plantio de híbridos e cultivares mais precoces, faz com que sejam comuns as multuiculturas durante o ano. A soja é o principal grão produzindo na região, seguido pelo milho e depois pelo feijão. Merece destaque, também, o sorgo granífero que ultimamente tem sido a primeira opção de plantio para a safrinha, devido o seu uso para alimentação de animais e para forração para silagem. Tem-se notado que o aumento ou diminuição da área de plantio de qualquer destes grãos depende unicamente das condições de mercado, uma vez que as máquinas básicas para plantio, tratos culturais e colheita são as mesmas, ou com pequenas alterações de alguns componentes. Isso ajuda os agricultores da região a se tornarem competitivos e a reduzirem suas perdas. Pelo exposto, podemos perceber que a área delimitada pode, portanto, ser considerada um cluster pelo critério da homogeneidade. A região deve, á produção de grãos, o desenvolvimento dos últimos anos e o dinamismo que a caracteriza. As formas e os sistemas de produção são semelhantes e observa-se homogeneidade nos aspectos culturais e sociais, apesar da forte imigração que ocorreu no início do processo de modernização da agricultura. Hoje o movimento é de formação de mais um cluster: o cluster de aves e suínos. CONSIDERAÇÕES FINAIS Desde que o Estado começou os seus planos de desenvolvimento das regiões do cerrado, Goiás ocupa uma posição de destaque na migração e na industrialização. Conforme foi discutido no texto, os programas de desenvolvimentos levaram o estado a um patamar tecnológico comparável a países do primeiro mundo, o que está sendo determinante para a melhoria da produção e o aumento da competitividade dos produtos do estado. Ao mesmo tempo, a região do estado que mais contribui para esse crescimento é o sudoeste. Tendo como pólo principal o município de Rio Verde, a região já é a maior produtora de soja e a segunda de milho, sendo destaque também na produção de feijão, leite, carne de aves e suínos. Todo esse destaque levou a região a formar um cluster, o de grãos, e estar em formação um segundo, o de carne de aves e suínos. Com isso, a região se insere no comércio nacional e, principalmente, no internacional, com uma pauta de produtos em condições de competir com qualquer outro produzido em qualquer lugar do mundo. E isso viabiliza os investimentos que estão sendo feitos na melhoria da produtividade e da produção. Outro fator de destaque é a tecnologia introduzida no campo, sendo destaque o Plantio Direto, hoje responsável por ser o modelo de plantio de 90 a 100 % das lavouras da região. Esse modelo auxilia na redução do desgaste e da erosão do solo, melhorando o rendimento das lavouras. A região também já tem alguns produtores iniciando culturas orgânicas, que promete ser o produto do futuro na região. Percebe-se, então, que diversos fatores levaram a região a esse patamar de desenvolvimento tecnológico. Durante a realização da pesquisa, percebeu-se que outros fatores também contribuíram para esse desenvolvimento como, por exemplo, os institutos de desenvolvimento de pesquisas, tanto públicas quanto privadas, mas esse tópico faz parte de outro estudo, como outros motivos que levaram a esse desenvolvimento e que os autores indica como estudos futuros que podem ser realizados. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AMORIM, M. Clusters como estratégia de desenvolvimento industrial no Ceará. Fortaleza: 1998. Banco do Nordeste. COUTO, F.A.A. e MONTEIRO, J. A de. O cluster de grãos na região de Rio Verde no Sudoeste de Goiás. In HADDAD, P.R. (Org.). A competitividade do agronegócio e o desenvolvimento regional no Brasil – Estudos de clusters. Brasília, CNPq/Embrapa, 1999. FUNDAÇÃO Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Indicadores da Produção Agroindustrial 1990/2001. Rio de Janeiro: IBGE, 2002. ____________. Censo Agropecuário – 2000. Rio de Janeiro:IBGE, 2000. FERREIRA, D. F. FERNANDES FILHO, J. F. Análise das transformações Recentes na Atividade Agrícola da Região de Goiás. 1970/1995-6. In: ____ PEREIRA, S.L. XAVIER, C. L. (Org). O agronegócio nas terras de Goiás. Uberlândia: EDUFU, 2003. p. 101-138. GAZETA MERCANTIL – “Antes que Rio Verde fique mais rica”, 23 de abril de 1998. ____________________. Balanço Anual 2000 – Distrito Federal e Goiás. ano V, n° 5 –agosto de 2000. GOIÁS (Estado). Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Goiás em Dados 2003. Goiânia, 2003. HADDAD, P. (org). A competitividade do agronegócio e o desenvolvimento regional no Brasil: Estudo de Clusters. Brasília: 1999. CNPq/Embrapa. HELFAND, S.M. e REZENDE, G.C. Mudanças na distribuição espacial da produção de grãos, aves e suínos no Brasil: o papel do Centro-Oeste. Rio de Janeiro, IPEA, dez. de 1998. (Texto para discussão n. 611). LABAIG, H.C. O cooperativismo agrícola e sua participação no desenvolvimento capitalista do Sudoeste goiano: 1960-1990.Dissertação de Mestrado, Goiânia, ICHL/UFG, 1995. LUNAS, D. A. L. ORTEGA, A. C. A Constituição do Complexo Agroindustrial da Soja no Sudoeste Goiano. In: ____ PEREIRA, S.L.; XAVIER, C. L. (Org). O agronegócio nas terras de Goiás. Uberlândia: EDUFU, 2003. p. 139-173. PEDROSO, I. L. P. B., GOBBI, W. A. O., CLEPS JÚNIOR, J., PESSOA, V. L. S. Modernização e Agronegócio: as transformações socioeconômicas recentes em Rio Verde (GO), In: Anais do 2º Encontro dos Povos do Cerrado, Pirapora (MG), 2004. Em CD Rom. PEREIRA, S. L. Alterações estruturais na economia Goiana e do Sudoeste de Goiás no período dos anos 80/90. 2001. 107f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Econômico). Instituto de Economia, Universidade Federal de Uberlândia, 2001. PORTER, M. Estratégia Competitiva – Técnicas para Analises de Industrias e da concorrência. São Paulo: Campus, 2001. REVISTA EXAME. Um Retrato do Estado de Goiás. Revista EXAME, 23 de Junho de 2004 RIO VERDE EM DADOS. Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento. 2000. WEDECKIN, I. Os Agriclusters e a Construção da Competitividade Local. In: _____ A Construção da Competitividade das Localizações. Anais do I Congresso Brasileiro de Agribusiness. São Paulo, 2002. Pg. 43-55 e 57-85.
Download