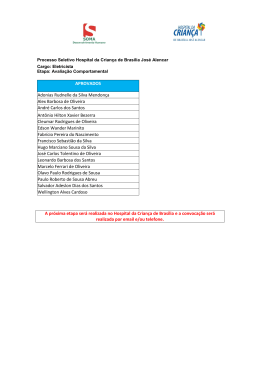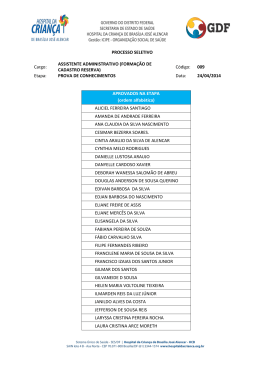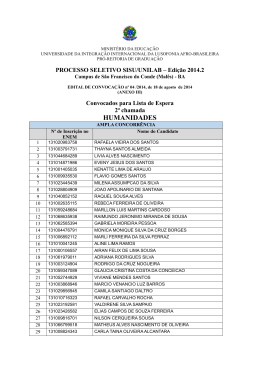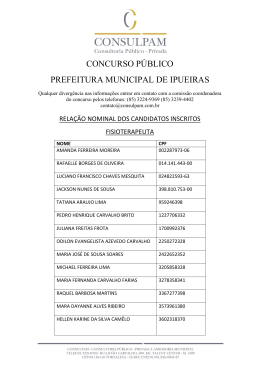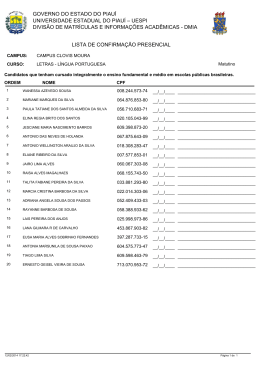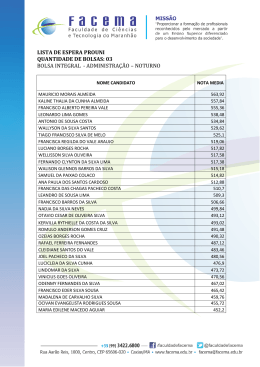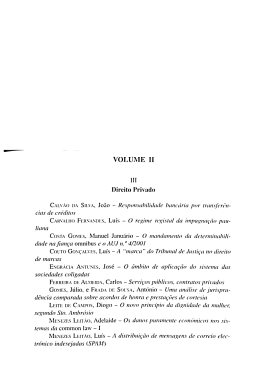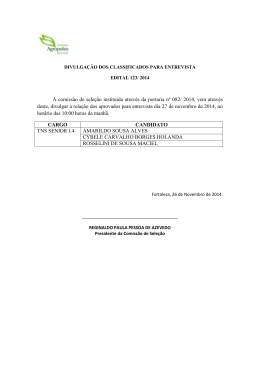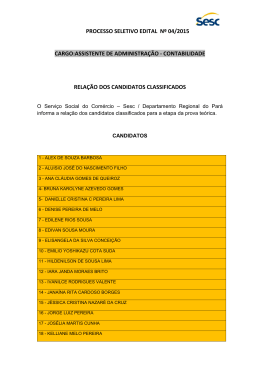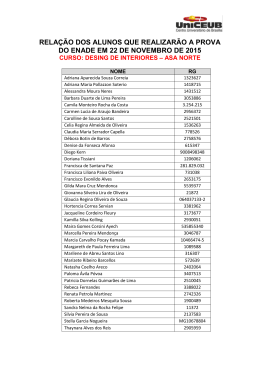LITERATURA LUÍS DE SOUSA E O MANEIRISMO LITERÁRIO PORTUGUÊS EDUARDO JAVIER ALONSO ROMO Universidad de Salamanca Neste artigo colocamos algumas questões que visam nomeadamente à compreensão de Fr. Luís de Sousa (Santarém, 1555 – Benfica, 1632) como escritor maneirista e/ou barroco – como veremos, nem sempre são facilmente separáveis estes dois conceitos –, pondo-o em relação com outros autores seus coetâneos. O texto alvo do trabalho é a Vida de D. Fr. Bartolomeu dos Mártires, que Sousa publicou em 1619 (Viana, por Nicolau Carvalho)1, uma biografia do célebre arcebispo dominicano de Braga (Lisboa, 1514 – Viana do Castelo, 1590). 1. A LITERATURA MANEIRISTA EM PORTUGAL Há tempo surgiu um esforço por diferenciar dentro do conceito do barroco, distintos períodos que permitissem uma melhor avaliação de um termo que cobre um amplíssimo espaço temporal – finais do século XVI, todo o XVII e grande parte do XVIII –, pelo que com ele se diz muito ou não se diz coisa nenhuma2. Assim, por exemplo, António José Saraiva considerou já barroca a literatura da segunda metade do século XVI3. Em princípio, o termo Maneirismo foi usado pejorativamente, referido às artes plásticas e nomeadamente à pintura. Convém não esquecer que só a partir dos anos 50 Seguimos a edição mais moderna: Fr. Luís de Sousa, Vida de D. Fr. Bartolomeu dos Mártires, ed. de Aníbal Pinto de Castro e Gladstone Chaves de Melo, Lisboa, IN-CM, 1984. Citamos esta obra simplesmente como Vida, com a paginação correspondente. 2 De «período literário» deram R. Wellek e A. Warren, na sua célebre Teoria da Literatura (1949), uma definição que não perdeu ainda validade: «Uma secção de tempo dominada por um sistema de normas, convenções e padrões literários, cuja introdução, difusão, diversificação, integração e desaparecimento podem ser seguidos por nós»; trad. de José Palla e Carmo, Lisboa, Europa-América, 1962, p. 335. Cf. ainda, René Wellek, «The Concep of Baroque in Literary Scholarship», em Concepts of Criticism, New Haven, Yale University Press, 1963, pp. 69-127; e Helmut Hatzfeld, «Uso y abuso del término ‘barroco’ en la historia literaria», em Estudios sobre el Barroco, 3ª ed., Madrid, Gredos, 1973, pp.491-502. 3 António José Saraiva, «Sobre o ‘barroco’ na literatura portuguesa», Colóquio, 43 (Lisboa 1967). 1 50 EDUARDO JAVIER ALONSO ROMO do século XX – partindo dos trabalhos de Haydn, Curtius, Hocke e Hauser4 –, o conceito maneirista se alargou ao domínio da literatura, beneficiando de um entendimento mais claro e mais preciso da noção do Barroco. Admitir a pertinência da noção de Maneirismo na literatura exigiu uma cuidada conversão de elementos já apurados no conhecimento das artes plásticas, e obrigou não só à reapreciação de textos conhecidos como à recuperação de muitos outros caídos em profundo abandono. Compreender o Maneirismo significava superar o preconceito que o entendia como degenerescência do Renascimento ou mera preparação do Barroco5. Em Portugal, como explica Pedro Serra, «hasta hace muy poco tiempo han sido utilizados, y no siempre por simple comodidad, los términos seiscentismo, seiscentos o seiscentista para identificar cronológicamente el periodo barroco»6. Ora bem, nos anos de 1961 e 1965, Jorge de Sena defendeu a necessidade de assimilar o conceito maneirista, advogando que tal seria o meio para entender autores injustamente postergados, vistos como espúrios ou sombras menores de Camões7. Pela mesma época, Helmut Hatzfeld8 e Kurt Reichenberger ensaiavam novas leituras de obras camonianas à luz da nova problemática. Seria, no entanto, Vítor Manuel Aguiar e Silva quem aceitou o repto lançado por Sena, dedicando parte da sua tese de doutoramento ao estudo do Maneirismo na lírica portuguesa9. Hoje continuam a faltar estudos que permitam uma ideia globalmente nítida deste fenómeno em Portugal: há que investigar demoradamente diversos géneros e sondar as relações entre a literatura e as outras artes. E isso sem esquecer ao mesmo tempo a parte que estes conceitos têm de relativo e também a possibilidade de encará-los, com um olhar trans-histórico, como temperamentos constantes ao longo da história literária, segundo a tese defendida por Eugenio D’Ors10. Mas se o retrato do Maneirismo em Portugal deve ainda considerar-se imperfeito, os seus contornos estão traçados e as balizas cronológicas já foram apontadas: aproximadamente entre 1560 e as primeiras décadas do século XVII, até 1620. Actualmente, se pela parte da literatura espanhola esta periodização ainda não é seguida por todos os estudiosos, pois muitos auto- Cf. Hiram Haydn, The Counter Renaissance, New York, 1950; Ernst Robert Curtius, Literatura Européia e Idade Média Latina, Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro, 1957; Gustav René Hocke, Manierisme in der Literatur, Hamburg, Rowohlts, 1959; Rita Iriarte, «A Distinção entre Classicismo e Maneirismo segundo Ernst Robert Curtius e Gustav René Hocke», Revista da Faculdade de Letras (Lisboa 1962); e Arnold Hauser, Literatura y Manierismo, Madrid, Guadarrama, 1969; e do mesmo autor, «El Manierismo», na sua Historia social de la literatura y el arte. 1. Desde la Prehistoria hasta el Barroco, Madrid, Debate, 1998, pp. 417-493. 5 Cf. Georg Weise, Manierismo e letteratura, Firenze, Leo S. Olschki, 1976; e Claude-Gilbert Dubois, El manierismo, Barcelona, Península, 1980. 6 Pedro Serra, «El barroco», em J. L. Gavilanes – A. Apolinário (Eds.), História da Literatura Portuguesa, Madrid, Cátedra, 2000, p. 297 [293-333]. 7 Vid. Jorge de Sena, «O maneirismo de Camões», em Trinta anos de Camões I, Lisboa, Edições 70, 1980, pp. 43-48; publicado previamente em 1961. 8 Helmut Hatzfeld, «Los estilos generacionales de la época barroca: manierismo, barroco, barroquismo y rococó», em Estudios sobre el Barroco, pp. 52-72. Hatzfeld relaciona Maneirismo e estilo manuelino: «Estilo manuelino en los sonetos de Camões», ibid., pp. 251-284. 9 Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Maneirismo e Barroco na Poesia Lírica Portuguesa, Coimbra, Centro de Estudos Românicos, 1971. Vejam-se também, do mesmo autor, as páginas dedicadas ao Maneirismo na sua Teoría de la literatura, 10ª ed., Madrid, Gredos, 1999, pp. 271-276. 10 Eugenio D’Ors, Lo barroco, Madrid, Tecnos, 1994. 4 LUÍS DE SOUSA E O MANEIRISMO LITERÁRIO PORTUGUÊS 51 res continuam sem utilizar esta categoria11 e outros manifestam algumas reservas, ou mesmo, uma clara oposição12; em relação à literatura portuguesa, porém, o Maneirismo é já uma categoria periodológica consolidada, ora situando-a em relação mais directa com o Renascimento, ora pondo-a mais perto do Barroco13. Emilio Orozco, um dos seus principais teóricos, reconhece que «es difícil llegar a una clara delimitación de lo manierista y de lo barroco». No entanto, continua a sua explicação deste modo: «El Manierismo se produce como un fenómeno que arranca de lo puramente artístico y literario [...]. El Barroco nace a impulsos de necesidades vitales y anímicas, por exigencias expresivas de la realidad y de la vida, de la inquietud y lucha interior»14. Como recorda Osvaldo Manuel Silvestre, o Maneirismo é a expressão de uma nova visão do mundo, gerada na «crise do Renascimento». Essa crise, recordemo-lo, é produto de uma constelação de eventos, como o saque de Roma, em 1527; as proclamações de Lutero, desde 1517, e, como corolário, a Reforma alastrando célere pela Europa; a resposta da Igreja através da Contra-Reforma, o Concílio de Trento e a reestruturação da Inquisição. Deste modo, «se o Renascimento consistira, sobretudo, em sede antropológica e filosófica, na exaltação do homem e da sua dignidade, o Anti-renascimento será essencialmente uma crise do humanismo, daí resultando uma concepção pessimista do homem e da vida [...]. Em Portugal, às manifestações atrás referidas da crise do Renascimento há que acrescentar a inquietude política e social decorrente dos gravosos problemas que a crise da sucessão de D. João III e as consequências de Alcácer Quibir acarretam. Curiosamente, é neste ambiente conturbado que se manifestará uma das grande gerações literárias portuguesas»15. Assim, por entre os escombros da visão do mundo renascente, o homem maneirista descobre um mundo caótico, sob o império da Fortuna, em que os piores instintos do homem dão livre curso à sua veia. Não é por acaso que a melancolia vai tornarse a doença característica dos maneiristas. Nesta atmosfera agónica e de profunda crise da Razão, se torna natural a inclinação espiritualista e religiosa que profundamente marca a arte maneirista, em grande medida ligada ao rigorismo e ascetismo da Contra-Reforma. De facto, o Maneirismo está associado a uma restauração do sentido tradicional do sentimento religioso 11 Assim, Fernando R. de la Flor, para quem o Barroco peninsular começaria por volta de 1580; cf. o seu recente Barroco: representación e ideología en el mundo hispánico (1580-1680), Madrid, Cátedra, 2002. 12 Para Bruce W. Wardropper, «parece aconsejable abandonar el término «manierismo» para designar un estilo literario y el período al que corresponde»; «Temas y problemas del Barroco español», em Historia y Crítica de la Literatura Española. 3. Siglos de Oro: Barroco, Barcelona, Crítica, 1983, pp. 13-14 [5-48]. Na misma linha, Aurora Egido fala de «debilidad conceptual de Manierismo y su difícil aplicación»: «Temas y problemas del Barroco español», em Historia y Crítica de la Literatura Española. 3/1. Siglos de Oro: Barroco. Primer suplemento, Barcelona, Crítica, 1992, p. 3 [1-48]. 13 Neste sentido é curioso comparar as diversas histórias da Literatura Portuguesa. 14 Emilio Orozco Díaz, Manierismo y Barroco, Madrid, Cátedra, 1988, pp. 69-71. 15 Osvaldo Manuel Silvestre, «O lirismo maneirista», em História da Literatura Portuguesa. 2: Renascimento e Maneirismo, Lisboa, Alfa, 2001, pp. 353-355 [353-392]. 52 EDUARDO JAVIER ALONSO ROMO medieval, mas ainda em moldes basicamente renascentistas. Esta tendência engrossa até desaguar no Barroco16. O Maneirismo associa-se a uma percepção de desencanto e duplicidade 17. «Donde acaban los Lusíadas, empieza don Quijote», resume num ensaio esclarecedor Ramiro de Maeztu. Quer isto dizer que ao triunfalismo épico do primeiro corresponde a nostalgia elegíaca do segundo – com o doloroso sentido de uma alegoria trágica –. «1605: a primeira parte do Don Quijote – «naturaleza fronteriza», sintetiza ainda, num clarão, Gasset. Fronteiriça entre duas idades. No fundo, talvez apenas imagemtestamento da Idade Teocêntrica»18. Relativismo e cepticismo substituem a crença numa hierarquia e harmonia cósmicas inalteráveis. Vítor Manuel Aguiar e Silva explica-o assim: «O regnum hominis, a dignitas hominis do classicismo renascentista fundavam-se na crença de que não existia conflito entre a ordem divina e a ordem humana, entre a alma e o corpo, entre a Razão e a Natureza, entre a Fé e a Razão; a Reforma luterana e calvinista, o Maquiavelismo e o Maneirismo corroem os fundamentos dessa crença, apresentando o homem como um ser miserável e radicalmente corrupto, apenas redimível através de um acto da graça de Deus, defendendo a existença de uma dupla moral, opondo o corpo ao espírito, acentuando dramaticamente a insegurança e a efemeridade da vida»19. O «regnum hominis» cede lugar à concepção do homem como ser miserável, dividido entre os apelos terrenos e os transcendentes20. Desengano da vida, transitoriedade das coisas humanas, gosto pelo contraste, propensão para o surpreendente e para a agudeza, informam a sua temática e processos estilísticos21. É Jorge de Sena, quem define o maneirismo como «uma angustiada liberdade»22, que se desenvolve a partir da crise céptica do Renascimento, persistindo nele, em grande parte, os géneros, 16 Cf. Antonio Cortijo, «El discurso barroco religioso: tres casos ‘portugueses’», Estudios Portugueses, 3 (Salamanca 2003), pp. 129-142. 17 Cf. R. Bartha, El Siglo de Oro de la melancolía, México, Universidad Iberoamericana, 1998; A. Lucas, «De la acedía al spleen: la melancolía en la Edad Moderna», em El trasfondo barroco de lo moderno, Madrid, UNED, 1992, pp. 185-190. 18 João Ameal, História da Europa. Vol. III: 1495-1700, Lisboa-São Paulo, 1983, p. 266. 19 Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Maneirismo e Barroco na Poesia Lírica Portuguesa, pp. 29-30; cf. Mário Martins, «O tempo e a morte no Pe. Manuel Bernardes», em Introdução histórica à vidência do tempo e da morte, Braga, Cruz, 1969, II, pp. 235-240. 20 Sobre a temática do desengano em Nieremberg (1595-1658), veja-se Hugues Didier, Vida y pensamiento de Juan E. Nieremberg, Madrid, UPSA-FUE, 1976. 21 Cf. José Adriano de Carvalho, «Aspectos do desengano e da aceitação da vida em D. Francisco Manuel de Melo», Brotéria, 78 (Lisboa 1964), pp. 423-438. 22 Jorge de Sena, «Camões e os maneiristas», em Trinta anos de Camões I, p. 53 [49-61]; publicado previamente em 1961. António José Saraiva e Óscar Lopes comentam o seguinte: «Os desastres nacionais de 1578-80 acentuam a importância de certos motivos com que se tem procurado caracterizar a oposição do Maneirismo à Alta Renascença: o desconcerto da vida e dos juízos humanos, o sem-sentido e confusâo de uma existência já originariamente degradada, pecaminosa, a cada passo posta em tormenta (ou, e é também curiosa esta outra predilecção textual, em tormento), os tropeços humanos de desengano em desengano e sem outra esperança que a da Graça e Juízo Final de Deus», em História da Literatura Portuguesa, 16ª ed., Porto, Porto Editora [1992], p. 362. LUÍS DE SOUSA E O MANEIRISMO LITERÁRIO PORTUGUÊS 53 as formas, as referências culturais, os tópicos e as imagens dos autores do Renascimento; mas o ponto de vista é que é radicalmente outro. No entanto, o Maneirismo distingue-se do Barroco «pela sua interioridade, intelectualismo e maior sobriedade; pela sua dialéctica intérmina e torturada; pelo seu anti-realismo e preciosismo; pelo seu elitismo; pela sua melancolia ou, quando muito, gélida exaltação». Portanto, ao menos do ponto de vista cronológico, é claro que Luís de Sousa faz parte plenamente do Maneirismo português, que abrange os autores da segunda metade do século XVI e dos primórdios do século XVII23. É Jorge de Sena que assinala: «Na literatura portuguesa, e em especial na poesia, maneiristas são principalmente Camões, o Soropita [...], Vasco Mousinho de Quevedo, Manuel da Veiga Tagarro, Baltasar Estaço, Francisco de Andrade, Jerónimo Corte Real, Luís Pereira Brandão, Fernando Álvares do Oriente, Pero da Costa Perestrelo, Elói de Sá Soto Maior, Diogo Bernardes, André Falcão de Rezende, Fr. Bernardo de Brito, Rodrigues Lobo, Fr. Agostinho da Cruz. E D. Francisco Manuel de Melo»24. Mesmo reconhecendo o carácter provisório desta classificação, Jorge de Sena acrescenta: «Ela teria, na prosa, correspondência em Fr. Heitor Pinto, Fr. Amador Arrais, Fr. Tome de Jesus, os mesmos Fernão Álvares do Oriente e Fr. Bernardo de Brito e Rodrigues Lobo, e ainda Diogo do Couto, João de Lucena e Fr. Luís de Sousa»25. Noutro lugar, o mesmo Jorge de Sena, escrevendo sobre os erros de juízo acerca da época barroca e as suas supostas figuras modelares, afirma o seguinte: «Lobo e Fr. Luiz é muito duvidoso que possam ser considerados barrocos, na elegância fluente e linear das suas prosas respectivas, tão dadas mais à humanidade pensativa da experiência humana que é a deles, e á visualização idealizada de uma natureza a que são agudamente sensíveis. São, antes, os últimos maneiristas, como, sob certos aspectos, o é também D. Francisco Manuel»; acrescentando depois que «em geral esquece-se que quase um século o separa [a Manuel Bernardes] de Rodrigues Lobo e de Fr. Luiz de Souza, e quase quarenta anos de Vieira e Francisco Manuel»26. Cf. Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Maneirismo e Barroco na poesia lírica portuguesa, Coimbra, Centro de Estudos Românicos, 1971, pp. 208-215. Fr. Luís de Sousa faz parte da mesma geração de Diogo Bernardes, Falcão de Resende, Vasco Mousinho de Quevedo, Frei Agostinho da Cruz, Martim de Castro do Rio, etc. Cf. Maria Vitalina Leal de Matos, «Vasco Mousinho de Quevedo Castelbranco», Arquivos do Centro Cultural Calouste Gulbenkian, 37 (Lisboa-Paris 1998), pp. 417-434. 24 Jorge de Sena, «Maneirismo e barroquismo na poesia portuguesa dos séculos XVI e XVII», em Trinta anos de Camões I, p. 74 [43-92]. Texto de uma conferência que fora pronunciada em 1962. 25 Idem, ibid., p. 86. 26 Jorge de Sena, na sua resenha ao livro Padre Manuel Bernardes. Leituras piedosas e prodigiosas, ed. de António Coimbra Martins (Lisboa, Bertrand, 1962); texto recolhido em Estudos de Literatura Portuguesa II, Lisboa, Edições 70, 1988, pp. 129 e 131, respectivamente. 23 54 EDUARDO JAVIER ALONSO ROMO De facto, é interessante notar que naquele mesmo ano de 1619 em que se publicava a Vida de D. Fr. Bartolomeu, saía à luz Corte na Aldeia de Rodrigues Lobo, obras ambas que marcariam o início da época adulta na prosa portuguesa27. Mas também seria conveniente pôr em relação a Vida escrita por Sousa com outras obras publicadas por aqueles anos na Península: desde o filosófico De multum nobili et prima universali scientia quod nihil scitur de Francisco Sanches, até à literatura emblemática das Empresas morales de Juan de Borja, passando pelo ascético Tratado de la tribulación de Pedro de Ribadeneira ou pelos Sermões de Fr. Pedro Calvo28. Há nestas obras ao mesmo tempo uma exploração do capital simbólico e uma conquista semântica do mundo «sub specie» religiosa, no meio de um tempo forte da hegemonia de uma mundovisão católica. Luís de Sousa é ainda coetâneo estrito do curioso poeta maneirista e plurilingue Estevão Rodrigues de Castro (1559-1638); e igualmente seria interessante compará-lo com D. Francisco de Portugal, como Luís de Sousa, frade depois de fidalgo e falecido no mesmo ano que o cronista dominicano (1632). 2. ALGUNS TRAÇOS MANEIRISTAS DA VIDA DE FR. BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES Vamos ver alguns traços que permitem situar a Vida de D. Fr. Bartolomeu dos Mártires no seu contexto cultural e literário, tendo em conta que nem sempre é fácil –nem possível – separar os caracteres maneiristas dos propriamente barrocos. António Fidalgo foca em Heitor Pinto e em Rodrigues Lobo a doutrina de um viver tranquilo, livre dos cuidados próprios de quem vive junto ao poder29. Rodrigues Lobo concebe uma corte ideal onde associa a cultura da corte aos costumes simples do campo. Também a obra de Heitor Pinto faz apologia de uma vida que precisa pouco para viver e que rejeita as honras do mundo, inevitavelmente associadas a preocupações e desassossego. A defesa da pobreza evangélica é matizada pelos ensinamentos da sobriedade estóica. Nesses anos o agostiniano Filipe da Luz publica o seu Tratado do desejo que uma alma teve de se hir viver ao deserto (Lisboa, 1631). Lembremos também que é nessa altura quando é fundada a primeira Cartuxa portuguesa o mosteiro de «Scala Coeli» em Évora, criado em 1587 por D. Teotónio de Bragança30- e aparecem também os desertos carmelitanos como o das Batuecas e o do Buçaco31. Há na postura destes homens uma dor profunda, uma sentida amargura, um 27 Cf. Maria Vitalina Leal de Matos, «A Corte na Aldeia entre o maneirismo e o barroco», Românica, 6 (Lisboa 1997), pp. 53-66. 28 Vejam-se as reflexões de Fernando R. de la Flor, «Emblemas de melancolía. Nihilismo y desconstrucción de la idea de mundo», em Barroco: representación e ideología en el mundo hispánico, pp. 43-76. Cf. ainda José Cepeda Adán, «La generación melancólica y reflexiva. La etapa manierista», em Historia de la Cultura Española, El Siglo del Quijote (1580-1680), Madrid, Espasa Calpe, 1996, I, pp. 715-738. 29 António Fidalgo, «Corte na Aldeia. Considerações sobre Frei Heitor Pinto e Francisco Rodrigues Lobo», em Actas del Congreso Internacional de Historia y Cultura en la Frontera, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2000, pp. 291-301. 30 Cf. Pinharanda Gomes, O Arcebispo de Évora Dom Teotónio de Bragança, Braga, Ed. do autor, 1984, pp. 45-50. Alguns costumes dos cartuxos são mencionados por Fr. Luís de Sousa, em Vida, p. 489. 31 Cf. Felipe de la Virgen del Carmen, La soledad fecunda, Madrid, Ed. de Espiritualidad, 1961. LUÍS DE SOUSA E O MANEIRISMO LITERÁRIO PORTUGUÊS 55 desalento, um desânimo, uma descrença em dias melhores. Descrentes da regeneração da sociedade, alguns, mais profundamente atingidos, voltam costas ao mundo e, numa posição «maneirista», buscam em Deus o refúgio, a paz e as forças que só Ele lhes pode dar. Neste sentido é significativa a vocação eremítica de Fr. Bartolomeu, tantas vezes repetida na sua biografia, a qual conheceu um importante auge naquele tempo. A aspiração eremítica apoderou-se do imaginário ibérico, até ao ponto de quase querer em algum momento converter a Península toda numa espécie de «nova Tebaida» onde esperar a chegada do Salvador e o fim dos tempos. É bem expressivo o título de uma obra que aparece publicada no mesmo ano de 1619: Fugida do mundo para Deus32. Mas o próprio biógrafo comenta que «a vida solitária é vida de estremos: ou faz anjos ou demónios» (Vida, p. 392). Por exemplo, depois de conhecer o desastre de AlcaçarQuibir «pareceu-lhe que tinha obrigação dobrada de se ir ao deserto e, escondido em ûa lapa, chorar a perda da pátria e os pecados que eram causa dela» (Vida, p. 512). Fr. Bartolomeu «tinha exprimentado que só no deserto da Religião goza vida segura e descansada quem estima e sabe conhecer o preço da verdadeira liberdade» (Vida, p. 29). Nesta perspectiva podemos sublinhar o seu discurso sobre o tópico da fuga mundi – convertido em contemptus mundi - dirigido aos noviços de Bolonha, declarando-lhes «o muito que deviam a Deus polos tirar do mar tempestuoso do mundo pera o remanso da Religião» (Vida, p. 232). Trata-se de uma prática espiritual tipicamente maneirista ou barroca no seu conteúdo, a partir da consideração da vida terrena como vale de lágrimas, onde o principal argumento da vida do herói-santo é uma longa catarse para a morte33: «discorria por todos os estados do mundo [...], e em tudo descobria tantos descontos, tantos trabalhos e desconsolações que claramente mostrava não ser outra cousa a vida secular senão um abismo de tormentos e misérias, e chamar-se com razão vale de lágrimas, porque ajuntava com as que todos, nacendo, choramos, as contínuas dos poucos anos que durava a vida e, a essas, outras, no fim dela, que fazia mais magoadas o medo da morte e a vergonha do tempo mal vivido» (Vida, p. 232). Continua depois Fr. Bartolomeu, na linha de S. Bernardo, com o tópico das aparências perante a crua realidade, numa mistura de estoicismo clássico e de ascética cristã, que tanto pode evocar Séneca como o Eclesiastés: Gregório Taveira, Fugida do mundo para Deus pela escada da penitência, Lisboa, Pedro Craesbeeck, 1619. Vejam-se também o diálogo «Da vida solitária» de Heitor Pinto dentro da sua Imagem da Vida Christam, Coimbra, João de Barreira, 1563; ou também Diego de Estella, «Del amor de soledad», na Primera parte del Libro de la vanidad del mundo, Lisboa, Antonio Ribeiro, 1576. Aliás, temos de consignar a oposição frontal dos jesuítas perante as práticas anacoréticas. Cf. Fernando R. de la Flor, «Jardín de Yavhé. La ideología eremítica en el espacio de la Contrarreforma», em La península metafísica, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, pp. 123-155. 33 Segundo Hatzfeld esta catarse barroca sssignifica «librarse del poder de las pasiones y un estímulo para la práctica de la virtud; la superación de las malas inclinaciones y el despertar de las buenas. Incluso supone el cultivo de un temor general al Infierno, que había de producir un aumento de la caridad y, como consecuencia inmediata, un sentimiento de felicidad»; em Estudios sobre el Barroco, p. 134. 32 56 EDUARDO JAVIER ALONSO ROMO «e se havia quem risse e quem se alegrasse, era mintira, era fingimento e máscara de mostras falsas pera disfarçar amarguras verdadeiras; e quem estas não sintia, esse era mais miserável, porque tanto maior e mais perigoso era o mal quanto menos sintimento tinha dele quem o padecia, sendo como era a vida do pecador [...] ûa horrenda quimera um desventurado composto que, constando de três partes, ûa delas era nada, e as outras duas piores que nada. Um nada éramos antes de criados, e os outros dous nadas que o pecador ajuntava à natureza que lhe foi dada, que são pecados e as penalidades por eles merecidas, porque o pecado, sendo em si nada, punha aos homens no mais triste e mais abatido estado que podia ser, e os obrigava a condenação e pena eterna, que é o terceiro nada» (Vida, p. 232). Trata-se de considerações que entroncam com uma linha muito anterior, particularmente com Tomás de Kempis (1380-1474)34. A conclusão necessária é que «só se podiam chamar no mundo bem-aventurados os que, fugindo pera o deserto da Religião» (Vida, p. 233), seguravam as suas almas. Não há dúvida de que Luís de Sousa idealiza um tanto o seu herói, a que chama «o Santo». Ora bem, fruto da sua tensão interior são os escrúpulos de consciência que constantemente assaltam o protagonista. Aliás, os escrúpulos parecem ter sido uma constante da espiritualidade maneirista-barroca, e já se falou deles como característica do espírito da época35. Também a extrema sensibilidade de Bartolomeu recebe especial atenção por parte de Sousa, quando este se compraz em anotar os momentos de lágrimas e suspiros do Arcebispo36. Esta particular atenção parece revelar mais que um gosto pessoal, uma das demonstrações de perfeição espiritual mais estimadas e cultivadas naquele tempo37, aspecto exterior de uma piedade muito afectiva em que Luís de Sousa insiste, apontando ainda outras manifestações e práticas que se integram também em constantes epocais: devoção às chagas de Cristo, gosto pelas orações jaculatórias, prática da celebração quotidiana da missa para os sacerdotes e da comunhão frequente para o resto dos fieis; pontos estes últimos polémicos ainda neste período que nos ocupa38. Um traço chocante para nós, mas próprio da época39, é a ascese extremada por parte de D. Fr. Bartolomeu, proposto como «espelho de observância» (Vida, p. 30)40. 34 Referimo-nos ao De imitatione Christi, provavelmente o livro mais lido na Cristandade depois da Bíblia, e com enorme difusão da Península Ibérica. 35 Cf. Jean Delumeau, La peur en Occident. XIV-XVIII siècles, Paris, Fayard, 1978; e também Le péché et la peur, Paris, Fayard, 1984. Michel de Certeau, L’écriture et l’histoire, Paris, Éditions Gallimard, 1975, pp. 153-212. 36 Cf. Vida, pp. 316, 319, 388, 511, 512, etc. 37 Cf. Anabela Galhardo Couto, «Do olhar e das lágrimas: Vieira e a mundividência barroca», em Actas do Congresso Internacional «Terceiro Centenário da Morte do Padre António Vieira», Braga, UCP-CJ, 1999, III, pp. 1411-1421; e ainda Jean Delumeau, El Catolicismo de Lutero a Voltaire, Barcelona, Labor, 1973, pp. 58-64. 38 Cf. Domingo de Valtanás (1488-1568), Apología sobre ciertas materias morales en que hay opinión y apología de la comunión frecuente, ed. de Álvaro Huerga y Pedro Sáinz Rodríguez, Barcelona, Juan Flors, 1963. 39 Vejam-se, no entanto, as censuras do franciscano Fr. Juan de los Ángeles para os que «no contentos con la cruz que Dios les envía, ellos por su cabeza y propia voluntad se procuran otras intolerables [...], rigores y asperezas en daño notable de la salud»; em Diálogos de la conquista del espiritual y secreto reino de Dios, Madrid, Baylli Bailleri, 1912 [1595], p. 77. 40 Vejam-se as reflexões de J. S. da Silva Dias sobre a personalidade de Bartolomeu dos Mártires na nota II de Correntes do sentimento religioso em Portugal (séculos XVI a XVIII), Coimbra, Universidade de Coimbra, 1960, II, pp. 469-475. LUÍS DE SOUSA E O MANEIRISMO LITERÁRIO PORTUGUÊS 57 Por exemplo quando, acabada a temporada das visitações, se retirava no mosteiro franciscano de S. Frutuoso, ali «se tomava conta das noites que se lhe passaram sem tomar diciplina [...], e pagava-se largamente com penitências dobradas» (Vida, p. 364). A este respeito, Sousa põe na boca do Arcebispo palavras tão rijas como as seguintes, bem expressivas do seu estilo de vida: «Que o enxergão frio e duro lhe lembrasse a terra em que havia de jazer sepultado. O cilício contínuo da túnica de lã, áspera e mordente, o aguilhão da morte. Os bichos que a estamenha criava e, já em vida, começavam a fazer pasto de nossas carnes, fossem uns amoestadores do que havia de ser delas dentro de pouco tempo. E, em fim, a cela falta de tudo lhe fizesse das sospiros polo Céu, onde sobeja tudo» (Vida, p. 489). Este traço é recorrente ao longo da obra, mas fica sublinhado no capítulo «Da temperança que guardava no comer, e beber e dormir» (Vida, pp. 641-644). Uma ideia que pode lembrar certo Quevedo41, é a evocação que faz Sousa, olhando com saudade os tempos passados, perante o seu presente: «nesta nossa idade...» (Vida, p. 510). Ele escreve desde um presente, um hoje, ao qual critica repetidas vezes, contrapondo-o a um tempo anterior: o do biografado42, ou outros mais recuados43. Ao tempo da juventude de Bartolomeu parece referir-se quando escreve: «A criação que nos tempos passados tinham os moços neste Reino era tão austera e tão conforme com as regras de prudência, que daí nacia saírem na guerra valentes e animosos, e na religião, sábios e penitentes» (Vida, p. 19), dando a entender ao leitor que isso «hoje» já não é possível44. Como sublinha José Adriano de Carvalho, «tal arcebispo já parecia no seu tempo – e mais ainda no de Frei Luís de Sousa – uma antiguidade. Compreende-se melhor que Frei Luís se tenha demorado a sublinhar o ‘espanto’ que Frei Bartolomeu causava»45. Para além do espírito da época46, pessoalmente parece ter sentido com profunda nostalgia que o mundo que ele historiava era um tempo já irremediavelmente perdido e, talvez por isso, melhor. A uma certa saudade de uma época mais bela já passada, de grandes santos e de casos extraordinários de caridade, de pureza de fé e costumes47, há que juntar uma nostalgia de uma época mais próxima, e contudo ainda muito bela, em que aconteceram casos modernos de 41 Podemos lembrar, por exemplo, o célebre soneto que conclui com as palavras: «Y no hallé cosa en que poner los ojos / que no fuera recuerdo de la muerte». 42 Vida, pp. 17, 19, 79, etc. 43 Por exemplo quando escreve: «nos tempos antigos os nobres e valerosos se prezavam de enriquecer as igrejas [...], veio despois outra idade avara e cobiçosa...» (Vida, p. 345). 44 Cf. Vida, pp. 35 y 457-458. 45 José Adriano de Carvalho, na sua «Introdução», a Fr. Luís de Sousa. Páginas Escolhidas, Lisboa, Verbo, 1970, p. 25. 46 O também dominicano Fr. Alonso de Cabrera escrevia nesses anos, com alusão ciceroniana incluída: «¿O tiempos! ¡O costumbres! ¡O siglos! ¡O esposa celestial, quien os vio en vuestra juventud tan gallarda [...], y aora, a la vejez os ve tan sola de gente y desacompañada»; citado por Félix Herrero Salgado, La oratoria sagrada en los siglos XVI y XVII. II. Predicadores dominicos y franciscanos, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1998, p. 250. 47 Curiosamente Sousa pensa mesmo que «as vidas hoje eram muito mais curtas que tantos centenares de anos atrás» (Vida, p. 215). 58 EDUARDO JAVIER ALONSO ROMO santidade, de cavalheirismo guerreiro e heroísmo: o tempo da juventude de Sousa: «Que este é o verdadeiro metodo de bom governo com que nos bons tempos se regia o mundo [...] Hoje vai tudo tanto ao revés...» (Vida, p. 331). Por outra parte é evidente o contraste (ironia das ironias) entre a ostentação da festa barroca na translação do seu corpo e a austeridade do Bracarense sublinhada em toda a obra. E poderíamos ainda citar outros caso, como a imagem de «o teatro do mundo» (Vida, p. 5), tão presente naquela altura48, etc. Podemos concluir, portanto, que Luís de Sousa pode constituir um paradigma da sensibilidade e do gosto maneirista: uma profunda inquietação espiritual que deriva duma visão pessimista da vida, marcada pelo sentimento de insegurança e da efemeridade, e atravessada por conflitos e contradições; a esta visão da vida corresponde uma visão não menos pessimista do mundo - caótico, labiríntico, despojado da coerência e da harmonia que nele encontrava o homem renascentista. O escritor reage manifestando uma angustiada consciência da crise a que não é alheio um profundo sentimento do pecado, agravado pela obsessão da vaidade dos bens terrenos. Este estado de alma melancólico verte-se numa atitude que se volta para a consolação religiosa, ou para a postura sentenciosa e moralista. 3. MANEIRISMO Y COMBINAÇÃO DE GENÉROS 3.1. A Vida como literatura hagiográfica Luís de Sousa tinha uma visão da hagiografia bastante diferente da medieval49. Trata-se agora de uma hagiografia segundo o espírito de Trento: um santo é não só um testemunho concreto do seguimento de Cristo a admirar, mas um exemplo a imitar50. Neste ponto é interessante ver como o próprio Luís de Sousa se refere, depois de uma confissão de insuficiência expressiva51, num passo de poética explícita, à dimensão pragmática deste género literário: «Somente cerraremos este capítulo com dizer que se o escrever vidas de santos e ler por elas, não há-de servir para nos compungir e emendar, ocioso é o tempo da lição e 48 Também D. Francisco Manuel de Melo verá o mundo como comédia. Vejam-se L.G. Christian, Theatrum Mundi. The History of an Idea, New York-London, Garland Publishing, 1987; J. A. Maravall, «Elementos de una cosmovisión barroca», em La cultura del Barroco, Barcelona, Ariel, 1975, pp. 309-418; e Juan García Gutiérrez, «Dos aspectos de la cosmovisión barroca: La vida como sueño y el mundo como teatro», Revista de Estudios Extremeños, 58 (Badajoz 2002), pp. 863-876. 49 Cf. Mª Clara de Almeida Lucas, Hagiografia medieval portuguesa, Lisboa, Biblioteca Breve, 1984; Fernando Baños Vallejo, La hagiografía como género literario en la Edad Media. Tipología de doce Vidas individuales castellanas, Oviedo, Dep. de Filología Española, 1989. Veja-se também o nº 10 da revista Via Spiritus (Porto 2003), dedicado monograficamente à Hagiografia Literária. Séculos XVI-XVII. 50 Sousa mostra aqui uma noção da hagiografia muito próxima que o jesuíta espanhol Pedro de Ribadeneira apresenta no Prólogo do seu Flos Sanctorum (1599), quando fala das razões pelas que se devem escrever as vidas dos santos: «con ninguna cosa se convencen mejor, que con los ejemplos de los santos, porque es más excelente modo de enseñar con obras, que con palabras». Cf. D.L. González Lopo, “Los nuevos modos de la hagiografía contrarreformista”, Memoria Ecclesiae, 24 (Oviedo 2004), pp. 609-632. 51 «Não me atrevo a dizer nada, quando a vida deste religioso varão dá vozes e brada tão alto que não podem nenhuns escritos igualar-se com elas, inda que saíram do estudo de um Crisóstomo» (p. 274). LUÍS DE SOUSA E O MANEIRISMO LITERÁRIO PORTUGUÊS 59 muito mais ocioso o trabalho da escritura. Que os Santos não hão mister a glória de nossa pena, só querem a de Deus e estimarão muito a que a Deus daremos, se à sua imitação composermos nossas vidas, que pera isso querem que se escrevam as suas» (Vida, p. 275). Não lhe faltavam a Sousa biografias contemporâneas de outros bispos-modelo enquadrados como Fr. Bartolomeu no vasto movimento reformador tridentino: a do agostinho Tomás de Villanueva, arcebispo de Valencia a do arcebispo de Toledo, Bartolomé Carranza, dominicano; e várias de S. Carlos Borromeu, arcebispo de Milão; todas elas corriam manuscritas ou impressas muito antes de 161952. Não existindo na altura processos canónicos sobre Fr. Bartolomeu, Sousa não pôde utilizar esta documentação que é fundamental noutras biografias análogas daquele tempo. Ainda mais, neste caso o arguente narrador apresenta-se ele próprio como uma espécie de instrutor de um processo. De facto, a obra foi pensada e escrita como uma espécie de grande processo, o mais possível exacto e pormenorizado, da vida e virtudes do Arcebispo, tendente a suprir «os escritos e testemunhos jurídicos» que os seus contemporâneos descuidaram e que deveriam servir para fundamentar a canonização53. Acrescente-se a alusão tópica ao descuido da Ordem dominicana em «celebrar cousas que tornam em louvor próprio» (Vida, p. 3)54. A análise atenta da estrutura da obra – colocação intencional de muitos capítulos na sua sequência de ordenação, distribuição do mesmo assunto por vários capítulos numa atitude reiterativa dos factos, por exemplo – deveria confirmar-nos como a Vida de Fr. Bartolomeu está concebida literariamente como a narração lenta de um «triunfo», cujos momentos principais poderão ser os êxitos da reforma pastoral de Braga, a actuação no Concílio de Trento e, afinal, como um fogo de artifício exuberante de cor, as festas da trasladação dos seus restos mortais. As reiteradas acusações do autor à negligência em registar os milagres realizados por intercessão de Fr. Bartolomeu mostram a intenção de o canonizar que presidiu a organização do texto. Ouçamos o lamento do biógrafo, após a narração de um caso de miraculosa multiplicação de comida: José Adriano de Carvalho, Fr. Luís de Sousa. Páginas Escolhidas, p. 17. Lembremos que, depois de muitas dilações, a beatificação de D. Fr. Bartolomeu dos Mártires só se verificou recentemente: a 4 de Novembro de 2001, em Roma, pelo papa João Paulo II. Resta agora o caminho para a sua canonização. Cf. Innocenzo Venchi, «Marcha acidentada de um processo de glorificação», em Actas do Congresso Internacional IV Centenário da Morte de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, Fátima, 1994, pp. 713-722; e Juan José Gallego Salvadores, «Beato Bartolomé de los Mártires, Arzobispo dominico de Braga», em Nuevo Año Cristiano. VII: Julio, 2ª ed., Madrid, Edibesa, 2001, pp. 373-383. 54 Este tópico aparece referido várias vezes: «São os nossos religiosos em geral pouco amigos de realçar com cores e matizes de encarecimento as grandezas da nossa Ordem; parece-lhes emprego de louvor próprio que todo bom entendimento aborrece; querem as glórias de boca e linguagem alheia» (p. 547). Alias também aparece repetidamente na História de S. Domingos. É curioso constatar que também aqui se opera um paralelismo entre Fr. Bartolomeu e S. Domingos de Gusmão; cf. Jordán de Sajonia, Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum [c. 1234], em Santo Domingo de Guzmán. Fuentes para su estudio, Madrid, BAC, 1987, p. 124. 52 53 60 EDUARDO JAVIER ALONSO ROMO «queixo-me deles [as testemunhas] como ingratos, que, conhecendo ûa maravilha tão fora das leis da natureza e prodígio averiguado, não fizeram nele tal diligência que ficasse em estado de nos poder servir hoje, pera pretendermos e fundarmos a canonização de quem merecia a Deus favores tão raros» (Vida, p. 402). Comentários deste tipo são abundantes e selam frequentemente micro-narrativas de teor miraculoso55, o que funciona semanticamente quase como uma litote, num sentido mais abrangente, na medida em que a constatação da inexistência de um registo equivale à admissão de que, se tivesse ocorrido o inverso, a canonização já estaria garantida. Aliás, a necessidade de oficializar a ocorrência de milagres, propedêutica do culto canónico do santo, revela já os novos rumos que a espiritualidade tridentina vinha traçando. Às restrições impostas por erasmistas e luteranos a uma série de práticas do Cristianismo, sucede-se um movimento de recuperação das manifestações exteriores do sentimento religioso, como já salientou o Prof. Silva Dias56. A acompanhar esta mutação no entendimento e prática da fé, o século XVII descobre o valor da biografia (não apenas devota, mas também política) como instrumento pedagógicoeducacional e da hagiografia como modelo de espiritualidade. Esta consideração de dois géneros exemplares e didácticos tem, obviamente, repercussões na produção literária seiscentista. Em sintonia com a personalidade retratada e com a época em que escreve, também Fr. Luís de Sousa aconselha que tenham a Vida do Arcebispo «sempre diante dos olhos, como espelho» (p. 390). De facto, a importância pedagógica de que se reveste este tipo de literatura encontra-se documentada em inúmeros textos da época, nomeadamente nos prólogos. Vejamos agora como o autor contorna o problema da autenticação da matéria narrada. Sousa superou a hagiografia tradicional pelo relevo que confere à compatibilidade cotextual de dois géneros com os quais mantém profundas afinidades: a narrativa biográfica, enquanto fornecedora de um enquadramento mais objectivo e circunstanciado do percurso vivencial do protagonista, e a narrativa historiográfica que traça o pano de fundo. Os capítulos dedicados ao seu comportamento durante a peste são sintomáticos da organização a que a matéria diegética é sujeita em função do tipo de herói que representa. A ideia cristã de que toda a existência humana é uma provação transforma a vida num aprendizado constituído por inúmeras provas que se impõem ao homem. Estes elementos estruturantes da narrativa hagiográfica (formas embrionárias de um romance de aprendizagem) adquirem assim, uma funcionalidade dupla, intra e extradiegética: para o santo que as realiza e para os consumidores do texto. No universo hagiográfico, muitas destas provas são constituídas por tentações que assediam o cristão. Cf. Vida, pp. 337-339, 399-402, 480-481, 546-548, 550-552, etc. José Sebastião da Silva Dias, Correntes do sentimento religioso em Portugal (séculos XVI a XVIII), Coimbra, Universidade de Coimbra, 1960, I, pp. 409-457. 55 56 LUÍS DE SOUSA E O MANEIRISMO LITERÁRIO PORTUGUÊS 61 A hagiografia, pela relação persuasora que estabelece com os seus destinatários, favorece a perpetuação de um certo mimetismo espiritual. Nesse sentido, o sublinhar, ao nível do discurso, de elementos da mentalidade e sentimento religiosos atinentes, no plano da diégese, ao comportamento das personagens, traduz a conformidade existente entre o modelo de perfeição monástica e prelatícia, representado em D. Fr. Bartolomeu, por um lado, e no comportamento dos devotos, por outro, é em geral o ideal da espiritualidade do Barroco. A conformação da Vida do Arcebispo encontra-se assim condicionada pelo reconhecimento da excepcionalidade de D. Fr. Bartolomeu e por uma mentalidade ávida de objectivações de santidade. Aliás, perante a hagiografia tradicional, Sousa introduz a novidade do pormenor pitoresco e localista, conseguindo assim um retrato vivo do biografado, envolvido numa santidade imediata e popular. Deste modo, na biografia de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, arcebispo-primaz de Braga, o autor traçou um retrato muito vivo do homem e do religioso, logrando uma compreensão íntima da personagem que é verdadeiramente moderna. 3.2. A Vida como literatura historiográfica No século XVII assiste-se a um importante florescimento historiográfico na Península Ibérica: «Venidos de un pasado de expansión y dominio, los hispanos tenían mucho que reflexionar [...]. Tenían mucho que escribir sobre su pasado en busca de una explicación satisfactoria del presente, o al menos, encontrar una complacencia nostálgica en el pasado»57. Além disso, o espírito tridentino influenciou consideravelmente a mentalidade religiosa peninsular, traduzindo-se no renovado estudo das ciências sagradas e da história própria. Aliás, lembremos que já existiam alguns precedentes que misturavam historiografia e hagiografia, entre os que destaca a anónima Crónica do Condestabre (c. 1440). As Ordens religiosas procuram assentar os seus marcos históricos e a acção que tinham exercido em prol de Portugal. Especialmente os cistercienses de Alcobaça, os franciscanos e os dominicanos aparecem a pôr em relevo as efemérides das suas ordens e as mais notáveis figuras que nelas haviam tido assento. Os historiadores conventuais não raro se inclinam para o campo hagiográfico, destacando velhos milagres e versões sobrenaturais para assim cobrirem de maior aura os seus confrades. António José Saraiva, ao tratar dos cronistas das ordens religiosas – entre os que cita explicitamente Luís de Sousa –, comenta o seguinte: «Em todas estas obras está bem patente uma inspiração comum através de um estilo inconfundível apesar de impessoal, de uma ingenuidade convencional e amaneirada, de uma ausência de espírito crítico e indagador, de uma predilecção pelo maravilhoso alindado, de uma compostura adequada ao hábito monástico, inspiração comum que em plenos séculos XVI e XVII perpetua um medievalismo fossilizado»58. José Cepeda Adán, «La historiografía», em Historia de la Cultura Española. I, p. 696. Cf. Vicente Palacio Atard, Derrota, agotamiento, decadencia, en la España del siglo XVII, Madrid, Rialp, 1966. 58 António José Saraiva, Renascimento e Contra-Reforma, Lisboa, Gradiva, 2000, p. 149. 57 62 EDUARDO JAVIER ALONSO ROMO Ora bem, acontece que Luís de Sousa salienta no conjunto da historiografia seiscentista de tal modo que a biografia do Arcebispo Primaz se não ajusta bem ao modelo traçado por Saraiva. É verdade que, na leitura da obra, havemos de ter presente que uma biografia edificante em princípio é acrítica no sentido de seleccionar os factos sublimes que dignifiquem a figura do santo, e omitir os sucessos perigosos que a possam escurecer. E além disso, não podemos esquecer a tendência panegirista da Contra-Reforma. Mas, de outro lado, no livro sousano toda a informação é veiculada ao leitor com pormenor e cuidado de não faltar à verdade, sempre caracterizada pelo recurso às fontes de informação. Mesmo, este texto pode utilizar-se como fonte histórica ele próprio. A preocupação do pormenor para sublinhar o real norteará toda a Vida. Até onde estes dados são despidos de imaginação, não o podemos saber. Mas a intenção é essa: dar a verdade ao leitor, o que tira à Vida aquele cunho maravilhoso que caracterizava boa parte das hagiografias anteriores, muito mais viradas para o irreal, para um fantástico, aqui ausente, a diferença por exemplo da História de S. Domingos, do mesmo autor, ao tratar de tempos mais recuados. Todavia, a verdade histórica da Vida de D. Frei Bartolomeu em vários pontos, só podemos conjecturá-la, não era para o biógrafo do século XVII a exigência mental que determina o historiador dos nossos dias; e menos ainda quando o biógrafo tinha sobretudo em vista o valor edificante de um raro exemplo e a maior glória da sua religião e da Ordem a que ambos pertenciam. Mesmo assim, esta Vida possui um excepcional interesse humano, pela craveira mental e moral do Arcebispo e pelo modo de evocar, descendo aos pormenores significativos do dia-a-dia, para além de dar-nos preciosos informes sobre a vida portuguesa da segunda metade do século XVI. Aparecem na obra reiteradas confissões dos esforços efectuados no sentido de certificar dados obtidos através de outras fontes, à indicação dos textos onde recolheu informação, à forma como utilizou os fragmentos deixados pelos seus predecessores, e à transcrição integral de cartas, que visam documentar a verdade histórica dos acontecimentos narrados: «não foi sem trabalho o que até aqui fomos tecendo com uma pouca de ordem, alcançando os tempos de alguns sucessos por conjeituras e como adivinhando» (Vida, p. 424); «coligimos dela o tempo em que foram escritas» (p. 434). Às vezes queixa-se de que lhe faltam dados: «A antiguidade, pouco curiosa, não aponta era nem ano» (Vida, p. 122); «não pudemos alcançar o nome, nem o estado, nem o lugar certo de sua morada» (p. 391); «não pudemos averiguar se foi neste ano, se no seguinte» (p. 401); «Com tudo não damos deste mais certeza que a voz e tradição comum, porque nas memórias que nos vieram às mãos, donde tomamos o que vamos escrevendo, não há nenhuma que tal aponte» (p. 416); «Acho em algûas lembranças, Francisco Vaz com apelido de Telo, de que a carta não faz menção» (p. 421); «Os originais destas cartas não chegaram a nossas mãos, só alcançamos o da resposta» (p. 433). Sousa revela um profundo sentido histórico ao denunciar, em inúmeros passos da Vida, um olhar lúcido sobre a informação recolhida, mesmo com expressões de dúvida em relação à fonte. Não se coibindo e reconhecer incertezas face aos elementos que aduz, estabelece uma relação de fiabilidade com o leitor, assegurando deste LUÍS DE SOUSA E O MANEIRISMO LITERÁRIO PORTUGUÊS 63 modo a veracidade do narrado: «se se pode dar crédito a uma tradição que de tempos antiquíssimos anda naquela gente» (p. 335); «Não falta quem afirme que...» (Vida, p. 427). Outras vezes, porém, exprime-se com mais segurança: «Não tenho dúvida que...» (p. 396). É interessante reparar na afirmação de Sousa – que cultivou ambos os géneros de que uma biografia de santo não «são anais de reino, que sempre dão algûa ocasião de escrever» (p. 424). Várias vezes o autor assume explicitamente o seu ofício» ou as suas «obrigações» do «ofício de historiador», uma das quais seria dar uma interpretação dos factos narrados: «se é lícito darmos nosso parecer, como é obrigação do ofício que fazemos de historiador» (p. 84)59. É neste sentido que encontramos na obra por um lado o evento e por outro a documentação que assegura a credibilidade. Ou também quando escreve sobre: «alguns casos que iremos contando, em parte dos quais não achamos sinalado lugar nem tempo certo, nas memórias que nos vieram à mão, sendo os sucessos certíssimos; e creio devia ser a causa, porque no tempo que se apontavam, como eram acontecidos de fresco e havia respeito em não nomear as partes, temia-se por ventura que também polas circunstâncias de lugar e tempo se viessem a colegir as pessoas» (Vida, p. 357). O pacto de leitura a que estas estratégias conduzem, aliado à concepção da história como «mestra da vida» (Vida, p. 10), aumentam a eficácia da narrativa biográfica como apresentação de um modelo ideal de prelado. Sousa sublinha também as dificuldades do seu ofício: «na verdade, escrever história com as partes que ela requere é mais obra da Providência divina que de forças humanas» (p. 11). Portanto, como atitude historiográfica, Sousa professa a insistência na verdade no narrado, recolhe testemunhos e aduz documentos: «Escrevemos entre muitos vivos que conheceram e trataram este Prelado; e os que o não viram nem trataram sabem suas cousas tão de perto que não podemos dizer nenhûa que não seja sabida de quasi todos, por narração mui fresca e certa dos que o alcançaram» (Vida, p. 10). A máxima fidelidade é decerto uma reiteração permanente ao longo da obra: «Não deve parecer a ninguém, à vista deste caso, que pomos em risco o crédito da história, se contarmos outro que como verdadeiro milagre foi notado e publicado» (p. 466). Temos, porém, de admitir que Sousa não deixa de ser filho do seu tempo e a sua objectividade é mais a do hagiógrafo que a do cronista isento: a sua intenção panegírica, a sua relativa credulidade, etc., levam-no naturalmente a ignorar ou atenuar tudo quanto não interesse à imagem positiva que pretende reter. Aliás, não devemos esquecer que Sousa escreve durante o período da União Ibérica, no qual há um certo fechamento em Portugal, com o inevitável refluxo de cariz «nacionalista» que sobrevalorizava tudo quanto fosse genuinamente português. Deste ponto de vista é interessante ver o patriotismo de Sousa-narrador. Ele confessa, neste canto à nação lusitana, que quer 59 Cf. Vida, pp. 598, 785, etc. 64 EDUARDO JAVIER ALONSO ROMO «abrir os olhos a quem for tão mal advirtido ou tão pouco afeiçoado à sua pátria que, à vista de tais espíritos, não confessar que vive ainda nos portugueses aquele fogo de verdadeiro valor que por todas as idades os ilustrou. Muito quebrantam calamidades e infortúnios gèrais, mas o fogo cuberto de cinza dissimulado está, não apagado, e o ouro, sepultado na terra, a cor poderá algûa vez perder, e a fineza nunca» (Vida, p. 194). Assim também, quando o Arcebispo Bracarense entra em Portugal, vindo do Concílio de Trento, exclama o narrador: «Não sei que doçura encerra em si este nome da pátria que, vendo entrar o Arcebispo nela, assi nos alegra escrevendo, como se com ele fôramos peregrinando e com ele tornáramos triunfando. Promete a pátria descanso, quietação, paz e alegria, mas e miserável condição a dos que governam, por mais que a doure a ambição» (Vida, p. 315). De modo semelhante, a propósito das alterações que em Portugal sucederam em 1580 por morte do rei-cardeal D. Henrique, comenta o narrador: «É nome fermoso rei natural» (Vida, p. 497). Aliás, «Não era o Arcebispo homem a quem fizesse vantagem no amor da pátria e do bom comum nenhum dos mais acesos requerentes» (p. 498). No entanto, encontramos certa ambiguidade ao tratar a posição do biografado por ocasião da crise dinástica60. Por um lado, Luís de Sousa tem de respeitar a autoridade filipina; por outro lado, a biografia dirige-se aos cidadãos vianenses, cujos sentimentos antifilipinos se entrevêm com clareza, pois ele próprio nos mostra que «todas as vilas grandes» do Minho lançaram voz por D. António61. De facto, o escritor dominicano não critica o rei Felipe II, mas dá uma boa imagem dele: «Deus foi servido dar paz por todo o Reino, sendo recebido por rei e obedecido de todos el-Rei D. Filipe II de Castela» (p. 505)62. Mero formulismo de conveniência? Talvez... Na obra, porém, não se omite a crítica aberta às injustiças do rei D. Sebastião (Vida, pp. 443-448), nem às vaidades da corte (pp. 457-458), nem à jornada de Alcacer Quibir: «a infelicíssima jornada que o Desejado temerariamente acometeu, medindo suas forças por seu esforço, e lisongeado e fomentado por gente de pouco discurso» (p. 493). Acrescente-se que a ordenação sistemática da exposição é feita segundo as exigências da cronologia e a particularização dos dados, tendo em vista a exemplaridade, a sequência e a função das ocorrências referidas. Daqui resulta que a história biográfica tem em Luís de Sousa o seu primeiro mestre decidido a enfrentar, num nível crítico, os problemas que lhe são próprios. Embora não explicite a sua tarefa de biógrafo – contrariamente ao que observámos em relação à de historiador –, estas considerações são suficientemente expressivas da adopção de uma estratégia biográfica. 60 Cf. Joaquim Veríssimo Serrão, «D. Bartolomeu dos Mártires e a sucessão de 1580», em Aufsatze zur Portugiesischen Kulturgeschichte, Munster Westfalen, 1964, IV, pp. 261-272; e também R. de Almeida Rolo, «O patriotismo de D. Frei Bartolomeu», Braga, 1964, separata de O Distrito de Braga. 61 Cf. Hernani Cidade, A Literatura Autonomista sob os Filipes, Lisboa, Sá da Costa, s.d., p. 82. 62 Veja-se, por exemplo, o encontro acidental de D. Fr. Bartolomeu com Felipe II em Catalunha (pp. 300302). LUÍS DE SOUSA E O MANEIRISMO LITERÁRIO PORTUGUÊS 65 Finalmente mencionemos que o cronista escalabitano manifesta uma certa visão providencialista da História, aliás muito normal na época. 3.3. O género «relação de festas» No Barroco peninsular, o poder identifica-se com o espectáculo, na capacidade e na decisão de organizar festas e representações. Assim a festa é um discurso metafórico continuado, no qual se celebram e ritualizam os dogmas da religião e do Estado, sempre com um carácter marcadamente teatral63. Ora bem, o género ou subgénero da «relação de festas» é tipicamente barroco. Pois conhecemos a festa e acedemos a ela em quanto texto, em quanto relação escrita, textualizada e documentada, a qual forma uma espécie de pantalha literária. Trata-se de um singular género de impressos que proliferou no âmbito da monarquia hispana nomeadamente ao longo do século XVII. Estas relações constituem a escrita da efeméride e do efémero64; a sua finalidade é dar-lhes perduração para além da memória, sempre fraca. Como escreve Fernando R. de la Flor, «una determinación ‘ecfrástica’ guía tal conjunto discursivo de régimen híbrido, pues se trata sobre todo de un proceso de estetización persuasiva, que acoja y se muestre abierto hacia registros icónicos, o que pueda hacer un traslado de ellos»65. Aliás, estas relações têm uma evidente formulação «publicista» ou propagandística por quanto representação do poder perante os olhos do povo66. Procura-se reflectir um mundo extraordinário, alheio a toda possível contaminação do quotidiano. Todavia o mesmo estudioso noutro lugar chama a atenção para o facto de estas relações serem «una representación de segundo grado, pues en ellas se elabora y codifica la existencia de un teatro previo, de un ‘espectáculo’, al que llamamos fiesta o conmemoración, que a su vez remite a un grado cero que es el acontecimiento o suceso histórico»67. Deste modo, o texto fica como representação de uma outra representação. Veja-se Francisco Ribeiro da Silva, «Festas urbanas e representação do poder municipal (Braga e Porto na época moderna)», Theologica, 33 (Braga 1998), pp. 417-432; onde se trata das festas anuais de carácter tradicional segundo o ano litúrgico, não de celebrações pontuais como a translação do corpo de Fr. Bartolomeu. Cf. José María Díez Borque, «Relaciones de teatro y fiesta en el Barroco español», em Teatro y fiesta en el Barroco, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1986; e Ana Cristina Cardoso da Costa Gomes, «Mulher e festa na sociedade portuguesa pós-tridentina», Brotéria, 156 (Lisboa 2003), pp. 381-402. 64 Cf. Alicia Cámara Muñoz, «La fiesta de Corte y el arte efímero de la Monarquía entre Felipe II y Felipe III», em Las sociedades ibéricas y el mar a finales del siglo XVI, Madrid, Sociedad Estatal Lisboa’98, 1998, pp. 67-89; Jenaro Alenda y Mira, Relaciones de solemnidades y fiestas públicas de España, Madrid, Biblioteca Nacional, 1903. 65 Fernando R. de la Flor, Barroco: representación e ideología en el mundo hispánico, p. 168. A écfrasis seria, então, o registo de descrição de obras plásticas. 66 Cf. «La soledad de los reinos. El Portugal de los Felipes en la monarquía del Rey Ausente»; e também R. J. López, «Ceremonia y poder en el Antiguo Régimen», ambos trabalhos recolhidos em A. González Enciso – J.M. Usunáriz Garayoa (Eds.), Imagen del Rey, imagen de los reinos. Las ceremonias públicas en la España Moderna, Pamplona, Eunsa, 1999, pp. 19-63. 67 Fernando R. de la Flor, «Gasto, derroche y dilapidación del bien cultural. La economía simbólica de la fiesta», em La península metafísica. Arte, literatura y pensamiento en la España de la Contrarreforma, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, p. 347. 63 66 EDUARDO JAVIER ALONSO ROMO Exemplos desta literatura, por vezes anónima, são os relatos de festas com motivo de visitas reais68, recebimentos de autoridades69, recebimentos de relíquias70, procissões71, as comemorativas de beatificações e canonizações – frequentemente jesuíticas –72, e também, como é o caso que estamos a analisar, trasladações dos restos de santos ou pessoas com fama de santidade73. Há, portanto, uma grande proliferação em Portugal de textos deste género mais ou menos coevos da Vida escrita por Sousa, embora continuassem ainda no século XVIII74. Deste modo, a última parte da Vida de D. Fr. Bartolomeu dos Mártires inscrevese nessa tradição textual. Um pequeno exemplo antecipatório podemos vê-lo na recepção de que é objecto D. Fr. Bartolomeu quando entra no Porto, «que não pudera ser maior se entrara a pessoa d’el-Rei D. Sebastião» (p. 476). Mais em concreto, é o livro VI que faz parte das descrições do que pode chamar-se teatro funeral, em que há uma concentração de recursos visuais que mostram os tópicos referidos à morte, à volta das estruturas tumulares75. Todo isso no meio de uma superabundância simbólica, com boa dose de ostentação que implica a ultrapassagem de quaisquer outras celebrações anteriores76. Deste modo a Contra-reforma tinha transformado a morte 68 Afonso Guerreiro, Relação das festas que se fizeram na cidade de Lisboa na entrada del Rei D. Philipe primeiro de Portugal, Lisboa, Francisco Correa, 1581; Francisco Rodrigues Lobo, La jornada que la Magestad Catholica del Rey Don Phelipe III de las Españas hizo a su Reyno de Portugal; y el triunpho y pompa con que le recibió la insigne ciudad de Lisboa el año de 1619, Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1623; Vasco Mouzinho de Quevedo e Castelo Branco, Triunfo del Monarca Filipe III en la felicíssima entrada de Lisboa, Lisboa, Jorge Rodrigues, 1619. Cf. Jacobo Sanz Hermida, «Un viaje conflictivo: relaciones de sucesos para La jornada del Rey N. S. Don Felipe III deste nombre, al Reyno de Portugal (1619)», Península. Revista de Estudos Ibéricos, nº 0 (Porto 2003), pp. 289-319. 69 Cf. Relação do recebimento, e festas que se fizeram [...] à entrada de Dom Rodrigo da Cunha, Braga, Frutuoso Lourenço de Basto, 1627. 70 Neste sentido, vale a pena recordar que o primeiro texto literário conhecido dos escritos por Sousa é um «Epigramma Cumanae Sybilae oraculum, quod Astrologorum vanitas in deterius mutaverat», em Relação do solene recebimento [...] às Santas Reliquias que se levaram à Igreja de S. Roque, Lisboa, Antonio Ribeiro, 1588. 71 Cf. Isidro Velásquez, La orden que se tuvo en la solene procession que hizieron los devotos cofrades [...] en la ciudad de Lisboa, Lisboa, Manuel de Lyra, 1582. 72 Cf. Diogo Marques Salgueiro, Relaçam das festas [...] em a cidade de Lisboa na beatificação do P. Francisco de Xavier, Lisboa, João Rodriguez, 1621. 73 Veja-se o fundamental trabalho de José Luis Bouza Álvarez, Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del Barroco, Madrid, CSIC, 1990. 74 Por exemplo o texto de Pedro da Cruz Juzarte, Trasladação do Venerável Padre Fr. Estevão da Purificação, Lisboa, Henrique Valente de Oliveira, 1662. Ou também toda a segunda parte do livro de Pedro de MARIZ, Historia do bemaventurado Sam João de Sahagum, Patrão salamantino, Lisboa, Antonio Alvarez, 1609. 75 Cf. Segio Bertelli, Il corpo del re. Sacralità del potere nell’Europa medievale e moderna, Firenze, Ponte Alle Grazie, 1995; Emilia Montaner, «Exequias reales y pompa funeral», em Salamanca y su proyección en el mundo, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 1992, pp. 533-559; e também Paulo de Assunção, «O espectáculo da morte e a imortalidade do poder na celebração das exéquias de D. João V», Brotéria, 155 (Lisboa 2002), pp. 273-294. 76 Cf. F.J. Campos – Fernández Sevilla, «La fiesta del Seiscientos: representación artística y evocación literaria», Anuario Jurídico y Económico Escurialense, 31 (1998), pp. 975-1016. LUÍS DE SOUSA E O MANEIRISMO LITERÁRIO PORTUGUÊS 67 em «paideia», em quanto educadora e canalizadora dos comportamentos77, sabendo que a maior grandiosidade corresponde maior desengano78. Até poderíamos dizer que toda a obra é uma espécie de liturgia, que culmina com a descrição pormenorizada e gozosa das esplêndidas festas e cerimónias religiosas com que Viana consagrou a trasladação dos restos mortais do Arcebispo, em 1609. Como uma demonstração mais da relativa desproporção que supõe o livro VI, dedicado à «solenidade de sua tresladação», note-se que Luis Muñoz o resumirá nas poucas páginas do seu último capítulo79. Estas páginas relativas à inauguração do túmulo do Arcebispo em Viana constituem, no conjunto, um testemunho único sobre como decorria uma festividade local, no princípio do século XVII80. É a apoteose do bispo e da vila manifestada numa arte tão espectacular como efémera81. Chama a atenção o facto de Sousa descrever as festas de Viana, com motivo da trasladação do corpo do Arcebispo, como se tivesse estado presente nelas. Estamos aqui perante um estilo realista, quase de crónica jornalística82, com muita descrição e pouca narração, porque, na realidade, nada exterior acontece que seja «importante» aos nossos olhos de hoje. No entanto a celebração vive-se como um processo total e colectivo. Achamos um detalhismo quase fotográfico. Primeiro, os preparativos da festa; segue-se a descrição dos fogos de artifício. Depois, é a pintura da igreja onde descansava o corpo de D. Fr. Bartolomeu. Lentamente, Sousa faz passar, perante os nossos olhos, aquela espantosa riqueza e invenção de carros alegóricos, de imagens e de gentes. Neste ponto podemos lembrar as palavras de José Antonio Maravall quando analisa a pretensão dirigista do Barroco sobre múltiplos aspectos da sociedade, entre eles «una religión rica en tipos heterogéneos de creyentes, reunidos en una misma orquesta por la Iglesia, que ha vuelto a dominar sobre el tropel de sus muchedumbres, seducidas y nutridas con novedades y alimentos de gustos raros y provocantes»83. A este propósito, José Adriano de Freitas Carvalho comenta o seguinte: 77 Cf. Teresa L. Vale, «Ars moriendi: do efémero do perene na celebração da morte no barroco», Estudios Portugueses, 3 (2003), pp. 219-241. 78 Cf. Santiago Sebastián, Contrarreforma y Barroco, Madrid, Alianza, 1989, pp. 93-100. 79 Luis Muñoz, «Sumario breve de la Traslacion del venerable cuerpo del Arçobispo y celebridad que en ello huvo», em Vida de D. Fr. Bartolomé de los Mártires, pp. 745-757. 80 José Adriano de Carvalho comenta que devemos ler esta parte com interesse, «se nos lembramos das circunstâncias em que se desenrolam esses festejos em 1609. Viana, aberta ao comércio marítimo com o Brasil, com uma prosperidade económica que por esses anos, se confiarmos nas palavras de Frei Luís, parece estar a comunicar-se às terras de entre Douro e Minho, agrícola, que ocupava quase toda a diocese de Braga. Mais ainda: em 1609 a corte portuguesa está a ser absorvida socialmente por Madrid. A nobreza que fica é a das ‘cortes nas aldeias’. Até que ponto essas festas descritas ao largo de todo o livro VI não nos podem ajudar a perceber como foram vividos e compreendidos nessas província, e por essa data, muitos dos elementos da festa barroca em concorrência com formas de gosto e decoração populares tradicionais, mais ‘atrasadas’?»; op. cit., pp. 26-27. 81 Veja-se o livro de Fernando R. de la Flor, Atenas castellana: ensayos sobre cultura simbólica y fiestas en la Salamanca del Antiguo Régimen, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1989. 82 Recordemos que a imprensa periódica surgirá em Portugal com a Restauração, a partir de 1641, com o aparecimento da Gazeta de Lisboa; cf. Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, V, Lisboa, Verbo, 1980, pp. 170-172. 83 José Antonio Maravall, op. cit., p. 133. Veja-se, no mesmo livro, o capítulo intitulado «Novedad, invención, artificio (Papel social del teatro y de las fiestas)», pp. 453-498. 68 EDUARDO JAVIER ALONSO ROMO «Os exemplos sugerem que, à medida que o século XVI vai chegando ao fim, os recebimentos de relíquias parecem ganhar - como muitas outras manifestações religiosas - uma ostentação cujo último significado não será apenas o intensificar a devoção. Por outro lado, poderemos sempre perguntar-nos se para além disso, dado o momento particular da situação política portuguesa, esses recebimentos não teriam sido revestidos de outros significados»84. Finalmente é interessante notar que toda essa celebração funeral aparece prefigurada no relato da morte e primeiro enterro do Arcebispo (Vida, pp. 602-616); mas na obra aparecem insertas também outras micro-narrativas do mesmo teor, como por exemplo o relato da translação das relíquias de S. Bernardo (pp. 283-286)85. Assinalemos também que, anos depois, Viana celebraria outra festa semelhante com motivo de outro santo, festa que ficaria para a posteridade através da conseguinte relação86. 4. CONCLUSÃO Ao longo de presente trabalho temos abordado a questão da prosa maneirista através do livro de Luís de Sousa. Aliás, temos visto como o texto sousano, sob a aparência inicial de uma hagiografia tradicional, imediatamente se liberta das constrições do género para, sem o rejeitar, ceder lugar a outros discursos para uma harmoniosa conciliação entre a representação de um ideal monástico e prelatício e os sistemas de valor de duas épocas contíguas, a de D. Fr. Bartolomeu dos Mártires e a de Fr. Luís de Sousa. Valerá a pena continuar o aprofundamento nestas questões. 84 José Adriano de Freitas Carvalho, «Os recebimentos de relíquias em S. Roque (Lisboa 1588) e em Santa Cruz (Coimbra 1595): relíquias e espiritualidade, e alguma ideologia», Via Spiritus, 8 (Porto 2001), p. 116. 85 Cf. Patrick J. Geary, Le vol des reliques au Moyen Age. Furta Sacra, Paris, Aubier, 1993. 86 Pedro Arrais de Mendonça, Relaçam das festas, que a notavel villa de Viana fez, na entrada, & recebimento da sagrada reliquia do glorioso Sancto Theotonio [...] celebradas em sinco, seis, sete e oito de Agosto de 1642, Lisboa, Domingos Lopes Rosa, 1643.
Download