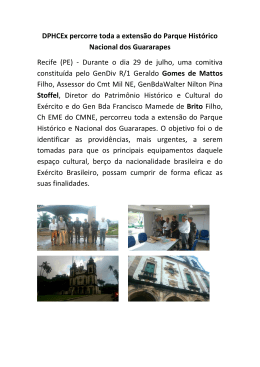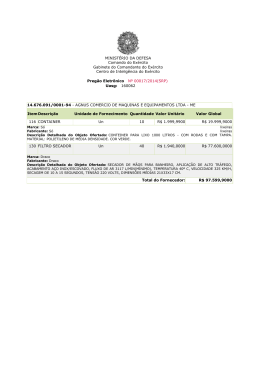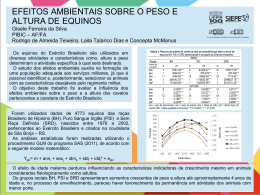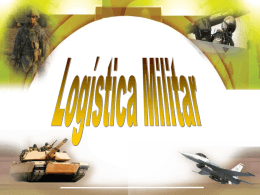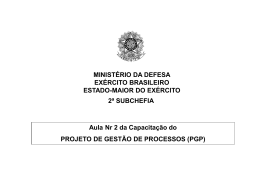OS IMPACTOS DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA SOBRE O EXÉRCITO INDUSTRIAL DE RESERVA Iuri Falcão 1 Resumo O trabalho trata do conceito de exército industrial de reserva, analisando as alterações na composição desta categoria social a partir das recentes modificações no mundo do trabalho trazidas pela reestruturação produtiva promovida pelo “capitalismo flexível”. O texto analisa como este processo atingiu a proteção jurídica dos trabalhadores, o Direito do Trabalho, e atacou os fundamentos do limitado Estado do Bem-Estar Social implementado no Brasil, difundindo a precarização como modelo de gestão do mundo do trabalho, com reforço na condição de desemprego estrutural. Neste contexto, o trabalho aborda as estratégias de parte do atual exército de reserva em buscar sobrevivência junto ao mercado informal e do processo de aproximação de parte dos trabalhadores da ativa das condições de exploração do subtipo “latente” do exército. Em tais condições de precariedade estrutural e estruturada, questiona a possibilidade de cidadania para os componentes deste segmento social. Palavras-chave: Exército Industrial de reserva, reestruturação produtiva, cidadania. Introdução As origens da condição de cidadão no Brasil não se deram a partir de um referencial político, do status de membro de uma comunidade em relação ao Estado. O processo de constituição da cidadania aqui ocorrido seguiu-se intimamente ligado à posição do sujeito no mundo do trabalho. Segundo Wanderlei Guilherme dos Santos, eram considerados cidadãos, a partir da década de 1930, os “membros da comunidade que se encontravam localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas por lei” (SANTOS, 1979, p. 75). É o que o autor chama de cidadania regulada, tendo como grande comprovante da condição de cidadão a carteira de trabalho devidamente assinada. A face inversa da moeda, obviamente, está ligada àqueles grupos que possuíam condição de trabalho diversa da regulada, seja por sua profissão ainda não ter sido regulamentada pelo Estado, sejam os desempregados, os subempregados e os empregados instáveis, informais, ou seja, os trabalhadores excluídos ou inseridos de forma precária no mundo do trabalho. Para tais setores, estava reservada a marginalidade social, enquanto referência política para a ausência da garantia de direitos. 1 Mestrando em Sociologia e Direito pelo Programa de Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense – UFF. Email: [email protected] 2 Essa marca de raiz pode ser notada ainda hoje no exercício da cidadania no Brasil. A título de exemplo prático, os qualificativos “trabalhador”, em contraponto ao “marginal”, muito utilizados no jargão policial e jornalístico, recuperam a condição do trabalho como elemento político estruturante para a forma como se é visto e se relaciona com alguns setores do Estado. Não obstante, o tema a ser desenvolvido neste artigo refere-se justamente aos considerados não-cidadãos desde o berço de nossa sociedade. Pretende-se estudar a categoria exército industrial de reserva, como definida por Marx em confronto com as modificações recentes no mundo do trabalho, trazidas pelo dito “capitalismo flexível”. Enfoca-se o desemprego estrutural produzido pela reestruturação produtiva proposta por este modelo, e a alternativa mais comum encontrada por estes desempregados para sobreviver, junto ao mercado informal, bem como o ataque ao Estado do Bem-Estar Social, que mesmo que não implementado plenamente no país, passou a garantir alguns direitos inerentes à cidadania. 1. Conceituando o exército industrial de reserva Para definir o exército industrial de reserva, Marx (MARX, 2003, p. 724) faz uma digressão no processo produtivo e parte de uma suposição inicial de que, em condições fixas do capital e inalterabilidade das demais condições, a incorporação da mais-valia produzida em um determinado lapso de tempo ao capital implicaria na expansão dos meios de produção e, consequentemente, maior necessidade quantitativa de mão-de-obra. Nesse sentido, não considerando outras modificações externas, acumular capital seria necessariamente aumentar o proletariado, pois a expansão do capital demandaria a expansão do trabalho. Não obstante, não é exatamente isto que ocorreria no modo de produção capitalista. Para Marx, com a ampliação do trabalho gratuito (mais-valia) para o capital, há necessidade de transformar este acúmulo em novo capital, demandando-se mais trabalho pago, o que implicaria em elevação dos salários, caso não houvesse alteração das demais condições. Diante deste aumento do trabalho pago, haveria redução da taxa de mais-valia, tendo o capital necessidade de promover contra-tendências para barrar o aumento salarial. (MARX, 2003, p. 724). Umas das principais formas dessa contra-tendência é se valer de excedentes de forças de trabalho que pressionem o mercado de trabalho. Para melhor compreender a dinâmica produtiva do modo de produção capitalista, é preciso considerar o avanço da produtividade. A adoção de novas técnicas significa ganhos de produtividade, o que faz com que o capital constante, representado pelos meios de produção, 3 se avolume, em comparação com o capital variável (o valor da força de trabalho, a soma global dos salários). Com o investimento de capital, há, de fato, necessidade de mais força de trabalho, quantitativamente, para fazer mover o novo capital fixo. Há o crescimento da massa total de empregados da classe trabalhadora, mas, em termos relativos ao aumento dos meios de produção, há redução proporcional. Dessa forma, há a produção de uma população trabalhadora supérflua relativamente, ou seja, que supera as necessidades de expansão do capital, tornando-se excessiva (MARX, 2003, p. 733). O autor chama esse excedente da classe trabalhadora de exército industrial de reserva. À medida que há a produção da mais-valia e acumulação de capital, este é reinvestido na produção sob a forma de tecnológia, implicando em poupança cada vez maior de trabalhadores, em termos relativos, no processo produtivo. Desta maneira, a própria população trabalhadora produz as ferramentas para transformá-la em excedente. Entretanto, uma vez criada, a existência desta população excedente torna-se um dos pilares de sustentação do modo de produção capitalista. Em períodos de expansão do capital para outros setores, ou mesmo nos setores consolidados, faz-se necessário o uso da mão-deobra e o exército industrial de reserva cumpre este papel de fornecer a força de trabalho para alavancá-lo, impedindo um aumento significativo dos salários. O aumento da escala produtiva cria para o capital o interesse em aumentar o capital variável, mas não via o aumento do número de trabalhadores, mas sim da produtividade de cada trabalhador (MARX, 2003, p. 739). Dada a existência do exército de reserva, os trabalhadores na ativa sentem-se “ameaçados” pelo desemprego, o que é um forte elemento para aceitarem a ampliação da produtividade. Os capitais gerados por este ganho de produtividade, sem necessariamente haver melhorias tecnológicas, são reinvestidos na própria produção, no avanço dos métodos produtivos, gerando mais acumulação. Em outro sentido, em momentos de contração e redução da taxa de lucro, o exército industrial permite que haja maior achatamento salarial daqueles trabalhadores que se mantém na ativa, que acabam por aceitar estas novas condições, tendo em vista risco do desemprego e a existência da massa de trabalhadores excedentes que preferem qualquer condição de trabalho ao fato de não poderem sustentar-se e sua família. Assim, o exército de reserva cresce não apenas pela incorporação de novas tecnologias, mas pela ampliação da produtividade dos trabalhadores em atividade, impulsionada justamente pela própria existência dessa população supérflua 2. 2 O proletariado, em termos econômicos é o assalariado que produz e expande o capital e é lançado à rua logo que se torne supérfluo às necessidades de expansão do capital. (MARX, 2003, p. 717, nota 70). 4 O trabalho excessivo da parte empregada da classe trabalhadora engrossa as fileiras de seu exército de reserva, enquanto inversamente a forte pressão que este exerce sobre aquela, através da concorrência, compele-a ao trabalho excessivo e a sujeitar-se às exigências do capital. A condenação de uma parte da classe trabalhadora à ociosidade forçada, em virtude do trabalho excessivo da outra parte, torna-se fonte de enriquecimento individual dos capitalistas e acelera ao mesmo tempo a produção do exército industrial de reserva numa escala correspondente ao progresso da acumulação do capital (MARX, 2003. p. 739/740). Para Marx, as modificações no salário pago aos trabalhadores se dão exclusivamente pelas variações do exército industrial de reserva, de acordo com as mudanças dos ciclos industriais. Assim, havendo ampliação salarial, por alguma oscilação na população supérflua, a saída do capital é sempre investir em inovações tecnológicas poupadoras de mão-de-obra, e assim reconstituir o exército de reserva (MARX, 2003, p. 742). Uma vez expulsos da produção pela mecanização, ficam sem emprego os diretamente excluídos, seus sucessores naquele posto e o contingente adicional que seria absorvido em momentos de expansão, caso se mantivesse a fórmula produtiva. Na visão do referido autor, a superpopulação relativa existe sob os mais variados aspectos e “todo trabalhador dela faz parte durante o tempo em que está desempregado ou parcialmente empregado” (MARX, 2003, p. 744). Segundo o autor, existem subdivisões no exército industrial de reserva: há o tipo flutuante, formado dentro dos centros produtivos principais, pelo processo de expulsão de mão-de-obra, como narrado acima, a partir da expansão e modernização do capital. Outra tipo é o exército industrial de reserva latente, formado pela massa de camponeses, sujeitos à mecanização e processos de concentração de terras, que os forçam a se deslocar para cidade, ampliando as fileiras da população supérflua. Por fim, Marx chama atenção para a existência de um tipo de trabalhador que faz parte do exército industrial de reserva que é a população estagnada, e que será bastante importante para este estudo. São operários que se mantém em processos produtivos, mas com ocupação irregular, no que hoje se chama de precarizados. São submetidos a uma duração máxima de trabalho e recebem um salário muito pequeno em contraprestação (MARX, 2003, p. 746). Marx finaliza a explanação acerca do exército industrial de reserva afirmando que, por ter a dupla função de fornecer mão-de-obra para eventuais surtos produtivos do capital e de forçar a redução salarial e o aumento da produtividade, tal exército está intimamente ligado à riqueza social. Em outras palavras, quanto maior a riqueza, mais capital sendo utilizado, maior a magnitude da forças produtiva e maior dimensão quantitativa do proletariado, mas, 5 por outro lado, há redução relativa aos meios de produção, implicando em maior demanda pela existência de um exército industrial de reserva quantitativamente significativo. E quanto maior este exército, maiores os níveis de pauperismo. Assim, a acumulação de capital pressupõe a acumulação da pobreza. Para ser viável, o capitalismo tem que transformar a fome em algo permanente no seio da classe trabalhadora (MARX, 2003, p. 750). Adotando esta classificação marxiana, pode-se compreender atualmente, em exercício aproximativo, os desempregados, sejam eles friccionais, ou mesmo estruturais, a massa extremamente pauperizada e boa parte dos trabalhadores informais como pertencentes ao exército industrial de reserva ou superpopulação relativa. 2. A reestruturação produtiva e seus impactos no mundo do trabalho As considerações de Marx são datadas do período histórico em que o autor promoveu a sua análise. Daquele período para cá, o capitalismo modificou bastante seus processos produtivos, adotando diversos regimes de acumulação 3 para possibilitar a manutenção de seu vigor. Para fins deste artigo, trabalharemos com dois destes regimes: o fordismokeynesianismo, desenvolvido especialmente no pós-segunda guerra mundial e o atual processo de relativa substituição deste método por outro que alguns autores tem chamado de capitalismo flexível ou toyotismo. Não obstante, como veremos abaixo, muitos elementos são, atualmente, muito semelhantes ao que o autor analisou em seu momento histórico. 2.1. O fordismo-keynesianismo O modelo fordista-keynesiano se caracteriza pela grande empresa de fabricação padronizada em massa, com emprego de grande quantidade de força de trabalho em unidades produtivas concentradas, localizadas especialmente nos países desenvolvidos. Além disto, o modelo previa maior divisão do trabalho, com a produção chegando ao trabalhador via esteiras, e controle sobre os movimentos do operário, reduzindo estes movimentos ao menor número possível. A proposta era a rotinização das atividades. 3 Adotando a nomenclatura utilizada por Harvey (2000, p. 117), entende-se por regime de acumulação a estabilização, por um longo período, da “alocação do produto líquido entre consumo e acumulação; ele implica em alguma correspondência entre a transformação tanto das condições de produção como das condições de reprodução dos assalariados”. Por outro lado, o modo de regulamentação é entendido como a materialização do regime de acumulação em diversas esferas da vida social, como normas, hábitos, leis, redes de regulamentação, mantendo unidade do processo. 6 Tal produção era absorvida por um consumo de massas, obtido a partir de ganhos salariais e redução da jornada de trabalho. Os trabalhadores organizaram-se em grandes sindicatos, reforçando a implementação do Direito do Trabalho e dificultando os processos de modificações produtivas que importassem em perdas para a classe. Por fim, o Estado assumia o papel de controlar ciclos econômicos com políticas fiscais e monetárias, com investimento em infra-estrutura, que possibilitavam a produção e buscavam o ideal do pleno emprego e atuava como provedor de políticas universais, especialmente de saúde e educação, além de promover um seguro social e previdência para os trabalhadores. Esta concertação entre grande capital, grande sindicato e grande estado é o que se convencionou chamar de “compromisso fordista” (HARVEY, 2000, p. 129). Por outro lado, a instalação do fordismo não se deu sem enfrentamentos por parte dos trabalhadores. Dada as bases deste sistema produtivo, que implicava na “familiarização do trabalhador com longas horas de trabalho puramente rotinizado, exigindo pouco das habilidades manuais tradicionais e concedendo um controle quase inexistente ao trabalhador sobre o projeto, ritmo e organização do processo produtivo”, houve fortes resistências à sua implementação. Não obstante, uma das estratégias utilizadas pelo capital para atacar tal resistência foi justamente se valer do exército industrial de reserva, que, no caso dos Estados Unidos, era formado pela mão-de-obra imigrante, rural e negra (HARVEY, 2000, p. 123). Isto mostra a continuidade da importância do exército industrial, mesmo que se esteja referindo à primeira metade do século XX. Não obstante, a partir da década de 1970, o modelo fordista, que tinha possibilitado o que ficou conhecido por “30 gloriosos”, localizado aproximativamente entre 1945 e 1973, período marcado, nos países desenvolvidos, por prosperidade econômica, baixo índice de desemprego, elevado consumo e grande cobertura social por parte do Estado, começou a dar sinais de fragilidades, apontando para sua dissolução. Segundo Harvey (2000, p. 135/136), as razões para a debilitação do modelo fordista poderiam ser enfeixadas em uma palavra: rigidez. O início da década de 1970 foi marcado pela recessão econômica nas economias centrais, motivados pelo excesso de capitais e pouco investimentos produtivos, o que acelerou a inflação. Com o choque do petróleo em 1973, houve a necessidade de diversificação da matriz energética, ao que as empresas aproveitaram para implementar mudanças tecnológicas que, ao mesmo tempo em que significassem melhora da produtividade, realizassem enxugamento da capacidade produtiva não utilizada e também poupassem mão-de-obra. 7 2.2. A imposição do capitalismo flexível Não obstante, o intento do capital de promover alterações no processo produtivo encontrou uma classe trabalhadora entrincheirada em grandes e poderosos sindicatos, além do Estado Providência fortemente vinculado à ordem social, e que, portanto, necessitava de grandes contribuições fiscais. A solução encontrada pelo capital para combater esta situação foi promover descentralização da produção, com transferência das unidades produtivas para países periféricos, especialmente o sudeste asiático, onde não havia ou era muito frouxo o controle sobre o contrato de trabalho. Após consolidada a exportação, a proposta do capital foi trazer este modelo rebaixado de proteção social para os países centrais, propondo a revisão e flexibilização dos direitos trabalhistas, sob o argumento de que a garantia dos mesmos atingia a competitividade das empresas (HARVEY, 2000, 141). Um modelo flexibilizador e modificador da forma de relacionamento com a mão-de-obra já estava em gestação no Japão pós-guerra, especialmente aplicado à produção de automóvel da empresa Toyota e foi adotado não apenas na indústria, como também em vários setores da economia. Este novo modelo acumulação flexível é baseado, portanto, na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Promove mudança tecnológica, automação, novas linhas de produtos e nichos de mercado, aliada à dispersão geográfica para zonas onde o controle sobre a exploração do trabalho seja mais frágil ou inexistente. Envolvem também processos de financeirização da economia, fusões de empresas e medidas para acelerar o tempo de giro do capital. Ao mesmo tempo, produz “níveis relativamente altos de desemprego estrutural (em oposição ao friccional), rápida destruição e reconstrução de habilidades dos trabalhadores, ganhos modestos (quando há) de salários reais e retrocesso do poder sindical” (HARVEY, 2000, p. 140). Na visão de Ricardo Antunes (1998, p. 42), os efeitos desta mudança no regime de acumulação, além do brutal desemprego estrutural, produz redução do operariado industrial e fabril, aumento da subproletarização, do trabalho precário e do assalariamento no setor de serviços, incorpora de forma precária o trabalho feminino e exclui os mais jovens e mais idosos, levando a um processo de heterogeneização, fragmentação e complexificação da classe trabalhadora. Este processo de desregulamentação das condições de trabalho provoca também a regressão de direitos sociais e organizativa dos trabalhadores, o que implica em acentuada individualização da relação salarial. Para o capital, a força de trabalho que lhe interessa é aquela que entra facilmente na produção e é expulsa sem custos. 8 3. Desemprego, Estado do Bem-Estar, Direito do Trabalho e cidadania Um dos reflexos perversos das modificações recentes do capitalismo, como visto acima, liga-se, portanto, ao aumento crescente do desemprego estrutural, aliado à flexibilização e tentativa de desestruturação do Direito do Trabalho e ao desmonte do Estado do Bem-Estar Social, forma de Estado protecionista, criado justamente para, além de universalização de políticas sociais, promover ações assecuratória para aqueles excluídos momentaneamente do mercado de trabalho. A lógica do capitalismo flexível cria a doença, ao mesmo tempo em que se impede um dos possíveis tratamentos. Considerando as alterações produtivas do capitalismo flexível, e seguindo a classificação marxiana, houve incremento do exército industrial de reserva em todos os seus três subtipos. A expulsão dos trabalhadores que estavam diretamente envolvidos no processo produtivo, devido à mecanização industrial, implica no aumento do exército flutuante; mantendo processos poupadores de mão-de-obra também na produção agrícola, a partir do que se convencionou chamar de “revolução verde”, e não removendo os mecanismos de concentração de terra no campo, forçando o êxodo rural, não na mesma magnitude de períodos anteriores, mas ainda existente, dando corpo ao exército de reserva latente. Por fim, há disseminação do subemprego, da precarização, terceirizações precarizadas, trabalho parcial e, especialmente, expansão do emprego informal, expandindo o que Marx chamou de população estagnada. Diante da condição de desempregado, especialmente quando este é estrutural ao sistema, é preciso reafirmar certo senso comum da teoria marxiana: o trabalhador é aquele sujeito social que, não possuindo os meios de produção ou outras formas de renda, tem como única possibilidade de sobrevivência a venda de sua força de trabalho no mercado, em troca de um salário que permitirá a satisfação de suas necessidades e de sua família (MARX, 2003, p. 727). Como necessitam sobreviver, os desempregados estruturais, componentes do exército industrial, precisam desempenhar algum tipo de trabalho que lhes gere recurso, no jargão popular “se virar”, para garantir algum recurso, especialmente para aqueles que têm dependentes para alimentar. Desta maneira, parecem se utilizar especialmente da estratégia de inserção no mercado informal para a sobrevivência 4. 4 Estudo realizado entre 2000 e 2006, a partir de dados do Sistema de Contas Nacional, elaborado pelo IBGE, evidenciam que do total de 93 milhões de ocupações, em 2006, 42,4% eram formais, 22,5% referiam-se aos empregos sem carteira e 35,1%, aos trabalhadores autônomos. Ou seja, 57,6% dos ocupados no país estão 9 3.1. O trabalho no setor informal como alternativa para o exército industrial de reserva Apesar de parecer contraditório, boa parte dos trabalhadores do setor informal pode ser encarada como componentes do exército industrial de reserva, na modalidade estagnada, conforme classificação marxiana apresentada acima. Isto porque muitas vezes encontram-se nesta situação por terem sido expulsos do mercado formal, ou sequer terem conseguido um espaço neste, e se valem do setor informal como forma de sobrevivência. Uma forma de conceituar o trabalho informal é fazê-lo como uma definição negativa em relação ao que seria o trabalho formal. Estes seriam os vínculos de trabalho regulados por um contrato válido, formalizado, de acordo com os regramentos trabalhistas vigentes no país. Todas as outras ocupações que não se adequassem a essa condição é chamada de informal. Em geral, são os trabalhadores sem carteira assinada ou por conta própria. Trabalhando com dados entre 1982 e 2001, percebe-se um forte crescimento do setor informal no Brasil (SABADINI; NAKATANI, 2011). Pelas informações geradas pela referida pesquisa, o setor informal cresceu de 40% para 50% dos ocupados no país, com correspondente redução do trabalho formal, que chega em 2001 com 45% dos ocupados. Este processo de crescimento do setor informal é sensível em praticamente todo o mundo. Segundo de Mike Davis (2006), cerca de 1 bilhão de trabalhadores estão alocados neste setor e é o que tem maior crescimento atualmente. Na América Latina, segundo dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento, cerca de 57% da força de trabalho está inserida no setor informal e este ramo da economia oferece quatro de cada cinco novos “empregos” (DAVIS, 2006, p. 177). Tal fenômeno não se concentra apenas nas economias periféricas. André Gorz estima, em 1990, que entre 35% a 50% da população trabalhadora britânica, francesa, alemã e norteamericana encontrava-se desempregada ou desenvolvendo trabalhos precários, parciais, que ele chama de proletariado pós-industrial (apud ANTUNES, 1998, p. 45). Vê-se que a mundialização do modelo produtivo reestruturado teve impacto significativo no mundo inteiro. Aumentando a contradição e complexificando o próprio conceito de exército de reserva, o próprio processo de reestruturação produtiva incentivou o retorno de sistemas integrados ao setor informal no que se chama de setor informal. Mesmo descontando-se certo contingente dos autônomos que são proprietários de seus próprios meios de trabalho, o número de informais no Brasil é extremamente alto. 10 familiares, paternalistas de produção ou informais, marcados por uma superexploração da mão-de-obra. Além disto, e esta característica é interessante, tais modelos produtivos “atrasados” não se conformam como mero apêndice do modelo de produção hegemônico, mas são peças centrais dele, que se encaixam simbioticamente com as fórmulas produtivas mais avançadas e sofisticadas. (HAVEY, 2000, p. 155). Segundo Mike Davis Parte do proletariado informal, na verdade, é uma força de trabalho invisível para a economia formal, e numerosos estudos já apontaram como as redes de terceirização da Wal-Mart e de outras megaempresas penetram profundamente na miséria das colônias e dos chawls. Ademais, é provável que haja mais uma linha contínua do que uma divisão abrupta entre o mundo do emprego formal, com cada vez mais baixas, e o abismo do setor informal (DAVIS, 2006, p. 178/179). Tal informalidade, além de uma forma desesperada pela sobrevivência e inserção dos trabalhadores desempregados, constitui-se em espaços de flagrante exploração da mão-deobra, com utilização de tecnologia antiquada, baixo investimento de capital, natureza excessivamente manual de sua produção, misturando em uma forma rebaixada de produção não apenas aquela superpopulação relativa, como também parte dos trabalhadores clássicos, centrais na produção, mas em alvo de fortes doses de precarização. Não obstante, os lucros obtidos destas atividades são altos, com enorme acumulação de capital, além do setor não ser tributado e registrado. Na realidade, segundo Mike Davis (2006, p. 181), a maior parte dos participantes da economia informal trabalha direta ou indiretamente para outrem, sendo verdadeiros empregados invisíveis e não formalizados. O saldo deste processo é a transformação no modo de controle do trabalho e do emprego e do solapamento da organização do trabalhador, visto que manter estruturas sindicais ou similares nestes espaços quase mafiosos ou familiares é perigoso ou não encontra eco nos trabalhadores, explorados por membros da família, com quem mantém relações subjetivas. “Politicamente, o setor informal, na falta do respeito aos direitos trabalhistas, é um reino semifeudal de comissões, propinas, lealdades tribais e exclusão étnica (DAVIS, 2006, p. 185). Em sentido semelhante, Izabel Lira (2006, p. 137/139) vê a informalidade como uma “funcionalidade estratégica ao capital, na medida em que se articula às diversas cadeias produtivas de forma direta através da terceirização, ou indireta na esfera da circulação, de modo a rebaixar cada vez mais os custos da produção”. O setor informal se funde ao capital, como fundamento deste, e não simplesmente como opção de vida para os desempregados. 11 Não obstante, vende-se tal situação como “oportunidades de empreendedorismo”, que na realidade é uma forma de transferir para o trabalhador uma parcela maior dos custos de sua manutenção e reprodução de sua força de trabalho. Parte do informal, portanto, seria constituída de trabalhadores da economia formal moderna, central e fundamental à atual forma de organização do capitalismo, mas em avançado processo de precarização. Vê-se que a nova fase do capitalismo flexível, ao modificar as fórmulas produtivas, por um lado, produz um grande incremento do exército industrial de reserva, havendo dúvidas da possibilidade de manter-se tal denominação para grande parte dos desempregados, uma vez que eventuais expansões produtivas não tem o condão de absorver esta força de trabalho. Ou seja, temos uma situação de imenso quantitativo de desempregados, que não são aproveitados mesmo em tempo de expansão industrial ou de outros ramos econômicos, conformando o desemprego estrutural e a conseqüente pauperização de grandes setores da população. Para Márcio Pochmann, a implementação de programas de ajuste macroeconômico, a alteração no padrão de competitividade e nos sistemas de proteção social na América Latina levou a uma piora na distribuição de renda e o crescimento das ocupações informais, com o conseqüente crescimento dos níveis de pobreza e indigência (POCHMANN, 1999, p. 131). Por outro lado, com desemprego estrutural tão alto, e sem conseguir, organizadamente, fazer contraponto a este processo, os trabalhadores que permanecem empregados vêem-se acossados pela obrigação de aumento da produtividade, além de terem que se adequar a um perfil “flexível”, “dinâmico”, “polivalente” e geograficamente móvel para manter seu trabalho. Assim, ao tempo em que se amplia o exército industrial de reserva absoluto, vê-se a precarização e superexploração dos trabalhadores da ativa, aproximando-o da condição de superpopulação estagnada, proposta por Marx. Compreendendo a lógica marxiana, da expansão do capital sempre ao custo de ampliação do desemprego para enorme massa, ao mesmo tempo com intensificação do trabalho e ultraexploração dos que permanecem empregados, percebe-se que a dinâmica capitalista atual não difere muito do período analisado por Marx, seguindo o modo de produção, aparentemente, a “lei geral da acumulação capitalista” anunciada por aquele autor. Segundo Harvey: muito embora as atuais condições sejam muito diferentes em inúmeros aspectos, não há dificuldade em perceber que os elementos e relações invariantes que Marx definiu como peças fundamentais de todo modo capitalista de produção ainda estão bem vivos e, me muitos casos, com uma vivacidade ainda maior do que a de antes, por entre a agitação e a evanescência superficiais tão características da acumulação flexível (HARVEY, 2000, p. 175/176). 12 3.2. O Estado e o Direito do Trabalho em tempos de capitalismo flexível Em outro sentido, este novo modelo do capital flexibiliza os direitos trabalhistas e fragiliza as proteções sociais do Estado, suprimindo políticas universais ao argumento de onerariam a produção e seriam desincetivadoras da formalização de vínculos. Ora, em um país em que a cidadania ainda está ligada em parte à posição no mercado de trabalho 5, o agravamento do desemprego estrutural e o corte de estratégias para minimizálo, ou mesmo a supressão direta ou precarização de alguns direitos sociais fornecidos pelo Estado, implicam em menor inserção cidadã destes trabalhadores, com conseqüente redução, na prática, de suas garantias civis, políticas e sociais. Neste quadro, as ações focalizadas, (que exemplificamos com o como Bolsa Família e outros programas de transferência de renda), bem ao corte neoliberal, não tem o condão de inserir seus beneficiários na lógica cidadã, apesar de possibilitar acesso ao consumo imediato, mesmo que limitado, dado o próprio valor da bolsa fornecida. Por outro lado, os programas assistenciais rompem com a lógica própria da cidadania, que são as políticas universais. (POCHMANN, 1999, p. 139). Em relação ao impacto promovido pelas modificações da acumulação flexível sobre o Direito do Trabalho, Antonio Rodrigues de Freitas (1999, p. 92/94) afirmar existir a hegemonia, tanto na academia como nos governos, de teoria de cunho liberal, que prega a desregulação e flexibilização da relação de trabalho, com redução das normas estatais sobre os contratos trabalhistas, mesmo que isso gere um custo social e sacrifício para o trabalhador. Segundo essa teoria, o ponto positivo seria justamente a produção de excedentes de mão-deobra, que fortaleceria a competitividade internacional das empresas, redução de custos, e a possibilidade de surgimento de novo ciclo virtuoso, capaz de ampliar, no médio prazo, a ocupações. Essa visão liberal concorda com a posição de Marx sobre o exército industrial de 5 Segundo José Murilo de Carvalho (2001, p. 215/217), haveria uma categorização informal, na prática, da cidadania no Brasil. A primeira classe de cidadãos, os “doutores”, formada por 8% da população, com rendimentos acima de 20 salários mínimos, para os quais não há limitações na lei, pois são guiados pela lógica do privilégio. A segunda classe seriam os “cidadãos simples”, a classe média modesta, os trabalhadores com carteira assinada, pequenos funcionários públicos e pequenos proprietários urbanos e rurais, com rendimentos entre 2 e 20 salários mínimos e conformando 63% da população, que é alvo da aplicação parcial e incerta dos Códigos Civil e Penal. A terceira e última classe é formada pelos alcunhados de “elementos” no jargão policial. Formada pela população marginal das grandes cidades, trabalhadores urbanos e rurais sem carteira assinada, posseiros, empregadas domésticas, biscateiros, camelôs, menores abandonados, mendigos. São “invisíveis sociais” e tem contra si apenas a aplicação do Código Penal. Segundo o autor, seriam 23% da população. 13 reserva e seus efeitos apropriados pelos capitalistas, mas discorda do autor alemão no que pertine ao crescimento contínuo do exército de reserva. Para esta visão, o desemprego estrutural, com a criação do exército de reserva, implicaria na oferta de mão-de-obra barata, que seria utilizada em novos setores da economia. Estes novos setores utilizariam esta força de trabalho para produção de novos lucros, reinvestidos na modernização tecnológica, que pouparia mão-de-obra, num ciclo virtuoso de expansão do capital. Segundo esta teoria, o exército industrial de reserva, deliberadamente produzido, seria importante para o progresso do capital, mas não se manteria muito tempo desempregado. Nesta concepção, as relações entre capital e trabalho devem retornar a uma lógica de autonomia individual, sem proteção especial do Estado, devendo o Direito do Trabalho se relacionar apenas ao tangenciamento de relação trabalhista (realizada entre sujeitos autônomos), incidindo sobre condutas empresariais discriminatórias, material e moralmente danosas (FREITAS, 1999, p. 92). A questão central é que o argumento liberal de que a expulsão de mão-de-obra de um setor seria rapidamente incorporado por outro ramo não condiz com a situação atual. Com a informatização da economia, que atinge não só o setor industrial, como o de serviços, ambos promovem descarte de mão-de-obra, que não encontra trabalho em outro ramo, a não ser, quando muito, na precariedade produtiva do setor informal, em formas ilegais de sobrevivência ou em bolsas assistenciais do Estado. 4. Conclusão A atual fase do capitalismo é marcada por uma superexploração da força de trabalho, com ataque as estruturas organizativas dos trabalhadores, sejam sindicais ou políticas. Além disto, a proteção fornecida pelo Direito do Trabalho e do Estado do Bem-Estar Social é alvo de críticas e desmonte, retirando condições de exercício da cidadania pelos trabalhadores. Ao mesmo tempo, a teoria liberal dominante impõe a desregulamentação do trabalho e o próprio desmonte do Estado, justamente para ampliar a superpopulação abundante. Vê-se que este processo, além de fruto do funcionamento natural e ampliado do capitalismo, é, portanto, deliberado. Todo este processo conduz a um imenso crescimento do desemprego estrutural, aumentando as fileiras do exército industrial de reserva. Não obstante, esta “reserva” é cada vez menos utilizada na produção formal nos momentos de expansão do capital, consolidando- 14 o em processo de pauperização absoluta, dependentes de programas de transferência de renda, sem perspectiva de vinculação ao trabalho protegido. Por outro lado, os trabalhos precários no setor informal, utilizados pelos desempregados como estratégia de sobrevivência, são incorporados à dinâmica central do capitalismo, mantendo-se, não obstante, sua característica precária ou mesmo aprofundando-a, com a constituição de máfias e empresas familiares informais, focos de ultraexploração do trabalho, a que grandes massas de empregados “invisíveis” se submetem como último recurso na busca da sobrevivência. Há, dessa maneira, a aproximação entre parte dos trabalhadores da ativa com o que Marx chamou de superpopulação relativa estagnada, não pela melhora das condições desta última, mas pela piora dos primeiros. O saldo para a imensa massa de trabalhadores é o desespero, a ampliação do trabalho, o inchaço urbano 6, o aumento da criminalidade e um claro processo de crescimento da barbárie social. O enfrentamento pelo Estado para esta situação se dá via clientelismo institucionalizado ou, e especialmente este, repressão pura e simples, com genocídio da população pobre. Em um quadro deste, não se pode afirmar que há garantias da cidadania para os componentes do exército industrial de reserva. 5. REFERÊNCIAS ANTUNES, R. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 5ª edição, São Paulo: Cortez; Campinas, SP: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1998. CARVALHO, J. M. de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. DAVIS, Mike: Planeta Favela. São Paulo: Boitempo, 2006. FREITAS JÚNIOR, Antonio Rodrigues de . Direito do Trabalho na era do desemprego: Instrumentos jurídicos em políticas públicas de fomento à ocupação. São Paulo: LTr, 1999. HARVEY, D. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 9. ed. São Paulo: Loyola, 2000. 6 O relatório do Programa de Assentamentos Humanos das Nações Unidas (UM-Habitat), intitulado “The challenge of slum” (Os desafios das favelas) de 2003, assim se posiciona sobre o assunto: “Em vez de foco de crescimento e prosperidade, as cidades tornaram-se um depósito de lixo de uma população excedente que trabalha nos setores informais de comércio e serviços, sem especialização, desprotegida e com baixos salários”... “Isso é resultado da liberação da economia” (apud DAVIS, 2006, p. 175). 15 LIRA, I. C. D. “Trabalho informal como alternativa ao desemprego: desmistificando a informalidade”. In: Políticas públicas de trabalho e renda no Brasil contemporâneo. São Paulo: Cortez; São Luiz: FAPEMA, 2006. MARX, K. O capital. 19. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. SABADINI, M de S.; NAKATANI. Desestruturação e informalidade do mercado de trabalho no Brasil. Disponível em: http://www.ucm.es/info/ec/jec8/Datos/documentos/comunicaciones/Laboral/Souza%20Mauri cio.PDF Acesso em 28/04/2012. SANTOS, W. G. dos. “Do laissez-faire repressivo à cidadania em recesso”. In: Cidadania e Justiça: a política social na ordem brasileira. Rio de Janeiro: Campus, 1979.
Download