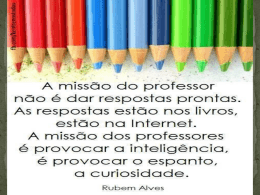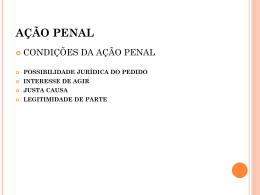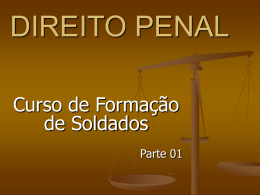PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC - SP Carlos Alberto Menezes O limite das exculpantes penais: a inexigibilidade de conduta diversa como topos e solução DOUTORADO EM DIREITO Tese apresentada como exigência parcial para obtenção do título de Doutor em Direito (Direito das Relações Sociais) à comissão julgadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. Dirceu de Mello. São Paulo – 2008 Comissão Julgadora Agradecimentos Este trabalho tem um pouco de muitos. Isto quer dizer que sua elaboração não teria sido possível sem a contribuição acadêmica oferecida ao longo do curso pelos professores com os quais convivi: Dirceu de Mello, Haydee Roveratti e Tercio Sampaio Ferraz Júnior. Não pode deixar de ser inscrita aqui também a dívida com meus colegas do Departamento de Direito da UFS. Todos eles foram cúmplices dessa empreitada. Há um tipo de colaboração, contudo, que merece destaque especial. É a que veio de meus pais (Filadelfo Nunes de Menezes [in memoriam] e Carmozita Oliveira Menezes). Resumo Trata-se aqui de pesquisa teórica que tem por objeto a relação entre o tema do limite das exculpantes penais e o uso da inexigibilidade de conduta diversa como topoi, tendo em vista a justiça do caso concreto. A idéia é demonstrar que, a partir dessa relação, é possível garantir a segurança que um dia a razão penal prometeu ao indivíduo. Autônomo, igual, livre, e ainda dotado de razão e subjetividade, o indivíduo que a razão moderna contempla é aquele que fez a passagem da dependência para a emancipação e, assim, tornou-se capaz de responsabilidades. Concebido desse modo, ele se liga, de um lado, ao consenso que gerou o Estado pela via do contrato social, e, de outro, à legalidade penal que daí resultou. Neste caso e para justificá-la, o direito penal elegeu a promessa de segurança jurídica como peça central de seu discurso. Ela seria deduzida, ora dos crimes (e das penas correspondentes) como previsão determinada e escrita, ora do delito como sistema fundado numa ação combinadamente típica, ilícita e culpável. A experiência jurídica, no entanto, mostra-se desapontada com aquela promessa. É o que se dá no setor da culpabilidade, especificamente com as exculpantes. Fora dos casos–padrão, suas insuficiências [lacunas] ficam evidentes quando exigências de justiça material se articulam com casos-limite. Assim são considerados aqueles casos para os quais a lei penal não contempla hipóteses que permitam deduzir todas as conseqüências de uma ação na qual o indivíduo não pôde, por conta de circunstâncias anormais, tomar a norma como fonte de inspiração. Nesse ponto, instaura-se um problema cuja solução é encontrada no conceito de inexigibilidade de conduta diversa. Sem lugar definido nos domínios da legalidade, seu uso é sustentado, não a partir do sistema penal, mas do problema concreto, e assim é assumido como topoi, uma categoria emprestada das teorias da argumentação. Abstract What we have here is theoretical research that deals with the relation between the theme of the limit of penal exculpates and of the use of undemanding diverse conduct as topoi, taking into consideration the justice of the case itself in a concrete way. The idea is to demonstrate that from this relation it is possible to guarantee the security that penal reason once promised the individual. Independent, equal, free, and yet endowed with reason and subjectivity, the individual that modern reason contemplates is that who made the passage from dependency to liberation thus becoming capable of responsibilities. Conceived this way, he associates himself, on one end to the consensus that generated the State through the way of a social contract and, on the other end, to the penal legality that arose afterwards. In this case and also to justify it, penal law chose to promise judicial security as the main piece of its speech. Such promise would be inferred, at times from the felonies (and from the corresponding arbitrated punishments) as determined and written foresight, and at times from the felony itself as a founded system within a combined action i.e. typical, illegal and culpable. However, the judicial experience shows itself disappointed with such promise. This is what happens in the field of culpability, more specifically with exculpates. Aside from average cases, their insufficiencies (omissions) are evident when demands from material justice articulate themselves with borderline cases. This is how cases are considered, those for which the penal law does not contemplate hypothesis that allow inferring all the consequences of an action in which the individual was not able, because of abnormal circumstances, to take such norms as a source of inspiration. At this point, a problem is established and the solution is found in the concept of undemanding of diverse conduct. Without a defined place in the realms of legality, its usage is sustainable, not because of the penal system, but of the concrete problem in itself and thus it is absorbed as topoi, a category borrowed from the theories of argumentation. SUMÁRIO Introdução.............................................................................................. 10 Primeira parte: o indivíduo como ponto de partida do direito penal moderno. A segurança como princípio fundador. Capítulo I O Problema........................................................................................... 15 1. O limite da resistência humana..................................................... 15 2. O limite da dogmática penal......................................................... 17 3. A carência normativa.................................................................. 19 4. O cálculo geométrico.................................................................. 22 5. O apelo a soluções fora da rotina................................................ 24 Capítulo II O indivíduo........................................................................................ 26 1. Dependência e emancipação.................................................... 26 2. A pólis....................................................................................... 30 3. A civitas.................................................................................... 34 4. O feudo..................................................................................... 39 5. O Estado Moderno.................................................................... 44 Capítulo III O Contrato Social............................................................................... 49 1. O Estado como efeito de uma premissa..................................... 49 2. A mesma premissa entre os antigos........................................... 50 3. Contrato e escolástica.............................................................. 51 4. Contrato e necessidade............................................................. 52 5. Diversidade e estado de natureza............................................. 54 6. Autonomia................................................................................. 58 7. Liberdade................................................................................... 60 8. Igualdade................................................................................... 63 9. Subjetividade............................................................................. 65 10. Razão......................................................................................... 68 Capítulo IV A razão penal..................................................................................... 72 1. Recepção dos predicados........................................................ 72 2. Os predicados e a legalidade penal......................................... 77 3. Insegurança e tradição............................................................. 77 4. A descoberta da segurança...................................................... 79 5. O crime como mau negócio.................................................... 82 6. A honra contra o terror............................................................ 83 7. As armas da razão.................................................................... 85 8. Nem rigor, nem indulgência..................................................... 87 9. Segurança como princípio fundador........................................ 91 10. As luzes e a lei............................................................................ 91 11. As luzes e o pensamento penal.................................................. 93 12. Segurança e giro positivista....................................................... 96 Segunda parte: O malogro da promessa de segurança. Que fazer? Capítulo V Que é o crime?................................................................................... 100 1. A vontade dos deuses................................................................ 101 2. A vontade do soberano.............................................................. 102 3. A vontade do legislador............................................................. 104 4. Conceito formal........................................................................ 106 5. Conceito substancial................................................................. 109 5.1.O tipo antropológico........................................................... 111 5.2.O tipo sociológico.............................................................. 114 5.3.O tipo psicológico.............................................................. 116 6. Conceito analítico.................................................................... 120 6.1.O sistema causal............................................................... 122 6.2.O sistema finalista............................................................ 125 6.3.O sistema social................................................................ 129 6.4.Segurança e Interioridade................................................. 133 Capítulo VI A inexigibilidade como problema.................................................. 137 1. Os antigos e a descoberta dos limites da resistência humana.. 137 2. Os modernos e a resistência humana como problema jurídico. 139 3. Culpabilidade como reprovabilidade (teoria de FRANK)......... 143 4. Culpabilidade como contrariedade ao dever (teoria de GOLDSCHMIDT).......................................................................... 147 5. Culpabilidade como exigibilidade (teoria de FREUDENTHAL).. 149 5.1. Do otimismo de FREUDENTHAL à semi-indiferença do legislador............................................................................. 152 5.2. Do otimismo de FREUDENTHAL ao posicionamento tardio da jurisprudência no Brasil..................................................... 154 5.3.Do otimismo de FREUDENTHAL à oscilante posição da dogmática penal..................................................................................... 154 Capítulo VII A inexigibilidade como solução........................................................ 163 1. A culpabilidade sob controle (da dogmática tradicional)......... 163 2. A culpabilidade sob o fogo inimigo (do funcionalismo).......... 166 3. Crítica ao funcionalismo........................................................... 170 4. A inexigibilidade fora do sistema penal................................... 173 5. A dupla programação do direito................................................ 175 6. A tópica não foge de problemas................................................. 176 7. O sistema como risco para a depravação do humano............... 178 8. A tópica como techne (arte) de exaltação do humano.............. 179 Conclusão.......................................................................................... 182 Obras consultadas........................................................................... 189 10 Introdução A tese desta pesquisa postula a aplicação do conceito de inexigibilidade de conduta diversa como topos, num cenário onde o sistema penal é lacunoso (ou limitado) e não atende bem às expectativas para uma solução justa do caso concreto. Ela responde ao problema de saber: como pode o direito penal garantir segurança ao indivíduo, tendo em vista incertezas provocadas por vazios normativos que são evidentes no setor das exculpantes? Além disso, sua pretensão de legitimidade (ou originalidade) é fundada no uso da idéia de indivíduo, tomada no sentido da acepção que os modernos lhe emprestam. Por outro lado, a ponte que torna possível efetuar a relação entre inexigibilidade, limite das exculpantes penais e indivíduo, deduzindo daí conseqüências jurídicas apropriadas, aparece com o discurso da razão penal, naquele pilar em que se articula como sua promessa central a noção de segurança para todos e cada um. Com efeito, a reflexão que segue parte da idéia segundo a qual, desde que foi constituído, o direito penal moderno assumiu o homem como indivíduo. Embora as palavras homem e indivíduo refiram-se ao ser 11 humano (sob o aspecto natural), não significam a mesma coisa. O uso da palavra “homem” aponta para um ser humano ainda dependente; da palavra “indivíduo”, para alguém já emancipado. Na base dessa passagem, ali onde foi alterada a posição original do ser humano, mais três passagens se configuraram. Com a primeira, ora o homem é deslocado do estado de natureza para o Estado político; ora se desencantou do mundo em que se encontrava para se instalar num mundo diferente. Com a segunda, ora abandona a lei da selva para se vincular à lei civil; ora é subtraído da incidência da lei eterna (outorgada por Deus), para reconhecer apenas a lei natural (concebida pela razão). Com a terceira, assume diante da nova lei responsabilidades para cuja medida foram fixadas algumas orientações. No caso da lei penal, três dessas orientações destacam-se. Em primeiro lugar, o indivíduo assumido por ela (inclusive como ponto de partida ou princípio organizador de sua elaboração) é reconhecido segundo particularidades que conferem relevo à sua dimensão interior. Em segundo lugar, a recepção do indivíduo com esse perfil pelo direito penal deu-se segundo promessas que seriam capazes de garantir sua segurança. Assim, de um lado, as leis passariam a ser escritas com clareza e precisão; de outro, crime e pena só valeriam como tais depois de legalmente prescritos. Tudo isso permitiria um cálculo mediante o qual certeza e previsibilidade jurídicas estariam asseguradas. Em terceiro lugar, para tornar conseqüentes as orientações precedentes, o direito penal constituiu a esfera interna do indivíduo como o lugar sem cuja inspeção a crítica de suas ações seria incompleta. Isso significa que não bastava deduzir a responsabilidade penal da configuração objetiva do delito; tratava-se de configurá-lo subjetivamente também. Para esse fim, funcionou como uma descoberta que tornou ainda mais efetivas as promessas de segurança já anunciadas com a legalidade penal, a criação do sistema do delito. Nos seus estágios, vale dizer, na ação, tipicidade, ilicitude e culpabilidade, foram distribuídos 12 os critérios para um detalhado balanço crítico do comportamento do indivíduo. Mas o direito penal, como se verá, não conseguiu deduzir todas as conseqüências do sistema que criou. É o que ficou evidente no setor da culpabilidade, particularmente com as exculpantes. Com efeito, elas mostram-se suficientes para a solução de casos-padrão; diante de casoslimite, no entanto, põem a descoberto suas insuficiências. Os efeitos disso repercutem junto à práxis e à dogmática penal. Junto à práxis penal eles projetam-se em dois níveis: em primeiro lugar, justifica a consciência do juiz que um dia MONTESQUIEU descreveu como a boca que reproduz a vontade da lei, deixando-o à vontade para apenas fazer justiça formal. Em segundo lugar, cria um quadro de expectativas desapontadas ali onde o sentimento de justiça material associado às especificidades do caso concreto fica defraudado sob a justificativa da inexistência de provisões normativas apropriadas. Junto à dogmática penal aqueles efeitos se conectam com modelos de conhecimento penal ora fechados, ora abertos. Nos dois modelos é recorrente a discussão em torno do tema da inexigibilidade de conduta diversa; mas é diferente o modo de abordá-la. A rigor, o problema que a envolve consiste em saber se há possibilidade de um uso justificado dela nos domínios do sistema penal. A parte da dogmática penal com orientação mais fechada tem a compreensão de que somente as exculpantes penais previstas na lei podem ser aplicadas; as que são criadas fora desse âmbito, por exemplo, no da doutrina, como é o caso da inexigibilidade, não. A dogmática de orientação mais aberta, ao contrário, tem a compreensão de que circunstâncias anormais podem justificar a aplicação da inexigibilidade como uma exculpante inespecífica, isto é, sem previsão legal. 13 Sem embargo, o problema do limite das exculpantes penais e a correspondente solução pela via da inexigibilidade de conduta diversa não têm sido objeto de tratamento monográfico pela literatura penal brasileira. No máximo, tem sido objeto de estudos nos tratados, comentários, ou ainda lições, cursos e mesmo manuais. Mas os estudos aqui desenvolvidos e a tese que lhe corresponde não se justificam a partir de eventual economia aplicada no manejo do tema. Talvez a melhor justificativa corresponda à ligação de nenhuma forma habitual da inexigibilidade de conduta diversa com a tópica como um caminho para ir além daqueles limites. De qualquer forma, nada estaria aqui justificado se o encontro da inexigibilidade com a tópica não tivesse levado em conta o inexplorado modo como se constituiu o conceito de indivíduo e sua adoção pela razão penal para constituí-lo como ponto de partida do direito que lhe corresponde. Seja como for, a solução do problema do limite das exculpantes penais mediante o uso da inexigibilidade de conduta diversa, aproximandoa da tópica, sem a rejeição, contudo, do sistema penal, em nada se parece com um programa que articule a idéia de limitação da lei com a idéia de sua superfluidade. Trata-se apenas de alargar ou reforçar a própria lei e conduzi-la para zonas nas quais habitualmente se recusa a penetrar. Aliás, o uso da inexigibilidade significa apenas isso: superar o receio que toda linha de fronteira naturalmente provoca. Nesse caso, a linha de fronteira é a lei positiva. Convém prevenir, ainda, que as palavras indivíduo, cidadão, sujeito e pessoa são usadas no texto, todas, com o mesmo sentido. Não são consideradas diferenças que um uso menos superficial delas poderia sugerir. Em todo caso talvez não seja dispensável lembrar que o indivíduo referido nesse trabalho nem se confunde inteiramente com aquele a que o cogito cartesiano deu expressão, configurando-o numa singularidade que o 14 separa do mundo, nem com aquele socialmente mediado a que ADORNOHORKHEIMER se referem.1 Nenhuma dessas concepções é rejeitada. Mas aqui o indivíduo é o de carne e osso; não, bem entendido, no sentido biológico, mas no sentido de um ser, que, dotado de propriedades que certo consenso científico reconhece (por exemplo, as que se referem à sua autonomia, igualdade, liberdade, razão e subjetividade), articula-se com o mundo concreto e sobre o qual, aliás, o direito penal, como ciência da ação, sempre quis intervir. Finalmente, cabe a confissão de que não foi possível escapar de certa interdisciplinaridade. É que, embora, na origem, o problema que liga o limite das exculpantes penais com a inexigibilidade de conduta diversa pertença ao campo da dogmática penal, a solução aqui indicada e justificada com base na tópica exigiu um assédio a outros campos do conhecimento, por exemplo, a filosofia do direito, a sociologia jurídica, a história, a psicanálise, etc. Isso, de um lado, denuncia a violação de um modo de pensar a pesquisa científica sempre referida a domínios bem demarcados, mas, de outro, denuncia também que a natureza de certos temas, às vezes, pede demonstrações cujas possibilidades não se justificam quando se lança mão apenas do repertório de qualquer que seja a disciplina jurídica tomada isoladamente. 1 Cf. Temas básicos da sociologia, p. 47 ss. 15 Capítulo I O problema 1. O limite da resistência humana. “SEU JOÃOZINHO” era dono de um pequeno sítio na cidade de AREIA BRANCA (SE). Alguma coisa em torno de 60 tarefas nordestinas. Adquiriu aquela terra ainda bem jovem. Desde então, foi seu local de trabalho e sustento. Foram geradas ali as condições para garantir a educação dos filhos (três) na capital do Estado (ARACAJU). Depois que eles cresceram, formaram-se e arranjaram emprego, “SEU JOÃOZINHO” compreendeu que estava na hora de descansar. Já tinha 63 anos, a disposição não era tanta, e tratava-se agora de vender a propriedade. Após tornar pública a intenção, surgiu o comprador. Era um engenheiro baiano que morava em ARACAJU e freqüentava os salões da classe média alta. Sua imagem era associada ao gosto com que ostentava carro, casa e barco de luxo. Fecharam rapidamente o negócio. O velho entregou a terra, passou a escritura e recebeu como sinal 10% do preço combinado. O comprador ficou de pagar o restante 30 dias depois. Essa operação foi realizada sem as formalidades próprias. Nenhuma nota promissória, nenhum cheque pré-datado, nenhum contrato escrito. Enfim, 16 nada que representasse uma garantia dotada de eficácia jurídica para enfrentar qualquer contingência adiante. Bastava para o vendedor a crença de que a palavra do outro era suficiente para imunizá-lo contra as incertezas do futuro. Afinal, nas suas representações, a ação das pessoas guiava-se por lealdade, compromisso e honestidade. Por isso mesmo, a confiança ocupou o lugar da precaução. Com efeito, no prazo combinado, “SEU JOÃOZINHO” viajou para ARACAJU a fim de receber o que faltava. Esteve no escritório do devedor, mas saiu de lá apenas com a explicação de que não havia dinheiro pronto e um pedido de mais 30 (trinta) dias de prazo. Cedeu, conformado, e voltou a procurar o devedor na nova data. O velho não teve melhor sorte: outra desculpa e acertaram o pagamento para o mês seguinte. Na terceira visita, o engenheiro já não mais recebeu o importuno cobrador. Isso era tarefa para a secretária. Ela que arranjasse uma desculpa. Assim, o velho ouviu que a mulher do chefe fora submetida a uma cirurgia em SALVADOR, para onde se dirigira, e que tivesse um pouco mais de paciência. Nos meses seguintes, “SEU JOÃOZINHO” procurou pelo engenheiro 6 (seis) vezes. O calvário durou ao todo 9 (nove) meses. Naquela altura, percebeu duas coisas: de um lado, o que tinha para receber já não contava muito, afinal, a inflação corroera grande parte do valor da dívida; de outro, era muito difícil cobrá-la ou recuperar a terra. Foi nesse quadro de inquietações que esteve com o engenheiro pela nona vez. Estava sentado num banco da principal rua da cidade e engraxava os sapatos quando notou o engenheiro passando. Pagou a conta e saiu apressado para alcançá-lo. Interpelou-o e disse que estava ali para receber o que era seu. O engenheiro reagiu dizendo que não havia assunto para tratar ali e tinha mais o que fazer. Tanta afetação, desprezo e soberba equivaleram a um ataque. A situação limite para a dignidade de “SEU JOÃOZINHO,” ali desconstituído como sujeito, desencadeou naquela 17 circunstância uma conduta limite como resposta. O engenheiro pagou com a vida pela insensibilidade. O velho portava uma faca e golpeou-o nove vezes. Preso, em flagrante, foi processado e submetido a júri. 2. O limite da dogmática penal. O caso era de natureza especial, singular, algo fora da rotina penal. Podia ter como desfecho uma solução punitiva, exasperada ou não. Mas, não excluía a idéia de uma solução absolutória. Qualquer resultado, contudo, implicaria uma escolha entre alternativas possíveis e sustentáveis. A primeira alternativa, correspondente à punição, era sustentável a partir dos marcos da dogmática penal aplicada no cotidiano. O problema mesmo estava em como sustentar dogmaticamente a segunda alternativa mediante um discurso que garantisse a solução absolutória. Os caminhos ficavam ora mais, ora menos claros conforme a linha teórica cogitada. Assim, do ponto de vista da argumentação (teoria retórica), o caso era dotado de conteúdos fortes, expressivos, com simetrias bem marcadas (pobre/rico; honra/desonra; ingenuidade/esperteza; camponês/engenheiro; valores do campo/valores da cidade; contrato pela palavra/contrato por instrumento, etc.), capazes de fundamentar uma estratégia em busca do fim que se queria. Do ponto de vista legal (teoria normativa), contudo, havia riscos. A conduta em questão era imprópria para subsunção em orações excludente de ilicitude e culpa indicadas no código penal. Dito de outro modo, as características do fato não se acomodavam bem, seja nas situações de legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal (excludentes de ilicitude), seja nas de coação irresistível, obediência hierárquica, inimputabilidade decorrente de doença mental, erro de proibição (excludentes de culpabilidade). Mesmo o uso do argumento analógico (sempre possível no direito penal quando é para favorecer o imputado) seria problemático. A solução estaria em contornar a lei penal, embora sem perdê-la de vista, pelo caminho da inexigibilidade de conduta 18 diversa.2 O tema era conhecido do pensamento dogmático, mas de autonomia, localização e visibilidade discutíveis, se referido ao direito positivo. Pois bem, lançado no júri e com os debates encerrados, o juiz negou que pudesse torná-lo objeto de quesitos. Tinha a compreensão de que só podia formular questões a partir de teses deduzidas da lei. Sob esse aspecto, revelava outra compreensão, a que tinha do próprio direito e suas fontes. Numa palavra: nem o costume, nem a jurisprudência, nem a doutrina pareciam inspirar suas decisões. Para aquele juiz, é como se fora da lei não houvesse direito. Ora, este era o caso da inexigibilidade (...); logo, cabia à defesa arranjar outra tese, ali mesmo, naquela reunião. O fato de terem sido ultrapassadas as etapas correspondentes à réplica e tréplica não seria problema. Nesse ponto, (curiosamente) ele abriria mão da lei para permitir outro debate. A solução improvisada foi lançar mão do argumento da legítima defesa, isto é, de saída tecnicamente imprópria para o caso e, dessa forma, alcançar a decisão que as exigências de justiça reclamavam. O reconhecimento pelo júri dessa tese, contudo, só foi possível por conta de um arranjo retórico que ligava negativamente a legítima defesa à inexigibilidade de conduta diversa. Em outros termos, mostrava-se para os jurados que o caso não era de legítima defesa, e sim de inexigibilidade, mas a solução justa só seria alcançada pela aceitação da excludente de ilicitude, em razão de exigências técnicas correspondentes à formulação dos 2 Semelhante de algum modo foi o problema prático descrito por Gonzalo Quintero OLIVARES (Derecho Penal: parte general, p. 490) no qual JIMENEZ DE ASÚA esteve envolvido como advogado, cuja solução deu-se pelo uso da inexigibilidade de conduta diversa como fundamento de uma causa de exculpação na falta de qualquer outra prevista na lei ajustável ao caso concreto: “... nos referimos à defesa que JIMÉNEZ DE ASÚA fez de uma humilde costureira que, dando luz a um filho em uma época da história espanhola em que isso bastava para sua exclusão social por ser solteira, o deixou abandonado em um parque público, cometendo o delito descrito no atual artigo 488, terceiro, CP. Nem a obediência devida, nem o medo, nem o ‘estado de necessidade exculpante’ podiam acolher o caso, o que levou o ilustre penalista a sustentar que se tratava de um suposto de não exigibilidade, possibilidade que o Tribunal Supremo, aferrado ao formalismo jurídico da época, rechaçou (...)”. 19 quesitos. “SEU JOÃOZINHO” foi absolvido, mas o episódio abriu caminhos para problemas. Com efeito, um deles, além de recorrente, é geral; outros são específicos. O problema geral está ligado ao tema da relação entre normas e decisão judicial, sob o aspecto das lacunas ou insuficiências do sistema penal, tendo em vista a busca de justiça material (efetivar a justiça formal não constitui um problema nesse sentido, pois ela se basta com a aplicação do estoque normativo existente). Assim, que fazer diante de um quadro de lacuna jurídica revelada pela inexistência de norma (exculpante) capaz de fundamentar decisão que atenda às expectativas de justiça, associadas ao caso concreto? Os problemas específicos decorrem do tema da inexigibilidade de conduta diversa e apontam sempre para a relação desse conceito com a solução de casos-limite, perante os quais o direito penal põe a descoberto suas aflitivas insuficiências. Assim, como e em que circunstâncias a inexigibilidade de conduta diversa pode ser tomada em conta para preencher lacunas ou afastar insuficiências? 3. A carência normativa. Primeiro, então, o problema geral. Com efeito, os sistemas de direito positivo normalmente são estruturados na base do esquema regra-exceção. Embora de uso pelo legislador, parece que esse esquema não terá sido objeto de muita atenção da parte do pensamento jurídico.3 É na sabedoria popular que pode ser localizada a origem de sua formulação. Ninguém discorda quanto ao traço de senso comum em torno do que vem daí, mas todos estão de acordo que algumas máximas criadas nesse âmbito, embora não constituam ciência no sentido habitual, podem produzir uma forma de conhecimento que se torna referência em função da curiosidade que desperta. É o caso daquela que anuncia: “toda regra tem exceção”. 3 De qualquer modo, Hans-Heinrich JESCHECK (Tratado de Derecho Penal, p. 291) constitui uma exceção, pois desenvolve breves considerações acerca do tema. 20 Se algum estudioso quiser colher conclusões mais detalhadas sobre o que isso significa, vai alcançar pelo menos três aspectos: em primeiro lugar, a máxima reflete a leitura que a opinio poppuli faz das relações humanas; em segundo lugar, que tais relações envolvem ações às vezes dotadas de alguma complexidade; em terceiro lugar, que, sendo assim, aquelas relações não podem ser reguladas segundo princípios inflexíveis, absolutos, impermeáveis às exceções, cujo papel é o de alterar a regra para o efeito de torná-la mais eficaz. O mesmo estudioso, contudo, pode querer ir mais adiante na sua reflexão. Assim, de um lado, retira do cenário o homem comum e no seu lugar coloca o legislador; de outro, substitui o objeto da observação que deixa de ser o amplo conjunto das relações humanas e passa a considerar somente as relações estritamente jurídicas. Fazendo isso, compreenderá facilmente que a racionalidade do saber popular, às vezes, está a curta distância daquela que conduz à produção do saber jurídico. É disso que se trata quando se observam algumas áreas do direito. No direito administrativo, por exemplo, a regra geral é que os contratos administrativos celebrados devem obedecer ao procedimento licitatório; a exceção é que alguns contratos, tendo em vista características singulares de um dos celebrantes (como a notoriedade de sua especialização), prescindem de licitação. Não é diferente no direito constitucional. Neste setor, uma regra geral bastante conhecida é a de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu (art. 150, III, b, da CF). Mas existem as exceções. Uma delas é a que permite à União, no caso de guerra externa, instituir impostos extraordinários (art. 154, II, da CF). Semelhante esquema opera no direito civil, ali onde estabelece genericamente que aos 18 anos completos cessa a menoridade e a pessoa fica habilitada para a prática de todos os atos da vida civil. Mas, 21 excepciona situações (por exemplo, a do casamento) em que antes daquele limite acaba para os menores a incapacidade. O artifício da regra-exceção também é utilizado pelo direito penal. Funciona à base de um mecanismo que possibilita, de um lado, a descrição das proibições (por exemplo, o homicídio previsto no artigo 121, CP) e comandos (por exemplo, a omissão de notificação de doença prevista no artigo 269, CP), e, de outro, indica as permissões (excludentes de ilicitude) e exculpantes (excludentes de culpabilidade). A relação entre normas que proíbem, comandam, permitem e exculpam, entretanto, é problemática. Para tanto, basta considerar que o número de proibições prescritas no direito penal é vasto; ao contrário, é reduzido o de permissões e exculpações. Trata-se, portanto, de uma relação desigual em que aquelas na parte especial do código penal são em número de 214 (considerados apenas os tipos na sua forma básica), enquanto as últimas alcançam apenas o total de 9 (nove). Tais números, claro, excluem a legislação especial e a lei das contravenções penais. Se incluíssem, os dados seriam outros. Neste caso, a quantidade de proibições aumentaria, embora não necessariamente a de permissões e escusas. É que normalmente a lei especial dispensa, na sua formulação, a incorporação destas, pois constituem matéria geral do código e aplicam-se aos fatos incriminados por aquela. Com efeito, é possível uma objeção sinalizando que é incorreto o ponto de vista segundo o qual existem apenas nove permissões e escusas no direito penal. Tal objeção procede, mas, em parte. Na verdade, o número nove considera apenas as hipóteses diretamente contempladas na parte geral do código. No caso, quatro excludentes de ilicitude − estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito − e cinco excludentes de culpabilidade – coação irresistível, obediência hierárquica, erro de tipo, erro de proibição e a descriminante putativa do art. 20, § 1º. 22 Indiretamente, entretanto (de qualquer forma sempre a partir do código penal), aquela grade se abre para novas possibilidades. Isso ocorre por um trabalho que é garantido pela doutrina naquilo que lhe é inerente, ou seja, a montagem de um conhecimento sistemático que se desdobra, no geral, em dois níveis. O primeiro nível aparece pela composição de um quadro teórico cujo conteúdo é capaz de conferir definições, classificação e ordem ao sistema. O segundo aparece no plano da criação pela descoberta incessante de diferentes alternativas que o próprio sistema sugere. É o caso, por exemplo, das novas formulações que surgem da combinação entre cada uma das causas excludentes de ilicitude e a descriminante do art. 20, § 1º. Disso resultam conceitos, como o de estado de necessidade putativo, legítima defesa putativa, exercício regular de direito putativo e estrito comprimento do dever legal putativo, que são capazes de revelar condutas também insuscetíveis de censura. Nesse sentido, o esquema das permissões e escusas no direito penal não seria tão limitado assim.4 Sua montagem apontaria para a idéia de uma desejável flexibilidade no seu funcionamento. Com isso, estaria garantida a segurança jurídica prometida ao indivíduo, cujas expectativas não seriam desapontadas pela impossibilidade de aplicação ao caso concreto de uma das causas direta ou indiretamente reveladas de justificação ou exculpação de sua conduta. 4. O cálculo geométrico. Contudo, as coisas não parecem tão simples. O impasse que precedeu o desfecho do caso Joãozinho inspira questões capazes de porem o sistema penal a descoberto, pela revelação de aspectos que apontam para suas insuficiências. Nesse sentido, as perdas da 4 Num sentido próximo Günter STRATENWERTH (Derecho Penal, p. 226) considera que o direito vigente conhece um número relativamente amplo de causas de justificação. Também numa linha parecida, embora tratando apenas da antijuridicidade como violação da ordem jurídica em seu conjunto e no contexto de uma crítica especifica à teoria das causas de justificação como características negativas do tipo penal, Hans WELZEL (Derecho Penal, p.117) argumenta que é indiferente saber em que parte da lei está regulada uma causa de justificação. 23 razão penal são inevitáveis. Afinal, desde os iluministas, sua idéia central é que o modelo de direito penal para os novos tempos não apenas seria capaz de garantir a segurança de todos e cada um, mas teria aptidão para responder a conflitos de qualquer sorte, gerados pela convivência humana. Assim, o direito penal criado pelos modernos e a partir de BECCARIA fixou como premissa central a idéia de que a razão, para além da “prudência ocasional” e “seduções da eloqüência” inerentes à tradição, seria capaz de definir soluções para problemas penais com “exatidão geométrica”.5 Para tanto bastava que leis escritas e claras, fundadas no consenso e não na revelação, fossem instituídas. Isso permitiria ao indivíduo um cálculo quanto à conveniência de sua conduta, suficiente para garantir não só a segurança, mas a liberdade também. O processamento desse cálculo passou a considerar regras que estipulassem condutas proibidas e ordenadas às quais associava conseqüências jurídicas. Ao lado disso, incorporou as condutas permitidas (excludentes de ilicitude) bem como as condutas insuscetíveis de censura (excludentes de culpabilidade). Essa combinação, montada a partir de elementos antitéticos, ou seja, condutas que, de um lado, impunham e, de outro, dispensavam a punição, parecia conferir uma resposta a exigências de justiça, ora ligadas à sociedade, quando fosse inevitável a aplicação de sanção, ora ao indivíduo, quando sua aplicação fosse evitável. Constituída desse modo, a razão penal brindou o homem moderno com a promessa de que lhe passava um sistema normativo maciço, sólido, sem vazios e apto a prover as buscas para a solução de quaisquer conflitos. No entanto, o sistema não é consistente e seus vazios são evidentes. É o que ocorre mais particularmente com as excludentes de culpabilidade. Nesse domínio, o déficit de provisões normativas para regular situações5 Cf. Dos delitos e das penas, p. 11 ss. 24 limite mostra, de um lado, o caráter limitado ou inacabado do discurso da modernidade na área penal; de outro, o indivíduo inseguro diante de cenários cujos problemas excluem soluções não consagradas pela rotina. Não se trata, por conta disso, de imaginar que a razão penal esgotou suas possibilidades. Ela projeta ainda influências fortes no presente e tem como se estender no futuro. Os vazios paralisantes que exibe podem ser ocupados por contribuições diferentes. 5. O apelo a soluções fora da rotina. Trata-se, então, de buscar novos rumos ou recuperar roteiros já percorridos, mas inexplorados em todas as possibilidades. Um desses roteiros descortina-se no tema da inexigibilidade de conduta diversa. Mas, o que é a inexigibilidade de conduta diversa? Quando esse conceito surgiu na dogmática penal? Onde pode ser localizado no direito penal? Seria causa legal de exculpação e, assim, dotada de força normativa? Seria causa supralegal de exculpação e, assim, dotada apenas de força teórica? Acaso são, ao mesmo tempo, ambas as coisas? Seu uso é reconhecido como termo de referência para a aplicação analógica das causas legais excludentes de punição? Além dessas questões gerais, outras mais específicas se impõem; por exemplo, é possível determinar a medida exata da inexigibilidade? Ela insinua uma porta aberta para a impunidade? Existem ou não os limites jurídicos capazes de frear tal impunidade? O juiz, ao aplicá-la, estará criando direito e, desse modo, usurpando função (legislativa) imprópria? Cabem ainda indagações quanto a saber que indivíduo é esse, inseguro diante de uma razão penal que não garante suas promessas? Como e quando ele surgiu? Qual a importância que tem para a formulação do direito penal moderno? Suas expectativas de segurança jurídica podem ficar mais estabilizadas, ali onde o direito penal se deixa penetrar por conceitos fora da rotina, a exemplo da inexigibilidade? 25 Esses são alguns dos problemas que aqui serão enfrentados. É possível que, em parte, sejam resolvidos, mas não é improvável que a outra parte permaneça. O que importa mesmo, pensando bem, é compreender com ARISTÓTELES que a solução de um problema vale por “uma descoberta”.6 6 Ética a Nicômacos, p. 132. 26 Capítulo II O Indivíduo 1. Dependência e emancipação. Na era moderna todos os homens foram brindados pela chance de tornarem-se sujeitos. Significa que cada um passou a ser reconhecido de acordo com sua identidade, constituída não apenas de nome, domicílio, estado civil, mas, sobretudo, de um papel na sociedade, por exemplo, operando no mercado como empresário, operário, prestador de serviço; vinculado ao Estado como dirigente ou funcionário; produzindo conhecimento como intelectual; criando como artista, etc. A posse da identidade fez de cada homem um ser único, particular, cujos registros permitiram distingui-lo dos demais. Do processo que tornou o homem irredutível a outro, nasceu o indivíduo. Seu aparecimento corresponde a uma ruptura com esquemas de poder sustentados numa tradição que vinha desde os antigos. Nela, a percepção que no geral o ser humano tinha de sua condição remetia-o a um fracasso que parecia inevitável. Incapaz de se viabilizar à custa de sua direção, o homem submeteu-se durante longo tempo ora às determinações do destino, ora às exigências da divindade, ora, ainda, à tutela de outro. Assim, encoberto e 27 carente de visibilidade, escapava-lhe a ocasião de se tornar viável pela assunção de responsabilidades. Isto só seria possível com a posse de uma consciência de si que ainda não tinha. Com efeito, a descoberta do indivíduo conferiu ao homem o alvará de sua emancipação. Para tanto, foi preciso que manejasse alguns elementos, deslocando-se de posições que ostentavam sua dependência. Assim, e em primeiro lugar, substituiu a consciência do nós, cuja marca se exibia ou na identificação com a comunidade, ou na inteira submissão às instâncias divinas, pela consciência de si (o salto para a autonomia teve sua origem nesse impulso em direção a si mesmo). Em segundo lugar, assumiu o sentimento da liberdade e tomou em suas mãos o patrocínio de seu destino (foi nesse ponto que o livre-arbítrio como condição da imputabilidade7 se tornou o cânon que orientava no âmbito da moral a escolha entre o bem e o mal e, no âmbito do direito, entre o lícito e o ilícito). Em terceiro lugar, elevou a razão à condição de guia, não só para conhecer e dominar a natureza,8 mas para ordenar o mundo. Finalmente, consagrou a idéia de igualdade como aquela que deve pautar a relação do indivíduo com os outros. Mas foi longo, complexo e, por isso mesmo, de difícil apreensão o percurso que conduziu o homem a transformar-se em indivíduo. Por conta disso, constitui lugar comum na Filosofia e nas Ciências Sociais a idéia de que o conceito de indivíduo tem uma história.9 Incomum é localizar o começo dela. De qualquer forma sempre é possível a montagem de um roteiro, ainda que insuficiente e genérico, que dê conta da questão aqui. 7 Arthur SCHOPENHAUER (Fragmentos para a história da filosofia, p. 110) considera criticamente que o livre-arbítrio foi inventado para se esquivar da dificuldade inerente ao teísmo, que suprime a liberdade e a imputabilidade pela consideração de que o homem é obra de Deus, “pois não se pode crer na culpa e no mérito de um ser que quanto à sua existentia e essentia é obra de um outro.” 8 Francis BACON (Novo organum ou verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza, p. 98) não só conclamou o gênero humano a recuperar “os seus direitos sobre a natureza”, mas reconheceu que isso só será possível se for “guiado por uma razão reta (...) liberta de todos os obstáculos” que se localizam na “superstição e impostura”. 9 Ver, nesse sentido, Max HORKHEIMER, Eclipse da razão, p. 131. 28 Trata-se, para tanto, apenas de escolher uma das duas premissas já consolidadas em torno do tema. A primeira é desenvolvida na Dialética do Esclarecimento, onde ADORNO e HORKHEIMER conseguem enxergar o indivíduo já na epopéia homérica. Ali, o personagem mais emblemático daquela condição é retratado em ULISSES. Ele é o símile grego do homem moderno, vale dizer: “o protótipo do indivíduo burguês, cujo conceito tem origem naquela auto-afirmação unitária que encontra seu modelo mais antigo no herói errante”.10A segunda é desenvolvida por AGNES HELLER, para quem o indivíduo somente se constitui quando pode escolher (ainda que idealmente) a comunidade em que quer viver. Isso não era possível com os antigos, mas, de algum modo, se tornou possível com os modernos. Entre os antigos, a relação do indivíduo com a comunidade derivava de uma necessidade exterior (por exemplo, do nascimento); entre os modernos, de uma necessidade interna (por exemplo, de uma decisão pessoal).11 A distinção entre as duas teses para o que interessa aqui está na exploração mais ou menos ampla do passado, isto é, do movimento que conduziu o homem à posição de indivíduo. Como, em todo caso, esse movimento parece corresponder a diversos estágios da organização social e política, conforme, aliás, algumas indicações da literatura especializada,12 a primeira tese é preferível. Cabe observar, contudo, que a investigação que segue não inclui aqueles estágios mais primitivos, seja o do clã, seja o da tribo (salvo para mostrar que nesses cenários o indivíduo ainda não havia se instalado); inclui apenas os mais avançados, vale dizer, a pólis, a civitas, os feudos e o Estado Moderno. 10 Ibid., p. 53. O cotidiano e a história, p. 65 ss. 12 Niklas LUHMANN (Sociologia do direito I, p.184 ss) desenvolve o tema da relação entre direito e sociedade, tomando em consideração, também, o desenvolvimento das formas históricas do direito, onde distingue o direito arcaico, o direito das altas culturas antigas e o direito positivo da sociedade moderna, de modo que no direito arcaico o acesso do indivíduo a outras possibilidades dependia da parentela, mas já em Roma, cujo direito situa no contexto das altas culturas antigas, é criada “... a instituição de um ‘direito político privado (‘direito civil’) do qual o indivíduo participa enquanto cidadão político”. 11 29 Com efeito, o clã e a tribo são formas de associação onde o homem se diluía na totalidade a que estava vinculado. Ninguém se distinguia pelo domínio de um espaço particular para a ação. O clã, por exemplo, era constituído de membros que tinham em comum, além do sangue de gerações ancestrais, o interesse em segurança e proteção. LUHMANN esclarece como isso se dava na prática a partir dos conceitos de represália e reciprocidade. A segurança era garantida em nome do princípio da represália (exercida por todos em favor do ofendido); a proteção pelo princípio da reciprocidade (em que a operação de dar e receber funcionava como compensação das necessidades). Tais eram as noções básicas que, para LUHMANN, constituíam o direito das sociedades arcaicas das quais o clã é uma das expressões.13 Como se vê, aí prevalecia a espécie de ação comunitária, e não a particular. Mais do que isso: o lugar do espírito próprio era ocupado pelo espírito coletivo. Sempre que um (membro) era ofendido, correspondia a solidária defesa do clã. Nesse caso, havia a crença de que a ofensa violava o interesse comum. A propósito disso, a prática do homicídio é representativa e implicava duas conseqüências. Em primeiro lugar, transformava o clã a que pertencia o infrator em portador de uma forma coletiva de culpabilidade;14 em segundo lugar, impunha ao clã do ofendido a vingança como expressão de um dever coletivo que se materializava numa declaração de guerra contra aquele, agora considerado inimigo.15 Essa guerra se explicava ou era justificada pelo compromisso de fidelidade que unia a todos. Assim, o ataque do inimigo, mais do que 13 Cf. Sociologia do direito, p. 190 ss. Nesse sentido ver Franz Von LISZT (A idéia do fim no direito penal, p. 23). Ver também Hans KELSEN (Teoria pura do direito, p. 180) para quem “a responsabilidade coletiva é um elemento característico da ordem jurídica primitiva e está em estreita conexão com o pensamento e o sentir identificadores dos primitivos. À falta de uma consciência do eu suficientemente acusada, o primitivo sente-se de tal modo uno com os membros do seu grupo que interpreta todo o feito, por qualquer forma notável, de um membro do grupo, como feito do grupo - como algo que nós fizemos -; e, por isso, assim como aceita a recompensa para o grupo, assim aceita, de igual modo, a pena como algo que impende sobre todo o grupo”. 15 Cf. Max WEBER, Economia e sociedade, vol. I, p. 250 s. 14 30 ofensivo a um membro qualquer, ofendia o próprio clã.16 Já a tribo, alojando no seu interior diversos clãs, não passava de uma forma social mais ampla, pelo que incorporava as práticas próprias deste. 2. A pólis. Os gregos constituíram pela pólis o vestígio mais remoto do indivíduo. Para justificar esse ponto de partida, basta admitir que ali ele fosse o cidadão.17 Mas essa condição incluía poucos, ou seja, apenas aqueles que, segundo ARISTÓTELES, estavam em condições de exercer “funções públicas”,18 pois “a maioria era escravizada”.19 A posição de cidadão “dependia − acrescenta ARISTÓTELES − do nascimento e da riqueza”,20 o que não só garantia a “elegibilidade”21 para os cargos do governo, mas o dispensava de “viver uma vida de trabalho trivial”.22 Com efeito, o trabalho era exercido pelo escravo que, embora sob o aspecto natural fosse um ser humano, não passava de um bem, sob o aspecto político. Assim, para o filósofo, escravo é aquele que, não sendo dono de si, pertence a outro. Isso é suficiente para transformá-lo num bem, num instrumento (embora animado) a serviço do senhor e separável dele.23 Nesse ponto, parece se articular a idéia, ainda que por negação, acerca do que seja o indivíduo para o grego: é o ser humano que pertence a si mesmo, não a outro. Uma sociedade na qual prevalece a visão de mundo que associa alguns humanos à condição de bens permite 3 (três) observações: em 16 Günther JAKOBS (Estudios de derecho penal, p. 104) tem o entendimento de que nos casos de responsabilidade por pertencer a um grupo tribal “... tanto o autor como a vítima não se define como sujeitos autônomos, mas como membros de um grupo tribal”. 17 Tércio Sampaio FERRAZ JÚNIOR (Hobbes e a teoria normativa do direito, in: Estudos de filosofia do direito: reflexões sobre o poder, a liberdade, a justiça e o direito, p. 272) aponta para a relação entre a pólis e o nascimento do indivíduo: “A pólis representava um momento de transformação das sociedades arcaicas, aparecendo nela o homem como indivíduo, que pode agir em face de boas e más possibilidades, escolhendo racionalmente...”. 18 ARISTÓTELES, Política, p. 78 (1275b). 19 Idem, A constituição de Atenas, p. 258. 20 Ibid., p. 255. 21 Ibid. 22 ARISTÓTELES, Política, p. 239 (1329a). 23 Cf. ibid. p. 18 (1254a). 31 primeiro lugar, justifica a servidão, com base numa desigualdade natural entre os homens. Isso não quer dizer que o pensamento grego desconhecesse a noção de igualdade. Mesmo ARISTÓTELES reconhecia sua existência, mas somente ali onde “... igualdade significa igualdade de posições para pessoas equivalentes...”,24 pelo que escravo e cidadão só têm como símiles, respectivamente, outro escravo e outro cidadão. Em segundo lugar, não é improvável que nessa visão esteja contido o antecedente mais antigo acerca do que seja o indivíduo: é o ser humano dono de si, senhor de suas ações e titular das escolhas que define. Em terceiro lugar, torna possível a compreensão de que, numa sociedade como a grega, marcada pela divisão dos seres humanos, onde alguns, sendo independentes, fazem dos outros seus dependentes, a questão da liberdade pode ser examinada do ponto de vista de quantos tinham acesso a ela. Antes de responder se nenhum, poucos ou muitos gozaram dela, convém esclarecer que os filósofos gregos fizeram da palavra “liberdade” um uso meramente discursivo,25 sem, no entanto, constituí-la num problema. Assim, ela aparece em textos de PLATÃO e ARISTÓTELES relacionados ao tema dos governos democráticos. PLATÃO reproduz um diálogo entre SÓCRATES e ADIMANTO no qual a liberdade é colocada sob suspeita. O dialogo começa com SÓCRATES: ― (...) não é o desejo insaciável daquilo que a democracia considera como o seu bem supremo que a perde? ― E que bem é esse? ― A liberdade.26 24 Ibid., p. 253. Ver nesse sentido Tércio Sampaio FERRAZ JÚNIOR, Estudos de filosofia do direito: reflexões sobre o poder, a liberdade, a justiça e o direito, p. 76. 26 A República, p. 280. 25 32 Já na política, a palavra liberdade é empregada por ARISTÓTELES quando considera que “um princípio fundamental de toda forma democrática de governo é a liberdade”.27 Como se vê, a palavra “liberdade” cumpre, nas passagens destacadas, a função que o contexto discursivo reclama. Ora é referida como um bem que, desejado em excesso, coloca em risco a democracia, ora é referida como um princípio sem o qual a democracia não se funda. Mas o sentido em si e a palavra mesma em nenhum momento foram alvos de atenção. Aliás, FUSTEL DE COULANGES sustenta o ponto de vista de que nenhum grego gozou da liberdade. Para ele, a dominação que a cidade grega exercia sobre seus membros era absoluta. A vida das pessoas era submetida à lógica da onipotência e força do Estado. Este era o senhor da fortuna, da vida, dos sentimentos e das crenças de todos os homens. Assim, se precisasse de dinheiro, podia expropriá-lo; se a criança nascesse com defeito, ordenava ao pai que a matasse; se os jovens morriam na guerra, os pais tinham que mostrar alegria em público; se os deuses fossem colocados em questão, condenava-se o insolente [SÓCRATES]. Num quadro como esse é difícil, segundo COULANGES, acreditar que o homem pudesse ter sentido o gosto da liberdade.28 O argumento de COULANGES, no mínimo, é discutível. Tem como defeito principal a distinção que não faz entre as instituições de ESPARTA e ATENAS, as principais cidades gregas. O espartano e o ateniense tinham deveres que os tornavam menos ou mais livres.29 Mas isso aponta apenas para o caráter limitado da liberdade entre os gregos, em proporções sempre dependentes do modo como organizavam politicamente suas cidades. O sentimento mesmo da liberdade parece ter sempre existido e pode ser identificado na GRÉCIA ainda encantada pelos mitos. 27 ARISTÓTELES, Política, p. 204 (1317 b). Cf. A cidade antiga, p. 248 ss. 29 Próximo disso é o argumento de Bertrand RUSSEL (A autoridade e o indivíduo, p. 36) ao considerar que “as cidades gregas diferiam enormemente quanto ao grau de liberdade permitida aos cidadãos; na maioria delas havia muita, mas em Esparta, um mínimo absoluto”. 28 33 A GRÉCIA mitológica é um espaço ocupado por deuses e heróis. O poder que tais personagens exercem é bem distinto. Os deuses podem muito, mas não tudo; os heróis podem bem menos. Os deuses sabem, por exemplo, que nada podem contra a natureza e que a sorte de todos (deuses e heróis) está traçada pelo destino. Trata-se de um ser diante de quem o próprio Zeus se submete. Isso implica que as determinações do destino não podem ser alteradas, pelo que os deuses se conformam e não se sentem livres, pois não podem fazer nada. A atitude dos heróis é diferente. Como os deuses, sabem que sua sorte está programada, mas não se conformam. Preferem combater o destino, na ânsia para escapar do seu jugo, embora não tenham chances. Na audácia desse gesto repousa não só a origem da tragédia grega, mas também do sentimento da liberdade como expressão de um ideal ainda cultivado por poucos 30 Já o ponto de vista de HANNA ARENDT relaciona o homem grego com a liberdade, mas como um fato da vida cotidiana, da política, e não como questão filosófica. Mas de que liberdade se trata aí? Aquela que se torna visível pelo agir conjunto dos homens. Essa ação, no entanto, só pode ser desenvolvida pelos homens livres e no espaço da pólis. A liberdade, então, é algo que se confunde com o exercício da política, cuja prática é vedada aos escravos. Nesse sentido, o exercício da liberdade é limitado, estamental. O acesso à ação política era permitido ao grego livre; ao escravo, não. Mas a liberdade referida à política não é um atributo da vontade e sim do intelecto. O homem é livre enquanto age, não segundo um motivo ou desígnio e sim de acordo com princípios (dignidade, honra, excelência, etc.). A ação segundo o princípio da excelência, por exemplo, conduziu à fundação da pólis. Ali era o domínio onde os homens 30 Para Friedrich Von SCHELLING (Cartas filosóficas sobre o dogmatismo e o criticismo, In: Os Pensadores, p. 34), “a tragédia grega honrava a liberdade humana, fazendo que seu herói lutasse contra a potência superior do destino”. Tércio Sampaio FERRAZ JÚNIOR (op. cit., p. 78) também considera que o herói homérico, quando tenta superar suas próprias limitações, torna-se “... um ser até ‘mais livre’ que os próprios deuses...”. 34 desfrutavam da companhia de outros, após terem sido liberados das necessidades da vida.31 Mas esse era um privilégio dos cidadãos gregos, que eram muitos, pelo menos se comparados aos heróis, que eram poucos. 3. A civitas. A cisão que a pólis grega fez entre os homens, distinguindo-os segundo privilégios que ostentavam, de tal modo que alguns tinham muitos, e outros, nenhum, foi reproduzido na civitas romana. É possível que nesse âmbito tal processo tenha sido mais complexo. Afinal, sua história envolve um período que gira em torno de pouco mais de 1.200 anos. Durante esse tempo, ROMA experimentou processos políticos que desaguaram na Realeza, República e Império, sucessivamente. Nesse percurso, a posição do cidadão não sofreu qualquer mudança. Era reconhecido como tal “... todo aquele que tomava parte no culto da cidade, e dessa participação lhe derivavam todos os seus direitos civis e políticos”.32 O que se constituía em objeto de mudança eram os critérios para o acesso àquela condição. Realeza. Assim, na realeza só era cidadão o patrício. Sua distinção ficava garantida pelo exercício de pelo menos duas prerrogativas: de um lado, o “direito de votar e obter justiça perante as cortes”,33 e, de outro, a circunstância de que ninguém, além dele, podia administrar a cidade.34 Mas, o patriciato era um espaço privativo das famílias nobres de ROMA. Aquelas que, constituindo a gens, eram unidas pelo antepassado comum. O laço de sangue, portanto, gerado na figura de um ancestral fundador, representava até então o único critério que a ROMA dos reis adotava para identificar seu cidadão. A plebe ficava à margem desse circuito. Era formada por estrangeiros, clientes, libertos e, de algum modo, por escravos (tratados ali 31 Entre o passado e o futuro, p. 191 ss. Fustel de COULANGES , op. cit., p. 213. 33 J. M. ROBERTS, O Livro de ouro da história do mundo, p. 219 s. 34 Cf. Alberto MALET, Roma, p. 21. 32 35 como se fossem um bem, uma coisa, uma mercadoria) que não podiam ser cidadãos. Ocupavam assim, o espaço social reservado aos excluídos, sob o controle de uma interdição que lhes negava acesso ao culto religioso, ao voto nas assembléias, à ocupação dos cargos públicos e à justiça. (A posição das mulheres era um pouco diferente. Embora não contassem “como membros da comunidade”35 – afinal não podiam ser proprietárias e eram proibidas de exercer a política e reclamarem direitos –, compartilhavam das “honras” tributadas ao esposo, apareciam com ele em público, nas cerimônias e nos jogos, estavam rodeadas de considerações36 e, ainda, tomavam “parte no culto”37). Aliás, o acesso à justiça, permitido ao cidadão e proibido à plebe, mostra a extensão limitada das relações jurídicas entre os romanos. Estas eram reconhecidas apenas no estreito domínio ocupado pelos homens livres e nunca se estendiam para aqueles que ficavam de fora. Isso quer dizer que a lei romana, se, de um lado, regulava as relações entre os iguais, isto é, entre os patrícios,38 de outro, mantinha-se, no geral, indiferente quanto às relações entre os desiguais, isto é, entre os patrícios versus seus dependentes (mulheres, filhos, escravos, etc.),39 fenômeno que explica a potestade punitiva representada pelo jus vitae et necis conferida ao paterfamilias. As condições políticas da República, no entanto, alteraram esse quadro. República. Nesse período, o ingresso na cidadania romana passa por critérios que vão além das relações de sangue. Dito de outro modo, a aristocracia fundada no nascimento deixa-se penetrar por novos contingentes. É o que ocorre quando o seleto e engessado estrato de 35 Theodor MOMMSEN, História de Roma (Excertos), p. 68. Alberto MALET, op. cit. p. 38 s. 37 Fustel de COULANGES, op. cit. p. 46. 38 Ver, sob esse aspecto, WEBER (Economia e sociedade, vol. II, p. 42), para quem “Nenhuma lex romana tinha vigência fora do círculo dos cidadãos”. 39 Para BODENHEIMER (Teoria del derecho, p. 36) “O direito romano (...) reconhecia relações jurídicas unicamente entre as cabeças de famílias livres e independentes: não reconhecia relações jurídicas entre um paterfamilias e seus filhos nem entre um amo e seus escravos.” 36 36 cidadãos ganha volume com a incorporação dos plebeus distinguidos pela riqueza. O alistamento militar e o comércio foram os caminhos que conduziram parte da plebe ao sucesso econômico e, como conseqüência, à mobilidade social e política, assegurada agora pelo exercício de prerrogativas que eram exclusivas do varão de ROMA. Com efeito, no tempo dos reis, o exército era formado tão-somente de cidadãos romanos. Eles não constituíam um corpo militar permanente e, com o término da guerra, voltavam para suas ocupações habituais. Além disso, assumiam os custos das armas e alimentos de que necessitavam, não recebendo qualquer soldo. Desse modo e até “por espírito de justiça (...) os pobres ficavam excluídos”,40 pois, afinal, não podiam se viabilizar no empreendimento por conta própria. Entre a queda dos reis e o início da República, contudo, a composição do exército foi redefinida pela infiltração de setores da plebe. O novo arranjo terá sido o resultado do impulso conquistador das legiões, espalhadas pelo mundo e carentes agora de reforços. Ao êxito militar sucedeu dúplice efeito: os territórios do inimigo foram anexados e a riqueza, pela via do botim, expandiu-se. Com isso, a plebe também passava a ser beneficiária de vantagens antes reservadas aos patrícios. Por outro lado, a expansão de ROMA, definida pela sujeição de diferentes povos vencidos na guerra, fez dali uma referência mundial com reflexos na área dos negócios. A riqueza, antes fundada apenas na propriedade da terra e dos escravos, encontrava no comércio outra fonte para sua geração. O universo dos negociantes, contudo, não terá sido constituído pelo antigo aristocrata romano, mas, sobretudo, pelo estrangeiro (não necessariamente aquele derrotado no campo de batalha), possuído 40 MALET, op. cit. p. 58. 37 agora de sentimentos que, rejeitando a condição de plebeu, ambicionava um espaço, afinal aberto, no patriciato. Para além desses cenários – guerra e comércio –, a República foi marcada por eventos políticos, cuja particularidade foi a de abrir caminhos na busca da redução das diferenças entre patrícios e plebeus. Parece certo que a idéia de igualdade, em que todos pudessem conviver no espaço da cidadania, não tivesse sido claramente formulada no espírito da época, mas não parece menos certo que em nenhum momento da Antigüidade tanto se tenha lutado contra a desigualdade. Como resultado, tais lutas favoreceram a criação dos tribunos da plebe e a lei das doze tábuas. (Antes disso, porém, a desigualdade já fora alvo de um ataque, cujo êxito foi capaz de abalar a estrutura que sustentava a família gentilícia de ROMA. Ele foi desferido contra o princípio da primogenitura e seus efeitos, por exemplo, aquele que garantia na sucessão toda a propriedade para o primeiro filho nascido do casamento.) O tribuno da plebe foi um personagem singular no âmbito da representação política. Não há nada na história das instituições que lembre o modo e alcance da ação que desenvolvia. Sua escolha era feita pelos plebeus, mas podia recair tanto no oriundi, como num patrício.41 A lei investiu-lhe de um caráter sacrossanto, garantindo seu desempenho contra represálias. Assim, ninguém podia tocá-lo, nada podia ser feito contra ele, e, nesse sentido, era inviolável. Tal privilégio “... alcançava até onde o corpo do tribuno pudesse estender sua ação direta”.42 A conseqüência prática disso estava em que, se um plebeu fosse agredido por um cidadão, “... o tribuno se apresentava, colocava-se entre os dois (intercessio) e detinha a mão patrícia”.43 Ali onde paralisava a força, o tribuno humilhava 41 Cf. MONTESQUIEU, Grandeza e decadência dos romanos, p. 64. Ver também MAQUIAVEL, Discursos sobre la primera década de Tito Lívio, livro I, 13, p. 75. 42 Fustel de COULANGES, op. cit. p. 321. 43 Ibid. 38 o patrício, contido pelo medo de se tornar impuro ou de “cometer grave impiedade”,44 se o tocasse. Isto permitiu que tivesse uma desenvoltura para além das atribuições conferidas, na origem, ao seu papel.45 É o que explica suas intervenções desassombradas, enfrentando não apenas os senadores, mas os cônsules também. Já a lei das doze tábuas rompeu com os limites que isolavam o direito num espaço freqüentado por poucos. Ali penetravam apenas o sacerdote e o cidadão. O passaporte que exibiam era, no caso do sacerdote, o monopólio da arte dos rituais e o conhecimento das fórmulas sagradas; no caso do cidadão, a circunstância de a cidade ter sido fundada por seus ancestrais. Afastada desse círculo, a plebe agiu em busca de inclusão. Nesse sentido, “pediu não só leis escritas e tornadas públicas, mas que fossem igualmente aplicáveis a patrícios e a plebeus”.46 Não é o caso de examinar aqui os contratempos que sucederam a essa reivindicação. O que importa mesmo é assinalar que, depois de atendida, finalmente “o plebeu compareceu perante o mesmo tribunal que o patrício (...) e foi julgado pela mesma lei”.47 Como se vê, as luzes brilham não apenas para os modernos; à sua maneira, os antigos também fizeram uso delas. Império. O curso dos conflitos entre patrícios e plebeus prosseguiu no Império. Não com a intensidade que marcou a luta social durante a República, mas o suficiente para adicionar pelo menos novos elementos na luta contra a desigualdade. Com efeito, ao longo do Império, a posição da plebe terá sido afetada por pelo menos duas alterações. Uma alcançou os escravos; outra, os demais plebeus. Desse modo, a mão-de-obra escrava oscilou quanto à sua importância para a economia entre o início do império 44 Ibid., p. 320. Segundo MONTESQUIEU (op. cit, p. 63), “os plebeus, tendo obtido tribunos para se defender, deles se valeram para atacar”. 46 Fustel de COULANGES, op. cit. p. 326. 47 Ibid., p. 327. 45 39 e o século III.48 Com efeito, o governo de OTÁVIO AUGUSTO favoreceu a escravidão. Sua política social funcionou como contraponto a algumas concessões da República. Sob esse aspecto impôs limites e restrições à liberdade (dos escravos). Nada disso, contudo, teria sentido três séculos depois. Por essa época, o trabalho escravo já não tinha tanta importância no mundo romano. Era o começo da erosão do escravismo como um dos pilares que sustentava a Antigüidade. Já os plebeus que não eram escravos garantiram sua emancipação pelo edito de CARACALA (212 d.C.). Esse Imperador estendeu os privilégios da cidadania para além do círculo da antiga família gentilícia. Com isso, quebrou o critério que instituía Roma como único reduto capaz de produzir cidadãos. A geração da cidadania agora passava a ser reconhecida nos confins territoriais daquela civilização, nas mais remotas províncias, o que brindava “os homens livres do império” com vantagens nas esferas política (direito de acesso às magistraturas), jurídica (direito de acesso à lei) e social (direito de acesso à propriedade) conferidas tãosomente a quem fazia parte do populus romanum. Era a materialização do sonho da época, afinal “nada no mundo tinha mais valor que ser cidadão romano”.49 4. O feudo. Mas o império romano desabou (476 d.C.). O episódio transformou em ruínas aquele que terá sido o mais ambicioso, consistente e duradouro arranjo econômico, militar e político que os antigos conheceram. Nenhum historiador parece discordar disso. Aliás, GIBBON conta que foi “a maior, talvez, a mais espantosa cena da história da humanidade”,50 pelo menos tendo em consideração os efeitos que provocou, sobretudo, o de espalhar por toda a Europa Ocidental os estilhaços de autoridade, força e 48 Cf. Rubin S. L.de AQUINO, Denize de AZEVEDO FRANCO, Oscar G. P. CAMPOS LOPES, História das sociedades: das comunidades primitivas às sociedades medievais, p. 251ss. 49 Fustel de COULANGES, op. cit., p. 409. 50 The decline and Fall of Roman Empire, vol. II, p. 598. 40 pompa que ROMA concentrou durante tanto tempo. Sob esse aspecto, WELLS assinala que tal processo de desestruturação permitiu que as Ilhas Britânicas, por exemplo, ficassem divididas entre vários governantes, fenômeno que se reproduziu na ESPANHA cujo estado de fragmentação política lembrava a ITÁLIA, a FRANÇA e grande parte do mundo ocidental. Como conseqüência de um panorama em que o poder foi repartido em pedaços, instalou-se um período de desordem no qual o crime e a impunidade geraram um sentimento de universal insegurança, o que torna possível identificar “nessa desordem generalizada os primeiros começos de uma nova ordem”.51 A nova ordem anunciada por WELLS é o feudalismo, identificado na linguagem de WEBER como uma forma de associação baseada em “relações de fidelidade puramente pessoais entre o senhor e seus vassalos”.52 Nela [a nova ordem], o indivíduo é menos livre e, portanto, mais fraco do que seu símile [cidadão] romano, mas não desaparece de cena (de qualquer forma, o ingresso nessa condição permanece como um privilégio que distingue a nova elite, agora composta de senhores cujos títulos − por exemplo, o de cavaleiro, visconde, conde, duque, etc. − são inacessíveis aos artesões, mercadores, servos da gleba e, menos ainda, aos escravos). Mas, como explicar a permanência do indivíduo na etapa que se inaugura, embora com menor liberdade? Ora, o ambiente de desamparo, vulnerabilidade e temor diante do inimigo, interno e externo, parece ter mobilizado a muitos na busca de proteção e segurança. Para isso, formaram-se alianças nas quais ninguém era completamente senhor de si. A autonomia dos interessados nesse tipo de acordo era relativa, ou seja, de um lado, o senhor era autárquico na condução política, jurídica e econômica dos domínios de que se apossava, mas, de outro, 51 52 História universal, vol. VI, p. 354. Economia e sociedade, vol. I, p.168. 41 ficava vinculado a um mecanismo de sujeição que lhe retirava grande parte da independência. Com efeito, todos se organizavam segundo um sistema de dependências cruzadas, fundado no princípio da vassalagem. De acordo com esse princípio, tornava-se vassalo quem era beneficiado pelo senhor com um feudo, isto é, uma concessão de terras no interior das quais era exercido o governo local. Mas a relação feudal, envolvendo senhor e vassalo, implicava compromissos. Um e outro se obrigavam com o suprimento das respectivas carências. O senhor necessitava da lealdade dos homens que agregava em torno de si; os vassalos necessitavam da mão forte, da proteção e da defesa do senhor. Em todo caso, algumas particularidades ligadas a essa época podem até sugerir a idéia de que, embora ocupada por poucos, a posição do indivíduo nunca esteve tão forte. Elas se distribuem nas esferas do comportamento, da legalidade e da política. Todas se revestem de significados capazes de elevar o aristocrata feudal a um ponto onde sua independência, liberdade e autonomia, mesmo que à custa dos que lhe serviam, estariam acima de questionamentos. A esfera do comportamento é onde se articula um dos privilégios característicos da época, o jus primae noctis. Era o direito que o senhor feudal tinha de dispor da noiva do vassalo na primeira noite. Embora prescrito, isto é, validado pelo costume, não se sabe se o cavaleiro medieval lançava mão de suas prerrogativas e se deitava habitualmente com a mulher do homem que lhe servia, mas sabe-se que, nesse caso, a invasão da intimidade alheia não chegava a ser um ataque, agressão ou violência. Afinal, a precedência do gozo sexual pelo senhor, se e quando realizada, menos do que um ato de força, decorria de renúncia e consentimento do servo que, dessa forma, mostrava sua devoção àquele. Mais ainda, ao 42 vassalo era garantido o acesso exclusivo à mulher que escolheu como parceira e, para esse fim, “tinha permissão de redimir a noiva pagando uma taxa ao senhor”.53 O tributo previsto, muito aquém de liberar o vassalo de compromissos, tinha o sentido de dupla, embora alternativa, sujeição: não apenas sexo, o dinheiro igualmente satisfazia a vontade do senhor. Sob o aspecto da legalidade,54 a energia normativa do mundo feudal foi deslocada da esfera pública para se alojar no castelo. Com isso, o que havia de público na lei do mundo romano teria sido eliminado e seu lugar passou a ser ocupado pela lei particular, agora criada, aplicada e executada pelo senhor. Tal fenômeno não escapou a MONTESQUIEU. Ele considera as leis feudais dotadas de duas características: de um lado, inclinam-se para a anarquia; de outro, conferem à anarquia certa ordem e harmonia, e por isso mesmo “constituem um belo espetáculo”.55 A anarquia legal como espetáculo parece dar sentido à idéia, em primeiro lugar, da existência de múltiplos, diferentes e particulares sistemas jurídicos e, em segundo, que cada um desses sistemas tinha a pretensão de garantir a paz e a segurança de todos. Dito de outro modo, a ordem feudal desconheceu e não atuou segundo um sistema centralizado de leis; ao contrário, suas leis eram completamente descentralizadas. Em cada feudo o senhor monopolizava seu uso e, dessa forma, distribuía justiça. Já no âmbito da política, desenvolveu-se com o feudalismo a prática do governo local. Isto significa que cada feudo tinha governo próprio, autárquico, pelo que “... era um ‘Estado’ em si mesmo, tendo à frente seu pequeno cavaleiro como senhor independente”.56 O espaço da dominação aí sofreu uma inversão e teve suas fronteiras reduzidas. A inversão deu-se ali 53 Will DURANT, História da civilização, tomo 3, p. 6. Note-se que a noção de legalidade no período medieval em nada se parece com a noção moderna; por exemplo, para Will DURANT (Ibid., p. 21), “no regime feudal (...), o costume e a lei constituíam uma só coisa”. 55 O espírito das leis, p. 475. 56 Norbert ELIAS, O processo civilizador, vol. 2, p. 84. 54 43 onde o exercício do mando se desprendeu da autoridade central para se acomodar na figura do senhor, reproduzida e espalhada em vários pontos da Europa. Sua ação, no entanto, era comprimida nos limites do território enfeudado, pelo que as fronteiras para o exercício da dominação se reduziam. Mas, na área em que dominava, “... todas as funções de governo eram enfeixadas em suas mãos”,57 de modo que “todos os barões, todos os viscondes, todos seigneurs, controlavam sua terra ou suas terras a partir de seu castelo, ou castelos, tal como o governante controlava o Estado”.58 Nenhuma dessas particularidades, contudo, tomada isoladamente ou em conjunto, é suficiente para revelar na plenitude o indivíduo. É que o dignitário feudal era um personagem cindido pela circunstância de concentrar em si papéis que se anulavam no que continham de antinômicos: o de senhor e vassalo. Isto se tornava possível pela natureza do compromisso que deu origem à ordem feudal: em troca de fidelidade, o senhor dava terra e proteção ao vassalo. A cerimônia de sagração dessa aliança simbolizava renúncia, entrega e submissão. Nela, sob juramento, um homem prometia pertencer a outro homem: Um homem demasiado orgulhoso ou poderoso para ser um servo, porém muito limitado para prover sua própria segurança militar, realizava um ato de “homenagem” a um barão feudal: ajoelhava-se descalço e desarmado perante ele, colocava suas mãos nas do senhor, declarava-se homme ou homem do senhor (embora conservando os seus direitos de homem livre), e por um juramento sobre relíquias sacras ou a Bíblia prometia lealdade eterna. O senhor fazia-o levantarse, beijava-o, investia-o com um feudo (*), e dava-lhe, como símbolo, uma palha, uma bengala, lança ou luva. Daí por diante o senhor dava ao seu vassalo proteção, amizade, fidelidade e auxílio econômico e legal. 59 Acontece que o vassalo “se as circunstâncias assim o exigiam, [podia] tomar sob sua proteção guerreiros ainda mais fracos em troca de 57 Ibid., p. 25. Ibid., p. 65. 59 Will DURANT, op.cit., tomo 3, p. 17. Sobre o tema e comentando essa cerimônia, Thomas HOBBES (diálogo entre um filósofo e um jurista, p. 109) considera que esse ritual e a homenagem que o constitui representam “a maior submissão que um homem pode impor a outro”. 58 44 serviços”,60 e, em relação a estes, assumia a posição de senhor. Com a repartição do vínculo vassálico original em outros, num processo em que a terra era subenfeudada, instaurava-se uma associação de cavaleiros, matizada por gradações e desníveis em que todos podiam depender de todos.61 Nesse cenário, ninguém estava acima da possibilidade de ser vassalo, nem mesmo o rei. A rigor, nada impedia que agregasse em si o duplo papel de soberano no seu país e vassalo no estrangeiro, onde era submetido às determinações de outro rei.62 De outro lado, o poder mesmo que o rei exercia era justificado não apenas por razões terrenas, mas, sobretudo, por inspirações sacras, divinas, religiosas. Assim, para além do rei, havia o Deus cristão a quem cabia distribuir o mando, não só nas mãos do soberano, mas do papa também.63 5. O Estado Moderno. À desconcentração do poder, representada por feudos que nasciam e se multiplicavam, sucedeu o fenômeno de sua concentração. É como se tivesse havido um retorno ao modo como o poder se enfeixava na ROMA imperial, embora em proporções menos vastas. O Estado aparece como desfecho dessa mudança. O nascimento do Estado, celebrado por HEGEL como o “mais prodigioso espetáculo jamais visto desde que há uma raça humana”,64 funcionou como uma resposta diante de 60 Norbert ELIAS, op. cit. p. 61. A esse respeito Max SAVELLE (História da civilização mundial, p.149) afirma o seguinte: “Quase todos os senhores feudais deviam submissão a outro senhor, que era chamado suserano, ou super senhor, tendo, porém outros senhores conhecidos como seus vassalos que lhes prestava obediência”. 62 Em outra passagem Max SAVELLE (Ibid., p. 149 s) diz: “Por exemplo, Guilherme, o conquistador, era ao mesmo tempo Rei da Inglaterra e Duque da Normandia. Como Rei da Inglaterra, era independente do Rei da França, igual a ele em prestígio social, e todos os grandes senhores feudais da Inglaterra eram seus vassalos. Como Duque da Normandia, Guilherme era vassalo do Rei da França, tendo a Normandia como um feudo da coroa francesa”. 63 Ver nesse sentido Bertrand RUSSEL (História da filosofia ocidental, livro I, p. 16) onde sustenta que “a Idade Média (...) era dominada (...) por uma teoria muito precisa do poder político. Todo poder político procede, em última análise de Deus; Ele delegou poder ao papa nos assuntos sagrados, e ao imperador nos assuntos seculares”. 64 G. W .F. HEGEL, Princípios da filosofia do direito, 219. 61 45 transformações que foram capazes de abalar a Europa Ocidental na passagem do período medieval da história para o moderno.65 Com efeito, nada então escapou de minuciosa, exaustiva e radical revisão. Arte, ciência, religião e política foram colocadas às avessas. Tudo agora se apresentava sob outra perspectiva, diferentes articulações, novos fundamentos. A arte (pintura, escultura, literatura, etc.) abandona em grande parte sua inspiração religiosa e promove uma retomada dos valores correspondentes à Antigüidade clássica, sobretudo a greco-romana. A ciência despede-se da fé (religião), da superstição (magia), da revelação (Sagradas Escrituras), do encantamento enfim, e no lugar de tudo isso coloca a razão. A religião, mediante a reforma protestante, tal como já se dera no ambiente das artes, busca um contato com o passado, articulandose com o início do cristianismo.66 Isso se dá mediante a proposta formulada por LUTERO de retorno à igreja primitiva, na qual, de um lado, a fé ocupava lugar privilegiado (em detrimento dos sacramentos), e de outro, o papa assumia a posição de pastor, não de tirano. Paralelamente a isso, a reforma promoveu a defesa da liberdade religiosa, de tal modo que não apenas os sacerdotes, mas os leigos também podiam livremente interpretar a palavra de Deus revelada nas Sagradas Escrituras.67 É nesse ponto, pela conquista da liberdade de consciência, que o indivíduo ganha foco, nitidez e dimensão, pois, segundo NIETZSCHE, “quer alcançar a liberdade [evangélica]; ‘cada um [ser] seu sacerdote’”.68 Finalmente, a política muda o lugar onde se alojavam os fundamentos para o exercício da soberania (o poder não mais é exercido em nome da vontade divina, mas da vontade do povo). 65 Ver, nesse sentido, François CHÂTELET, Olivier DUHAMEL e Eveline PISIER-KHOUCHNER, História das idéias políticas, p. 37. 66 Cf. ibid., p. 37. 67 Martinho LUTERO, Do cativeiro babilônico da Igreja, p. 64 ss. 68 NIETZSCHE, Vontade de potência, p. 100. 46 A nova configuração do mundo só se tornou possível porque, ao lado da transição da era feudal para a moderna, ocorria também a transição que deslocava o homem para a condição de indivíduo.69 Com essa passagem, o ser humano agrega em torno de si elementos que garantem sua emancipação, pois, livre do medo, da tutela, da direção alheia, cada um se transforma em senhor de si mesmo e, assim, como observam ADORNO e HORKEIMER, fica “... diferente de todos os outros”.70 Não podia ser de outro modo. Os novos tempos requeriam um tipo humano único, singular, autônomo, dotado de audácia, arrojo, atrevimento, capaz de dar um salto para além dos horizontes então conhecidos e de responder aos novos papéis colocados para cada um no interior de uma sociedade funcionalmente diferenciada, organizada segundo funções e não segmentos, que substituía o modelo estratificado, baseado na vassalagem, da sociedade precedente. Por outro lado, e muito além desses atributos, a conversão do homem ao estatuto do indivíduo tem o sentido de uma despedida da menoridade, percebida por KANT como “incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo”.71 Nesse momento de ruptura, ali onde dispensa a supervisão do outro, o indivíduo assume seu destino como algo próprio, reconhecendo-se na posição de sujeito não apenas capaz de entender o mundo (pelo uso da razão), mas de pautar suas ações de acordo com esse entendimento (pelo uso da vontade). Assim, em um ambiente onde todos são iguais, ele se declara livre e autônomo, além de exibir uma subjetividade, escorada em motivos, intenções, paixões e vontade. É com base nesses elementos – igualdade, liberdade, autonomia, subjetividade e razão – que o indivíduo é reconhecido pela era que se inaugura e passa a ser distribuído em vários lugares. Na economia – o empreendedor é o principal agente do mercado; na política – o acesso a ela dispensa o berço 69 Ver num sentido próximo Tercio Sampaio FERRAZ JÚNIOR, Direito, Retórica e Comunicação, p. 153 s. Dialética do esclarecimento, p. 27. 71 Resposta à pergunta: que é “Esclarecimento”? In: Textos Seletos, p. 63. 70 47 aristocrático ou estamental e é comum a todos, mas o líder mesmo não dispensa predicados como audácia, bravura, competência; na literatura − o personagem, seja herói (Jean Valjean em Os Miseráveis de VICTOR HUGO), seja aventureiro (Jean Sorel em O Vermelho e o Negro de STHENDAL), seja vilão (Raskólhnikov em Crime e Castigo de DOSTOIEVSKI), com seus desejos, suas paixões, seus sonhos, é quem polariza a trama do romance; na arte – o retrato aparece na pintura para tornar único e eterno aquele que ali é objeto de figuração.72 Não tinha que ser diferente no direito. Aí também o indivíduo é o ponto de partida e o centro em torno do qual se articula o conteúdo regulador da norma. Desse cenário, combinado com os do mundo antigo e medieval, pelo menos seis dicotomias podem ser extraídas. Todas apontam para sentimentos que foram revirados nos novos tempos. Algumas são abrangentes e opõem: 1. o sentimento da dependência ao sentimento da autonomia; 2. o sentimento do valor coletivo ao sentimento do valor pessoal; 3. o sentimento de devoção à divindade ao sentimento de devoção a si mesmo. Outras são ligadas, no geral, à esfera político-jurídica e opõem: 4. o sentimento da desigualdade ao sentimento da igualdade; 5. o sentimento da liberdade de poucos ao sentimento da liberdade de todos; 6. o sentimento da responsabilidade como destino ao sentimento da responsabilidade como consciência de si.73 Como se vê, o indivíduo é o resultado de superações que vêm de longe num processo que, tendo recebido a discreta contribuição da experiência dos antigos e, ainda, o ambíguo impulso dos medievais, 72 Segundo Alan TOURAINE (Crítica da modernidade, p. 281), “à primeira modernidade correspondeu o sucesso do retrato, principalmente no coração da civilização moderna, Flandres e na Holanda, mas também nas cidades italianas. O retrato, que já havia aparecido em Roma, mostra a correspondência entre um indivíduo e um papel social: é o imperador, o mercador ou o doador, mas individualizado (...) o sucesso alcançado pelo retrato prova que esse papel não é somente assimilável a uma categoria ou uma função, como na sociedade pré-moderna, mas a uma atividade que exige força e imaginação, que mobiliza a ambição ou a fé”. 73 As dicotomias 1, 3, 4, 5 e 6 foram aqui concebidas com inspiração na de número 2 cujo crédito pertence a NIETZSCHE (Vontade de potência, p. 263). 48 alcança seu desfecho com a radical participação dos modernos. Mas, qual o conjunto de idéias que deu origem ao conceito de indivíduo? Quando surgiram? Quem as formulou? 49 Capítulo III O Contrato Social 1. O Estado como efeito de uma premissa. A passagem do homem para a posição de indivíduo deu-se no mesmo processo que substituiu o estado de natureza pelo Estado político, isto é, no interior das formulações que deram corpo à doutrina jusnaturalista do contrato social. A partir da idéia do contrato social ficou constituído o núcleo em torno do qual se agregaram distintas orientações no pensamento dos séculos XVII e XVIII. Ela funcionou como uma espécie de premissa justificadora do Estado moderno, a expressão de um consenso original, embora fora da história e articulado apenas no campo das idéias, cuja evidência promoveu-a à condição de axioma. Foi assim, como hipótese capaz de iluminar a origem do Estado que a noção de contrato uniu o pensamento da época. Mas essa unidade não se estendeu além desse ponto. Nem alcançou a identificação dos conteúdos do estado de natureza, entendido como cenário que precedeu o contrato; nem, ainda menos, as conseqüências derivadas da “assinatura” deste. Isto, contudo, será objeto de atenção adiante. Convém, antes, 50 examinar que a idéia do contrato para explicar a gênese da organização política dos homens não é uma criação dos modernos. Sob dois aspectos pelo menos, o espírito dos antigos projeta-se nela. Em primeiro lugar, a partir do uso inaugural que fizeram do termo; em segundo lugar, a partir da concepção de indivíduo como um ser que se torna livre ali onde é guiado pela razão. 2. A mesma premissa entre os antigos. Com efeito, a idéia de contrato, referida também com as palavras convenção ou pacto, era conhecida na Antigüidade. Seu uso revelava um esforço no sentido de explicar o fundamento da origem do Estado, da justiça e do direito. Tudo isso seria o resultado de um acordo envolvendo indivíduos livres e iguais. É o que consta em algumas das máximas de EPICURO. Para ele, a justiça não existe por si só, mas decorre de uma convenção cujo fim é o de evitar que ninguém cause dano a outrem. Além disso, o direito (convencionado por homens que se uniram em territórios de extensões diversas) é o mesmo para todos e atua na comunidade em proveito de relações recíprocas.74 Tais formulações foram suficientes para que BLOCH, num comentário acerca de EPICURO, sustentasse, de um lado, que ele “foi o primeiro que falou do Estado como contrato”,75 embora de outro, esclarecesse que os escravos estavam fora disso. Afinal, o direito ao prazer que EPICURO reivindicava não tinha por que dispensar – segundo BLOCH − as mãos calosas daqueles que eram considerados numa sociedade escravista como a grega apenas como coisas.76 Por outro lado, a concepção moderna do contrato social encontra nos estóicos, particularmente com SÊNECA, um valioso precedente. Trata-se da formulação segundo a qual somente é feliz o indivíduo cuja alma é livre e entrega à razão a direção de sua vida. A dignidade consiste nisso: na busca 74 Pensamentos, p.68 s. Ernst BLOCH, Derecho natural y dignidad humana, p. 38. 76 Ibid., p. 13 75 51 da liberdade lá onde esta significa obedecer ao próprio juízo.77 Estavam lançadas aí as bases de um discurso que empolgou os novos tempos. A propósito da contribuição do pensamento estóico em geral junto aos modernos, CASSIRER destaca, de um lado, a promessa ali feita de recuperar a dignidade ética do homem, fundada no valor que atribui a si mesmo e, de outro, o princípio da suficiência e autonomia da razão humana, capaz de encontrar, por ela mesma, seus caminhos e apostar na sua força.78 Como se vê, a idéia de um contrato como instrumento constituinte e justificador do Estado já incorporava na Antigüidade alguns conceitos que serão centrais nos novos tempos. É assim que, segundo ROUSSEAU, “os modernos só reconhecem como lei uma regra prescrita a um ser moral, isto é, inteligente, livre e (...) dotado de razão”.79 Aliás, o pensamento que se desenvolveu nesse período não teria nada de especial se não tivesse associado ao ser humano os elementos da liberdade, autonomia, razão, igualdade e subjetividade, tornando-o sujeito livre para renunciar (quando se despede do estado de natureza), autônomo na iniciativa (quando cria o Estado), racional no compromisso (quando se submete à lei civil), igual na sujeição (todos são submissos à lei) e dotado de subjetividade (a consciência de si leva-o a ser responsável por sua conduta). Não foram poucos os que trataram do tema. Isso envolve GROTIUS (1583-1645), HOBBES (1588-1679), ESPINOSA (1632-1677), LOCKE (1632-1704), ROUSSEAU (1712-1778), KANT (1724-1804) e outros. 3. Contrato e escolástica. Com efeito, o contrato social, seja pela resposta que oferece ao problema de como se deu a origem do Estado, seja pela função justificadora do exercício do poder, parece ter migrado do pensamento antigo para o moderno apenas com breve passagem na idade 77 VidaFeliz, p. 38 ss. O mito do Estado, p. 186 ss. 79 Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, p. 229. 78 52 média,80 mas sem a contribuição do tipo de reflexão que marcou esse período. Dito de outro modo, o pensamento escolástico, hegemônico então, prescindiu do contrato como categoria capaz de explicar, mediar ou justificar as relações de poder entre DEUS e o homem. O exercício do poder divino justificava-se tão-somente pelo ato de criação do mundo, descrito em textos cuja sacralidade derivava de constituírem a palavra de DEUS. O que ali era revelado ou prescrito valia pela autoridade de seu Autor. Ocorre que este, nas palavras de TOMÁS DE AQUINO, era alguém de poder infinito, cuja natureza, além de anteceder todas as coisas, constitui a causa motora de tudo.81 Além disso, quando Ele cria as coisas, “opera livremente”82 apenas porque o deseja, “e não por necessidade”.83 Ora, quem está além da necessidade não depende de nada ou de ninguém. Com isso, ficaria sem sentido para a escolástica ligar o poder divino a um pacto em que Ele e suas criaturas tivessem transigido quanto aos termos de sua convivência. Inseparáveis da vontade de DEUS, as prescrições ou mandamentos valiam por si mesmos e aos homens só restava a tarefa de obedecê-los. Para cumpri-los, era dispensável a existência de um acordo original que selasse as escolhas, desejos ou preferências da divindade e do homem. 4. Contrato e necessidade. Mas tudo se passa de modo diferente na relação de poder que vincula o indivíduo ao Estado. São três as razões que esclarecem isso. Em primeiro lugar, o ato de criação do Estado, patrocinado por múltiplos indivíduos, tornou-o poder constituído (em oposição ao poder divino que se autoconstituiu); em segundo lugar, foi a necessidade, e não apenas o espírito livre e a vontade humana, que inspirou a montagem do Estado; finalmente, longe de infinito, o poder de quem 80 Ver, num sentido próximo, Giorgio DEL VECCHIO (Lições de filosofia do direito, p. 70 s) para quem a teoria do contrato social ocupa “um lugar importante na história da filosofia do direito”, e já tinha sido delineada por MARCÍLIO DE PÁDUA na obra Defensor Pacis, de 1324. 81 TOMÁS DE AQUINO, Súmula contra os gentios. In: Coleção Os Pensadores, p.164. 82 Ibid., p. 198. 83 Ibid. 53 criou o Estado era finito, pois encontrava seu limite ali onde o outro também o tinha. Reduzido a necessidades e limitações, o indivíduo, ao criar o Estado, reconhece no outro alguém idêntico a si mesmo. É nesse ponto que escolhe não dispensar, mas atrair o consentimento alheio. Como fez isso? Bem, a hipótese que o pensamento filosófico apresentou, sobretudo a partir do século XVII, e cujos desdobramentos, apesar de algumas objeções,84 se estendem até hoje, é a de que na origem da fundação do poder político houve um contrato. A concepção deste teria nascido do sentimento de que era útil e vantajoso para todos se entenderem. Somente assim estaria garantida, em GROTIUS,85 a tranqüilidade de cada um; em HOBBES,86 ESPINOSA87 e KANT,88 a segurança; em LOCKE,89 a vida e a propriedade; em ROUSSEAU,90 a pessoa e os bens. Tudo isso se encontrava comprometido no estado de natureza, ali onde ninguém precisa de ninguém, ou porque, como em HOBBES, o homem é lobo do próprio homem, ou porque, como em ROUSSEAU, é indiferente ao outro.91 Mas, que é o estado de natureza? 84 É o caso de G. W. HEGEL (Princípios da filosofia do direito, p. 72) cujo ponto de vista é o de que “a natureza do Estado não consiste em relações de contrato, quer de um contrato de todos com todos, quer de todos com o príncipe ou com o governo”. 85 GROTIUS (O Direito da guerra e da paz: de jure belli ac pacis, vol. I, p. 234) no capítulo em que discute o direito de resistência, assume a posição de que o Estado pode interditá-lo, pois se subsistisse “não teríamos mais uma sociedade civil”, a qual foi “...estabelecida para manter a tranqüilidade”. 86 HOBBES (Do cidadão, p. 117) coloca a noção de segurança como “o fim pelo qual nos submetemos uns aos outros”, pela via do contrato social. Ainda sobre o tema da segurança, ver também Leviatã, p. 80. 87 ESPINOSA (Tratado teológico-político, p. 237) considera que “(...) para viver em segurança e o melhor possível, eles [os homens] tiveram forçosamente de unir-se (...)”. 88 KANT (Doutrina do direito, p. 150) afirma que “(...) a idéia racional a priori de semelhante estado (não jurídico) implica a da falta de segurança (...)”. 89 LOCKE (Segundo tratado sobre o governo, p. 265) compreende que “[o homem] procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros (...) para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens (...)”. 90 ROUSSEAU (Contrato social, p. 30) sustenta que “o problema fundamental cuja solução é dada pelo contrato social” consiste em “encontrar uma forma de associação que defenda e proteja de toda a força comum à pessoa e os bens de cada associado (...)”. 91 Idem (Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens, p. 246 s) defende a idéia de um sentimento de indiferença do homem em relação ao outro, admitindo que no primeiro estado de natureza, os homens não tinham “qualquer correspondência entre si, e nem necessidade alguma de têla”, e ainda que não tinham “necessidade uns dos outros”, pois “se encontravam talvez, somente duas vezes na vida, sem se conhecer e sem se falar”. 54 5. Diversidade e estado de natureza. Os contratualistas pouco se entendem acerca disso. A rigor, nenhum esclarece bem do que se trata. Todos, contudo, apontam para indicações, ainda que gerais, em torno de como se dava a relação entre os humanos naquele cenário. É o caso do estado de natureza imaginado por HOBBES. Ali todos podem ter e cometer tudo, legalmente. Acontece que esse direito comum a tudo não implica benefícios, ao contrário, trata-se de um direito inútil, pois todos podem dizer isto é meu. Essa possibilidade e, com ela, o sentimento da “vã estima” que os homens têm por si mesmos levam à guerra de todos contra todos.92 A configuração dessa guerra − esclarece HOBBES em outro texto 93 − não consiste necessariamente em lutas e batalhas, mas no impulso, na vontade, numa conhecida disposição para tanto. Nesse ambiente, justiça e injustiça são qualidades desconhecidas, enquanto força e fraude são virtudes centrais. É o bastante para Hobbes concluir em passagem famosa que a vida ali “... é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta”.94 Nada disso se parece com a visão que ROUSSEAU apresenta do estado de natureza. A diferença repousa em pelo menos duas razões. Em primeiro lugar, ROUSSEAU desconstitui o estado de natureza como fato, para constituí-lo apenas como hipótese: “[trata-se de] um estado que não mais existe, que talvez nunca tenha existido, que provavelmente jamais existirá...”.95 Em segundo lugar, o homem interagia muito bem com os outros, seja do ponto de vista físico, seja moral (político), obtendo sempre respostas adequadas à sua conservação. Sob o aspecto físico, isso se explica por uma compleição robusta, vigorosa e ágil − excluídos os estágios da infância e da velhice − capaz de garantir as condições apropriadas para o ataque e a defesa. A fraqueza, o medo e a subserviência são características 92 Cf. Do cidadão, p. 37 s. Cf. Leviatã, p. 76 s. 94 Leviatã, p. 76 95 Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, in: Os pensadores, p. 93 228. 55 aí desconhecidas e somente identificáveis quando o homem se torna sociável. Já sob o aspecto moral, a explicação consiste em que as condições para a dominação não estavam presentes. Afinal, no estado de natureza, faltavam ao homem: 1. linguagem− o que se esclarece pela ausência de necessidades mútuas (requisito da sociabilidade); 2. paixões intensas – pelo que não entrava em disputas perigosas; 3. propriedade – pelo que não tinha necessidade de protegê-la contra outros; 4. educação – pelo que o homem não se diferenciava na cultura e espírito. Além disso, nesse estado o homem possuía o sentimento de piedade (comum aos animais em geral), capaz de limitar impulsos egoístas, o que concorreu para a conservação da espécie.96 É nesse ponto então que cabe indagar: se as coisas parecem correr tão bem para o homem no estado de natureza, por que retirá-lo daí e introduzi-lo no Estado político? Bem, a resposta consiste em que o estado natural de ROUSSEAU abrange dois períodos, um primitivo (ou puro) e outro avançado (ou corrupto). Com efeito, o estado de natureza no seu estágio mais primitivo não é o antecedente imediato do contrato social. A rigor, o contrato social é concebido como modelo para inspirar as mudanças num segundo estado de natureza, quando a sociedade civil já se instalara e onde todas as arbitrariedades são conhecidas. Desse modo, o contrato viabiliza que o lugar do estado de coerção seja ocupado pelo estado de razão e que a sociedade, obra da necessidade cega, se transforme numa obra de liberdade. Distante de HOBBES em muitos pontos e próximo de ROUSSEAU em outros, KANT admite a idéia do estado natural não como fato, mas como a priori. KANT não parte da experiência de acordo com a qual o homem tem a violência como máxima e de que a maldade o levaria inevitavelmente à 96 Cf. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, in: Os pensadores, p. 238 ss. 56 guerra “antes de haver constituído um poder legislativo exterior”.97 Para ele, então, o estado natural não é um fato, mas apenas uma “... idéia racional a priori...”98 que “... implica a da falta de segurança contra a violência antes de os homens terem se reunido (...) num estado puramente jurídico”.99 Em todo caso, o estado natural deve ser entendido não como um “estado de injustiça”,100 mas de “justiça negativa (...), no qual, se o direito fosse controvertido, não haveria juiz competente para ditar uma sentença legítima...”.101 Assim, “se o homem não quer renunciar a todas as suas noções de direito”,102 deve ser decretado como princípio: É preciso sair do estado natural, no qual cada um age em função dos seus próprios caprichos, e convencionar com todos os demais (cujo comércio é inevitável) em submeter-se a uma limitação exterior, publicamente acordada, e por conseguinte entrar num estado em que tudo o que deve ser reconhecido como o seu de cada qual é determinado pela lei e atribuído a cada um por um poder suficiente, que não é o do indivíduo e sim um poder exterior. Em outros 103 termos, é preciso antes de tudo entrar num estado civil. A instauração do estado civil resulta então do que KANT denomina de “contrato primitivo”.104 Trata-se de um acordo em que todos “... se desprendem de sua liberdade (...) para tornar a recobrá-la (...) como membros (...) de uma comunidade (...)”.105 Mais ainda, os homens não sacrificaram apenas parte de sua liberdade natural, e sim deixaram “... inteiramente sua liberdade selvagem e sem freio para encontrar toda a sua liberdade na dependência legal, isto é, no estado jurídico; porque esta dependência é o fato de sua vontade legislativa própria”.106 97 Emmanuel KANT, Doutrina do direito, p. 150. Ibid., p. 150. 99 Ibid. 100 Ibid., p. 151. 101 Ibid. 102 Ibid., p. 150. 103 Emmanuel KANT, Doutrina do direito, p. 150. 104 Ibid., p. 155. 105 Ibid. 106 Ibid., p. 155. 98 57 Seja como for, nesse estado de natureza, que, de resto, como se viu até aqui, nenhum contratualista esclarece bem o que é, e sob cujo império vive o homem, a conduta deste, sem excluir a razão, parece ser guiada por uma lei interna igualmente poderosa. Com ESPINOSA essa lei é a do instinto, do desejo, da força, e tudo isso constitui o direito natural “que não proíbe nada a não ser o que ninguém deseja e ninguém pode”.107 Note-se que a noção de direito natural que aparece em ESPINOSA em nada lembra o entendimento que prevalece entre outros filósofos da área que ligam o direito natural e o contrato como seu principal instrumento a uma criação da razão, e não a outros aspectos da subjetividade. Por outro lado, ali onde o pensamento moderno fez do contrato não apenas a chave para abrir as portas do Estado, mas a idéia capaz de dar-lhe um sentido, fez também uma série de leis, deduzidas da natureza humana, que formam o direito natural. Em HOBBES, por exemplo, uma dessas leis, a fundamental, consiste na busca, se possível, da paz, se não, da guerra, tendo como fim a defesa, isto é, a conservação e a segurança. Tudo se deu como se não fosse possível o direito natural sem o contrato e o contrato sem o direito natural. Ambos são produtos da razão. Numa ou noutra perspectiva, isto é, seja ligado às leis do instinto ou da razão, o direito natural sempre conduz ao contrato de que o Estado é resultado. Em suma, na base da iniciativa que montou o Estado pela via do contrato a idéia central é colocar no lugar da guerra, do caos e da natureza, a paz, a ordem e a regra e, com essa mudança, salvar o homem que, já indivíduo, renuncia à lei da selva e adota a lei civil. O objetivo explícito é a busca de segurança. Com essa mudança, ali onde o estatuto é outro, outros também são os valores consagrados, de modo que os seres humanos agora agregam autonomia, liberdade, igualdade, e também são dotados de subjetividade e razão. Nada mais é como antes. Mesmo a igualdade e a 107 Tratado teológico-político, p. 236. 58 liberdade, já conhecidas no estado de natureza, desembarcam no Estado político com perfis alterados. 6. Autonomia. O uso do termo autonomia tem sido dependente, isto é, vinculado a diferentes orientações do pensamento moderno. Ora aparece como um aspecto da liberdade (liberdade como autonomia), ora como predicado da vontade (vontade autônoma) e da razão (razão autônoma). Seja como for, a autonomia é um dos valores que revela o indivíduo. Seu significado, contudo, no âmbito do contratualismo, não é diretamente deduzido do esquema que substitui o estado de natureza pelo Estado político. Nessa passagem, a rigor, o indivíduo no Estado político não é mais autônomo do que o homem no estado de natureza. Contudo, num e noutro cenários a noção de autonomia tem sentido diverso. No estado de natureza, o homem dependia muito pouco do outro. Ou se aproximavam por conta da hostilidade mútua, mas, nesse caso, o ambiente era de guerra e o objetivo era matar para viver, ou ficavam distantes pela indiferença recíproca, num cenário de paz. Hostilidade e indiferença em relação aos demais são indícios de um sentimento de suficiência que prescinde da ajuda alheia. Bastando-se a si mesmo, na guerra ou na paz, o homem parece dotado de autonomia no estado de natureza. Já no Estado político, autonomia tem o sentido de aptidão do indivíduo para dirigir seu próprio destino. A criação por ele mesmo da ordem sob a qual quer viver corresponde a uma ruptura com o mundo que decidiu abandonar. Para demonstrá-lo, convém antes distinguir entre os aspectos racional e histórico que estão na base dessa idéia. Assim, sob o aspecto racional, a ruptura do homem é com o mundo da natureza do qual escapa para fundar outro; sob o aspecto histórico, no entanto, a ruptura é, também, com uma concepção que durante muito tempo justificou o 59 exercício do poder como manifestação da vontade divina. Esta criou seu próprio estatuto e nele inscreveu as regras a que todos deveriam obedecer. Embora na idade média tais regras fossem consideradas de direito natural − o que se explica pela ligação entre a lex divina e a lex naturalis concebida pela escolástica −, descendiam da revelação e não da razão, cabendo a esta apenas o papel de criada daquela, pelo que a lei natural permanece subordinada à lei divina. Acontece que a vontade divina descrita naquele estatuto era mediada pela Igreja, de cuja inspeção e julgamento ninguém escapava, nem mesmo os reis. Com isso, não há dificuldade em compreender que o maior desejo deles era se safar de tal jugo.108 Nesse contexto, a doutrina contratualista aparece para fazer uma inversão e uma supressão. Inverte o lugar onde a lei tem origem − agora ela nasce da vontade dos indivíduos; suprime a autoridade política que a Igreja sempre teve para alojá-la no Estado. Fez isto pela via do direito natural. Dessa forma, ali onde o direito natural estava a serviço e era criado por Deus, passou a funcionar a serviço do indivíduo e por este foi criado. Aliás, atribui-se a HUGO GROTIUS a retirada do direito natural do domínio completo da Providência para inseri-lo no da razão.109 Com efeito, sem negar que Deus é o autor da natureza, GROTIUS parece separar Dele o direito natural: “... é ela [a natureza] a própria mãe do direito natural...”110 entendido como um direito “...ditado pela reta razão”.111 Lá onde desqualifica Deus como criador do direito natural e atribui sua autoria à razão humana, o contratualismo qualifica o indivíduo como capaz não somente de ter “um ponto de vista próprio”,112 mas de criar sua 108 Nessa linha, Alain TOURAINE (Crítica da modernidade, p. 43) tem o ponto de vista segundo o qual “é para apoiar o imperador na sua luta contra o papa que se formará o pensamento moderno”. 109 Segundo Alain TOURAINE (op. cit., p. 55) é de GROTIUS a idéia de um direito natural definido “... como um conjunto de idéias, de princípios jurídicos preexistentes a toda situação e mesmo à existência de Deus.” 110 O direito da guerra e da paz, p. 43. 111 Ibid., p. 79. 112 Ver, num sentido parecido, Alfonso M. CACONO, PLATÃO, KANT e o problema da autonomia, p. 56. 60 própria lei. É assim, pela dispensa do legislador divino para se tornar legislador de si mesmo, que o indivíduo conquista sua autonomia e, com isso, ganha a liberdade. 7. Liberdade. Não foi possível deduzir o sentido de autonomia do esquema que opõe estado de natureza e Estado político. Isso não se dá com o termo liberdade. No geral, os contratualistas reconhecem que no estado de natureza os homens são livres e permanecem assim, embora, segundo graus distintos, no Estado político. HOBBES, por exemplo, qualifica a liberdade como completa no estado de natureza e incompleta no Estado político. A liberdade completa nasce da idéia de que todos podem tudo no estado de natureza. Embora completa, pois tudo o que se quer pode ser feito, tal liberdade é “estéril, porque, se devido a essa liberdade alguém pode fazer de tudo a seu arbítrio, deve porém, pela mesma liberdade, sofrer de tudo, devido a igual arbítrio dos outros”.113 No Estado político a liberdade é incompleta e seu uso é vinculado a três cenários. No primeiro, dá-se o silêncio da lei; no segundo, a lei existe e condutas são permitidas; no terceiro, dá-se uma ordem pela qual o soberano põe em perigo a vida do indivíduo. No primeiro caso, como o Estado não pode regular todas as ações, “os homens têm a liberdade de fazer o que a razão de cada um sugerir”;114 no segundo, “a liberdade do indivíduo consiste apenas naquelas coisas que, ao regular suas ações, o soberano permitiu”;115 no terceiro, o indivíduo pode desobedecer ao soberano, se este “ordenar a alguém (mesmo que justamente condenado) que se mate, se fira ou se mutile a si mesmo”.116 LOCKE não reconhece, contra HOBBES, o impulso bélico, sem limites e comum a todos os homens, capaz de favorecer a liberdade completa no 113 Do cidadão, p. 178. Leviatã, p. 130. 115 Ibid., p.131. 116 Ibid., p.133. 114 61 estado de natureza. Os homens, no estado de natureza imaginado por LOCKE, se não têm uma autoridade para obedecer, têm limites, ditados pela razão, para observar. A liberdade aí, ao invés de completa, ilimitada, é perfeita. Ninguém pede permissão a outro para orientar suas ações conforme as conveniências, e o único limite é o da lei da razão.117 Mas, no estado de natureza também existem “homens [que] não estão subordinados à lei comum da razão, não tendo outra regra que não a da força e da violência”.118 Quando a força é empregada contra outrem e não há “juízes com autoridade para os quais se apele”,119 o homem se torna árbitro de suas próprias paixões, e disso resulta o que LOCKE chama de estado de guerra.120 Para evitá-lo, os “... homens se reúnem em sociedade deixando o estado de natureza”.121 A passagem desse estado para o estado social permite a LOCKE estabelecer em que consiste a liberdade num e noutro lugar. Assim, no estado de natureza A liberdade natural do homem consiste em estar livre de qualquer poder superior na terra, e não sob a vontade ou autoridade legislativa do homem, tendo somente a lei da natureza como 122 regra. Por seu turno, ... a liberdade dos homens sob governo importa em ter regra permanente pela qual viva, comum a todos os membros dessa sociedade e feita pelo poder legislativo nela erigido: liberdade de seguir a minha própria vontade em tudo o quanto a regra não prescreve, não ficando sujeita à vontade inconstante, incerta e arbitrária de qualquer homem... 123 Diferentemente de HOBBES, para quem a paixão ocupa o lugar de guia do homem no estado de natureza, e de LOCKE, que, expulsando-a, põe 117 CF. Segundo tratado sobre o governo, p. 217 s. Ibid., p. 222. 119 Ibid., p. 223. 120 BOBBIO (Locke e o direito natural, p.179) enfrenta o problema de saber se LOCKE segue HOBBES, para quem “o estado de natureza é um estado de guerra”, ou PUFENDORF, “para quem, ao contrário, é um estado de paz”, e dá como solução a idéia de que o estado de natureza de LOCKE, não é “um estado de guerra, mas pode tomar esse rumo. Isto significa que, embora não o seja atualmente, o é potencialmente”. 121 LOCKE, op. cit. p. 224. 122 Ibid., p. 225 123 Ibid. 118 62 ali a razão, ROUSSEAU elegeu a consciência da liberdade para esse fim. É o que demonstra a seguinte passagem: Não é, pois, tanto o entendimento quanto a qualidade de agente livre possuída pelo homem que constitui entre os animais a distinção específica daquele. A natureza manda em todos os animais, e a besta obedece. O homem sofre a mesma influência, mas considera-se livre para concordar ou resistir, e é sobretudo na consciência dessa liberdade que se mostra a espiritualidade de sua alma.124 Acontece que dessa liberdade o homem só fez uso no estado de natureza, portanto, ao longo da “juventude do mundo”,125 e em cujo ocaso “a espécie já era velha e o homem continuava criança”.126 Nesse estado e enquanto apenas dependeu de si mesmo, podendo, assim, viver sem o outro, o homem, além de feliz, estava “livre do jugo” e com isso tornava “inútil a lei do mais forte”.127 É o primeiro estado de natureza, a que ROUSSEAU dá o nome de estado de natureza puro. Por oposição, o segundo estado de natureza é corrupto. Seu aparecimento se associa às origens da sociedade, criada naquele instante em que “um homem sentiu a necessidade do socorro do outro”128 e “de livre e independente que antes era (...) passou a estar sujeito (...) a seus semelhantes”,129 pelo que a lei do mais forte se tornou útil. As formulações de O Contrato Social vieram para suprimir esse quadro. Na sociedade aí concebida por ROUSSEAU, a lei do mais forte desaparece. No espaço vazio que deixa, penetra a lei da razão posta no mundo por uma vontade geral constituída no instante em que indivíduos livres na origem, mas acorrentados na sociedade existente, decidiram romper com tudo que os prendiam e, ao mesmo tempo, recuperar a liberdade primitiva para fruí-la de outro modo, nos termos de uma 124 Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, p. 243. Ibid., p. 264. 126 Ibid., p. 257. 127 Ibid., p. 258. 128 Ibid., p. 265. 129 Ibid., p. 267. 125 63 orientação ditada pela lei. A liberdade, então, dá um salto e pousa noutro ponto, mas não se separa da vontade do indivíduo, pois afinal em alguma medida a vontade geral não passa de uma expressão coletiva daquilo que aquela determina. 8. Igualdade. Os modernos fizeram da universalidade a característica da igualdade. Nisso são diferentes dos antigos. A igualdade entre estes é uma particularidade de poucos, reconhecida apenas entre os bem nascidos, que, tornados cidadãos, estavam aptos para a ocupação dos cargos públicos. Fora desse circuito, habitavam os outros, isto é, os excluídos do poder de decidir na pólis e na civitas. O pensamento moderno rompeu com a idéia de que o nascimento pudesse justificar aquela distribuição seletiva de privilégios, de modo que para alguns, tudo, e, para muitos, nada. Mas atribuiu ao nascimento a fonte de uma justificação oposta. HOBBES, por exemplo, começa o capítulo XIII do Leviatã, afirmando que “A natureza fez os homens (...) iguais, quanto às faculdades do corpo e do espírito”,130 e explica no Do Cidadão, capítulo III, 9, ser necessário que os homens “sejam considerados iguais”, pois é nessa igualdade que identifica a “causa do medo recíproco” capaz de mobilizar os homens para o acordo em busca de segurança, afinal cada um sente no outro uma ameaça e capacidade de dano semelhante à sua, capaz de instalar o sentimento da conveniência em se livrar disso que é o estado de natureza para ingressar no Estado Civil, no qual todos, excluído o soberano, continuarão iguais, isto na medida em que “os direitos que um homem reivindique para si, os mesmos ele reconheça serem devidos a todos os demais”.131 Já em LOCKE, no estado de natureza os homens são “... todos providos de faculdades iguais”,132 não foram “... feitos para uso uns dos 130 P. 74. Cf. P.71s. 132 Segundo tratado sobre o governo, p. 218. 131 64 outros”133 e não há “qualquer subordinação”134 entre eles. Nesse estado, “... é recíproco qualquer poder e jurisdição, ninguém tendo mais do qualquer outro”.135 O que torna isso evidente é a circunstância de que “... criaturas da mesma espécie e da mesma ordem, nascidas promiscuamente a todas as mesmas vantagens e ao uso das mesmas faculdades, terão também de ser iguais umas às outras”.136 A igualdade como o poder de cada um afirmar seu próprio direito é objeto de renúncia quando o homem entra em sociedade. Mas, embora LOCKE não deixe isso muito claro, ela parece reaparecer ali onde todos, por acordo, ficam obrigados “... a se refugiarem sob as leis estabelecidas de governo...”.137 Com LOCKE, então, na lei, a igualdade encontraria o abrigo que a todos nivela.138 O tema da igualdade é examinado por ROUSSEAU segundo três cenários bem distintos. No cenário do estado de natureza, todos nascem iguais; no da sociedade civil, instala-se a desigualdade; no cenário do Estado que propõe no contrato social, a igualdade é resgatada. No estado de natureza todos nascem iguais e como selvagens levam ali uma vida simples e uniforme. Pequenas diferenças até existem entre eles, mas a desigualdade que daí resulta “está longe de ter nesse estado tanta realidade e influência”,139 o que se explica pela escassa relação que era própria dos humanos ali, de modo que eventuais vantagens de um sobre o outro, por exemplo, beleza, espírito e força, são de pouca serventia. Não é bem assim com a sociedade, aquela cuja origem é vinculada aos episódios que fundaram a propriedade e o governo (corpo político). A fundação da propriedade deu-se ali onde alguém disse isto é meu e não foi contestado. A 133 Ibid. Ibid. 135 Ibid., p. 217. 136 Ibid. 137 Segundo tratado sobre o governo, p. 265. 138 Semelhante é a interpretação de BOBBIO (Locke e o direito natural, p. 180) para quem “a igualdade de que fala LOCKE, não é a igualdade de forças, física ou material, a que se referia HOBBES, mas essencialmente uma igualdade jurídica”. 139 Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, p. 257. 134 65 desigualdade é efeito disso e tem por reflexo o par rico e pobre. Pela oposição que daí resultou instalou-se um ambiente de pilhagens e banditismo que deixou o rico com medo e inseguro. Foi então que, “forçado pela necessidade”,140 concebeu o projeto de “... empregar em seu favor as próprias forças daqueles que o atacavam, fazer de seus adversários seus defensores”141 e, para esse fim, disse-lhes: “Unamo-nos”(sic!),142 pelo que “todos correram ao encontro de seus grilhões”.143 Tal foi assim porque a sociedade e as leis que nasceram desse modo “deram novos entraves ao fraco e novas forças ao rico, fixaram para sempre a lei da propriedade e da desigualdade (...) e (...) daí por diante sujeitaram todo o gênero humano ao trabalho, à servidão e à miséria”.144 A superação desse quadro é formulada no Estado que deve nascer com o contrato social. Nele, contudo, a igualdade é resgatada. Não mais segundo os padrões do estado de natureza. Nas palavras de ROUSSEAU: ... o pacto fundamental, em lugar de destruir a igualdade natural, pelo contrário substitui por uma igualdade moral e legítima aquilo que a natureza poderia trazer de desigualdade física entre os homens, que, podendo ser desiguais na força ou no gênio, todos se tornam iguais por 145 convenção e direito. 9. Subjetividade. A palavra subjetividade tem sido associada à descoberta de que o homem é capaz de olhar para dentro de si, de inspecionar suas entranhas psíquicas, examinar como elas se dispõem e funcionam, enfim, que nele há um espaço interior em cujos limites se alojam a consciência, a vontade, as paixões em suas variadas formas, a razão, etc. É a posse desses elementos, em geral, que o faz tomar o destino nas mãos e forjá-lo, dar-lhe uma direção, um rumo. Não parece haver quem duvide disso. O problema está no caráter encoberto dessa posse durante 140 Ibid., p. 268 s. Ibid., p. 269. 142 Ibid. 143 Ibid. 144 Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, p. 269 s. 145 Do contrato social, p. 39. 141 66 longo tempo. Entre os antigos ela se desvelou para poucos. É o caso, por exemplo, dos gregos. Ali, apenas o herói146 e o cidadão147 foram contemplados. Para escapar da fatalidade que lhe impunha o destino, o herói sempre manobrou no esforço de definir seus caminhos, embora sem êxito. Mas o herói é um personagem dos mitos. Seu espaço é o da narrativa, ora articulada nos poemas de HOMERO, ora nas tragédias de ÉSQUILO, EURÍPIDES e SÓFOCLES. De qualquer modo, o herói é bem próximo dos deuses, o que o distingue do grego comum, e constitui nesse sentido uma minoria. É a uma minoria que também pertence o cidadão, aquele cujo acesso ao espaço da pólis era exclusivo e no qual dialogava apenas com os iguais. Quem ficava fora desse espaço, tinha como causa de sua ação motivos não gerados em si, mas em outros sujeitos, divinos ou humanos. No âmbito da filosofia cristã, o homem é dotado de corpo e alma, e esta habita no seu interior. É o que pensa, por exemplo, SANTO AGOSTINHO. Para ele a alma é o lugar da “razão e inteligência”,148 e não só possui a sabedoria149 como é dotada de vontade.150 Tudo isso forma o que chama de “homem interior”151 que funciona como se fosse um sentido capaz de perceber o justo e o injusto e pelo qual “estou certo de existir, de conhecer isto, de amar isso e igualmente certo de amar”.152 Acontece que, para SANTO AGOSTINHO, a alma tem um criador, ou seja, “a pátria de origem da alma é Deus que a criou”153 e dele depende, pois, segundo a lei “com a qual 146 Para SCHELLING (op .cit., in: Os Pensadores, p. 34) o herói grego é dotado de vontade [um dos aspectos da subjetividade] livre. Isso o “mantém ereto contra a potência da fatalidade”, de tal modo que “Era um grande pensamento – prossegue SCHELLING – suportar voluntariamente mesmo a punição por um crime inevitável, para, desse modo, pela própria perda de sua liberdade, provar essa mesma liberdade e sucumbir fazendo ainda uma declaração de vontade livre”. 147 ADORNO (Mínima moralia, p. 162) considera que o cidadão grego era dotado de uma interioridade, ou melhor, de valor interior, de uma substância moral que se confundia com a posse, a riqueza, o status, a influência de cada um na pólis. Já segundo o ponto de vista de ALAIN TOURAINE (Crítica da modernidade, p. 48) a subjetividade é considerada como algo estranho “à tradição greco-romana”. 148 A cidade de Deus, parte II, p. 89. 149 Ibid., p. 30. 150 Confissões, p. 209. 151 A cidade de Deus, Parte II, p. 48. 152 Ibid., p. 49. 153 Sobre a potencialidade da alma, p. 22. 67 dirige tudo o que criou, submete o corpo à alma, e esta a Deus, e desta maneira submete tudo ao poder divino”.154 Somente na era moderna, com DESCARTES, o homem revela-se para si mesmo. É quando descobre que pode duvidar de tudo, menos de sua existência. Ninguém pode duvidar de que existe, pois, ao colocar tal circunstância em questão − existo ou não? −, já aciona o ato de pensar, fenômeno suficiente para garantir a certeza da existência do Eu. Mas, “o que sou eu?”, pergunta DESCARTES, nas Meditações, para na seqüência responder: “[sou] uma coisa que pensa”, isto é, “aquilo que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que imagina também e que sente”.155 Dir-se-á, contudo, que DESCARTES não nega Deus como criador da existência e isto faz o homem dependente Dele. A objeção procede, mas em parte. A rigor, para DESCARTES, Deus não é necessário para pôr no espírito pensamentos que se refiram às dúvidas e ao modo de resolvê-las, “pois talvez seja eu capaz de produzi-las por mim mesmo”.156 A consciência de fazer “por mim mesmo” anuncia a subjetividade157 (a palavra não é empregada por DESCARTES), cuja estrutura se funda em predicados próprios de um sujeito agora capaz de questionar, de fazer uso da razão, de exercer sua vontade, de imaginar e de sentir. O tema do homem interior, preparando a subjetividade, é retomado por HOBBES no âmbito da reflexão contratualista. Ele parte da idéia de que as faculdades do homem são de “dois tipos: faculdades do corpo e faculdades da mente”.158 A soma delas constitui a natureza do homem. Mas não é a anatomia do corpo o alvo de sua atenção, e sim a da mente. É a existência desta que torna possível dizer que o homem é capaz de conceber, 154 Ibid., p. 166. Meditações, p. 177. 156 Ibid., p. 173. 157 Cf. Homero SANTIAGO, Penso, logo existo. Discutindo filosofia. Ano I, n. I, p. 8-9, para quem: “Não é exagero dizer que, com o cogito, nasce a subjetividade moderna tal como a entendemos ainda hoje”. 158 Os elementos da lei natural e política, p. 20. 155 68 sonhar, imaginar, de articular um discurso, de ter consciência, vontade, paixões e de ser tomado pela loucura. Enfim, os modernos fizeram da subjetividade uma característica fundamental dos novos tempos. Sem ela não teria sido possível indivíduo, Estado e direito (na forma hoje conhecida). A propósito disso, HABERMAS destaca o lugar próprio da subjetividade, ao atribuir a HEGEL a descoberta dela como “o princípio dos novos tempos”, projetando-se na sociedade pelo direito privado naquilo que garante os interesses próprios; no Estado pelo que requer de vontade política; na esfera privada como autonomia.159 Antes de HEGEL, porém, os contratualistas já asseguravam para alguns elementos da subjetividade, por exemplo, a razão, um espaço na formação do direito e do Estado. 10. Razão. O contrato social, ao fazer o indivíduo ingressar no estado político pela despedida do estado de natureza, exibe sua dupla face: de um lado, promove a ruptura com a lei do lobo, fundada na paixão; de outro, articula o compromisso de todos na sujeição à lei civil, fundada na razão. Aliás, mesmo antes dos contratualistas, já no século XVI, ERASMO DE ROTERDAN desenvolveu algumas reflexões acerca do uso da razão como caminho para a emancipação. Estabeleceu como premissa de seu pensamento a idéia de que “os povos primitivos, sem lei alguma (...) eram antes feras que seres humanos”.160 Num cenário assim, sem a direção da razão, de acordo com ERASMO, nenhum “... animal é tão ferino quanto o homem, quando arrastado por ímpetos de ambição, de cupidez, de ira, de inveja, de luxúria e de lascívia”.161 O salto para a felicidade supõe o abandono desses sentimentos. Mas isto, ao lado de outras coisas, depende da razão que designa como “sendo a instância doutrinal que adverte e 159 O discurso filosófico da modernidade, p. 25. De Pueris, p. 31. 161 Ibid., p. 32. 160 69 preceitua”.162 Os homens serão o resultado da modelagem promovida por essa instância. É que, sendo incompleto e inacabado, diz ERASMO, “a razão faz o homem”163 e viver, segundo ela, torna-o singular, portanto, indivíduo. Mais tarde, o tema da razão como algo que avaliza a distinção entre o animal e o homem torna-se lugar comum na filosofia. É retomado por DESCARTES: “[a razão] é a única coisa que nos torna homens e nos distingue dos animais”;164 por LOCKE: “é a faculdade pela qual o homem é suposto distinguir-se das bestas, e pela qual é evidente que ele as ultrapassa”;165 por LEIBNIZ: “[a razão] pertence ao homem cá na terra não se manifestando nos outros animais terrestres”.166 Como se vê, a razão aparece nesse âmbito como a instância que decreta um duplo divórcio. De um lado, afasta o homem do animal em geral; de outro, distingue-o do selvagem, aqui entendido como aquele que ignora e ainda não aderiu ao contrato ou mesmo, para usar a linguagem de DWORKIN, não se tornou nem súdito “do império do direito”, nem vassalo “de seus métodos e ideais”.167 Mas, além de marcar diferenças, a razão ocupa o lugar de guia da ação humana. Assim, destitui dessa condição a paixão, o instinto, o apetite, e com isso transforma um ser, cuja natureza era rude, intolerável e medonha, num outro, agora capaz de gestos elaborados, tolerantes e refinados. A ação humana que a razão inspira projeta seus efeitos, sobretudo, em rearticulações que introduzem no conhecimento e na política. O conhecimento passa a se aparelhar numa nova ciência; a política, no Estado. A nova ciência entra em cena sob múltiplas faces. Ora seus traços são fixados por BACON, ora por GALILEU; adiante, por DESCARTES. Com 162 Ibid., p. 43. Ibid., p. 31. 164 Discurso do método, p. 29. 165 Ensaio acerca do entendimento humano, p. 198. 166 Novos ensaios sobre o entendimento humano, p. 341. 167 Ronald DWORKIN, O império do direito, p. XI. 163 70 BACON, o método indutivo é o caminho que leva à descoberta da verdade. O homem “só entende tanto quanto constata”,168 vale dizer, “não sabe nem pode mais”,169 se não pela observação dos fatos. Apenas desse modo seria possível interpretar corretamente a natureza. Já para GALILEU, na leitura que faz da natureza, os fatos não parecem ter tanta relevância. Vale mais o estudo das formas, linhas, medidas, etc., que, de resto, constituem o objeto da geometria, a cujas demonstrações, quem se opuser, estará a “negar abertamente a verdade”.170 Enquanto isso, DESCARTES confessa nas primeiras páginas do Discurso do método desapontamento com o resultado de seus estudos na escola. Saiu dali “com tantas dúvidas e erros”171 que nisso estava a causa da descoberta de sua ignorância. Foi assim que colocou sob suspeita a História, a Filosofia, a Teologia, a Medicina, a Jurisprudência, etc., como disciplinas que, tal qual ensinadas, fossem capazes de alcançar o conhecimento verdadeiro. Desse modo, fez da dúvida uma arma de combate à tradição e, ao mesmo tempo, um instrumento a serviço da razão para, assim, “atender seu imenso desejo de distinguir o verdadeiro do falso”.172 Ao contrário da nova ciência, a configuração do Estado foi montada nos termos de um arranjo teórico mais simples, a saber, o do contrato. Nesse ponto, a razão desafogou seu anseio de encontrar um princípio, aplicável a todos os sistemas de direito natural, que pudesse explicar a origem das relações de poder entre os homens. Tanto melhor se tal princípio, segundo o que imaginou HOBBES, pelo que tem de claro e evidente, tornasse a “natureza das ações humanas (...) tão bem conhecida como, na geometria, a natureza da quantidade”.173 Assim, o pensamento de 168 Novo organum, p. 33. Ibid. 170 O ensaiador, p. 22. 171 Discurso do método, p. 30. 172 Ibid., p. 33. 173 HOBBES, Do cidadão, p. 6. 169 71 HOBBES fez da geometria o modelo que inspirava suas investigações, e se os geômetras que “se desincumbiram admiravelmente de seu papel” puderam contribuir “para melhor ajudar a vida do homem”, igualmente os escritores da política ou ainda os filósofos morais poderiam fazê-lo.174 É isso o que explica o projeto de GROTIUS, que quis fazer uma “matemática do direito”,175 ou o de ESPINOSA, que desenvolveu um sistema de ética pelo método geométrico, tendo considerado “... as acções e os apetites humanos como se tratasse de linhas, de superfícies ou de volumes”.176 Em outras palavras, à maneira dos geômetras na interpretação que faziam da natureza, era possível conhecer o homem e o conjunto das relações sociais, políticas e jurídicas nas quais se envolvia, se as demonstrações nesse sentido tivessem por base o discernimento, o raciocínio e o cálculo. Na era moderna, nenhuma área do conhecimento escapou das novas orientações. O direito penal muito menos. Aliás, não apenas a razão enquanto atributo ou predicado do indivíduo projetou-se nos domínios do direito penal. Algo semelhante ocorreu com a autonomia, igualdade, liberdade e subjetividade. Como isto se deu? 174 Ibid. Nos prolegômanos de sua obra, GROTIUS (O direito da guerra e da paz, vol. I, p. 64 s) justificava como se segue seu projeto metodológico: “... afirmo que, assim como os matemáticos consideram as figuras, abstração feita de corpos, de igual modo, tratando do direito, eu afastei meu pensamento de todo fato particular”. 176 Ética, p. 265. 175 72 Capítulo IV A razão penal 1. Recepção dos predicados. A descoberta do indivíduo virou a lei penal pelo avesso. Isto significa que ela se deixou conduzir e penetrar pelos predicados que fizeram do homem um ser moral, capaz de assumir responsabilidades, pois, dotado de vontade e consciência, age segundo um arbítrio e uma percepção que pertencem a si e a ninguém mais. Tais predicados, ou seja, a autonomia, a liberdade, a igualdade, a subjetividade e a razão, cada um a seu modo, foram recepcionados pelo direito penal dos novos tempos sob dois aspectos, um externo e outro interno. Sob o aspecto externo, vinculam-se ao direito penal como valores, pressionando-o de fora; sob o interno, como regras, pressionando-o de dentro. Em primeiro lugar, a razão. Na longa pré-história do homem, nas origens de sua história e ainda durante muito tempo (Antigüidade clássica e Idade Média) o conteúdo das práticas punitivas exprimiu articulações com o mito, o sagrado e a fé. Ao renunciar a esses elementos, o direito penal dos novos tempos elegeu a razão para uma aliança diferente e tomou as 73 diretrizes dela como motivo para sua construção. É sob esse aspecto que se dá a relação externa do direito penal com a razão. A relação interna tem outras conexões. Nesse âmbito, o direito penal coloca a razão, de um lado, a serviço de sua sistematização, ora favorecendo uma estrutura que o divide numa parte geral e outra especial, ora classificando os crimes segundo os bens jurídicos que devem ser protegidos; de outro, cria institutos jurídicos cuja lógica contempla a razão como elemento indispensável na avaliação do injusto punível, por exemplo, o dolo (naquilo que implica de percepção, discernimento, conhecimento, etc.) e a culpabilidade (a consciência do significado da ilicitude é um de seus elementos, de modo que corresponde à sua falta, quando inevitável, o erro de proibição como causa de exculpação). Em segundo, a autonomia. O valor externo que a autonomia agrega é de natureza política. Assim, o direito de punir articula-se agora com a vontade de um legislador que atua em nome dos indivíduos e se separa do legislador divino cuja atuação se dava em nome de si mesmo. Os artigos de fé transformam-se em artigos de lei e quem violava aqueles, de pecador, passa a ser criminoso, se violar os últimos. A projeção da autonomia como regra exprime-se no caráter individualizado da responsabilidade penal. Com isso, a família e a comunidade ficam imunes ao contra-ataque representado pela punição, ali onde apenas um (o indivíduo) deu causa à ofensa. Em terceiro, a igualdade. Com a igualdade a distribuição dos favores legais é redefinida. As hierarquias são niveladas e agora todos ficam sujeitos à lei. Nenhuma exclusão que a torne inacessível; nenhum privilégio que impeça sua aplicação. A nova orientação resolveu dois problemas recorrentes: de um lado, incluiu na esfera de influência e proteção da lei em geral e da penal em particular aqueles para quem, desde a Antiguidade, a lei negara acesso, por exemplo, os escravos, os 74 estrangeiros, as mulheres, etc.; de outro, submeteu à sua aplicação, portanto a seus efeitos, aqueles a quem a lei não tinha acesso. É o caso do soberano que, nos termos do arranjo consagrado no legibus solutus, considerava-se, e assim era reconhecido, fora do alcance dela. Mas esses são problemas que, ligados à igualdade, orbitam na zona externa ou contígua ao direito penal. A projeção da igualdade no interior dessa área do direito é outra. Ela se dá ora pela supressão nos códigos modernos dos tipos penais de autor, por exemplo, os hereges, apostatas, feiticeiros, referidos nos títulos I e III do livro V das Ordenações Filipinas, ou, segundo BAUMANN, o ladrão referido no “Espejo de Sajonia de 1225” para quem o castigo previsto era a forca: “al ladrón hay que ahorcalo”,177 onde era manifesto o caráter concreto e discriminatório dessa técnica de criminalização;178 ora ainda pela criação dos tipos que descrevem as características gerais e abstratas da ação, nos quais não se distinguem qualidades pessoais e todos ficam subordinados à mesma previsão normativa; ora, por último, pela idéia de que a pena de prisão, embora desigual sob muitos aspectos, possui uma natureza sob cujo jugo todos são iguais: “ninguém é insensível à privação da liberdade, ninguém interrompe todos os seus hábitos, especialmente os hábitos sociais, sem violência”.179 Depois, a liberdade. O uso da palavra “liberdade” em sua dupla face − liberdade negativa (ausência de impedimento) e liberdade positiva (autodeterminação) − constitui aqui o ponto de partida para ligá-la ao direito penal. A relação da liberdade negativa com a lei penal dá-se nos âmbitos externo e interno. No primeiro âmbito (externo) é o que se verifica pelo princípio da legalidade dos crimes e das penas, que, antes de se 177 Cf.BAUMANN, Derecho Penal: conceptos fundamentales y sistema, p. 60. FERRAJOLI (Derecho y razón, p.101) tem o entendimento de que o tipo penal de autor não proíbe, nem regula comportamentos, tendo apenas função constitutiva dos pressupostos da pena e sob esse aspecto representa uma técnica punitiva de “... caráter explicitamente discriminatório e antiliberal”. 179 BENTHAM, Teoria das penas legais, p. 88. 178 75 constituir a regra vestibular dos códigos penais modernos, já aparecia como princípio na declaração de Direitos Humanos de 1789 e, dessa maneira, foi recepcionado nos capítulos dos direitos fundamentais do indivíduo na maioria das cartas constitucionais fundadoras do Estado democrático de direito. O princípio nega ao Estado o poder de tudo fazer e impõe limites ao exercício da coação contra o indivíduo. Somente a proibição estabelecida na lei escrita justifica a punição e assim nada do que a lei não proíba é punível. No segundo âmbito (interno) a liberdade negativa é constituída ora como objeto da punição, ora como objeto de proteção jurídica. No primeiro caso, isso ocorre quando a liberdade é o bem jurídico supresso pela prisão do indivíduo como conseqüência da prática de conduta proibida ou omissão da ordenada. No segundo, quando a liberdade é especialmente protegida em alguns tipos penais, por exemplo, os que descrevem o Seqüestro e a Redução a condição análoga à de escravo previstos nos artigos 148 e 149 do Código Penal brasileiro. Por seu turno, a liberdade positiva mantém a relação com o direito penal igualmente nos dois âmbitos. No âmbito externo, a relação decorre da existência de uma lei que o homem dá a si mesmo (de qualquer forma nesse caso já se trata de liberdade como autonomia). Já no âmbito interno, a relação se dá pela posição que ocupa o livre-arbítrio na lógica do sistema. Toda imputação só se justifica se na base de sua ação o indivíduo for capaz de autodeterminação. Finalmente, a subjetividade. Entre os antigos a responsabilidade era objetiva. Num sistema como o de Talião, a regra do olho por olho, dente por dente não comportava indagações acerca do conhecimento e da vontade de quem violava a lei. Desconhecia o problema da intenção do agente e era indiferente quanto a saber sob o impulso de que motivo este agira. Nem mesmo a casualidade excluía a punição pela prática da ação proibida. Aplicava-se o castigo não como efeito da culpa, mas em função do resultado de que o crime era a expressão. Daí que coisas, animais e 76 pessoas, indistintamente, pudessem ser alcançados pela reação criminal.180 Os gregos conheceram a lógica que excluía a culpa e elegia o resultado como princípio da punição. Ela pode ser localizada no fantástico mundo dos mitos, das fábulas, das narrativas, revelado no texto das tragédias. A idéia ali é de que o homem é joguete do destino, entendido como uma espécie de força cega da qual ninguém escapava. A ação humana em nenhum momento era autodirigida, mas determinada por um poder (cósmico talvez) diante do qual a escolha de outra alternativa estava destinada ao fracasso.181 Nesse contexto, a justificação para o castigo recorria à força (externa) do destino. Os modernos quebram essa orientação.182 Passam a considerar que na origem do fenômeno do crime intervêm os impulsos de seu autor, agora dotado de consciência e cuja vontade é livre, sendo, por isso mesmo, capaz de cálculo e escolhas. Nem a ação humana se encontra previamente decidida, nem ninguém mais é alvo ou manipulado por determinações estranhas a si mesmo; todos (salvo os que não estão na posse plena de suas faculdades) se autodeterminam. Com isso, agora é a força (interna) da culpa que justifica o castigo. Dir-se-ia que a uma causalidade mítica, fundada no destino, sucedeu uma causalidade moral, fundada na vontade livre. O reflexo disso no interior do direito penal é a exclusão da esfera da punição não só das ações decorrentes de caso fortuito, mas das coisas, animais e pessoas jurídicas, para incluir tão- 180 Segundo Max WEBER (Economia e sociedade, vol. II, p. 6), uma das peculiaridades do direito primitivo consiste “na ausência da consideração da ‘culpa’ e também, portanto, do grau de culpabilidade definido pela ‘intenção’. Quem tem sede de vingança não se preocupa com o motivo subjetivo, mas apenas com o resultado objetivo (...). Sua cólera desencadeia-se indiferentemente sobre objetos mortos da natureza (...), sobre animais (...) e sobre pessoas (...)”. 181 Para Tércio Sampaio FERRAZ JÚNIOR (Estudos de filosofia do direito, p. 78), o herói homérico constitui de algum modo o modelo de um “...ser até ‘mais livre’ que os próprios deuses”, pois, enquanto estes se resignavam, aquele lutava contra o destino, embora, finalmente, sempre fracassasse”. 182 Günther JAKOBS (Estudios de derecho penal, p.368 s) tem a visão de que “o conceito moderno de culpabilidade é filho do mundo desmitificado”. Neste cenário onde predomina a razão e o cálculo antes “eram forças – continua o autor – ‘misteriosas e incalculáveis’ que determinavam as condições de vida e com isso o sentido da existência humana”. É assim que, para JAKOBS, segundo “esta concepção de realidade, ninguém podia escapar do destino”. 77 somente as pessoas capazes de responsabilidade, imputáveis, portanto, a título de dolo (consciência e vontade) ou culpa. 2. Os predicados e a legalidade penal. Mas é no aforismo da legalidade penal (Nullum crimen, nulla poena sine lege) que de algum modo a recepção desses predicados encontra sua síntese. A demonstração disso é possível quando se toma em consideração algumas variações (entre outras) que se projetaram dali. É o caso 1. do Nullum crimen sine actio; 2. do nullum crimen sine tipo; 3. do nullum crimen sine culpa. Pois bem, na primeira variante encaixa-se a liberdade (sem determinação livre, aquela fundada no livre-arbítrio, não há ação); na segunda, a igualdade (o direito penal do fato e não do autor submete todos a tipos penais de características impessoais e abstratas, eliminando privilégios); na terceira, finalmente, a razão, a subjetividade e a autonomia (naquilo que implicam, respectivamente, de consciência, vontade e responsabilidade individual). Com efeito, a legalidade penal, tratada aqui como síntese da distribuição e recepção pelo direito penal dos predicados que transformaram o homem em indivíduo, tem, por outro lado, o sentido de garantia contra o arbítrio e foi concebida para a tarefa de impor limites ao Estado. Sob esse aspecto, ela revela suas promessas de segurança para todos e cada um. Mas esse é um tema para mais adiante. Interessa agora investigar como se desenvolveu, desde a aurora da modernidade, o esforço das idéias penais para contemplar o homem na sua particularidade de indivíduo. 3. Insegurança e tradição. Já se sabe do lugar que a razão passou a ocupar como guia do conhecimento e da montagem da ordem política e jurídica reclamada na conjuntura dos novos tempos; igualmente se sabe que o volume de crédito que conquistou atingiu proporções insólitas. Aliás, é o que parece ter permitido a GADAMER compreender muito depois que “a fé na razão e no seu poder triunfante é a convicção fundamental de todo o 78 iluminismo”183 (não é o caso de desenvolver aqui considerações acerca do conceito de iluminismo; basta situá-lo como movimento geral de idéias que, embora amplamente desenvolvido no século XVIII, tem como ponto de partida, sobretudo, o século precedente).184 Esse sentimento de confiança também envolveu a reflexão em torno dos temas penais. Nesse domínio, a crítica à tradição esteve sempre combinada com a formulação das estratégias discursivas que estão na origem do direito penal moderno. A tradição sob ataque era aquela que justificava em bases teocráticas o direito de punir (a imputação decorria não da autoridade da lei, mas da lei da autoridade, identificada nas Sagradas Escrituras); conferia direito desigual ao infrator pelos privilégios reconhecidos para poucos (o tratamento diferenciado decorria da desigualdade como princípio regulador da sociedade estamental); associava o terror à punição por conta de castigos sem qualquer proporção com a gravidade do crime (a pena desligada da idéia de medida tinha por fim a retribuição, mas, sobretudo, a intimidação geral, pela impressão que seria capaz de gerar na sensibilidade humana); formulava leis na base de palavras confusas, vagas e obscuras (isto dificultava a exata apreensão do seu alcance e significado); estendia a punição não apenas ao autor do delito, mas a seus familiares também (o âmbito da responsabilidade não era pessoal, pois, para além do infrator, alcançava a comunidade doméstica, pela infâmia transmissível aos membros da família). A expressão legal de tudo isso era representada, por exemplo, na ALEMANHA, pela Constitutio Criminalis Carolina (1532); na FRANÇA, pelas Ordenações Criminais de Francisco I (1539); em PORTUGAL e suas colônias (BRASIL inclusive), no livro V das Ordenações Filipinas (1603). À margem dessas leis, foram institucionalizadas práticas punitivas igualmente atacadas. É o caso da Lettre-de-cachet. Tratava-se, segundo 183 184 Elogio da teoria, p. 41. Cf.Iluminismo: in: ABBAGNANO, Dicionário de filosofia, p. 534 s. 79 MICHEL FOUCAULT, de um temível instrumento de punição manejado pela monarquia absoluta na FRANÇA. Ela funcionava como “uma ordem do rei − esclarece FOUCAULT − que concernia a uma pessoa, individualmente (...)”185 e que podia, entre outras coisas, mandar prendê-la “por um tempo não fixado previamente”.186 Assim, se uma nova ordem não fosse enviada para liberar o detido, ficava para sempre nessa condição. É que a Lettre-decachet raramente “dizia que alguém deveria ficar preso por seis meses ou um ano, por exemplo”.187 O desmonte dessa tradição exigiu um esforço de séculos. Nessa tarefa se envolveram, de um lado e mais remotamente, o pensamento ligado ao direito natural (jusnaturalismo), que, de resto, se confunde com o próprio contratualismo, e, de outro, pensadores articulados com o período mais mobilizado da ilustração, o século XVIII. Nessas vertentes do pensamento moderno algumas idéias-força ocupavam posição central. Uma delas é a de segurança. Sua descoberta coincidiu com a passagem do homem para a condição de indivíduo, mediada por predicados (autonomia, liberdade, igualdade, subjetividade e razão) desconhecidos (em parte) naquele e reconhecidos neste. Já se sabe que tudo isso terá permitido não apenas criar o Estado, mas torná-lo viável por uma atuação capaz de contemplar seus fins. Sabe-se também que um deles, o mais fundamental, é a busca de segurança. Aqui, então, cabe indagar: que sentido tem essa palavra? Quem é seu destinatário? Como alcançá-la? Qual sua relação com a liberdade? 4. A descoberta da segurança. HOBBES e LOCKE foram alguns dos autores que no âmbito do contratualismo e ainda na perspectiva do direito natural problematizaram a idéia de segurança. HOBBES assinala algumas 185 A verdade e as formas jurídicas, p. 95. Ibid., p. 98. 187 Ibid. 186 80 indicações para iluminar o tema. A idéia que desenvolve no Do cidadão é a de que a segurança do povo, isto é, dos governados, é a suprema lei. Com base nisso, duas conseqüências podem ser deduzidas do seu pensamento: a. o objetivo fundamental do Estado é a segurança; b. o destinatário dela é o povo. O meio pelo qual se viabiliza a segurança é a lei, sempre universal. Mas segurança não significa apenas preservar a vida, mas garantir a felicidade. É que os homens instituíram o governo também para viver agradavelmente, com abundância e conforto. As comodidades que asseguram a felicidade dos súditos são: 1. serem defendidos contra inimigos externos; 2. ter preservada a paz em seu país; 3.enriquecerem-se tanto quanto for compatível com a segurança pública; 4. poderem desfrutar de uma liberdade inofensiva. Convém examinar aqui o significado dessa comodidade. HOBBES entende por liberdade inofensiva aquela praticada no âmbito das ações que a lei deixa de regular, pois considera haver “um número infinito de casos que não são ordenados, nem proibidos, mas nos quais cada um pode fazer ou deixar de fazer o que bem entender”.188 Mas, para HOBBES, não basta a indiferença da lei em relação a um sem-número de ações que o súdito pode desenvolver para que haja liberdade e desfrute dela com alguma segurança. É preciso algo mais e referido a um sentimento de ausência de medo quanto a ser punido pela prática de uma daquelas ações. O vazio punitivo ou a expectativa em torno dele provoca um sentimento de desassombro, pelo qual se projeta ainda outro aspecto da segurança. É disso que trata HOBBES quando assegura que ... constitui parte substancial dessa liberdade, que é inofensiva ao governo civil, e necessária para que cada um viva em felicidade [segurança], que não haja penalidades a temer, a não ser as que 189 ele possa tanto antever quanto esperar. Essa passagem somente aponta para uma relação entre previsibilidade e segurança, mas num quadro em que inexistem punições, 188 189 P. 232 s. Ibid., p. 233 s. 81 por serem desnecessárias. A segurança associada a uma previsibilidade que decorre de punições estabelecidas, portanto, necessárias, é de outro matiz e vincula-se ao cânon da legalidade penal. Mas HOBBES não cuida disso. De qualquer forma, no capítulo XXVIII do Leviatã, quando trata do tema da pena, define-a. Assim, para ele, ... uma pena é um dano infligido pela autoridade pública, a quem fez ou omitiu o que pela mesma autoridade é considerado transgressão da lei, a fim de que assim a vontade dos homens 190 fique mais disposta à obediência. Dessa definição HOBBES retira onze conseqüências. Aqui interessa apenas a nona. Segundo ela, ... os danos infligidos por um ato praticado antes de haver uma lei que o proibisse não são penas, mas atos de hostilidade. Porque antes da lei não há transgressão da lei, e a pena supõe um ato 191 julgado como transgressão de uma lei. Convém anotar, contudo, que a lei referida por HOBBES não é caracteristicamente a penal (para ele toda lei é lei civil, pois é ligada à palavra civitas que significa Estado, o que permite distingui-la da lei natural). Ela ainda pode ser oral ou escrita e o legislador que a produz é o soberano, seja ele um homem ou uma assembléia. Sem embargo, na ligação que faz entre pena e lei prévia, HOBBES prepara o caminho em direção ao princípio da legalidade penal como garantia do indivíduo. Paralelamente antecipa, de alguma forma, o que mais tarde vai se constituir num dos desdobramentos desse princípio, o nullum crimen sine culpa. Com efeito, no Diálogo entre um filósofo e um jurista, HOBBES considera muito severa a punição de um homem que matou “... outro homem apenas por infortúnio, sem nenhuma intenção maligna...”,192 de modo que num cenário como esse é “... preciso que o ato causador da morte seja (...) voluntário, do 190 Leviatã, p. 187. Ibid., p. 187. 192 Ibid., p. 169. 191 82 contrário não é, pela lei da razão, assassinato”.193 Mas esse é um tema para mais adiante. 5. O crime como mau negócio. Se em HOBBES a idéia de segurança é associada, entre outras coisas, a um domínio sem regras, ali onde não há lugar para o medo de ser punido, em LOCKE segurança decorre de regras que são estabelecidas: ... o poder que o governo tem (...) não deve ser arbitrário ou caprichoso (...) deve ser exercido mediante leis estabelecidas e promulgadas, para que (...) os homens possam saber qual o seu 194 dever, achando-se garantidos e seguros dentro dos limites da lei... Assim, é no interior da lei e não ao largo dela que segurança pode ser encontrada. Por outro lado, segurança em LOCKE aparece como algo cujo sentido está na superação de formas de arbítrio que o homem no estado de natureza pratica e que não pode ser praticada por quem exerce o mando no Estado social. Com efeito, ao abandonar o estado de natureza, os indivíduos queriam escapar de inconvenientes, um deles representado pela circunstância de que todos eram juízes de todos, isto é, todo mundo tinha “o poder executivo da lei da natureza”195 e as infrações desta, mesmo as menores, podiam ser castigadas com a morte: “Qualquer transgressão pode ser castigada a esse ponto e com tanta severidade que baste para torná-la mau negócio para o ofensor (...)”.196 Mas, ao escapar do arbítrio de todos e de cada um, os indivíduos não pretenderam se submeter ao arbítrio de ninguém mais quando fundaram a sociedade, e sim às orientações da lei, pois, se o mando for exercido “... por prescrições extemporâneas e resoluções indeterminadas (...) os homens ficarão em condição muito pior 193 P.170. Segundo tratado sobre o governo, p. 270. 195 Ibid., p. 220. 196 Ibid. 194 83 que o estado de natureza...”,197 pois estarão obrigados a obedecer “... aos decretos exorbitantes e ilimitados de pensamentos repentinos ou vontades irrestritas e, até o momento desconhecidas...”198 6. A honra contra o terror. O tema da segurança, já agora referido (em geral) à lei escrita e dotada de efeitos especificamente penais, é retomado pelo iluminismo a partir (entre outros) de MONTESQUIEU, BECCARIA e VOLTAIRE. MONTESQUIEU trata da questão quando examina a relação entre o fenômeno punitivo com a natureza e o princípio de cada governo. Sua investigação, sob vários aspectos, parte de uma série de negações. Assim, para ele, nem a criação dependeu de qualquer ato arbitrário, nem o mundo se explica por uma fatalidade cega, nem os homens são unicamente orientados por seus caprichos. Tudo tem suas leis e estas “no seu sentido mais amplo − explica MONTESQUIEU − são relações necessárias que derivam da natureza das coisas”.199 A razão é a lei geral que orienta o homem e as leis “... civis de cada nação devem ser apenas os casos particulares em que se aplica essa razão (...)”.200 Estas leis, contudo, devem se relacionar à natureza e ao princípio de cada governo, seja republicano, monárquico ou despótico. A natureza do governo republicano revela-se na posse que o povo tem do poder soberano e seu princípio é a virtude política, entendida como igualdade; a natureza do governo monárquico é o poder exercido apenas por um, mas sempre segundo a lei, e seu princípio é a honra; a natureza do governo despótico é também o poder exercido por um, que, a despeito da lei, guia-se pela vontade e capricho, e seu princípio é o medo. Para MONTESQUIEU, a segurança é o objetivo central das leis. É disso que se trata quando diz que num governo orientado por elas cumpre que “... 197 Ibid., p. 270 Ibid. 199 O espírito das leis, p. 25. 200 Ibid., p. 28. 198 84 provejam, tanto quanto possam, a segurança dos cidadãos”.201 Esta será tanto mais garantida quanto mais formalidades a lei contemplar e tanto menos quanto menos ou inexistentes forem tais formalidades. O governo monárquico [e republicano também] não comporta leis tão simples como o despótico. Enquanto isso, “... nas repúblicas, são necessárias pelo menos tantas formalidades quanto nas monarquias”.202 A projeção dessas considerações no âmbito das penalidades se articula ali onde MONTESQUIEU considera que “os Estados despóticos que apreciam as leis simples utilizam amiúde a lei de talião”.203 Já “os Estados moderados [república e monarquia] aceitam-nas algumas vezes”.204 Mas há uma diferença: “os primeiros a exercem rigorosamente, e os segundos a utilizam moderadamente”.205 Por outro lado, “a severidade das penas convém melhor ao governo, cujo princípio é o terror, do que à monarquia ou à república, que têm por moda a honra e a virtude”.206 Acontece que em governos cujos castigos são demasiado rigorosos há problemas na execução deles, ou seja, tal é a desproporção entre crime e pena que “freqüentemente se é obrigado a optar pela impunidade”.207 Em MONTESQUIEU, como se vê, o objeto de investigação da pena, seja severa ou moderada, é constituído pelas relações inevitáveis ou necessárias que a vinculam à natureza do Estado. Nesse sentido, sua reflexão não recomenda (embora pareça) a adoção de um padrão, máximo ou mínimo, de penalidade. Apenas reconhece a pena como ela é e os efeitos que implica se aplicada ou não (sempre segundo aquilo que observou): “A experiência tem mostrado que nos países onde as penas são leves o espírito 201 Ibid., p. 84. Ibid., p.82 s. 203 Ibid., p. 94. 204 Ibid. 205 Ibid. p.94. 206 Ibid., p. 87. 207 Ibid., p. 90. 202 85 do cidadão é atingido por elas como o é alhures pelas leis severas”.208 Além disso, considera que é na impunidade, e não na moderação das penas, que se encontra a causa do relaxamento perante o crime. Por outro lado, tão objetiva é a relação que vincula o castigo à forma e natureza do Estado que, para ele, “seria fácil provar que, em todos ou quase todos os Estados da Europa, os castigos diminuíram ou aumentaram à medida que se aproximou ou se afastou da liberdade”.209 Bem, o tema da punição referido à liberdade (não a de ir e vir, mas a de fazer ou não fazer), tendo em vista a segurança do indivíduo, recebe um enfoque menos relacional e mais postulante em BECCARIA. 7. As armas da razão. Para garantir a segurança, pelo menos três medidas gerais são indicadas por BECCARIA no programa de direito penal para os novos tempos que delineia no livro Dos delitos e das penas. Tratase em primeiro lugar de atacar o uso generalizado da força, regulando-o. Nasce daí o que chama de “exercício legítimo da força”, um efeito de pactos e convenções firmados entre homens que agora dispensam a mediação divina. Por essa via, a força (ou violência) deixa de ser o fenômeno de que todos lançavam mão e o acesso a seu manejo se constitui numa exclusividade do soberano. (MAX WEBER vai dizer, mais tarde, que é disso que se trata quando o Estado reivindica para si e alcança “... o monopólio da coação física legítima”.210) Como conseqüência e em segundo lugar, fazer do uso ilegítimo da força (embora não exclusivamente) um delito segundo estipulações claras e precisas descritas na lei. Em terceiro lugar, a lei de que se fala é positiva (escrita) e não a revelada ou natural. Se esse é o tripé que sustenta a idéia de segurança, trata-se aqui de saber como BECCARIA chegou até ela. Isto implica no exame do curso de 208 Ibid., p. 88. Ibid., p. 87. 210 Economia e sociedade, vol. II, p. 525. 209 86 seu pensamento. Este é constituído por estágios na seqüência dos quais examinou a soberania, o fundamento do direito de punir e a legalidade penal. (Foi nesse contexto que inseriu a relação entre segurança e liberdade, tendo em vista a punição. Desse modo, a pena aparece como manifestação do anseio por punição, sim, mas sem perder de mira que, aplicada além da medida, compromete a liberdade.) Nele, a soberania é o resultado aritmético de uma adição. O percurso que leva até ela lembra o do contrato social. Precedeu-a um “... permanente estado de beligerância”.211 Os homens se cansaram disso e de uma liberdade cuja manutenção era incerta. Sacrificaram parte dela em troca de segurança. Foi, então, que a soma das partes da liberdade de cada um formou o poder soberano. Nesse ponto BECCARIA encontrou o fundamento do direito de punir, de tal modo que, instituída a soberania, na seqüência ficou estabelecido que as penas constituam os meios de garanti-la contra “... a força das paixões particulares, em geral opostas ao bem comum”.212 Mas ninguém sacrificou de graça sua liberdade, “visando ao bem público”,213 nem se desfez completamente dela. A necessidade justificou o sacrifício. Somente a necessidade pode justificar a pena. Sob esse aspecto a necessidade é a medida da punição e, para além dela, toda pena será injusta. Isso significa que será tanto mais justa “... quão mais sagrada e inviolável for a segurança e maior a liberdade que o soberano propiciar aos súditos”.214 Mas como garantir segurança e liberdade para todos e cada um? BECCARIA responde que “apenas as leis [escritas] podem indicar as penas de cada delito”;215 que cabe ao legislador estabelecê-las e ao magistrado aplicá-las; que elas são gerais e todos devem obedecê-las. É aqui e pela primeira vez que o pensamento penal moderno anuncia (embora ainda sem as nuances que só 211 Dos delitos e das penas, p. 14. Ibid., p. 15. 213 Ibid., p. 14. 214 Ibid., p. 15. 215 Ibid. 212 87 mais tarde FEUERBACH acrescenta) seu compromisso com a legalidade como promessa de segurança. 8. Nem rigor, nem indulgência. O discurso iluminista voltado para os domínios da punição incorporou novos elementos com VOLTAIRE. Sua contribuição, no entanto, para além das idéias, articulou-se à prática (interveio no caso JEAN CALAS e estimulou em alguma medida a investigação científica na área penal). VOLTAIRE compreendia que, longe de moderadas e conduzidas pela razão, as práticas penais ligadas à tradição distinguiam-se, de um lado, pelo extremo rigor, e de outro, pelas paixões que as inspiravam, representadas ora na intolerância [religiosa], ora no fanatismo e na superstição. A crítica dessas paixões foi articulada por Voltaire em pelo menos duas das obras que escreveu, a saber, Tratado sobre a tolerância e O preço da justiça. Nelas, descreve a posição insegura do indivíduo diante de ações punitivas ora arbitrárias, ora injustas. Para ele, são arbitrárias as punições ordenadas pelos homens e não deduzidas da lei. Acontece que “assim não deveriam ser; que é a lei, e não os homens, que deve punir”.216 Dá como exemplo desse arbítrio a posição da FRANÇA em relação à sodomia, no período em que são queimados “vivos os poucos infelizes culpados dessa abjeção”,217 embora não existisse no país lei “para a sua investigação e punição”.218 Enquanto isso são injustas as punições avaliáveis segundo a medida do Summum jus, Summa injuria, capaz de exprimir a relação de causa e efeito, portanto de correspondência, entre um direito rigoroso, extremo, máximo (summum jus) e as ofensas semelhantes em grandeza que provoca (summa injuria). Dá como exemplos de injustiça dois cenários, um real e outro abstrato. Pelo primeiro, considerou injusta a condenação à morte de JEAN CALAS (um comerciante huguenote acusado de filicídio) motivada pelo ambiente de conflito religioso que polarizava a 216 O preço da justiça, p. 76. Ibid., p. 75 s. 218 Ibid., p. 75 217 88 FRANÇA e com base tão-somente em indícios e presunções. Pelo segundo, compreendeu ser igualmente injusto condenar ao suplício extremo quem, no máximo, merece apenas três meses de prisão. Numa situação, VOLTAIRE coloca em xeque o procedimento penal e mostra como este pode ser manipulado por indesejáveis sentimentos de intolerância.219 Na outra, postula que o esquema crime e punição seja fundado na idéia de proporção. Este é o ponto que aqui interessa ser examinado, por conta de seu significado como uma das premissas que estruturou o direito penal moderno. Sem embargo, cabe previamente anotar que, a rigor, o pensamento de VOLTAIRE não ultrapassou os limites de uma proposta de política criminal. Aquilo que projetou e contribuiu com o direito penal pertence mais ao espaço das premissas. Mas isso não é pouco. Afinal não há direito penal descolado delas. Sem premissas, sobram apenas práticas penais contingentes e circunstanciais que oscilam entre o arbítrio e o acaso. Como premissas, tais práticas tomam um rumo e se transformam em direito penal, pelo que contém de regras com efeitos previsíveis e capazes de orientar o indivíduo. Com efeito, o vínculo de VOLTAIRE com a matéria penal aparece, sobretudo, no livro O preço da justiça. Escreveu-o em conseqüência de um concurso promovido na cidade de BERNA, do qual parece não ter participado como concorrente, e, sim, como agitador de idéias ou dúvidas postas a serviço de quem apresentasse trabalhos “sobre assunto tão importante”.220 Seria premiada a melhor dissertação que tivesse por objeto: Compor e redigir um plano completo e minucioso de legislação sobre as matérias criminais, a partir de três pontos de vista: 1º) dos crimes e das penas proporcionais que convenha 219 Quando, no Tratado sobre a tolerância, VOLTAIRE questiona as práticas penais, revelando suas relações com a intolerância religiosa, o objeto que leva em conta é sempre referido ao procedimento. É que naquela época as matérias processual e penal eram ordenadas no interior da mesma legislação, sem distinção. 220 O preço da justiça, p. 7. 89 aplicar-lhes; 2°)da natureza e da força das provas e das presunções; 3º) da maneira de constituílas por via do procedimento criminal, de tal modo que a moderação da instrução e das penas seja conciliada com a certeza de uma punição pronta e exemplar, e que a sociedade civil encontre a maior segurança221 possível para a liberdade e a humanidade.222 Como se vê, a busca de segurança na sua relação com a liberdade, tendo em vista a lei penal, mobilizava as inquietações da época. É nesse contexto que VOLTAIRE elaborou sua reflexão. Na base dela, pelo menos três dicotomias se destacam, opondo as características da velha lei penal àquelas próprias de uma nova. Assim, se aquela era orientada para a ruína do indivíduo, esta seria para a segurança; se aquela era fundada na superstição, esta seria na razão; se naquela a punição era cega (não fazia distinções necessárias entre crimes de gravidade diferente) e tinha por objetivo espalhar o medo, o horror, nesta o objetivo era a utilidade. A opinião de VOLTAIRE acerca da lei penal aplicada na FRANÇA não era nada lisonjeira: “os livros que fazem as vezes de código (...) parece (...) que foram escritos pelo carrasco”.223 Naquele país “o código criminal parece orientado para a ruína dos cidadãos”224 e sob esse aspecto invoca como contraponto a INGLATERRA onde, além do cidadão, “também o estrangeiro encontra segurança (...) na lei (...)”.225 Não enxerga qualquer vantagem nos castigos severos, pois a experiência mostra “... que os países onde a rotina da lei ostenta os mais horrendos castigos são aqueles onde os crimes se multiplicam”.226 Atribui à Igreja um papel importante na distribuição desses castigos, pois: E durante esses séculos de ignorância, superstição, fraude e barbárie, a igreja que sabia ler e escrever ditou leis a toda a Europa, que só sabia beber, brigar e confessar-se aos monges. Aos príncipes que ungia, a igreja impunha o juramento do extermínio de todos os hereges; ou 221 Grifo nosso. O preço da justiça, p. 6. 223 Ibid., p. 97. 224 Ibid., p. 95. 225 Ibid. 226 Ibid, p. 105 s. 222 90 seja, os soberanos deviam jurar, em sua sagração, que matariam quase todos os habitantes do universo, pois quase todos tinham religião diferente da sua. Enquanto isso, a “canalha” gera dificuldade para a mudança desse quadro: O mundo está melhorando um pouco; sim, o mundo pensante, mas o mundo bruto será ainda por muito tempo um composto de ursos e macacos, e a canalha será sempre de cem para um. É para ela que tantos homens, mesmo com desdém, mostram compostura e dissimulam; é a ela que todos querem agradar; é dela que todos querem arrancar vivas; é para ela que se realizam cerimônias pomposas; é só para ela, enfim, que se faz do suplício de um infeliz um grande e soberbo espetáculo. VOLTAIRE percebe que não é tarefa simples elaborar um código penal. Existe “dificuldade quase intransponível de compor um bom código penal, que esteja tão distante do rigor quanto da indulgência”.227 Entre esses extremos o equilíbrio se encontra em atribuir à pena um caráter utilitário: “cumpre punir, mas não às cegas. Punir, mas utilmente. Se a justiça é pintada com uma venda nos olhos, é mister que a razão seja seu guia”.228 Daí sua objeção à pena de morte, pois, não há nada de “racional que, para ensinar os homens a detestar o homicídio, os magistrados sejam homicidas e matem um homem em grande aparato”.229 Do mesmo modo não há nada de racional em punir com igual rigor ilícitos diferentes quanto à gravidade: “acaso caberá lançar ao fundo da mesma enxovia um infeliz devedor insolvente e um celerado sobre o qual há fortes suspeitas de parricídio? Há graus para tudo, distinções que devem ser feitas em cada gênero”.230 VOLTAIRE adverte que tais distinções devem ser observadas não apenas sob o aspecto objetivo, mas subjetivo também, pelo exame dos motivos, da intenção e da consciência do indivíduo em sua atuação. Nesse ponto, a face interior do delito começa a ser descoberta. É o que se depreende da passagem: 227 Ibid., p. 9. Ibid., p. 15. 229 Ibid., p. 18. 230 Ibid., p. 100 s. 228 91 Em quase todos os países católicos, para o roubo de um cálice, um cibório, um ostensório, a pena comum é a fogueira (...). Ninguém examina se, em tempos de fome, algum pai de família terá furtado esses ornamentos para alimentar a família agonizante, se o culpado teve a intenção de cometer um 231 ultraje contra Deus (...), se o ladrão sabia o que era um cibório (...), o que atenuaria o delito. 9. Segurança como princípio fundador. Em resumo, o programa da ilustração para a área penal, cujas bases em parte foram preparadas pelo contratualismo, adotou a segurança do indivíduo como seu princípio (sem perder de vista, naturalmente, as relações delicadas com o problema da liberdade). A partir e em torno deste princípio cristalizaram-se fundamentos que estão na origem da razão penal moderna, especialmente a legalidade dos crimes e das penas (isso pela conexão que mantém com a liberdade); a moderação dos castigos (pela conexão da resposta penal e sua medida com a gravidade da infração); a responsabilidade pessoal (pela conexão com o livre-arbítrio enquanto pressuposto da culpabilidade [também decorrente daquilo que internamente conduz o indivíduo − consciência, vontade, intenção, motivos, etc. − ao crime]). A lei e o pensamento jurídico, cada um a seu modo, repercutiram em seus domínios os temas então descobertos. 10. As luzes e a lei. No domínio da lei, com efeito, a Declaração dos direitos do homem e do cidadão (1789),232 em dois dos dezessete artigos que contém, elege a segurança como direito natural e imprescritível do homem;233 estabelece, além disso, que somente as penas necessárias devam ser prescritas na lei (o que remete à idéia de moderação dos castigos); destaca, enfim, que a punição tenha como requisito uma lei promulgada 231 Ibid., p. 12. Aqui a declaração é lei no sentido que lhe empresta CANOTILHO (Direito constitucional, p. 95.) para quem ela era “simultaneamente, uma ‘supraconstituição’ e uma ‘pré-constituição’: supra-constituição porque estabelecia uma disciplina vinculativa para a própria constituição (1791); pré-constituição porque, cronologicamente, precedeu mesmo a primeira lei superior”. 233 Art. 2º: O fim de toda a associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. 232 92 antes do delito (o que remete ao princípio da legalidade).234 Por seu turno, o Código Penal da Baviera (1813) é concebido sob o impulso humanista do Aufklärung. Comentando-o, MAURACH assinala que nele é característico o respeito aos princípios do Estado de direito. Um desses princípios é o da legalidade penal. Assim ficou proibida a analogia e, apesar do caráter graduado das penas ali previstas (prevaleciam as privativas de liberdade), restringiu-se amplamente a margem de arbítrio deixada ao juiz para fixação da pena. Além disso, a parte especial limitou o círculo de ações merecedoras das penas criminais.235 Alguns dos efeitos do programa penal iluminista ficaram impressos no Código Criminal do Império do Brasil, de 1830. É o caso da legalidade dos crimes e das penas, cuja previsão foi distribuída nos títulos I e II da parte I. Assim, no título I (setor dos crimes) o artigo 1º estabelecia que: “Não haverá crime ou delito [palavras synonimas neste código] sem uma lei anterior que o qualifique”. É o nullum crimen sine lege. Mais adiante, no título II (setor das penas), o artigo 33 fixava: “Nenhum crime será punido com penas que não estejão estabelecidas nas leis (...)”. É o nulla poena sine lege. Esse mesmo dispositivo contém na segunda parte determinações que proíbem o arbítrio judicial, salvo em casos expressos,236 e incorporam a idéia de proporção entre crime e pena. Esta será aplicada no grau máximo, médio ou mínimo, a depender das circunstâncias que envolvem o crime. Se forem agravantes, a pena será em grau máximo; se atenuantes, em grau mínimo; se inexistirem, em grau médio. Além disso, o código contempla as disposições anímicas do indivíduo, reconhecendo, ao 234 Art. 8º: A lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias, e ninguém pode ser punido se não em virtude de uma lei estabelecida promulgada antes do delito e legalmente aplicada. 235 Cf. Derecho Penal: parte general, p. 67. 236 Para Thomaz A. JÚNIOR (Annotações Theoricas e Praticas ao Código Criminal, tomo I, v. II, p. 469): “Só em dous casos esse arbítrio é permitido, e vem a ser:1º Na 2ª parte do art. 18 § 10º em que se diz que quando o réo fôr menor de 17 annos e maior de 14 poderá o juiz, parecendo-lhe justo, impôr a pena da complicidade. 2º No art.60, em que se determina que ao escravo, quando não for condemnado á morte ou a galés, se imponha açoutes, cujo número será fixado na sentença pelo juiz”. 93 contrário das Ordenações, o lugar especial que os impulsos internos, as determinações psíquicas, passaram a ocupar na avaliação da conduta humana ali regulada. É o caso da consciência (discernimento) e da vontade, sem cujo concurso não há responsabilidade moral. Por conta disso, segundo o art. 10, “Não se julgarão criminosos:” a. “os menores de quatorze anos;” b. “os loucos de todo o gênero;” c. os que agem “violentados, por força ou por medos irresistíveis”. Nos casos a e b falta consciência; no c falta vontade. Paralelamente, levam-se em conta o motivo e a intenção do agente no setor das agravantes e atenuantes. Assim, é agravante a circunstância de (art. 16, §4º) “ter sido o delinqüente impelido por um motivo reprovado ou frívolo”, do mesmo modo que, inversamente, é atenuante a circunstância de o agente não ter (art. 18, §1º) “a directa intenção” de praticar o crime. 11. As luzes e o pensamento penal. No domínio do pensamento penal, por seu turno, merecem registro aqui as reflexões de FEUERBACH e CARRARA, desenvolvidas na primeira metade do século XIX. Acerca de FEUERBACH, a compreensão de BLOCH é que ele inaugura formulações de caráter original para o direito penal moderno. É o caso da relação entre indivíduo, Estado e direito. O indivíduo tinha no Estado e no direito fontes de garantias. Desse modo, o Estado era menos um fim em si mesmo e mais um meio de garantir o indivíduo. Não era menos garantidor o papel do direito, mais próximo, ainda segundo BLOCH, de uma suma de direitos que de proibições, vale dizer, o direito à vida, segurança, liberdade, não se define como uma concessão negativa, como uma isenção no âmbito da submissão, senão como capacidade jurídica, como poder sancionado positivamente.237 Também original é o caso da forma lingüística que FEUERBACH confere ao princípio da legalidade dos crimes e das penas. Recorre ao latim e o anuncia numa fórmula até então desconhecida e que passou a ser 237 Cf. Derecho natural y dignidad humana, p. 93. 94 consagrada pelo uso. Trata-se do nullum crimen, nulla poena sine lege. Nesse enunciado a segurança encontrou sua síntese definitiva. Pela via de um raciocínio a contrário (sine lege) a lei é sacramentada como a fronteira que separa domínios bem diferentes: de um lado o Estado pode criminalizar e punir (e até tem o monopólio disso), mas não pode fazê-lo hic et nunc, caso a caso, sob o impulso da contingência. Cabe-lhe anunciar antes a conduta que proíbe ou ordena e como vai puni-la se cometida ou omitida. De outro, o indivíduo pode agir e se mover segundo cálculos que lhe permitem neutralizar a força do Estado. Ligado ainda ao direito natural e menos ao direito positivo, CARRARA adotou como guias de seu pensamento Deus, ARISTÓTELES e HEGEL. A partir de Deus assumiu a idéia de que “todo direito procede” Dele.238 A partir de ARISTÓTELES, a idéia de que “o estado de associação foi coetâneo com o nascimento do gênero humano”.239 A partir de HEGEL, a idéia de que “o delito é a negação do direito e a pena sua reafirmação”.240 Com Deus teve a pretensão de que os princípios da ciência penal fossem deduzidos não do direito positivo (obra do homem), mas do “código imutável da razão” (obra do Criador).241 Isso lhe permitiu reduzir o direito a um fenômeno jurídico, pois, se Deus deu o direito à humanidade desde a criação, trata-se, então, de algo congênito ao homem, o que justifica revelálo na condição de “animal jurídico”.242 Assim, “o delito não é um ente de fato, mas um ente jurídico”,243 pois sua essência consiste “necessariamente na violação de um direito”.244 Com ARISTÓTELES considerou a doutrina do contrato social um erro.245 Isso lhe permitiu enxergar na pena não o produto de um consenso entre os homens, mas a necessidade de manutenção da 238 Programa de derecho penal: parte especial,vol. I, p. 5. Programa de derecho penal: parte general, vol. I, p. 15. 240 Ibid., vol. II, p. 7. 241 Ibid., parte general, vol. I, p. 26. 242 Reminiscencias de cátedra y foro, p. 12. 243 Programa de derecho penal: parte general, vol. I, p. 4 244 Ibid., p. 5. 245 Cf. ibid., p. 11. 239 95 ordem. Com HEGEL (e assim contra FEUERBACH) estabeleceu que o fim da pena não é intimidar, mas tranqüilizar.246 Isso lhe permitiu desenvolver a idéia da pena irrogada como defesa do direito, o que se dá por uma operação de retorno à “paz anterior” (ao delito), de tal modo que faz renascer “em todos o sentimento de sua própria segurança”.247 É esse o ponto que aqui interessa. Com efeito, CARRARA enfrenta o tema da segurança como um direito, isto é, a segurança de que fala é entendida não apenas como um efeito da pena cominada ou imposta, mas, sobretudo, como um direito que a precede: “A segurança e o sentimento da segurança, como direitos, os dá a natureza”.248 Acontece que, sem a proteção da autoridade, do governo, tal segurança é precária. Para torná-la consistente, foi constituída a sociedade civil, cuja “missão única, absoluta” é a defesa da segurança e do sentimento que lhe corresponde como direitos. A segurança como garantia contra o arbítrio expressa no nullum crimen, nulla poena sine lege não mereceu maiores desenvolvimentos na obra de CARRARA (embora conhecesse a matéria). Nele, com efeito, o tema da segurança, longe de considerar o Estado e o indivíduo em termos de uma relação na qual aquele fizesse deste uma presa fácil (desprotegida da lei), foi tratado na perspectiva de um direito que acompanha o indivíduo desde sempre, isto é, não apenas a partir da sociedade civil constituída, mas já no interior do que ele chama de “período primitivo de associação patriarcal ou (...) natural”.249 Por isso mesmo, a função da lei penal é a de proteger os direitos que a infração viola, aplicando-se o castigo. Mas há limites nisso, pois constitui também um direito não ser punido com excesso. Toda pena que vá além da necessidade (à defesa de direitos) é abuso. Daí CARRARA lança mão da idéia de justiça para afirmar que nela se 246 Ibid., parte especial, vol. I, p. 16. Ibid. 248 Ibid., parte general, vol. I, p. 95. 249 Programa de derecho penal: parte general, vol. I, p. 12. 247 96 encontra o limite para o exercício do direito punitivo. Mas a justiça como limite da punição não é algo externo, que se agrega à tutela jurídica ou defesa do direito; é algo, sim, que lhe é próprio e indestacável: ... na fórmula da defesa do direito [ao contrário, portanto da tese da defesa social] o limite da justiça é congênito, intrínseco, inseparável, porque quando se diz que a autoridade deve defender o Direito, se diz que o deve defender tanto no ofendido como no ofensor, isto é, que deve castigar este em defesa daquele, mas não castigá-lo mais além do que requer tal defesa, porque ao fazê-lo assim violaria o direito do ofensor, e a pena, ao fazer-se injusta, por seu caráter excessivo, não encontraria já apoio na suprema razão da tutela jurídica.250 Parece provável que, nessa passagem, CARRARA enxergue (embora sem dizê-lo expressamente) na idéia de justiça como limite da punição, outra face da segurança e do sentimento que lhe corresponde como direitos. Dito de outro modo, a segurança de todos e cada um é garantida não apenas com a punição e naquilo que implica como restauração da fé no direito, mas, ainda, na sua aplicação segundo a medida necessária à defesa, sem o que se cai no excesso e “todo excesso não é proteção, mas violação de direito”.251 12. Segurança e giro positivista. Como se vê, com o iluminismo e no pensamento penal de base ainda jusnaturalista (cujas formulações deram identidade à escola clássica), o indivíduo representava o lugar onde era mais visível o acento da segurança. Mais tarde, porém, com o positivismo filosófico (cujas formulações adaptadas e aplicadas à área penal deram identidade à escola positiva ou, por outra, ao positivismo criminológico) opera-se um giro e aquele acento pousa na sociedade. Não se trata mais de conferir à lei penal a tarefa de defesa do direito, mas de defesa social. Isso não significa, no entanto, o abandono do indivíduo ou o desfazimento da rede de garantias sob cuja tutela ficou embalado até pelo menos a primeira metade do século XIX. Significou apenas o enfraquecimento daquela rede. 250 251 Ibid., vol. II, p. 63. Programa de derecho penal: parte general, vol. I, p. 7. 97 Não é possível falar de abandono se não foi colocada em questão a validade (aqui no sentido de vigência) do princípio da legalidade penal.252 No BRASIL mesmo, a reforma penal de 1890 recepcionou-o sem restrições e algo semelhante ocorreu com o código penal alemão de 1871. Enquanto isso, o código ZANARDELLI, na ITÁLIA, incorporou-o. Mas de enfraquecimento é possível falar, sim, particularmente no esforço desenvolvido para o exame do crime como fenômeno e não como abstração. (Era a despedida da nascente ciência penal de sua vocação metafísica para se submeter ao império dos fatos e, dessa forma, corresponder ao cânon epistemológico que empolgou a segunda metade do século XIX, segundo o qual qualquer conhecimento científico [salvo o da lógica e da matemática] só encontrava validade na experiência da observação.) Isso deslocou o foco do pensamento penal, antes concentrado no delito como ente jurídico, para o sujeito da ação criminosa, isto é, o delinqüente. O resultado foi, de algum modo, a objetivação do delito pelo relevo atribuído às determinações, sejam biológicas (LOMBROSO), psicológicas (GAROFALO) ou sociais (FERRI) das quais o delinqüente não tinha como escapar, pelo que não se tratava de puni-lo (afinal não tinha livre-arbítrio e, portanto, culpa), mas de excluí-lo (já que se tratava de um anormal ou doente), seja com o isolamento (pela detenção perpétua que LOMBROSO postulou), seja com a eliminação (pela pena de morte ou deportação postuladas por GAROFALO). Aqui a segurança do indivíduo sob o aspecto da exclusão da culpa e seu correspondente grau na avaliação do delito sofre um abalo cujos desdobramentos, no entanto, na esfera legal foram de extensão reduzida. Numa palavra: a idéia de exclusão do 252 A propósito da relação dos positivistas com o princípio da legalidade, BETTIOL (Direito penal, vol. I, p. 138) é de opinião que “... se não foi expressamente pleiteada pelos positivistas a sua ab-rogação, foi devido ao ambiente ainda não preparado para acolher passivamente o ocaso de uma regra tão fundamental da civilização européia e tão ligada, malgrado tudo, à mentalidade e educação liberal dos próprios positivistas”. 98 delinqüente pela via da pena de morte ou prisão perpétua não foi capaz de sensibilizar (em geral) o legislador; mas sensibilizou-o algo que não foi objeto de formulação pelos positivistas, ou seja, ligar ao delinqüente como doente a busca da cura pela via das medidas de segurança. Nesse caso, contudo, seriam alcançados tão-somente os inimputáveis (loucos e [em parte] os semiloucos), não os delinqüentes em geral. Mas esse é um tema cujo desenvolvimento, com outras particularidades, será retomado adiante. Até aqui o discurso da razão penal foi examinado sob o aspecto de sua promessa central, aquela que constituiu a segurança do indivíduo como o objetivo, o fim do direito penal. Parece ter ficado claro que o uso da palavra “segurança”, ora tem o sentido de um sentimento a que a lei penal dá expressão pelo que contém de prontidão para reagir ao delito, recuperando em todos e cada um a confiança em seus mandamentos; ora tem o sentido de garantia do indivíduo pelo limite que estabelece à atuação do Estado no nullum crimen sine lege; ora ainda tem o sentido de uma punição sempre proporcional à gravidade do crime, garantindo ao indivíduo a avaliação adequada do grau da culpa e, portanto, de sua responsabilidade numa escala que envolve desde o juízo de nenhuma até o de máxima reprovação (nullum crimen sine culpa). A partir daqui interessa apenas o exame da promessa da razão penal quanto ao último sentido. Logo, não se trata de saber acerca do caráter eficaz ou não da promessa de segurança que a razão associou à lei penal, seja no sentido de sua aptidão para reagir ao delito, confirmando o direito e assim as expectativas formadas em torno dele, seja no sentido de proteção ao indivíduo contra o arbítrio estatal. Trata-se de indagar se – e até que ponto – as provisões normativas do direito penal têm sido suficientes para garantir a segurança do indivíduo em suas expectativas de justiça no domínio da culpabilidade, especificamente no manejo das causas de sua exclusão. A resposta para esta questão implica no exame de como se tem 99 configurado o conceito de crime, desde sua primitiva apreensão até as mais recentes formulações. 100 Capítulo V Que é o crime? Todos sabem que o crime é algo fora da rotina e, nesse sentido, um evento; mas poucos sabem o que significa como conceito referido ao direito penal. Se um pesquisador curioso, por exemplo, quiser saber a opinião do homem comum acerca do sentido da palavra “crime” provavelmente ouvirá como resposta que ela reflete a situação na qual “alguém mata outro” ou mesmo aquela na qual “alguém viola uma lei”. No primeiro caso a resposta é bem primária e se limita a descrever uma espécie de crime (o homicídio); no segundo, o grau de abstração é maior, entretanto, o ato de violar a lei nem sempre responde bem à idéia de crime. Com efeito, não é difícil compreender que o resultado dessa sondagem tem pouco de animador. Apenas confirma uma antiga suspeita. Segundo ela, a opinio communi percebe o significado de crime nos termos de uma leitura muito simples, vaga, superficial. Seu horizonte consiste em saber que se trata de um fenômeno do mundo real e que sua realização é proibida. Mas não há razão para espanto nisso. Pensando bem, o homem 101 comum quando se comunica emite opiniões, crenças, impressões, e, sob esse aspecto, é dotado de um nível de conhecimento que não tem a pretensão de reivindicar para si a posição de um saber que se distingue pelo rigor de suas observações. Se a mesma sondagem, contudo, for conduzida no âmbito daqueles que lidam com o direito penal, vai chegar a outros resultados. Nesse universo, o padrão de exigência é distinto e isso explica que surjam respostas, ora menos, ora mais consistentes; mas refletindo, todas elas, conteúdos capazes de atribuir à idéia de crime referências mais elaboradas. Essa circunstância, porém, indica tão-somente que o termo em questão recebe entre os juristas tratamento diferente, o que se explica pelo grau de abstração e generalidade em que se funda. Não indica, porém, que tem sido objeto ao longo do tempo de uma leitura unívoca. Ao contrário, o conceito de crime é dotado hoje de uma acepção que em nada se parece com significados habituais de sua história no pensamento penal. Assim é que sua idéia tem variado conforme se refira a condutas que ofendem a vontade dos deuses, do soberano e do legislador. 1. A vontade dos deuses. Fala-se de crime como ofensa à vontade dos deuses quando se tem em vista uma época primitiva, fora da história e sem lei, para a qual, em geral, dá-se o nome de estado de natureza, onde o princípio da autoridade era desconhecido e a relação mando obediência era resolvida à base da força. Como não havia nenhuma autoridade terrena a ser temida e reverenciada, o homem primitivo buscou-a na divindade. Foi lá, na instância do pensamento mágico, mediante o apelo à vontade divina, que nasceu a primeira forma justificada de exercício do poder. Nesse âmbito é que surgiram dois mecanismos, o totem e o tabu, a partir e no limite dos quais foi montado o primeiro sistema penal conhecido entre os humanos. 102 Não é fácil explicar com precisão o que é totem, mas seu conteúdo pode ser compreendido a partir dos dois sentidos que a psicanálise lhe confere. Assim e em primeiro lugar, totem é um animal (pode ser comível e inofensivo ou perigoso e temível) e mais raramente um vegetal ou um fenômeno natural (como a chuva ou a água) que mantém relação peculiar com o clã. Em segundo lugar, tal relação peculiar é de autoridade, na medida em que o totem é o antepassado comum do clã bem como o seu espírito guardião e auxiliar, portanto, capaz de oferecer proteção, mas de retirá-la também, se sua vontade não for acatada.253 A vontade do totem manifesta-se pelo tabu, palavra que num dos sentidos assinalados por FREUD significa “proibido”. À violação de um tabu pela realização da conduta proibida correspondia a aplicação da punição. Dessa forma, o tabu é o símile mais remoto dos códigos penais modernos e revelava por um procedimento não escrito o que o homem devia evitar para não ficar sujeito à sobrenatural coerção totêmica.254 2. A vontade do soberano. A passagem de uma concepção de crime, que deixa de ofender os deuses, para outra na qual o ofendido doravante é o soberano, parece coincidir com a transição que, submergindo o mundo “mágico-animista”255 da sociedade tribal, permitiu o nascimento das sociedades imperiais representadas pelas civilizações que floresceram na MESOPOTÂMIA, CHINA, ÍNDIA, EGITO, etc. Nesse novo cenário, onde é interrompida (em grande parte) a banalização das divindades pela dessacralização da natureza, os deuses continuam a produzir influência, mas sofrem modificação na sua identidade e no meio de que se utilizam para o exercício do poder. 253 Cf. Sigmund FREUD, Totem e tabu e outros trabalhos, p. 21. Ibid., p. 38. 255 Cf. Jurgen HABERMAS (Para a reconstrução do materialismo histórico, p. 19 s) nas considerações que desenvolve em torno de como se deu a ruptura com o mundo mítico das sociedades tribais mediante a passagem para “sociedades organizadas de modo estatal” e que serviram de modelo adaptado para os desenvolvimentos acima. 254 103 À totemização dos fenômenos da natureza, permitindo que os mitos divinos fossem associados a animais, vegetais, pedras, trovões, etc., sucedeu o estágio no qual a divindade é visualizada segundo a forma humana. O movimento que desloca a identidade dos deuses (fixada agora em seres antropomórficos e não mais em seres inanimados), contudo, provavelmente se dá segundo etapas muito fluídas e sobrepostas.256 Nesse sentido, a ruptura não terá ocorrido num plano linear e contínuo e sim segundo linhas sinuosas e descontínuas. Mas o que importa aqui é tratar menos da nova silhueta divina e mais de como no período que se inaugura dá-se a relação entre os deuses e o poder, bem como as conseqüências aí geradas, tendo em vista o binômio crime–punição. Nesse período, terá ocorrido uma autonomia do mundo secular em relação ao mágico, sem que isso signifique, porém, uma diferenciação total entre os dois domínios. É tanto que pelo menos num ponto foi celebrada uma aliança que ligava deuses e soberano. Não importa se nascida na necessidade que o soberano tinha de justificar a origem do seu poder. Importa que por meio dela estivesse selado um pacto que os associavam ao padrão de legalidade então conhecido. De acordo com isso, o “código legal mais antigo que se conhece é o de HAMURABI, rei da BABILÔNIA, cerca de 2100 a.C. O rei afirmou que esse código lhe fora entregue por MARDUK”.257 Na tradição bíblica MOISÉS recebeu de JEOVÁ idêntica delegação quando desceu do Sinai, ostentando a lei escrita por Deus nas Tábuas de Pedra. Ficou sacramentada assim a coalizão que reservou a MOISÉS o papel de representante de Deus junto ao povo judeu. Entre os gregos, reis e heróis tinham com os deuses mais do que uma representação. Para além dela, a conjunção que os ligava era mais íntima, pois passava pelos laços da descendência direta. 256 257 Num sentido parecido ver Sigmund FREUD, Moisés e o totemismo, p. 157. Bertrand RUSSELL, História da filosofia ocidental, livro primeiro, p. 7 s. 104 É muito limitado, então, o sentido do papel que se atribui ao soberano de ofendido pela prática da conduta proibida. Com efeito, o soberano era apenas a ponta visível de um jogo de poder repartido, no qual a outra ponta era estrategicamente mantida invisível ao olho humano. Essa visão dualista do exercício do poder retira de cena a divindade como ofendida pela prática do dano e põe no seu lugar o soberano, mas não se pode negar que no limite ambos se colocam na posição de alvos finais da ofensa. Durante longo tempo prevaleceu essa idéia, atravessando civilizações clássicas – por exemplo, a romana258 −, a Idade Média259, os séculos XVI e XVII, só perdendo seu vigor no século XVIII pela criação de novas bases teóricas justificadoras do exercício do poder. 3. A vontade do legislador. Nesse ponto opera-se uma inversão radical. A nova visão do mundo que se impõe, com base na idéia do contrato social, percebe o fenômeno do poder como algo que se justifica não mais a partir de inspirações mágicas, divinas, religiosas, e sim a partir do princípio da soberania popular. Nasce, assim, uma concepção de poder em que a legitimidade para seu exercício é adquirida numa vontade comum a todos e, segundo a qual, cada um dos indivíduos abdica de uma quota de sua liberdade, de seu poder pessoal, para depositá-la nas mãos do soberano, entendido como sendo o próprio Estado. Não se trata mais do Estado do período imediatamente precedente, seja ele de natureza, como pretendem os contratualistas, seja absoluto, como foi interpretado pela história. Tratase agora do Estado moderno que, explicando sua origem na premissa do contrato, procura efetivá-lo, ora pela garantia das liberdades do indivíduo (também chamado de cidadão) com a aplicação da lei geral e abstrata por parte de juízes independentes, ora pela separação e distribuição do poder. 258 259 Cf. Michel FOUCAULT, A verdade e as formas jurídicas, p. 51 s. Cf. Bertrand RUSSELL, op. cit., p. 16. 105 Pela visão de um poder que se exerce de forma repartida, cria-se o mecanismo segundo o qual o Estado passa a ser estruturado em cima do Legislativo, Judiciário e Executivo, abrindo-se, assim, os caminhos para o exercício diferenciado da tríplice função que lhe concerne, a de criar, aplicar e executar leis. O legislador aparece como peça central desse esquema e a ele cabe a tarefa de produzir originariamente a legalidade que corresponde às exigências do Estado que se inaugura. No âmbito do direito penal tais exigências cristalizam-se em pelo menos três fundamentos. O primeiro refere-se à separação entre direito natural e direito positivo.260 Com isso, nasce a recusa em aplicar a norma cuja fonte é a vontade de Deus, pois, no Estado social, produto de uma convenção, não mais se requer “a missão especial do ser supremo”.261 Por oposição, instaura-se a supremacia das leis positivas, ditadas pelo legislador e substitutivas daquelas reveladas pela majestade divina. O Estado assume o monopólio da produção jurídica e rompe o pacto que submeteu o homem, durante longo tempo, à ambivalência de práticas sacro-jurídicas. O segundo fundamento é centrado na mudança do papel atribuído ao juiz. Sua posição é deslocada da esfera de influência do soberano e ganha autonomia pelo exercício independente da função judicante no interior do poder judiciário. Além disso, o arbítrio que distinguia seu trabalho passa a ser contido pela proibição de alcançar o justo segundo regras do costume, eqüidade e razão natural. Assim, resta-lhe a tarefa de encaixar mecanicamente a lei ao caso concreto. Foi esta concepção que prevaleceu a partir de MONTESQUIEU, a quem é atribuída a frase segundo a qual o juiz é 260 A concepção de Thomas HOBBES (Do cidadão, p. 85), por exemplo, é a de que a mesma lei que é natural e moral também é necessariamente chamada divina. 261 BECCARIA, op. cit., p. 9. 106 apenas a boca que reproduz a vontade da lei,262 até BECCARIA, cujo entendimento era o de que O juiz deve fazer um silogismo perfeito. A maior deve ser a lei geral; a menor, a ação conforme ou não à lei; a conseqüência, a liberdade ou a pena. Se o juiz for obrigado a elaborar 263 um raciocínio a mais, ou se o fizer por sua conta, tudo se torna incerto e obscuro. O terceiro fundamento reside no princípio da legalidade. Antes do período das luzes o que valia era a indeterminação penal do que constituía o crime e a pena correspondente. Por esta via, remetia-se o indivíduo a uma desconcertante posição de insegurança diante da autoridade. Suas expectativas não podiam ser estruturadas diante de um modo de produção da justiça que consagrava o capricho, a fantasia e a extravagância de qualquer que seja a personagem que movimentava a engrenagem judicial: o juiz, o rei ou o sacerdote. O limite da atuação de cada um deles tinha por referência apenas sentimentos pessoais de justiçamento que dispensavam o dever de obediência a regras conhecidas. O nullum crimem nulla poena sine lege interrompe essa tradição e consagra um padrão diferente de resposta contra quem, mediante conduta reprovável, se contrapõe ao pacto. Crime e pena doravante passam a ser gerados no espaço de reserva legal e escapam assim das determinações cogitadas no arbítrio judicial, superpoder do soberano e superstição do sacerdote. Nessa travessia, parece certo que o indivíduo terá alcançado a mais importante conquista formal na história das práticas punitivas. É que sua recorrente luta em busca de segurança e certezas jurídicas tinha finalmente encontrado um padrão adequado de referência. 4. O conceito formal. A conjuntura que gerou a legalidade penal e constituiu o legislador como fonte exclusiva de sua criação, inaugura um 262 A frase parece não constar da tradução em língua portuguesa realizada por Fernando Henrique CARDOSO do livro O espírito das leis; em todo caso seu conteúdo ou sentido está claramente delineado no livro VI, cap. III, p.83. 263 Op. cit., p. 17. 107 novo marco para a reflexão em torno do conceito do crime. É o da lei. Com efeito, no livro Dos delitos e das penas (1764), BECCARIA abre o capítulo que trata da divisão dos delitos (§ XXV), considerando-os “atos que contrariam ao que a lei determina ou proíbe (...)”, pelo que todo ato não ajustável nesse esquema “não pode ser tido − continua BECCARIA − como delito, nem castigado como tal”.264 Assim formulada, essa definição contempla pelo menos uma inconsistência. Omite a natureza da lei que tem de ser contrariada para que haja crime. Por conta disso, sugere que qualquer lei, sendo desobedecida, permite o conhecimento da conduta criminosa. Logo se percebe, entretanto, que, para este fim, vale somente a rejeição à lei penal. Ela passa a funcionar como ponto de partida para a idéia de que será crime todo ato que contradiga seus mandamentos ou proibições. A hegemonia dessa visão corresponde ao período que se estende da segunda metade do século XVIII até a primeira metade do século XIX. Além disso, coincide com os procedimentos de positivação do direito, cuja principal característica se revela no fenômeno da codificação.265 Assim, seu triunfo operou-se não apenas no espaço da doutrina, mas nos códigos penais também. Com efeito, alguns códigos adotaram a prática de definir que coisa é o crime. Fizeram-no de modo simples, mas não inteiramente vago. É o caso do código criminal do Império do Brasil (1830). Ali, o art. 2° dizia: julgar-se-á crime ou delito: § 1° toda acção ou omissão voluntária contrária às leis penaes. Semelhante é a fórmula usada no código penal espanhol de 1848, onde consta: “És delito o falta la accion ou omission voluntária penada por la lei.” 264 P. 65. Acerca da experiência da codificação durante o período ver o trabalho de Norberto BOBBIO, O posivismo jurídico, p. 63. 265 108 Nessas disposições são recortados três indicativos para que algo configure o delito. Em primeiro lugar, as ações ou omissões devem estar punidas pela lei; em segundo lugar, tais ações e omissões devem ser voluntárias; finalmente, a lei contrariada é a penal. A redução da idéia de crime ao ato ou omissão voluntária e hostil à lei penal contou com a bênção de muitos, mas foi censurada também. A crítica sustentou sua posição na denúncia de alguns defeitos. Ora a definição é carente de objetivo prático, pois não favorece “um caminho lógico”266 para afirmar ou descartar a criminalidade das condutas concretas; ora naufraga num círculo vicioso, afinal, “o que a lei deve proibir?”,267 mantendo desconhecidos seus termos; ora é tautológica, eis que “dizer do delito que é um ato punido pela lei (...) e ainda acrescentar que é a negação do direito, supõe fazer um juízo a posteriori, o que é exato, conquanto nada adicione ao que já se sabe”.268 Para além das limitações mencionadas, a contribuição de CARRARA na definição de crime é ponto de referência já cristalizado na história das idéias penais. Ele procurou aclarar o significado do termo pela designação daquilo a que se refere. Para isto aproveitou da tradição precedente a idéia de lei. Fez alguns acréscimos (um dos quais consiste na descrição da face interna do crime), todos eles, porém, constituem elementos sem cujo concurso não se alcança saber o que é crime. Segundo ele, este é “a infração da lei do Estado, promulgada para proteger a segurança dos cidadãos, resultante de um ato externo do homem, positivo ou negativo, moralmente imputável e politicamente danoso”.269 Com efeito, a lei de que fala CARRARA, cuja infração constitui o crime, é laica, estatal, positiva e fundada, portanto, na autoridade humana. Embora pareça, nessa passagem 266 Eugenio Raúl ZAFFARONI, Tratado de Derecho Penal, vol. III, p. 15. Federico PUIG PENA, Derecho penal: parte geral. Tomo I, 1969, p. 181. 268 Luis JIMÉNEZ DE ASÚA, Principios de Derecho Penal: la ley y el delito, p. 201. 269 Programa de Derecho Penal: parte general, vol.I, p .43. 267 109 não se dá o abandono do jusnaturalismo (a escolha metodológica que adotou segundo o que foi observado acima) cuja causa estaria na despedida da divindade como criadora de um direito penal absoluto, imutável e eterno. Longe disso, pois, como ele mesmo explica, o pressuposto da lei estatal é ter “sido ditada de conformidade com a suprema lei natural jurídica”,270 entendida como aquela que preexiste “a todas as leis humanas e que obriga ainda os legisladores”.271 O caráter obrigatório dessa lei decorre de ter sido promulgada, isto é, tornada pública e conhecida de todos e seu fim consiste em garantir a segurança pública e privada dos cidadãos. Mas até aqui o crime aparece apenas na sua manifestação extrínseca [= externa], tomada a lei como referência. Somente quando a referência é deslocada para o sujeito (ativo) da infração aparece sua face intrínseca [= interna], revelando as propriedades que o constituem. Assim, a infração resulta de um ato externo do homem (pensamento, desejo, projeto e determinação não pertencem ao domínio da lei penal), positivo (comissivo) ou negativo (omissivo), moralmente imputável (a responsabilidade decorre da natureza moral do ser humano, que, dotado de livre-arbítrio, é capaz de culpa) e socialmente danoso (pois perturba o sentimento de segurança dos cidadãos).272 5. Conceito substancial. Na segunda metade do século XIX a lei foi retirada do lugar que ocupava como referência para definir o crime, sendo substituída pelos fatos. (Isso correspondeu a uma virada metodológica no âmbito da filosofia, de que deu conta o positivismo, com nítidas repercussões na ciência como um todo, portanto, no direito também, e, de modo particular, no direito penal [com a escola positiva]. Não se tratava mais de recorrer a um princípio ou fundamento [seja Deus, seja a razão] a 270 Ibid., p. 43 s. Ibid., p. 5. 272 Cf. Programa de Derecho Penal: parte general, vol.I, p. 45 ss. 271 110 partir do qual o conhecimento pudesse ser deduzido. Tratava-se agora de construir o conhecimento a partir da observação dos fatos e indutivamente relacioná-los, a fim de descobrir não suas causas, seus segredos, sua natureza íntima, mas as leis que os explicam e ordenam.) Dessa forma, a idéia de crime como alguma coisa que violava a lei, ou, mais tarde, como ente jurídico, exibindo sua anatomia ou partes constitutivas, deixa de responder às exigências do novo modelo de ciência que a área penal passou a incorporar. Importa agora investigá-lo como fenômeno real, natural, humano e revelar sua gênese com base em explicações antropológicas, sociológicas e psicológicas. Nessa perspectiva, o homem é colocado como centro de referência na explicação do crime para o qual, aliás, se move segundo determinações anatômicas (físicas), sociais e psíquicas, sob cujo jugo fica reduzido o espaço para escolhas, alterando, dessa forma, o sentido de sua responsabilidade (antes fundada no livre-arbítrio; agora na temibilidade [GAROFALO] ou periculosidade [FERRI]) e a natureza da resposta punitiva (antes com penas determinadas quanto à duração; agora ligadas tão-somente à lógica da exclusão social do delinqüente). Dito de outro modo, com o abandono do livre-arbítrio como idéia capaz de justificar a culpa moral, a responsabilidade passa a ser subordinada ao modo de agir do delinqüente, naquilo que é o sintoma de um indivíduo perigoso, qualquer que seja sua condição psíquica ao praticar o crime. Perde sentido, com isso, a tradicional distinção entre responsáveis e irresponsáveis, sempre dependente da avaliação que se atribuía ao infrator de ser ou não capaz de culpa, portanto, de escolhas. Afinal, o delinqüente é um produto da natureza e o crime, nele, tem o significado de um fato que nem controla, nem pratica livremente. Por isso mesmo é considerado como um anormal; seja, como quer LOMBROSO, por conta dos caracteres anatômicos, fisiológico e psíquico que carrega e o distingue, predispondo-o para tanto; seja, ainda, como quer FERRI, “... por condições congênitas ou 111 adquiridas, permanentes ou transitórias, por anormalidade morfológica, ou biopsíquica, ou por doença...”273 ou mesmo por determinações sociais; seja, finalmente, como quer GAROFALO, por conta de sua degenerada fisionomia psíquica ou moral, fazendo-o incapaz para o exercício dos sentimentos altruístas de piedade e probidade que impedem a atividade criminosa. É o que basta para justificar a defesa social segundo o rigor de seus padrões punitivos. (Dá-se aqui, em grande parte, o retorno de uma concepção objetiva de crime em que o resultado, per si, era suficiente para justificar a punição, como foi assinalado atrás. A diferença, naturalmente, está em que não são mais forças cósmicas, descontroladas, estranhas e constitutivas de uma causalidade mítica que tornam certos homens predestinados a cometêlo. As forças agora são conhecidas e, embora ligadas à natureza, são cientificamente controláveis, mas não desconstituem o delito como destino, o que faz dele uma obra da necessidade e não da liberdade.) Com efeito, diante de um quadro de referências (teóricas) assim delineadas, ali onde os fatos inspiram o novo modelo de estudo da criminalidade e, ao mesmo tempo, se procede à desconstrução de categorias centrais do modelo antigo − por exemplo, livre-arbítrio, culpa moral, punição −, o conceito de crime até se constitui em objeto de algumas formulações, mas, ao lado ou para além dele, o que se destaca mesmo é a descrição dos caracteres que constituem a tipologia dos delinqüentes. 5.1. O tipo antropológico. Em nenhuma passagem de seu livro, O Homem criminoso, LOMBROSO operou com o conceito de delito. Passou ao largo disso como se desdenhasse de uma tradição intelectual, de que os penalistas clássicos foram os representantes, ocupados em estudar, conforme diz no prefácio, “... o crime sem estudar o culpado...”.274 Foi direto ao ponto que lhe interessava, pois, para ele se tratava apenas de saber 273 274 Princípios de Direito Criminal, p. 201. P. XXVI. 112 da existência ou não de um tipo humano dotado de propriedades ou características em função das quais o crime pudesse ser explicado como destino, fatalidade, enfim, uma determinação a que não se pode resistir. Suas pesquisas permitiram a descoberta, justificada pela estatística, de que há um tipo particular de criminoso, cujas anomalias portadas e distribuídas em conjunto na sua anatomia, fisiologia e psicologia fazem dele um delinqüente nato. Para descrevê-lo, sob o aspecto anatômico, LOMBROSO maneja com palavras, por exemplo, a. peso, b. diâmetro, c. altura, d. largura, e. ângulo, f. circunferência, g. superfície, h. curva (onde a e b referem-se a mandíbulas, c, d e e ao rosto, f, g e h ao crânio), cuja função é a de apontar para particularidades incomuns de sua compleição ou o que chama de “atipia nas medidas da face”,275 obtendo-se assim, no geral, um retrato que o mostra feio e deformado, sem que isso autorize, contudo, qualquer conclusão que dê conta da impossibilidade de um delinqüente nato ser contemplado pela beleza, não importa se homem ou mulher.276 Já sob o aspecto fisiológico, LOMBROSO investigou anomalias do a. cérebro, b. coração e c. fígado do delinqüente nato, tendo constatado em a. alterações representadas por inflamações, tumores, abscessos, pontos hemorrágicos, amolecimentos, etc.;277 em b. tal quantidade de afecções “que demonstra nos delinqüentes curiosa superioridade em insuficiências valvulares e atrofias cardíacas”,278 se comparadas às pessoas normais; do mesmo modo em c. parece que afecções hepáticas como cirroses, hepatite, infiltrações, etc. “... predominam com freqüência nos delinqüentes”.279 Finalmente, sob o aspecto psicológico, LOMBROSO examina o delinqüente na dupla perspectiva da a. sensibilidade (física e afetiva) e b. inteligência. Quanto a a. é reduzida a sensibilidade (física) do criminoso, o que o torna 275 O homem criminoso, p. 123. Ibid., p. 166 e 177. 277 Ibid., p. 147 e 148. 278 Ibid., p. 150. 279 Ibid., p. 152. 276 113 capaz de suportar a dor decorrente, por exemplo, de ferimentos diante dos quais “... qualquer outra pessoa sucumbiria”. Do mesmo modo é enfraquecida sua sensibilidade afetiva, o que se constata não somente pela “... indiferença completa diante de sua vítima e na presença dos instrumentos ensangüentados que serviram para perpetrar o crime”,280 como igualmente pela apatia e tranqüilidade quando arrastado ao cadafalso para o qual foi condenado (aliás LOMBROSO encontra nesse ponto o fundamento para suas objeções à pena de morte). Quanto a b. LOMBROSO faz uma aposta e um enunciado. A aposta consta da passagem em que reconhece a dificuldade em “... estabelecer uma média da potência intelectual dos delinqüentes com a precisão que preside as observações craniológicas”, pois, se assim pudesse, crê que “encontraria uma média inferior à normal, com exageros de superioridade e inferioridade”.281 Ou seja, considera que na média a inteligência do delinqüente é inferior à do homem normal, o que não exclui casos de delinqüentes com inteligência superior ou inferior. O enunciado liga-se à passagem onde diz: “... em todos, mesmo nos criminosos geniais, a inteligência apresenta um lado defeituoso”.282 LOMBROSO tem a compreensão de que a inteligência defeituosa é aquela representada pela preguiça, inconstância e imprevidência que distinguem o espírito do delinqüente. Em suma, para LOMBROSO, o delinqüente nato como parto da natureza ou o efeito de um arranjo molecular qualquer é um fracasso da espécie humana e nada pode ser feito para corrigi-lo. Sua ação é movida por um legado orgânico sobre cuja força não tem controle e não pode resistir. Além disso, diante do crime que comete mostra, no geral, completa indiferença. Isso permite que se reconheçam nele índices extremos de insensibilidade afetiva e moral. O que fazer para reprimi-lo? A solução que 280 Ibid., p. 244. O homem criminoso, p. 316. 282 Ibid., p. 318. 281 114 LOMBROSO oferece para o problema é direta: “... detenção perpétua em uma prisão que teria outro nome”.283 Para tanto é dispensável a pesquisa da culpa e seus graus a fim de fixar a responsabilidade, pois, afinal, no delinqüente nato a culpa é nenhuma como nenhuma também é a responsabilidade. 5.2. O tipo sociológico. Numa linha parecida com a de LOMBROSO, mas não necessariamente idêntica, FERRI investe muito pouco na busca de uma resposta para saber o que é o crime, definindo-o. Sob o aspecto jurídico, assinala que é sem valor a tarefa de oferecer uma “definição legal dos atos humanos”284 considerados criminosos e de modo lacônico concede apenas em reconhecê-los como algo que constitui “violação da lei penal”;285 sob o aspecto natural, também não sente necessidade de uma tal definição, mas, tendo em vista que considerou “positiva e completa” a fórmula de BERENINI para definir o delito natural,286 acabou de algum modo assumindo-a como sua, pois nela estão contemplados alguns elementos ou contribuições de que é o autor. Disso resultou a definição FERRI-BERENINI para o delito natural: “São ações puníveis (crimes) as determinadas por móbeis individuais (egoístas) e anti-sociais, que perturbam as condições de vida e vão de encontro à moralidade média de um dado povo num dado momento”.287 Por outro lado, o que aproxima FERRI de LOMBROSO é que aquele segue a tradição inaugurada por este de submeter o tema do crime à observação dos caracteres do sujeito de que é o resultado.288 Para FERRI, o 283 P. XIII. Enrico FERRI, La Sociologie Criminelle, p. 84. 285 Idem, Princípios de Direito Criminal, p. 355. 286 Cf. idem, La Sociologie Criminelle, p. 90. 287 Idem, Princípios de Direito Criminal, p. 353. 288 No seu livro Princípios de direito criminal (p. 93s), FERRI faz a seguinte confissão: “Nos primeiros anos da minha vida científica, obriguei-me a fazer antropologia criminal, examinando, um por um, mais de 700 presos e confrontando-os com cerca de 300 loucos, como anormais diferentes dos delinqüentes e com mais de 700 soldados, como tipos normais da respectiva província e fiz psicologia e psicopatologia criminal, notando os dados psicológicos nos 700 presos e resumindo algumas centenas de pareceres sobre 284 115 objeto da lei penal é duplo. Não se trata apenas de percebê-lo na perspectiva da ação proibida, mas de quem a pratica. O crime é a ação proibida; o delinqüente é quem a pratica. Os dois, crime e delinqüente, são os “... objetos inseparáveis da lei penal”.289 Embora inseparáveis − pois, afinal, é impróprio destacar o crime do sujeito que lhe dá causa −, no pensamento de FERRI, o foco da ciência criminal sofre um deslocamento: ao invés do estudo concentrado das relações jurídicas implicadas a partir da infração penal e da atenção secundária atribuída a seu autor (sempre tratado pelos clássicos, segundo FERRI, “... na penumbra de suas sistematizações jurídicas como uma figura simbólica”290 ou como um tipo humano normal), a concentração agora é no protagonista número um da justiça penal: o delinqüente. Este é menos o inimigo, o fora da lei, o extraviado (embora “tendo ‘normalidade de consciência e de vontade’ ou ‘capacidade de entender e de querer’” 291 ) e mais o degenerado, o doente, o anormal (em quem não se nega a vontade, nem mesmo a consciência, mas uma e outra sempre se manifestam sob o jugo de um quadro psíquico ou social marcado pela anormalidade, assim entendido porque nele predominam ora o impulso fisiopsíquico, ora as condições do ambiente, consideradas respectivamente causas endógena e exógena do crime). Seja anormal ou alguém que age sob condições anormais, o delinqüente é induzido ao crime não porque é livre, mas porque não pode “agir de outra forma”,292 vale dizer, é incapaz de “resistir aos impulsos, pelo menos no momento do fato”.293 É nesse ponto que nasce o conceito de periculosidade, sempre associado a um homem cuja conduta criminal é determinada por forças que não pode controlar. delinqüentes loucos: e fiz estatística criminal, resumindo e analisando os 52 volumes de estatísticas criminais francesas”. 289 Ibid., p. 143. 290 Enrico FERRI, Princípios de Direito Criminal, p. 141. 291 Ibid., p. 250. 292 Ibid., p. 250. 293 Ibid., p. 227. 116 Como conseqüência dessas observações, FERRI estabelece as bases de uma nova concepção de responsabilidade aplicada ao direito penal, que, deixa de ser moral para ser social ou legal. Para tanto, a culpa moral e, com ela, a imputabilidade é desconstruída (“... o Estado − e por isso o juiz, nascido de mulher − não tem possibilidade de medir a culpa moral (...) de uma criatura humana”294). Seu lugar é ocupado pela idéia que FERRI resume assim: “O homem é sempre responsável de todo o seu ato, somente porque e até que vive em sociedade”. Isso significa que “qualquer que seja a condição psíquica da (...) pessoa ao praticar o crime”295 será sempre responsável “... desde que o ato seja seu, isto é, expressão da sua personalidade”.296 Sendo suficiente viver em sociedade e, nela, praticar o crime como coisa sua para configurar um quadro de responsabilidade penal, resta saber qual a função jurídica da periculosidade. Esta função, esclarece FERRI, “não é de justificar a responsabilidade penal do delinqüente”, mas em “... fazer adaptar – na lei, na sentença, na execução – a sanção repressiva à personalidade do delinqüente em razão do crime cometido e em vista de sua readaptabilidade à vida livre”.297 5.3. O tipo psicológico. O conceito de delito recuperou com GAROFALO o lugar de destaque que perdera com LOMBROSO e FERRI. GAROFALO considerava um erro dos naturalistas, em geral, falar do delinqüente sem antes explicar o que entendiam por delito: “Só quando o naturalista – diz ele – souber dizer-nos o que entende por delicto é que nós poderemos saber quem são os delinqüentes”.298 Na busca de seu conceito de delito, formula o problema central: “Existirá o delicto natural ou, o que vale o mesmo, haverá um certo número de actos que a consciência popular 294 Ibid., p. 231. Ibid., p. 221. 296 Ibid., p. 230. 297 Ibid., p. 287. 298 GAROFALO, Criminologia, p. 26. 295 117 em determinadas condições considere sempre criminosos?”.299 Para solucioná-lo, esclarece que o ponto não é saber se todos os atos que a sociedade de seu tempo considera criminosos “tiveram ou deixaram de ter em todos os tempos e em todos os logares a mesma significação”, mas, “... saber se, entre os delictos previstos pelas nossa leis actuaes, há alguns que em todos os tempos e logares fossem considerados puníveis”.300 A rigor, não é possível, segundo GAROFALO, chegar à noção de delito natural, naquilo que tem de vinculado com a consciência pública e não com a consciência jurídica (cujos juízos são sempre dependentes das leis positivas), pela pesquisa de atos criminosos puníveis, assim reconhecidos universalmente; mas é possível fazê-lo, se, ao invés dos atos, em seu lugar for feita a análise dos sentimentos. É que, no conceito de delito, “apparece sempre a lesão de um d’aqueles sentimentos mais profundamente radicados no espírito humano”301 e que podem ser considerados “... definitivamente adquiridos pela parte civilizada da humanidade...”.302 São os sentimentos, ora de piedade, ora de probidade, constitutivos da medida média do senso moral e cuja nota característica é o altruísmo. A aversão às ações cruéis e a recusa em provocar a dor nos outros, isto é, nos semelhantes, revelam o sentimento de piedade; o respeito pela propriedade alheia revela o sentimento de probidade. De tudo isso resulta que o delito natural ... é a offensa feita á parte do senso moral formado pelos sentimentos altruistas de piedade e de probidade ― não, bem entendido, á parte superior e mais delicada d’este sentimento, mas á mais commum, á que se considera patrimonio moral indispensavel de todos os individuos em 303 sociedade. Essa offensa é precisamente o que nós chamaremos delicto natural. Como conseqüência dessa concepção de delito, o delinqüente de GAROFALO é diferente daquele projetado por LOMBROSO e FERRI. Ele agora 299 Ibid. Ibid., p. 27. 301 GAROFALO, Criminologia p. 28. 302 Ibid., p. 32. 303 Ibid., p. 59. 300 118 se revela ou age (sempre), não mais sob o predomínio de específicas características anatômicas ou determinações sociais e do ambiente físico, mas como expressão de uma anomalia psicológica (no geral herdada) que não se confunde, a rigor, seja com estados mórbidos, seja com a loucura moral, nada tendo, portanto, de doentia ou patológica. Mas a diferença de que se trata consiste apenas no tratamento dominante que GAROFALO confere à questão psicológica. Isso, contudo, não significa exclusão das contribuições antropológica e sociológica. Com efeito, GAROFALO tem o ponto de vista, justificado ora na observação pessoal, ora nos dados da estatística, que o delinqüente em geral ostenta sinais físicos que o tornam portador de uma fisionomia especial e a cujo respeito a ciência não pode ficar indiferente: Se é verdade que certos caracteres se observam nos malfeitores mais frequentemente que nos outros indivíduos, tal facto deve necessariamente ter uma significação, porque seria 304 antiscientífico attribuir a mera accidentalidade àquillo que constantemente se repete. Apesar disso, seu delinqüente típico não se distingue por uma anatomia deformada, fora de lugar, teratológica. Nele, o que há de teratológico, fora de lugar, deformado é o caráter, o senso moral, incapaz de se orientar pelos sentimentos de piedade e probidade. Por outro lado, GAROFALO também não exclui (pelo menos totalmente) os fatores sociais e do ambiente físico na origem do crime. Mas não são eles que o determina; no máximo giram em torno do crime como contexto, circunstância, ocasião: “[o crime] está sempre no indivíduo”305 e não fora dele. Nesse sentido, “o verdadeiro factor do delito deve procurarse no modo de ser especial do indivíduo, que a natureza creou delinqüente”.306 304 GAROFALO, Criminologia, p. 96. Ibid. 123. 306 Ibid. 123. 305 119 A idéia do delinqüente como obra da natureza põe em xeque, segundo GAROFALO, a ilusão socialista, reformista e correcionalista. Assim, nem o crime tem como causa a desigualdade econômica, nem as reformas sociais do legislador são suficientes para extingui-lo, nem a educação é capaz de corrigir seu autor. Como conseqüência disso, não se trata de transformar a economia, o ambiente social ou, ainda, os delinqüentes e, sim, de “eliminar esses últimos”.307 A eliminação que GAROFALO postula aponta em duas direções: uma absoluta; outra, relativa. A absoluta consiste na repressão pela morte do delinqüente e a relativa pela deportação. Mas nem todo crime implica na necessidade de eliminação do delinqüente. Nesse caso, basta a coerção reparadora308 representada por uma indenização material e moral dos danos causados à vítima e à sociedade. De todo modo, qualquer que seja o mecanismo da resposta penal é dispensável o uso de inspeções para medir o grau de culpa do malfeitor. Acerca dele basta que se tome em conta se é temível ou não. Mas a apreensão do delito como fenômeno ligado à ordem dos fatos e, nesse sentido, sujeito à observação foi de extensão limitada no tempo. LOMBROSO, FERRI e GAROFALO perdem a hegemonia no pensamento penal e seus titulares agora são outros. A ironia naturalista (já referida),309 segundo a qual os clássicos estudavam o crime sem estudar o culpado, é substituída e parafraseada pela ironia neoclássica, segundo a qual o fracasso é o que alcança quem chegar “... a um direito penal... sem direito!”.310 Isso abre caminho para a construção de um conceito de delito que toma em consideração não apenas a lei, mas o direito penal como um todo. 307 Ibid., p. 224. GAROFALO, Criminologia, p. 276. 309 Cf. supra, p. 105. 310 Arturo ROCCO, El problema y el método de la ciencia del Derecho Penal, p. 6 308 120 6. Conceito analítico. Com efeito, o discurso penal fundado na idéia de um delinqüente sempre subordinado à necessidade ou a um destino antropológico, sociológico ou psicológico foi interrompido e, na seqüência (sobretudo no início da primeira metade do século XX), recupera a idéia de liberdade para nela ou a partir dela se justificar. Nesse instante o crime deixa de ser o efeito de uma vontade determinada ou submetida pela força da anatomia, do ambiente e dos instintos para ser (novamente) obra da consciência e de uma vontade livre. A responsabilidade subjetiva recupera seu lugar e, assim, o crime reaparece como expressão da conduta de um indivíduo (sujeito) senhor de suas iniciativas. Por outro lado, o declínio da responsabilidade objetiva e a ascensão renovada da responsabilidade subjetiva correspondem ao enfraquecimento e revitalização de duas idéias. Desse modo, torna-se fraca a idéia de um infrator que atua sob a força de um destino inexorável, cego e diante do qual não resta à lei penal senão o conformismo, a resignação e o ceticismo quanto às possibilidades de reconhecê-lo como dono de si, senhor de suas iniciativas ou como suscetível a qualquer transformação se lhe for aplicada uma pena; paralelamente, torna-se forte a idéia de que o infrator é um homem livre, movido por uma energia interna a que a lei penal ora dá o nome de motivos, ora de intenção, ora de consciência, ora de vontade e, por isso mesmo, capaz de orientar sua conduta conforme a norma ou, se não o fizer, de ser submetido a uma pedagogia transformadora (prevenção especial) mediante a aplicação da pena. Nesse sentido, a subjetivação da conduta criminal torna-se a característica central de qualquer que seja a teoria do delito sob cujo paradigma o pensamento penal passou a desenvolver suas reflexões, não importa se causal, finalista ou social da ação. A implicação disso na noção de delito passou por uma reelaboração (= redefinição) que toma como ponto de partida não mais o delinqüente, mas a ação que pratica considerada nos seus nos aspectos externo e interno. 121 É assim que a ação praticada pelo infrator (comissiva ou omissiva), agora separada de uma causalidade objetiva que não controla e passando a ser associada a uma causalidade subjetiva que é capaz de controlar, para ser reconhecida pelo direito penal como delito, depende de ser mediada pelos elementos da tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Isso implica na concepção de delito como ação típica, ilícita e culpável. Na base desse tripé conceitual, cuja nota prévia é constituída pela ação, o indivíduo volta a ocupar seu posto diante do direito penal, tal como se projetara no início dos tempos modernos. Dessa forma, o homem é reinvestido no papel de sujeito do direito penal, pois, como ser moral e capaz de culpa, torna-se responsável, se e quando cometer o injusto. É assim que a configuração do delito exibe agora uma plástica interna que em nada se confunde com perversões e anomalias morais, sejam aquelas explicadas segundo particulares conformações anatômicas e psíquicas ou as que têm como causa, genéricas determinações externas. Além disso, tudo na nova concepção de delito difere das concepções precedentes. É que, ao dispensar a lei (ao contrário do que fez o conceito formal) e o delinqüente (ao contrário do conceito substancial) como referências, coloca em seu lugar estágios escalonados de conduta que, juntos, conferem ao delito unidade, significação jurídica e sistema. A unidade é garantida pela circunstância de que o delito é uma totalidade que exclui ser reconhecido pelo exame isolado ou separado de qualquer que seja o estágio em que se sustenta; a significação jurídica aparece pela relação que todos os estágios do delito, embora exprimam uma construção dogmática, têm com a lei penal; o sistema decorre da ordem lógica na qual são distribuídos aqueles estágios, permitindo subsumir em cada um deles os fatos, sob o aspecto objetivo ou subjetivo. É nesse ponto, onde o delito é concebido como um sistema logicamente ordenado, que o pensamento penal teve a pretensão de reforçar 122 a garantia de segurança prometida ao indivíduo já formulada no princípio da legalidade penal. Como isso se deu? A segurança cuja promessa o nullum crimen, nulla poena sine lege exprime, se articula no conceito de delito ali onde toma em conta cada uma de suas etapas, de modo que à ação corresponde o nullum crimen, nulla poena sine actio; ao tipo corresponde o nullum crimen sine tipo; à ilicitude corresponde o nullum crimen sine inúria; à culpabilidade corresponde o nullum crimen sine culpa. Ação, tipo, ilicitude e culpabilidade como etapas do delito passam por um escrutínio no qual se apura a configuração ou não das esferas externa e interna de cada uma. Mas não interessa aqui o exame do delito sob seu aspecto externo, e sim o interno. Com efeito, o percurso que leva da ação à culpabilidade, constitutivo da responsabilidade penal do sujeito, é pavimentado por um estoque de disposições anímicas, cuja pesquisa permite o levantamento do mapa interior da conduta humana. Trata-se de uma cartografia onde pontos como consciência, vontade, previsão, motivos, intenção, etc. constituem o roteiro para justificar a decisão que pune (em qualquer medida) ou inocenta, sob o ponto de vista do direito material. 6.1. O sistema causal. Dir-se-á, contudo, que não é bem assim; que no sistema do delito formulado pela teoria causal, particularmente com LISZT e BELING, os estágios correspondentes ao injusto, isto é, na ação, tipicidade e ilicitude não estão contempladas as disposições anímicas do agente e que elas, todas, estariam distribuídas e alojadas no setor da culpabilidade. Esta é uma objeção que implica dificuldades e da qual ninguém discorda totalmente. Convém assinalar, no entanto, que, embora limitadamente, a vontade tem articulações claras com o estágio da ação no sistema LISZT-BELING, pois, mesmo que sustentada apenas por um impulso muscular e desligada de qualquer fim (cujo exame dá-se no setor da culpabilidade), é dominável e, por esse aspecto, sujeita ao controle do 123 agente. De qualquer modo, a dificuldade permanece. É que tal controle se processa não na esfera interna, psicológica, mas na externa, física, afinal a voluntariedade não passa de uma enervação. Aqui, então, é melhor recorrer a um desvio para o qual JUAREZ TAVARES chamou a atenção, assinalando que o sistema causal sofreu modificações na composição de seus elementos originais.311 Assim, um causalista como MEZGER que substitui o uso da palavra “delito” pelo da expressão fato punível tem o ponto de vista de que este contém “... necessariamente relações objetivas e subjetivas”.312 Desse contraste, isto é, da oposição entre o objetivo e o subjetivo, nasceu a discussão própria da teoria do delito acerca de saber − acrescenta MEZGER − “... se o direito penal deve ser ‘direito penal de resultado’ ou ‘direito penal da vontade’; se existe uma ‘antijuridicidade objetiva’ ou um ‘injusto pessoal’; se a não exigibilidade ‘subjetiva’ exclui a culpabilidade...”.313 Enfim, “todo fato punível apresenta um aspecto concreto (objetivo) e pessoal (subjetivo)”.314 Sob esse aspecto então, para MEZGER, a subjetivação do fato punível penetra tanto nas formas gerais de sua estrutura, a saber: na ação, antijuridicidade e culpabilidade, como nas suas formas especiais, isto é, na tentativa e no concurso de pessoas. No primeiro caso e diferentemente de BELING, para quem a vontade ou voluntariedade na ação era apenas uma enervação muscular,315 ou de LISZT, que, mesmo considerando-a determinada por idéias e representações, não deixa de assumi-la como mera tensão ou contração muscular,316 MEZGER examinava uma ação que tinha por fundamento interno a vontade como ato psíquico, de tal modo que nela não há nada de cego, ao contrário “toda ação é uma 311 Cf. Teorias do delito: variações e tendências, p. 35 ss. Derecho Penal: parte general, p. 78. 313 Ibid., p. 79. 314 Ibid. 315 Esquema de Derecho Penal, p. 19 s. 316 Cf. Tratado de direito penal alemão, tomo 1, p. 221s. 312 124 conduta conduzida por uma vontade, por isso, necessariamente, é uma conduta dirigida a um fim, a uma meta”.317 De qualquer modo, MEZGER atribui a seu conceito de ação um caráter neutro.318 Isso significa que, embora a partir dela se torne possível saber o que quis e a que se propôs o autor,319 nessa etapa fica excluída qualquer apreciação normativa. Esta deve ser efetivada no setor do injusto (antijuridicidade) ou da culpabilidade.320 Ademais, se, de um lado, a vontade constitui a face interna da ação, de outro, o injusto exibe uma face interna que contempla elementos subjetivos, acentuadamente nos delitos de intenção, de tendência e de expressão.321 Mas os elementos subjetivos, além de fundamentar o injusto, também estão presentes nas causas de sua exclusão. São exemplos disso o consentimento [do ofendido] e a legítima defesa. No consentimento, que, de resto, resulta da manifestação da vontade, exclui-se a antijuridicidade em situações específicas de lesão corporal (salvo quando forem contra os bons costumes, de tal modo que “uma lesão corporal causada, por exemplo, com fins sádicos é punível, apesar de consentida”322), o que analogamente pode ser aplicado em casos, por exemplo, de adultério e de crimes contra o patrimônio. Na legítima defesa, igualmente, a vontade é exigida como causa de justificação. Já a culpabilidade (que em MEZGER é normativa e não psicológica como se dava com LISZT-BELING) é repleta de elementos subjetivos. Estes se articulam em cada uma de suas características, isto é, na imputabilidade, nas formas em que se apresenta (seja no dolo, seja na culpa) e nas causas que a excluem.323 O elemento subjetivo da imputabilidade consiste na normalidade das “... circunstâncias internas e da personalidade do autor,” 317 Derecho Penal: parte general, p. 88. Cf. ibid., p. 89. 319 Cf. ibid., p. 88. 320 Cf. ibid., p. 89. 321 Cf. ibid., p. 136. 322 Derecho Penal: parte general, p. 164. 323 Cf . ibid., p. 199. 318 125 permitindo que este possa “... compreender a ilicitude do fato e agir segundo essa compreensão”;324 das formas de culpabilidade consiste no conhecimento e na vontade do fato no caso do dolo, bem como da previsibilidade no caso da culpa, isto é, o autor ali onde desatende o dever de precaução não prevê as conseqüências do fato (culpa inconsciente) ou prevê tais conseqüências mas confia em que não se produzam (culpa consciente);325 o elemento subjetivo das causas de exclusão de culpabilidade é identificado em pelo menos duas delas, vale dizer, na situação de coação [coação irresistível] e no estado de necessidade. A vontade é o que está em jogo nos dois casos. Assim, trata-se de uma vontade incapaz de resistir à força (vis compulsiva) para o caso da coação,326 e de uma vontade que sempre é exigida no estado de necessidade, pois, sem ela, sem a atitude subjetiva de quem age para se salvar de perigo, a exculpante não se configura.327 6.2.O sistema finalista. Também com a teoria finalista, assinada na ALEMANHA por WELZEL, MAURACH, STRATENWERTH, etc., e no BRASIL, entre outros, por FRAGOSO, TOLEDO, MESTIERE, sendo, de resto, adotada (embora não exclusivamente) pelo código penal de 1984, a subjetivação do injusto culpável é levada em conta e penetra em todos os estágios do sistema, mesmo (em alguma medida) na culpabilidade. Mas há diferença. Ela consiste no tratamento que alterou a distribuição dos elementos anímicos e, portanto, a composição de cada um dos escalões que formam o delito. Essa alteração terá sido radical ou moderada quando se tem em vista as duas versões do causalismo, a saber, a clássica (com LISZT e BELING) e a neoclássica (com MEZGER). Se a referência for a versão clássica, as alterações processadas pela teoria finalista foram radicais. É que a ênfase 324 Ibid., p. 218. Cf. ibid., p. 257. 326 Cf. Derecho Penal: parte general, p. 264. 327 Cf. ibid., p. 270 325 126 conferida às particularidades internas do delito desloca-se da culpabilidade para os setores da ação (onde a vontade renuncia à cegueira e passa a ser, além de consciente, final) e do tipo (agora enriquecido pelo dolo e culpa no sentido estrito). Se a referência, no entanto, for a versão neoclássica as alterações foram moderadas. A explicação disso está em que os neoclássicos já tinham processado alterações no causalismo clássico a partir de algumas descobertas, por exemplo, a introdução na ação da idéia de uma vontade consciente (embora sem conteúdo) e no tipo de alguns elementos subjetivos especiais. Restou ao finalismo acrescentar na ação a finalidade (como expressão de uma vontade dotada de conteúdo, pois, ali onde esta antecipa as conseqüências é capaz de configurar “... objetivamente o acontecer externo”),328 e no tipo, o dolo (como expressão da consciência e da vontade) e a culpa (como expressão da quebra do dever de cuidado). O ponto de partida de tudo isso se esclarece no processo em que se deu a substituição do paradigma causal e suas articulações (na origem) com as ciências naturais329 e (depois) com o neokantismo pelo paradigma finalista. O paradigma para a ação que o finalismo constrói é de base fenomenológica. Isso significa que a conduta humana é tomada como fenômeno real, observável, cuja estrutura é descrita a partir de elementos que muito pouco se confundem com aquele impulso cego, sem rumo, direção ou plano (descoberto pela reflexão causal) capaz de alterar a realidade. Nesse sentido, ela (a ação final) é recolhida do mundo do ser e apresentada como se tivesse uma essência, uma natureza particular que o mundo do dever–ser (portanto, do direito penal) toma em consideração: “A estrutura final da ação humana é necessariamente constitutiva para as 328 329 WELZEL, Derecho Penal Aleman, p. 54. Sob esse aspecto ver BAUMANN, Derecho Penal, p. 107. 127 normas de direito penal”.330 A essência da ação é retratada pela idéia de que o fim, o objetivo, a meta constituem aquilo que a orienta. Em outras palavras, o homem dirige sua atividade conforme um rumo, uma direção, um plano. Por isso mesmo, “a atividade final é um fazer orientado conscientemente a partir de um fim”.331 Ao lado da vontade final (na ação) e do dolo e culpa (no tipo), aparece a idéia da orientação de ânimo como elemento subjetivo da ilicitude, embora alojada no setor das excludentes, isto é, nas causas que justificam o delito ou tipos permissivos. (Note-se, contudo, que mesmo na definição de ilicitude, pelo menos naquela proposta por FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO, a presença do elemento subjetivo é considerada, ainda que de alguma forma tomado de empréstimo do setor da ação: “ilicitude é a relação de antagonismo que se estabelece entre uma conduta humana voluntária e o ordenamento jurídico, de modo a causar lesão ou expor ao perigo de lesão um bem jurídico tutelado”.332 Como se vê, TOLEDO recorre na primeira parte de sua definição de ilicitude à conduta humana voluntária como aquilo que, contrariando o direito, revelalhe a essência.) É assim que, por exemplo, no estado de necessidade “o fato necessário deve ser praticado com o intuito de salvar o bem em perigo”333 e na legítima defesa “a orientação de ânimo do agente [é] no sentido de praticar atos defensivos”.334 Por último, a culpabilidade. A idéia geral é a de que, no finalismo, a culpabilidade não passa de um juízo de valor que se apresenta como censura ou reprovação contra o sujeito que podia agir de outro modo (mas, ao invés, pratica a ação proibida ou omite a ordenada) e, como tal, representa um escalão lógico–objetivo do delito imune a qualquer subjetivação. Tratar-se-ia de um setor vazio do injusto. É como se um deslocamento radical tivesse sido processado: no injusto, todas as 330 Hans WELZEL, Derecho Penal Aleman, p. 59. Ibid., p. 53. 332 Princípios básicos de direito penal, p. 163. 333 Ibid., p. 188. 334 Ibid., p. 193. 331 128 disposições anímicas; na culpabilidade, nenhuma. A rigor, se tomada isoladamente a culpabilidade parece despsicologizada no finalismo;335 se tomada, contudo, nas conexões inevitáveis com seus elementos, vale dizer, a imputabilidade, a consciência potencial da ilicitude, a exigibilidade de conduta diversa, bem como com as causas de sua exclusão, não é bem assim. Cada um desses elementos e assim cada uma das causas de exclusão sempre se reconduzem a processos internos do agente. Nesse sentido, a imputabilidade é a característica que acompanha todo aquele que é capaz de internalizar a norma e faz dela o motivo de sua ação. Isso implica que se reconhece no agente aptidão para tomar a norma como referência, pelo que entende o caráter ilícito de sua conduta e, apesar disso, quer se conduzir assim. Por seu turno, a consciência potencial da ilicitude somente pode ser portada ou atribuída àquele que é capaz de processar representações valorativas da sua conduta em confronto com as determinações normativas ou nas palavras de WELZEL: “o autor tem que poder ser consciente da contradição de sua conduta com a ordem da comunidade...”.336 Finalmente, a exigência de conduta conforme a norma somente pode ser feita àquele que se encontra envolvido num quadro de normal motivação e, por isso mesmo, imune à perturbação de sua vontade. Internalizar a norma, processar representações e o estado de normal motivação são disposições anímicas próprias de quem atua, mas ali onde cada uma delas está referida a cada um dos elementos da culpabilidade, a esta se refere também. 335 O uso da expressão “parece despsicologizada”, ao invés de “é despsicologizada”, põe em questão o caráter puramente normativo da culpabilidade. Isso se justifica porque mesmo WELZEL (Derecho penal, p. 221) não descarta do seu conceito de culpabilidade como reprovabilidade a idéia de vontade e, assim, as implicações desta como algo cuja sede é na psicologia do indivíduo. Pelo contrário, WELZEL compreende que a culpabilidade também é “... um fracasso da direção da vontade conforme um sentido...” de tal modo que se reprova no autor “...estruturação antijurídica da vontade...” quando podia “...construir sua vontade de ação conforme o direito...”. 336 Derecho Penal, p. 239. Reyes ECHANDÍA (Culpabilidad, p. 19), ao examinar a consciência da ilicitude como elemento da culpabilidade, critica o finalismo e considera que é falido seu propósito de alcançar um conceito puro de culpabilidade, pois não dá para fugir da natureza psicológica do fenômeno da consciência potencial da ilicitude, por conta de sua articulação com “a esfera cognitiva da personalidade”. 129 Se o entendimento (consciência) e o querer (vontade) sustentam os elementos da culpabilidade, sustentam também (embora em função dos defeitos que exibem) situações que permitem excluí-la; mais especificamente nos casos de inimputabilidade, erro de proibição inevitável e inexigibilidade de conduta diversa. Na inimputabilidade o agente carece de maturidade psíquica, seja por conta de perturbações mentais, seja por conta da idade; no erro de proibição inevitável o agente atua na suposição de que o que faz, ao invés de proibido, é permitido. Na verdade, age segundo “... falsa representação, senão também falta de representação acerca da antijuridicidade do fato”.337 Na inexigibilidade de conduta diversa o agente não consegue tomar a norma como motivo de sua ação em função, por exemplo, de estados emocionais gerados em situação de medo. Nesse caso, considera-se que o medo é um componente subjetivo capaz de afetar o estado psíquico de quem o sofre.338 Desse modo, embora a culpabilidade como conceito seja destacável de seus elementos e mais ainda das causas de sua exclusão, há uma relação tão estreita entre todos eles que torna possível sustentar que a culpabilidade no finalismo não é de todo vazia de conteúdos psicológicos. Isto, aliás, fica mais nítido quando se considera que mesmo o poder agir de outro modo como fundamento da culpabilidade traz encoberta a idéia de liberdade na formação da vontade. 6.3. O sistema social. Aqui a idéia de ação contempla contribuições das teorias causal e final e agrega a descoberta da relevância social. O caráter conciliador da nova teoria é assumido por WESSELS, para quem esta “não exclui, mas inclui os conceitos final e causal da ação”.339 Criticamente, entretanto, WESSELS tem o ponto de vista de que o 337 WELZEL, Derecho Penal, p. 233. MUNÕZ CONDE, Teoria general del delito, p. 51. 339 Direito Penal: parte geral, p. 22. 338 130 “fundamento puramente causal” fracassa, pois é incapaz de compreender o “... significado social e pessoal da atuação humana...”.340 Já a teoria final, embora analise “...de modo correto a estrutura da ação antecipada em pensamento”,341 é questionável quanto a seu alcance limitado e estreito. Nem sempre o homem antecipa “... em cada situação, primeiramente o objetivo de sua conduta, para depois conduzi-la planificadamente através de uma refletida mobilização dos fatores causais”.342 Pelo contrário, inexiste direção finalista na maioria dos casos: “são formas de conduta determinadas pelo subconsciente e omissões, nas quais falta (...) uma direção finalística do acontecer causal”343 É o caso, por exemplo, da “... mãe que permanece imóvel, em desconhecimento negligente-inconsciente da situação de perigo, e não impede que seu filho, em conseqüência de engano, tome um líquido mortal para satisfazer a sede”. Aí, “faltará a finalidade e não, porém, a relevância social da conduta”.344 Diante desses questionamentos, WESSELS formula seu conceito de ação como a “conduta socialmente relevante, dominada ou dominável pela vontade humana”.345 Este conceito de ação favorece a compreensão do “... sentido social do acontecimento (...) sob a consideração do fim subjetivo do autor e da expectativa de conduta da comunidade jurídica”.346 Se, na teoria social, a vontade revela a característica interna da ação, o tipo é revelado internamente, tal como se dá no finalismo, pelo dolo, como núcleo de sua parte subjetiva, “... frente ao qual, como negação, se situa, o erro de tipo”, e também pelos elementos subjetivos, os quais “permitem uma mais concreta caracterização da vontade típica de ação”.347 340 Ibid., p. 21. Ibid. 342 Ibid. 343 Ibid. 344 Ibid., p. 21. 345 Direito Penal: parte geral, p.22. 346 Ibid. 347 JESCHECK, Tratado de Derecho Penal, p. 246. 341 131 Distingue-os as notas da generalidade e especialidade. Assim, para JESCHECK, o dolo é o elemento subjetivo geral do tipo e, ao lado dele, aparecem, com freqüência, especiais elementos subjetivos do tipo, caracterizando “mais detalhadamente a vontade de ação do autor”.348 Embora situados no campo interno do autor, dolo e elemento subjetivos do tipo preservam sua autonomia. Com efeito, segundo WESSELS, o que assinala o dolo é a circunstância de que contém um elemento intelectivo e outro volitivo, bem como assinala os elementos subjetivos do tipo a circunstância de conter “uma representação especial do resultado ou do fim [que] deve ser acrescentada à ação típica executiva como ‘tendência interna transcendente’” sobretudo nos “delitos de intenção”.349 Parece, então, consistir nessa diferença a justificativa que WESSELS encontra para afirmar que os elementos subjetivos do tipo são “elementos de caráter próprio [e] se situam eles autonomamente ao lado do dolo do tipo (...)”. A face interna do delito também é contemplada na antijuridicidade pela teoria social. A justificativa disso resulta de duas observações: uma de JESCHECK; outra de WESSELS. JESCHECK, embora destaque a importância objetiva da antijuridicidade [magnitud objetiva],350 concede que a vontade está no núcleo desse conceito: “... a vontade de ação deve ser o núcleo da antijuridicidade de um fato, pois a vontade humana oposta ao ordenado pelo direito é a que vulnera o mandato ou a proibição contidos na norma”,351 pelo que o exame do fato antijurídico implica perguntar: “Que quis e o que realizou o autor?”352 WESSELS, na conexão que estabelece entre o setor das causas de justificação (cuja existência, aliás, segundo JESCHECK, permite formular negativamente a antijuridicidade, no sentido 348 Ibid, p. 284 s. Cf.P.34. 350 JESCHECK, Tratado de Derecho Penal, p. 220. 351 IIbid., p. 214. 352 Ibid., p. 220. 349 132 da exclusão desta por aquelas353) com os elementos subjetivos, conclui : “... como o tipo em sentido estrito constitui-se de elementos objetivos e subjetivos (...), o tipo permissivo compõe-se de elementos objetivos e subjetivos de justificação”,354 de tal modo que “... só atua ‘juridicamente’ quem, com fundamento no tipo permissivo, quer atuar juridicamente”.355 Sem embargo, é na culpabilidade que a teoria social confere ênfase especial às determinações subjetivas do delito. Ao contrário do finalismo, assume claramente o homem como “ser espiritual”, psicologizado, em cuja “estrutura estratificada da personalidade” − assinala JESCHECK − “concorrem forças corporais e psíquicas que intervêm no sentir, pensar, valorar, querer e atuar do homem”. Personalidade estratificada é aquela que possui duas camadas: uma camada profunda, inconsciente, e outra consciente. Aquela contém os impulsos, as atitudes anímicas básicas (herdadas ou adquiridas), os talentos, as aspirações; a outra contém o centro do eu, em que se “acha a instância de controle dos impulsos da camada profunda”.356 Dessa forma − assinala ainda JESCHECK −, “o juízo de culpabilidade está relacionado com a totalidade dos processos que intervêm na formação [deficiente] da vontade”.357 Trata-se, assim, na culpabilidade, de uma censura emitida contra “... uma pessoa de carne e osso”358 cuja “... atitude interna a respeito do direito encontra expressão em uma ação típica e antijurídica”,359 e nisto consiste seu objeto. O fundamento da culpabilidade, agora segundo WESSELS, descansa na liberdade e na consciência do indivíduo, em seu poder, “de se decidir livre e corretamente entre o direito e o injusto”.360 Assim, enquanto a liberdade, de um lado, 353 Cf. p. 223. WESSELS, Direito Penal, p. 62. 355 Ibid., p. 63. 356 Cf. WESSELS, Direito Penal, p. 374. 357 Ibid., p. 375. 358 Ibid., p. 364. 359 Ibid., p. 384. 360 Direito Penal, p. 83. 354 133 torna própria a atuação do indivíduo,361 a consciência o capacita, de outro, para distinguir, valorar, enfim, perceber os conceitos valorativos e julgar as ações próprias.362 6.4. Segurança e Interioridade. Como se vê, todos os escalões dos diversos sistemas de delito contemplam, grosso modo, as disposições internas do agente. Isso implica conseqüências, tendo em vista especialmente a segurança do indivíduo. A justificação para esse ponto de vista concentra-se naquele ponto onde o direito penal reconhece amplamente o estado anímico do sujeito no resultado a que deu causa, fazendo disso um requisito sem cuja configuração o delito não se aperfeiçoa, favorecendo a liberdade como expectativa que pode ser garantida. É o que ocorre pela aplicação de procedimentos negativos que permitem concluir pela inexistência de ação, em que é impossível articular a esfera interna do agente com o sucesso (= evento) externo, concretamente nos casos de atuação inconsciente, vis absoluta e movimentos reflexos (ninguém executa uma ação no sentido do direito penal movido apenas por determinações externas); pela inexistência de tipicidade nas situações em que dolo e culpa, bem como os elementos subjetivos do tipo, não são reconhecidos (ninguém consegue aperfeiçoar e assim fazer reconhecer uma ação típica sem ajustá-la às características [inclusive subjetivas] do tipo legal); pela inexistência de ilicitude nas situações em que a conduta proibida é autorizada por tipos permissivos que contemplam a vontade de uma atuação lícita (ninguém atua ilicitamente se é movido por uma vontade que confirma a vigência da norma); pela inexistência de culpabilidade quando é impraticável fazer da norma o motivo da conduta humana (ninguém tem como motivar corretamente sua conduta ao se encontrar 361 362 JESCHECK, Tratado de Derecho Penal, p. 371. Ibid., p. 372. 134 desfalcado nos âmbitos cognitivo [falta consciência do injusto] e volitivo [falta vontade livre]). A experiência jurídica tem revelado, no entanto, situações para as quais o sistema do delito, apesar de seu alto grau de racionalidade, não oferece saídas adequadas. Dito de outro modo, para casos-padrão a racionalidade do sistema do delito parece responder bem às expectativas de sua solução (e assim, de algum modo, garantir a segurança jurídica). Não é bem assim, contudo, para casos-limite. Isso se verifica, mais particularmente, quando o exame da situação de fato já tenha percorrido as etapas da ação, tipicidade e ilicitude, reconhecendo a configuração de cada uma delas, mas, na seqüência, ao avançar para a culpabilidade, reconhece o caráter impróprio da aplicação de um juízo de censura e, por oposição, o caráter apropriado de um juízo exculpante. Nesse ponto, contudo, aparece uma dificuldade. Ela tem origem no reconhecimento de que juízos exculpantes são montados, em geral, com base na subjetivação do delito ou, em outros termos, tomando-se em conta o coeficiente psíquico do agente, sua esfera interior, sua subjetividade, enfim. É o caso do juízo conectado com o erro de proibição inevitável (onde falta consciência); com a coação irresistível (onde falta vontade). Sem consciência, ninguém se orienta; sem vontade (livre), ninguém se autodetermina. Logo, aí é impossível uma atitude motivada pela norma, seja porque seu significado escapa do conhecimento, seja porque não há liberdade para escolhê-la. Neutralizado na sua aptidão para se conduzir tendo a norma como motivo, o agente fica imunizado contra seus efeitos penais, pelo que é declarado impune. Ocorre que as exculpantes penais, embora projetadas para alcançar situações nas quais não dá para exigir do ser humano comportamento diverso, mostraram-se insuficientes ou impróprias para a solução de casos 135 que escapam da normalidade [= casos-padrão] e se aproximam da exceção [= casos-limite], instaurando, assim, um quadro de lacunas. (Aqui as lacunas são axiológicas, isto é praeter legem, entendidas no sentido de expectativas do intérprete ou aplicador da lei quanto a soluções para as quais o sistema penal não dá respostas.363) Dito de outro modo, as exculpantes legalmente previstas são estruturadas de tal forma que não permitem deduzir todas as conseqüências de um cenário de fato em que o indivíduo atua sob o regime de circunstâncias nas quais sua subjetividade não pode ser inspirada na norma. Sob esse aspecto, então, insinua-se o malogro da razão penal, tendo em vista sua promessa de segurança para o indivíduo nas suas expectativas de justiça. Tem muito de aparente, no entanto, esse malogro. Afinal, existem dois caminhos para contornar lacunas ou insuficiências normativas. O primeiro consiste no uso da analogia (in bonam partem). O alcance dela, contudo, é limitado. (Aqui ainda não é o lugar para desenvolver esse ponto.) O segundo consiste no uso da inexigibilidade de conduta diversa. A vantagem, nesse caso, deriva de seu alcance mais abrangente. Isso se explica pela posição que ocupa de princípio geral que fundamenta cada uma das exculpantes. Assim, a inexigibilidade de conduta diversa, transformada pela razão jurídica num ponto de vista extraído do próprio direito penal (esse tema será abordado adiante), pode e tem sido o meio adequado para o suprimento daquelas lacunas. Surge aqui, então, um problema. Ele consiste em que a inexigibilidade de conduta diversa não se constitui como regra (stricto sensu), ou seja, não possui a qualidade de uma exculpante legal. Ocorre que o juiz, na sua atividade, costuma em geral fazer da regra guia de sua decisão. Como surgiu, então, a idéia que tornou possível em casos excepcionais [= casos-limite ou de exceção] tomar a inexigibilidade de 363 Para exame detalhado do sentido das três espécies tradicionais de lacunas, vale dizer, lacunas intra legem, praeter legem, contra legem, ver PERELMAN (Lógica jurídica, p. 66 s). 136 conduta diversa em conta e transformá-la na razão que fundamenta a solução do caso concreto? 137 Capítulo VI A inexigibilidade como problema 1. Os antigos e a descoberta dos limites da resistência humana. A idéia de que a inexigibilidade de conduta diversa constitui um tema moderno é consensual; ninguém a refuta se referida ao direito penal. Se, no entanto, for referida ao pensamento em geral, remonta aos antigos a questão de saber o que é exigível ou não do indivíduo para censura e punição de suas ações. Com efeito, a expressão mesma inexigibilidade de conduta diversa era completamente estranha à Antigüidade, mas seu conteúdo, próximo (no geral) das formulações modernas, não. É o que parece evidente na Ética a Nicômacos, livro III, em que ARISTÓTELES discute o problema das ações que devem ser censuradas ou perdoadas. O propósito de sua reflexão é iluminar o tema da excelência moral, mas considera as distinções que elabora como úteis também “... aos legisladores com vistas à atribuição (...) e (...) aplicação de punições”.364 Ao dizer que 364 P.49. 138 “o homem é a origem de suas ações”,365 ARISTÓTELES fixa a premissa central de suas reflexões. Isso significa que as ações não têm outras origens (no destino, por exemplo) “... que não sejam as que estão dentro de nós mesmos”,366 de modo que “ações cujas origens estão em nós devem também depender de nós”,367 Nestas passagens e contra a lição dos mitos, não é mais o destino que decide sobre a responsabilidade dos homens e sim suas ações. Acontece que estas, segundo ARISTÓTELES, podem ser voluntárias e involuntárias. As ações voluntárias devem ser censuradas, enquanto as involuntárias devem ser perdoadas. Existem ações, no entanto, acerca das quais é discutível se são voluntárias ou não. Tais ações, conforme esclarece, são “... praticadas em conseqüência do medo de males maiores ou com vistas a algum objetivo elevado”.368 ARISTÓTELES dá como exemplo de ação movida pelo medo de mal maior o “lançamento ao mar da carga de uma nau durante uma tempestade (...) como condição para assegurar a própria salvação”,369 e de ação movida por objetivo elevado aquela em que “um tirano, tendo em seu poder os pais e filhos de uma pessoa, desse ordem a esta pessoa para praticar ação ignóbil, e se a prática de tal ação fosse a salvação dos reféns, que de outro modo seriam mortos”.370 Com efeito, ações assim “são mistas”, isto é, por um lado, voluntárias, “pois são objeto de uma escolha no momento de serem praticadas”,371 e, por outro, involuntárias, desde que “... consideradas de maneira global, pois ninguém escolheria qualquer destes atos por si mesmos”.372 Ainda, segundo ARISTÓTELES, ações ignóbeis implicam três reações: podem ser louvadas, censuradas ou perdoadas. Serão louvadas 365 Ibid., p. 55. Ética a Nicômacos, p. 57. 367 Ibid. 368 Ibid., p. 49. 369 Ibid. 370 Ibid. 371 Ibid. 372 Ibid., p. 50. 366 139 quando praticadas “em troca de algo importante e nobilitante”;373 censuradas, quando praticadas “sem nenhum objetivo nobilitante”;374 perdoadas, quando praticadas “sob pressões que violentam demais a natureza humana e que ninguém pode suportar”.375 No caso das ações que devem ser perdoadas, duas propriedades são comuns aos exemplos que ARISTÓTELES oferece: a. seu caráter voluntário e o fato de terem sido objeto de uma escolha, b. o medo “... como expectativa de um mal”376 e, assim, um sentimento a ser levado em conta para explicar seu caráter também involuntário, tornando-as, desse modo, objeto de perdão. Naturalmente, em b, aquilo que produz o medo, ou melhor, o que é temível varia e “não é a mesma coisa para todas as pessoas”,377 mas “... há coisas temíveis além da resistência humana”.378 Enfim, parece residir nisso, na idéia de alguma coisa que se localiza nos confins da “resistência humana”, decorrente de “pressões que ninguém pode suportar”, em que o indivíduo atua a um só tempo com e sem vontade, que ARISTÓTELES formulou o símile no pensamento antigo daquilo que os modernos penalistas chamam de inexigibilidade de conduta diversa. 2. Os modernos e a resistência humana como problema jurídico. Sem embargo, apenas a partir do final do século XIX, o tema da inexigibilidade de conduta diversa passou a constar da pauta de discussões que o direito penal moderno recortou como objeto de seu interesse. Tudo começou na ALEMANHA e com a necessidade de que fosse encontrada solução adequada para o problema que a lei penal ali apresentava e que consistia na falta de provisões normativas dotadas de aptidão para resolver casos específicos. Com isso, a prática e o pensamento penal mudaram o 373 Ibid. Ibid. 375 Ética a Nicômacos, p. 50. 376 Ibid., p. 60. 377 Ibid., p. 61. 378 Ibid. 374 140 campo no qual habitualmente focavam atenções. Tratava-se agora de erguer as vistas em direção a uma zona de fronteira, localizada além do tipicamente exculpável e, assim, distinta dos domínios limitados pelo texto da lei penal, onde fosse possível cravar posições ou novos pontos de referência que permitissem ao juiz se mover com mais desenvoltura na tomada de decisão. JIMÉNEZ DE ASÚA descreve dois casos levados ao Tribunal do império alemão e que são ilustrativos a esse respeito.379 O primeiro envolvia o proprietário de um cavalo perigoso e um trabalhador com função de cocheiro. Aquele determinou que este fosse com o animal até a cidade. O trabalhador, contudo, resistiu, ponderando que era previsível um acidente se o cavalo desembestasse. O proprietário reagiu com a ameaça de despedi-lo se não cumprisse a ordem. O trabalhador cedeu e, já na cidade, o animal desvencilhou-se das rédeas de quem o mantinha sob controle, causando lesões a um transeunte. O Tribunal rejeitou a imputação de conduta culposa e fundamentou a decisão no argumento de que não se podia exigir do trabalhador que perdesse seu emprego e seu pão, negandose a executar a ação perigosa. O segundo envolvia os trabalhadores e a parteira de um distrito mineiro na ALEMANHA. Tudo começou quando a empresa que explorava as minas prometeu: todo mineiro será dispensado do trabalho no dia do parto de sua mulher. O problema dessa promessa estava em que, se o parto ocorresse num domingo, o benefício não seria aplicável. Afinal, domingo é o dia no qual todos já são naturalmente dispensados de trabalhar. A solução que os trabalhadores encontraram consistiu em pressionar a parteira do distrito, ameaçando-a de destituí-la da posição se não anotasse no registro, caso o parto ocorresse num domingo, que o nascimento da criança se dera 379 Princípios de Derecho Penal: la lei y el delito, p. 410 s. 141 em dia de trabalho normal. A parteira sucumbiu às pressões e fez uma série de inscrições falsas no registro. O Tribunal decidiu que a parteira não era culpada da conduta dolosa que lhe fora imputada, e, também aqui, lançou mão da inexigibilidade de conduta diversa para sustentar a posição. Quebrava-se, desse modo, uma tradição e uma identidade. A tradição quebrada consistia na remoção da premissa-guia das decisões na área penal e cuja particularidade era anunciada na idéia de que o código continha as regras das quais juiz nenhum podia afastar-se e delas seriam sacados os fundamentos para a solução de todas as questões; enfim, a lei como fetiche estava desnuda e o efeito das limitações que exibia foi de desencanto. Já a quebra de identidade se deu ali onde passado mais de um século e meio o papel de juiz não mais se identificava com aquele que MONTESQUIEU e BECCARIA lhe atribuíram: um ser que não cria, interpreta ou pensa e que apenas reproduz a vontade da lei. Neste percurso, o legislador e o pensamento jurídico conferiram ao juiz outro papel, cuja marca é o da atuação criadora, transformando-o num ser pensante e capaz de manter um diálogo fecundo com a lei, não apenas mediante a interpretação do seu sentido (pelo uso, por exemplo, de acordo com o modelo proposto por SAVIGNY [já na primeira metade do século XIX] dos métodos lógico, gramatical e histórico380), mas, sobretudo, pela descoberta de saídas sempre impostas pela necessidade (decorrente, por exemplo, de um quadro de lacunas). Isso significa que o direito passou a ter à disposição elementos capazes de prover sua própria carência. Com efeito, o Tribunal percebeu que, naqueles casos, as exigências de justiça apontavam para a absolvição dos acusados, mas, para esse fim, faltava no código penal alemão (1871) a norma correspondente. As hipóteses de coação e estado de necessidade previstas nos § 52 e § 54, 380 Metodologia jurídica, p.25 s. 142 embora dotadas de alguns dos elementos aplicáveis aos casos, eram insuficientes no todo. A ameaça, por exemplo, prevista na estrutura da coação ou, ainda, a salvação de perigo atual, própria do estado de necessidade, tinham que ser ligadas a um perigo para o corpo ou a vida do próprio autor ou de um de seus familiares. Ora, nem o cocheiro, nem a parteira, menos ainda seus parentes, estavam com o corpo ou a vida sob qualquer risco. Para ambos, o risco que contava era perder o emprego. Assim, o desemprego e o medo que implicava parecem ter constituído na sentença os elementos decisivos na fixação da fronteira entre o exigível e o inexigível. Sob esse aspecto, a prática jurídica consagrou duas idéias: em primeiro lugar, os limites da experiência da codificação, tão celebrada pelo pensamento jurídico da época; em segundo lugar, o reconhecimento de que limites de outra ordem, isto é, referidos à capacidade de resistência do indivíduo não tinham de ser medidos ou avaliados apenas com referência à vida e Liberdade como bens (jurídicos) sob ameaça, mas levar em conta situações (nas quais bens diferentes estivessem igualmente ameaçados, por exemplo, o emprego do trabalhador) que somente as particularidades do caso concreto podem revelar. Aliás, parece ter sido a conjuntura de crise econômica que se abateu sobre a ALEMANHA do início do século XX o que deu causa ao incremento dos estudos acerca da inexigibilidade de conduta diversa, os quais definiram como ponto de partida e objeto de reflexão os precedentes em questão.381 Diante da nova sensibilidade jurídica revelada pelos juízes, onde à vida e à liberdade (sob ameaça ou perigo) adicionava-se o emprego (= posto de trabalho) como bens tomados em conta para exonerar de pena aqueles que, submetidos à pressão de tais circunstâncias, cometessem o delito, surgiram teorias que alteraram os marcos da culpabilidade agora incorporando, além de outros elementos, o par exigibilidade/inexigibilidade 381 Cf. nesse sentido Santiago MIR PUIG, Derecho Penal: parte general, p. 610. 143 de conduta diversa. Cada parte deste par tinha sua função: cabia à exigibilidade a função positiva de operar como fundamento da culpabilidade; à inexigibilidade a função negativa de excluí-la. O pensamento penal, até então blindado ou, conforme KAUFMANN assinala, investido no dever de “deixar de lado” as “fantasias jusnaturalistas ” que BINDING considerava como inimigas da ciência jurídica,382 não ficou indiferente aos novos aportes na área. Antes de demonstrar como isso se deu, convém examinar o conteúdo das novas teorias. 3. Culpabilidade como reprovabilidade (teoria de FRANK). Menos do que redefinida, a culpabilidade foi revista por FRANK. Significa: FRANK não desconheceu, desdenhou ou destruiu criticamente a premissa psicológica (configurada no dolo e na imprudência) que dava sustentação à idéia de culpabilidade para, assim, defini-la de novo. Sua pretensão foi a de resolver um problema, que, para ele, fora mal solucionado pelos que o precederam, ligados à teoria da culpabilidade psicológica. O problema era o de saber em que circunstância alguém deve ser considerado responsável [culpado] pela justiça? A solução que propôs partiu da crítica cujo alvo foi a idéia (cara à doutrina dominante) de que a premissa psicológica era suficiente para explicar a culpabilidade. Por conta disso, FRANK adicionou à estrutura da culpabilidade outros elementos. Assim, ela não é mais um conceito genérico que se explica tão-somente a partir do dolo e da imprudência como espécies ou graus que permitem medir a atitude anímica do autor em relação ao fato. Ao lado do dolo e da imprudência (não mais como espécies, mas como elementos), agora a culpabilidade agrega as circunstâncias concomitantes (e a imputabilidade). A conseqüência que FRANK extrai daí está em que, mesmo agindo com dolo ou culpa, o autor pode não ser culpado, pois, fora ou para além daqueles âmbitos, trata-se de 382 KAUFMANN, A teoria da norma jurídica, p. 29. 144 tomar em conta, também, as circunstâncias em que se encontrava. De posse desses elementos, FRANK elabora seu conceito de culpabilidade e diz que ela é reprovabilidade, tornando-a, desse modo, normativa pelo que contém de juízo de valor sobre o injusto. Nisso consistiu a revista. FRANK encontra no senso comum o ponto de partida para suas observações. Assim, segundo ele, o uso da linguagem cotidiana confirma certos fatores, localizados fora do dolo, para medir a culpabilidade. Dá como exemplo a posição do caixa de uma loja e a do portador de valores que praticam, por conta de cada um, defraudações. O primeiro ganha a vida com dificuldades, tem família constituída de uma mulher enferma e numerosos filhos; o segundo goza bem a vida, não tem família e suas mulheres são magníficas. Ambos sabem do caráter ilícito da ação praticada. Logo, não há dúvida acerca do dolo. Neste caso, porém, todos dirão que a culpabilidade de um é menor que a do outro. A diferença numa avaliação como essa toma por base, naturalmente, as circunstancias desfavoráveis ou favoráveis no interior das quais a ação se desenvolve. Tais circunstâncias, que, segundo FRANK, são concomitantes, medem a culpabilidade não apenas no âmbito da linguagem cotidiana, mas também no da lei e na prática dos tribunais. Por outro lado, se as circunstâncias concomitantes medem a culpabilidade, por exemplo, para atenuá-la, podem, igualmente − acrescenta FRANK −, ser reconhecidas na capacidade de excluí-la. Nesse ponto, FRANK coloca o problema da incompatibilidade entre o conceito de causas de exclusão da culpabilidade e o conceito dominante de culpabilidade (fundada no dolo e na imprudência), cuja essência é associada à esfera psíquica do agente: Se o conceito de culpabilidade não alcança nada mais que a soma de dolo e imprudência (...) resulta absolutamente incompreensível como pode excluir-se a culpabilidade no caso de 145 estado de necessidade, posto que também o autor que atua em estado de necessidade sabe o que faz.383 Sob esse aspecto, para FRANK, as relações psíquicas que o direito penal traduz nos verbetes dolo e imprudência [culpa] até permanecem na culpabilidade, mas, por si mesmas, já não esclarecem seu conteúdo. A título de exemplo: quem age sob a pressão do estado de necessidade sabe o que faz, portanto, age dolosamente; no entanto, não é culpável. Mais do que o dolo, o que importa considerar nesse caso é o perigo como circunstância concomitante. Vale dizer, é o contexto, a situação concreta e a pressão que nela se exprime, instaurando o que mais tarde FRANK denomina de motivação anormal, aquilo que constitui o objeto central da valoração. O terceiro elemento da culpabilidade é a imputabilidade. Contra a concepção dominante, FRANK considera que o lugar desta agora é dentro e não fora da culpabilidade. Trata-se de um “fantasma errante” se alojada neste lugar, operando como pressuposto da culpabilidade: ... não se entende de que maneira a imputabilidade pode ser um pressuposto do dolo [portanto, da culpabilidade], posto que também um enfermo mental pode querer a ação e assim 384 representar-se os elementos que a fazem delitiva e até pode saber que é um delito. Agora descrita segundo uma estrutura cravada na a. imputabilidade, b. dolo e imprudência e c. circunstâncias concomitantes, a culpabilidade é associada à idéia de reprovabilidade: “culpabilidade − diz FRANK − é reprovabilidade”.385 Mas o que significa reprovabilidade como conceito capaz de traduzir a idéia de culpabilidade? Bem, se considerado isoladamente, em si mesmo − continua FRANK −, tem pouco ou nenhum significado, mas, se referido ao que quer caracterizar, isto é, saber “quando 383 Sobre la estructura del concepto de culpabilidad, p. 30. Ibid., p. 34. 385 Ibid., p.39. 384 146 se pode reprovar a alguém por seu comportamento?” ou “que é necessário para isso?”, o conceito de reprovabilidade permite ao observador [juiz] valorar se o comportamento de alguém é censurável ou não, tendo em vista tríplice pressuposto: 1. uma atitude espiritual normal, denominada imputabilidade, que, reconhecida numa pessoa, permite no geral converter seu comportamento antijurídico em censura. Mas para que tal censura seja aplicada no caso particular é necessário ademais: 2. Uma concreta relação psíquica do autor com o fato em questão, particularizada no dolo ou na imprudência. Mesmo com esse elemento, a censura não está fundada. Para tanto é necessário que concorra ainda: 3. A normalidade das circunstâncias sob as quais age o autor. Assim, será alvo de censura, em geral, o comportamento antijurídico de quem, sendo imputável, tem consciência ou podia tê-la das conseqüências do que pratica. Mas o que é possível no geral, em um caso particular pode ser impossível, por exemplo, não cabe reprovabilidade quando a circunstância concomitante é representada por uma situação de perigo para o autor ou terceira pessoa e a ação 386 (proibida) executada podia salvá-los. Com efeito, uma situação de perigo, no pensamento de FRANK, pode configurar um cenário de anormalidade e “não se pode censurar o autor por ações realizadas sob circunstâncias de certa anormalidade”.387 Enfim, se à culpabilidade corresponde a normal constituição das circunstâncias concomitantes, corresponde à sua negação a constituição de circunstâncias concomitantes anormais. Desse modo, a normalidade das circunstâncias afirma a culpabilidade; a anormalidade nega. É neste ponto que a expressão “causas de exclusão da culpabilidade”, incompreensível ou incompatível no âmbito da teoria psicológica (da culpabilidade), passa a ter sentido com sua teoria (normativa), pelo menos “como expressão de reconhecimento, segundo a qual certas realidades para o direito penal só têm o significado de uma negação (...) da culpabilidade”.388 Enfim, quando 386 Cf. Sobre la estructura del concepto de culpabilidad, p.40 s. Ibid., p. 42. 388 Ibid., p. 45. 387 147 FRANK atribuiu ao conceito de circunstâncias concomitantes anormais (transformado por ele mesmo finalmente num deficiente domínio do fato por conta da falta ou limitação da liberdade, depois de tê-lo substituído pela expressão motivação anormal) o poder de negar a culpabilidade, deixou implícita a característica da inexigibilidade de conduta diversa implicada nelas. Mas não a nomeou. Essa tarefa coube a FREUDENTHAL389. Antes, porém, GOLDSCHMIDT iluminou a seu modo o tema. 4. Culpabilidade como contrariedade ao dever (teoria de GOLDSCHMIDT). O ponto de partida da reflexão de GOLDSCHMIDT é duplo: tem raízes no pensamento de KANT (não necessariamente encobertas) e na obra de FRANK (conforme confessa).390 Serviu-se de KANT com a idéia de “representação do dever”,391 na qual “dever” é entendido como “... necessidade de uma ação com respeito à lei”,392 por cujo caminho parece ter chegado à noção de norma de dever; de FRANK com o conceito de motivação anormal. O conceito de motivação anormal permitiu a GOLDSCHMIDT identificá-lo como a “característica negativa da culpabilidade”, atribuindo-lhe “... o valor de uma causa de desculpa geral”393 e a posição de “... único pressuposto da não exigibilidade”.394 De posse desses conceitos − norma de dever e motivação anormal −, GOLDSCHMIDT desenvolveu sua idéia central: a de que ninguém tem como cumprir a norma de dever à qual todos se obrigam em condições normais, se estiver sob o jugo de um quadro de motivação anormal. Nesse caso, a representação correta da norma de dever fica prejudicada. Foi o quanto lhe bastou para justificar a doutrina da não exigibilidade. 389 Segundo ZAFFARONI (Tratado de Derecho Penal. Vol.IV. p. 24), com FREUDENTHAL “estas circunstâncias podem determinar a inexigibilidade e, portanto, a culpabilidade”. 390 La concepción normativa de la culpabilidad, p. 86. 391 Fundamentos da metafísica dos costumes, p. 56. 392 Ibid., p. 45. 393 La concepción normativa de la culpabilidad, p. 86. 394 Ibid., p. 112. 148 Com efeito, segundo GOLDSCHMIDT, a não exigibilidade pertence ao domínio da motivação anormal e seu oposto, a exigibilidade, ao da motivação normal. Diferentes domínios de motivação implicam diferentes valorações. Com motivação normal, a conduta contraria uma norma de dever; com motivação anormal, a norma de dever é preservada. Não há como exigir seu cumprimento. Em GOLDSCHMIDT, a norma de dever aparece ao lado da norma de direito. Elas cumprem, no entanto, funções diferentes e são independentes. A diferença consiste em que a norma de direito determina a conduta exterior; a norma de dever exige uma correspondente conduta interior. Dito brevemente: uma é norma de ação; outra, de motivação. Mais ainda: a norma de direito pode ser uma proibição ou ordem; a norma de dever só pode ser ordem. A título de exemplo: assim como a norma de direito prescreve (como proibição): “Tu não deves matar”, a norma de dever também prescreve (como ordem): “Faz-te deter desta atuação da vontade por conta da representação de que ela causaria a morte de outro”.395 Já a independência da norma de dever está ligada ao fato (ação) que conduz ao seu reconhecimento. Isso significa que, se, para GOLDSCHMIDT, a norma de dever somente é exigível no domínio da motivação normal, por oposição, no domínio da motivação anormal passa a ser não exigível. É aqui, na motivação anormal, que se estabelece a relação entre as causas de exculpação e as normas de dever (como exceções). Enfim, é inexigível a conduta conforme o dever num quadro motivado pela anormalidade. Falta, nesse caso, poder, e, com ele, o pressuposto que torna exigível uma conduta segundo a representação do dever. Ali onde implica motivação anormal com falta de poder, GOLDSCHMIDT parece implicá-la também com falta de liberdade, entendida como “fonte real das normas de 395 Ibid., La concepción normativa de la culpabilidad, p. 101. 149 ‘autoconservação’, cuja consideração leva à limitação da exigibilidade e, por conseguinte, da reprovabilidade”396 5. Culpabilidade como exigibilidade (teoria de FREUDENTHAL). FREUDENTHAL parte não de KANT (como, sob certo aspecto, GOLDSCHMIDT), nem do senso comum (como FRANK) para falar da culpabilidade, mas do povo, da opinião pública [de resto, também senso comum], de seu sentimento ou suscetibilidade à pena que recai sobre um homem, sem merecê-la: “Ela [a opinião pública] considera insuportável a condenação de um homem inocente”.397 Em todo caso, mesmo insuportável, semelhante condenação acaba sendo aceita e não se torna alvo de crítica. É com base na linguagem que FREUDENTHAL procura explicar por que isso acontece. Para o povo, a linguagem dos penalistas é inacessível e sua ciência, oculta. Além disso, (o povo) não ousa criticar as categorias da especialidade científica, por conta do respeito e do receio que tem diante dela. Isso cria um abismo entre povo e direito. (Assim, o jurista considera culpável aquele que comete o fato dolosamente, isto é, com consciência e vontade; o povo, no entanto, quer apenas saber, se, conforme a situação geral do caso, qualquer um agiria como fizera o autor, enfim, se era possível esperar algo distinto do fato cometido. Mesmo quem “nada podia” fazer para evitar o fato ou quem “atuou como qualquer outro em seu lugar” pode ser censurado pelo jurista; pelo povo, não. Dessa forma, aquele que, para o jurista, é culpado, para o povo, é inocente: “a concepção cultural do povo rechaça (..) considerar culpado aquele a quem, razoavelmente, não era [possível] exigir que se abstivesse de realizar a ação”.398) Trata-se, então, de evitar tal abismo. Para tanto, a solução consiste em formular um conceito próprio de culpabilidade. 396 397 398 Ibid., p. 106. Culpabilidad y reproche en el derecho penal, p. 63. Ibid., p. 75. 150 O núcleo da reflexão de FREUDENTHAL gira em torno da idéia de que culpabilidade expressa sempre um juízo de reprovabilidade emitido sobre um autor “que agiu assim, embora devesse e pudesse agir de outra maneira”.399 De acordo com essa visão, o juízo acerca da culpa (lato sensu) contempla as noções de dever e poder. Se o autor devia e podia, era exigível dele um comportamento conforme o direito. Isso significa que “é elemento geral da culpabilidade” a circunstância de que a “representação do resultado”400 devia e podia funcionar como contramotivo da ação. Nesse sentido, culpabilidade é exigibilidade. Por oposição, é possível “... rechaçar a culpabilidade, uma vez que se negue a exigibilidade de outra conduta.”401 Como se vê, FREUDENTHAL parte da exigibilidade para chegar à inexigibilidade. Esse percurso tem como justificativa o argumento de que nem sempre é possível uma atuação segundo o dever. É que, de um lado, “o dever de evitar − diz FREUDENTHAL, citando VON HIPPEL − pressupõe poder evitar”,402 e, de outro, o poder de evitar pressupõe “indeterminismo”403 [portanto, liberdade]. Logo, sem liberdade não há poder; sem poder não há dever. Sem nada disso, não cabe “... exigir do autor uma conduta distinta, adequada ao dever social”.404 Por outro lado, somente o caso concreto, individualizado, é capaz de revelar se faltou poder ao autor. É este o ponto no qual se articulam as circunstâncias concomitantes, que, examinadas, permitem que a justiça seja efetivada, sendo, então, “decisivas para a questão de [saber] se o autor é culpado ou não, se deve ser condenado ou absolvido”.405 Elas “existem em concreto, de sorte que, se para a não execução do fato punível fosse necessária uma medida de resistência que a ninguém se pode exigir 399 Culpabilidad y reproche en el derecho penal, p. 71. Ibid. 401 Ibid., p. 88. 402 Ibid. 403 Ibid., p. 71. 404 Ibid., p. 72. 405 Ibid., p. 69. 400 151 normalmente, então estarão ausentes, junto ao poder, a censura e, com a censura, a culpabilidade”.406 Além disso, para FREUDENTHAL, as circunstâncias concomitantes, onde negam a culpabilidade, tornando inexigível a conduta, alcançam, não apenas a culpa (stricto sensu), mas o próprio dolo: “Aquilo que é justo para a culpa” − diz FREUDENTHAL − “não deve resultar injusto para o dolo”.407 Daí, então, pergunta: “Como se pode exigir à forma mais grave da culpabilidade menos do que se exige à mais tênue?”, para, em seguida, responder: “Se a inevitabilidade [como expressão das circunstâncias concomitantes] exclui a culpa, tanto mais haverá de excluir o dolo”.408 Finalmente, o lugar da inexigibilidade. Na doutrina penal é comum vincular Freudenthal à inexigibilidade como causa supralegal de exclusão da culpa. Em nenhum ponto da reflexão dele, contudo, algo assim é sustentado, pelo menos de forma clara e direta. Nem também, por oposição, é sustentada qualquer idéia que lembre a inexigibilidade como uma exculpante legal. Na verdade foi ela mesma, a doutrina penal, aquela que estabeleceu a relação direta entre a inexigibilidade e sua posição como causa supralegal de exculpação. Trata-se aí, em todo caso, de conclusão que implica uma leitura completamente legítima dos termos em que FREUDENTHAL colocou a questão. Com efeito, FREUDENTHAL parece retirar a inexigibilidade de três fontes: em primeiro lugar, do conceito mesmo de culpabilidade (pela função que cumpre de negá-la); em segundo lugar, da jurisprudência do Supremo Tribunal na ALEMANHA (onde cumpriu a função de suprir limitações normativas, tendo em vista a solução de casos nos quais, apesar do dolo ou da culpa, era imprópria a reprovação do autor, pois atuara num quadro de circunstâncias concretas que implicava na 406 Ibid., p.72. Culpabilidad y reproche en el derecho penal, p. 83. 408 Ibid. 407 152 inevitabilidade de sua ação); por último, do princípio fundamental impossibilium nulla est obligatio (no qual o direito penal também se apóia, pelo que ali reflete da “... mais funda natureza das coisas”409). Apesar de tudo, FREUDENTHAL jamais desdenhou nem do legislador, nem da lei. Aliás, tinha a esperança de que o direito penal do futuro incorporasse suas idéias: “Chegará o dia – diz ele – em que o legislador estabelecerá expressamente que não merece pena criminal quem não pode evitar, segundo as circunstâncias do fato, sua execução”.410 Nesse dia, seria alcançada a conciliação entre a consciência do jurista e a consciência do povo, e isso representaria “... um fausto acontecimento, tanto para o Estado como para o particular [indivíduo]”.411 Com efeito, o “fausto acontecimento” de FREUDENTHAL sofreu toda sorte de boicote. (Na verdade, outro acontecimento, desta vez, infausto [o nazismo], interrompeu o sonho de FREUDENTHAL. Foi aí que o pensamento penal alemão prestou continência à nova ordem, recolheu as asas que abrira nas primeiras décadas do século XX, e a inexigibilidade de conduta diversa sofreu golpes de que ainda hoje se ressente.412) Da parte do legislador, sua atitude básica (no geral) foi a de recusa em promovê-lo; a jurisprudência (pelo menos no BRASIL) foi tardia em recepcioná-lo; a dogmática jurídica oscilou acerca de como concebê-lo. 5.1. Do otimismo de FREUDENTHAL à semi-indiferença do legislador. A rigor, a legislação jamais incorporou o “fausto acontecimento” segundo o projeto, o lugar no sistema do delito e as proporções talvez imaginadas por 409 Culpabilidad y reproche en el derecho penal, p. 98. Ibid., p. 97. 411 Ibid., p.100. 412 Cf. HENKEL, Exigibilidad e inexigibilidad como principio jurídico regulativo, p. 58 s. Próximo disso, ver também HUNGRIA (Comentários ao código penal, vol. I, tomo II, p. 476 s) para quem no Estado totalitário de que o nazismo era expressão, a doutrina penal alemã criou “uma nova concepção de culpabilidade”, na base da qual está a idéia de que o “o indivíduo pertence, todo inteiro, ao Estado”. Isso permite que responda não apenas pela ação ilícita que pratica, mas até pelo seu modo de ser, pelo seu passado, etc. 410 153 FREUDENTHAL. Na ALEMANHA mesmo, o princípio da inexigibilidade jamais foi transformado em lei.413 Em todo caso, a lei adotou seu conteúdo nas exculpantes do estado de necessidade e do excesso na legítima defesa. Algo semelhante ocorreu na ESPANHA. O código penal desse país respondeu à idéia de inexigibilidade naquele ponto em que regula o medo insuperável e declara isento de responsabilidade aquele que age sob seu domínio.414 Também em PORTUGAL, ainda que à luz e sob a epígrafe do Estado de necessidade desculpante, o código penal dali tratou do tema na parte final do artigo 35: 1. Age sem culpa quem praticar um facto ilícito adequado a afastar um perigo actual, e não removível de outro modo, que ameace a vida, a integridade física, a honra ou a liberdade do agente ou de terceiro, quando não seja razoável exigir dele, segundo as circunstâncias do caso, comportamento diferente. No BRASIL, a inexigibilidade mereceu a atenção do anteprojeto de Código Penal (1963) elaborado por NELSON HUNGRIA. Também no Código Penal de 1969. Seu tratamento aí, no entanto, carece da autonomia. É que está alojada na estrutura do estado de necessidade exculpante, onde opera como fundamento: Art. 25 - Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa. Por outro lado, o Código Penal de 1984 reconhece a inexigibilidade em pelo menos três cenários: dois deles indicados na parte geral e o outro na especial. Aos cenários da parte geral correspondem a Coação irresistível e a Obediência hierárquica (artigo 22); ao da parte especial, corresponde o 413 É o que fica claro a partir de BAUMANN (Derecho Penal, p. 226) para quem “a lei não dita normas, por exemplo, no sentido de que desaparecem a culpabilidade e responsabilidade do autor no caso em que não pode exigir-se outra conduta”. 414 Cf. Francisco MUÑOZ CONDE, Teoria general del delito, p.151. 154 crime de Favorecimento pessoal (artigo 348, parágrafo 2º). Nada mais do que isso. De qualquer modo ainda, embora como excludente de ilicitude, o tema aparece de forma limitada e secundariamente na estrutura do Estado de necessidade regulado no Código Penal de 1984: Art. 24- Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Aplica-se aí, pois a regra é a mesma, o comentário que HUNGRIA desenvolveu acerca do estado de necessidade como excludente de ilicitude e sua conexão com a inexigibilidade, tendo em vista o artigo 20 do código de 1940: “... a inexigibilidade é, precisamente, o fundamento central da ilicitude que na espécie se reconhece e declara”.415 5.2. Do otimismo de FREUDENTHAL ao posicionamento tardio da jurisprudência no BRASIL. Foi da jurisprudência que a inexigibilidade nasceu. Ali é acolhida ainda hoje. Na ALEMANHA com alcance limitado (não há objeções quanto a seu uso referido à culpa [stricto sensu]); no BRASIL, com alcance mais amplo, pois tem se estendido ao dolo. Malgrado tardio, com alguma freqüência faz-se uso da inexigibilidade como fundamento para solução de problemas concretos submetidos à decisão judicial. FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO dá conta de acórdão no STJ, num recurso do qual foi relator quando era ministro daquela Corte, onde a tese da inexigibilidade foi admitida para crime de homicídio doloso.416 5.3. Do otimismo de FREUDENTHAL à oscilante posição da dogmática penal. Na doutrina, os aportes de FREUDENTHAL, que, no geral, são os aportes de toda a culpabilidade normativa, naquilo que sacrificaram (em 415 Comentários ao código penal, vol. I, Tomo II, p. 271. Princípios básicos de Direito Penal, p. 329. Também Djalma MARTINS DA COSTA (Inexigibilidade de conduta diversa, p. 33 ss) dá conta de inúmeros acórdãos nos quais o tema da inexigibilidade de conduta diversa é recepcionado por alguns Tribunais de Justiça do Brasil, embora rechaçado pelo STF. 416 155 parte) as contribuições da culpabilidade psicológica, foram causa de toda sorte de discussão. Não podia ser diferente. É que irromperam na área penal com o vigor de um modelo teórico, que, com pretensões de fundar uma nova hegemonia, por isso mesmo foi alvo de refutações, embora também de algum reconhecimento. Com efeito, no domínio das refutações não foram poucas as críticas [questões] lançadas contra a inexigibilidade. Elas se agrupam, basicamente, em torno de três argumentos: um, de corte político; outro, lingüístico; o último, psicológico. No primeiro aparece a idéia de que a inexigibilidade representa um atentado ao princípio da divisão dos poderes (ROXIN 417); no segundo, o enfoque é quanto a seu caráter vazio e indeterminado (ANTOLISEI418); no terceiro, o apelo é para o sentimento de insegurança jurídica que provoca (JESCHECK419). Com o argumento segundo o qual o juiz, ao aplicar a inexigibilidade como fundamento de sua decisão, atenta contra a divisão dos poderes, ROXIN remete aquele princípio para os domínios da supralegalidade. A decisão acerca da punibilidade ou não de uma conduta independe – pensa ele − da política criminal do juiz; depende, sim, “... das hipóteses preventivas que têm por base a lei”.420 Com isso, ROXIN quer dizer que está fora das atribuições do judiciário a criação de lei. Somente lhe compete aplicá-la. Assim, fora da gramática legal, nenhuma decisão tem como se sustentar. Por outro lado, ROXIN argumenta ainda que seja possível “... fundamentar uma isenção de pena imediatamente a partir do princípio da culpabilidade, inclusive sem necessidade de uma causa legal de exculpação”.421 Os dois aspectos da argumentação de ROXIN são 417 Derecho Penal: parte general. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito, p. 961. Ma nuale di Diritto Penale, p. 375. 419 Tratado de Derecho Penal, p. 457. 420 Op. cit., p. 793. 421 Op. cit., p. 960. 418 156 criticáveis. Em primeiro lugar, não parece atentar contra a divisão de poderes aquele que, embora sem o amparo de uma lei positiva qualquer, faz a justiça do caso concreto com base na lei da necessidade, que, para além dos tipos excludentes de ilicitude e exculpantes, só pode ser deduzida a partir da situação extraordinária vivida pelo autor e que o legislador não previu, dado que lhe falta o atributo (divino) da onisciência. Assim, é a excepcionalidade do caso concreto que dá fundamento à lei da necessidade. Ao argumento de que é inválida porque sua fonte não é o legislador, cabe a resposta de que ao legislador compete fazer leis de cunho geral e abstrato; para o caso particular, não. Nesse âmbito, é o juiz que edita (no sentido de KELSEN) a lei, que, em todo caso, só vale para as partes envolvidas. Se, como objeção, for levantada a hipótese de que, em KELSEN, mesmo a lei do Juiz vale apenas quando se apóia numa outra de escalão superior, cabe ainda responder a partir do próprio KELSEN que a validade da norma individual não está implícita na validade da norma geral.422 Em segundo lugar, chegar à isenção de pena a partir mesmo da culpabilidade, sem lançar mão de uma causa legal de exculpação, apenas repete e reforça FREUDENTHAL no ponto em que ROXIN pretende refutá-lo. É que, se, para FREUDENTHAL, culpabilidade é exigibilidade, a negação desta sempre corresponde à negação daquela. Logo, recorrer ao argumento da falta de culpa equivale a recorrer ao argumento da inexigibilidade. Entre os críticos da inexigibilidade é comum questioná-la também por seu caráter indeterminado ou vazio. Justificam seu ponto de vista sob o argumento de que lhe faltam limites e pressupostos. É o caso, por exemplo, de ANTOLISEI. Ele refuta a inexigibilidade pela falta da consistência necessária para constituir um princípio jurídico superior ao qual possam ser reconduzidos casos não expressamente contemplados na lei. Assim, o vício fundamental da teoria da inexigibilidade − acrescenta − localiza-se ali onde 422 Cf. Teoria geral das normas, p. 57 ss; p. 302 s. 157 não arrisca determinar quais são as circunstâncias sob cuja presença dá-se a inexigibilidade da conduta do agente conforme o preceito, e, na impossibilidade de reconduzir a um critério unitário as variadíssimas hipóteses que alcança, recorre a expressões mais vagas ainda, como “humanamente”, “razoavelmente”, as quais apelam menos à inteligência e mais ao sentimento do intérprete. Na base do argumento de ANTOLISEI tem algo de fantasioso. Como todo bom dogmático, ele rejeita a característica da indeterminação da norma jurídica como um vício que tem cura. Nem Deus acredita nisso, e ri dos que professam essa fé. A propósito disso, TEUBNER narra um episódio na primeira página do seu livro O direito como sistema autopoiético. Num debate de rabinos acerca de um problema levantado pela interpretação do Talmude, o rabino ELIEZER, conhecido pelo rigor de seu raciocínio jurídico, não conseguia a adesão da maioria dos presentes para seus argumentos. Diante disso, afirmou que um ulmeiro situado fora da sinagoga se deslocaria, se seu raciocínio estivesse correto. O ulmeiro se deslocou. Ninguém ficou impressionado. ELIEZER insistiu e disse que, se estivesse com a razão, o curso de um rio vizinho se inverteria. O curso do rio se inverteu. ELIEZER ainda disse que os muros da escola rabínica se desmoronariam. Os muros desmoronaram. Nada disso impressionou os rabinos. ELIEZER, então, apelou e disse que o Céu faria a prova de sua razão. Uma voz celeste confirmou a opinião dele. Novo fracasso. Os rabinos também discordaram da voz divina, sob o argumento de que Ela mesma escrevera no Torah, no MONTE SINAI, que todos devem se inclinar perante a opinião da maioria. Não restou a Deus senão rir, dizendo: “Os meus filhos venceram-me, os meus filhos venceram-me (...)”.423 423 P. 1. 158 Enfim, a inexigibilidade também é atacada pelo que implica de insegurança jurídica. Este é o argumento de JESCHECK. Para ele, o risco, nesse caso, está ligado à criação de uma jurisprudência desigual, portanto, sem uniformidade, debilitando o efeito de prevenção geral do direito penal. O ponto de vista de JESCHECK resiste pouco a uma crítica. Na base dele está a idéia de que os tribunais podem partilhar entre si representações inequívocas acerca das regras que orientam suas decisões, desde que sejam claras, objetivas, de conteúdo bem determinado. É o ideal que deriva da velha crença no in claris cessat interpretátio. Contudo, não é bem assim. Regras claras ou determinadas não eliminam, nem regras indeterminadas conduzem à insegurança jurídica. (Nenhuma lei é fechada à exploração do seu sentido, porque dela irradia a luz da certeza. A linguagem da lei é formada de palavras que são naturalmente ambíguas e, desse modo, impróprias para descreverem com precisão aquilo que regula. Talvez HART tivesse pensado nisso ao afirmar que “... todas as leis têm uma penumbra de incerteza em que o juiz tem de escolher entre alternativas”.424) A insegurança é produzida mesmo pela inexistência da regra. Já no domínio do reconhecimento ou daqueles que aderiram à inexigibilidade 2 (dois) argumentos podem ser destacados. Um, é jurídico; o outro, embora jurídico também, tem fortes raízes na lógica. O primeiro identifica na inexigibilidade um princípio regulativo (HENKEL). O segundo percebe nela possibilidades de uso apenas pela via da analogia (SCARANO). Aqui será examinado apenas o argumento jurídico. Com HENKEL o par exigibilidade/inexigibilidade foi objeto de novos desenvolvimentos. Ele não parte do senso comum (como FRANK), das categorias kantianas (como GOLDSCHMIDT425) ou do povo (como 424 O conceito de direito, p. 17. Sem embargo desse aspecto, ali onde HENKEL distingue o normativo do regulativo tomou a distinção kantiana entre princípios constitutivos e regulativos por modelo, segundo observam José Luiz GUZMÁN 425 159 FREUDENTHAL); parte da idéia de que aquele par cumpre um papel nos diversos setores do direito, entre eles o civil e o administrativo. Esse papel tem como fundamento a compreensão de que as regras do direito só têm força obrigatória nos casos previsíveis; nos imprevisíveis, não. Os casos previsíveis tornam exigível o dever de prestar, tolerar, etc.; isso não se aplica, no entanto, aos imprevisíveis. Dessa forma, a exigibilidade vinculase ao campo dos limites do dever, para determiná-los; e seu oposto, a inexigibilidade, ao campo em que o dever não pode mais ser cobrado. Com efeito, o uso da fórmula da exigibilidade – sustenta HENKEL – verifica-se nos âmbitos da doutrina, da aplicação da lei e da atividade do legislador. No âmbito da doutrina, a fórmula ajudou no afrouxamento da regra pacta sunt servanda. Isso se deu – argumenta ele − quando a esta máxima foi oposto o entendimento de que, se entre a celebração do contrato e a data do cumprimento de uma obrigação em curso se produz uma alteração radical da base real do contrato, por exemplo, como conseqüência de uma guerra, uma revolução, um transtorno econômico (...), o dever de prestação de um devedor teria de ser limitado ou francamente negado, quando e até o ponto em que o conteúdo da prestação, devido à mudança imprevisível do vinculo, se considere como inexigível. Do mesmo modo, no âmbito da aplicação da lei, o uso da exigibilidade ocorre mais particularmente quando aquela emprega clausulas gerais, por exemplo, a de justa causa. Isso implica a necessidade de uma delimitação mais concreta de seu sentido. É o que se dá quando a lei admite uma revogação extraordinária de certos contratos, por justa causa. Saber e decidir se há ou não justa causa no caso concreto demanda o manejo do critério da exigibilidade. Também o legislador faz uso desse critério e “com isso revela – pensa HENKEL – que lhe é impossível delimitar (...) o regime de deveres em âmbitos duvidosos, DALBORA E GONZALO D. FERNANDEZ no estudo introdutório do livro de HENKEL, Exigibilidad e inexigibilidad como princípio jurídico regulativo. 160 deixando a cargo do juiz a determinação segundo a circunstância do caso concreto”.426 Depois de articular o uso da exigibilidade com os âmbitos centrais da atuação do direito – criação da lei (pelo legislador), aplicação da lei (pelo juiz), doutrina da lei (pelo jurista) –, HENKEL considera ter demonstrado o significado metodológico do conceito de exigibilidade. Trata-se − segundo ele − de um princípio regulativo, que como tal não indica o conteúdo preciso da decisão, mas sim o caminho que leva a ela, orientando para que se estabeleçam os limites dos deveres jurídicos segundo o conjunto das circunstâncias do caso singular. Se for esta a significação da exigibilidade para o direito em geral, não parece haver dúvida – conclui HENKEL − de que o direito penal igualmente a tem.427 Mas, aplicada ao direito penal, a exigibilidade (como princípio regulativo) já não ocupa mais entre as formas e no sistema do delito o mesmo lugar que lhe atribuíram os pioneiros da doutrina. Com efeito, HENKEL redimensionou o espaço da exigibilidade. Para tanto, de um lado, estendeu-a a todas as formas delitivas, sejam comissivas (dolosas e culposas), sejam omissivas (próprias [dever de ajuda] e impróprias [dever de garante]) e nisso é diferente, pelo menos de Frank; de outro, processou um duplo deslocamento no sistema do delito. Em primeiro lugar, trouxe a exigibilidade de fora para dentro do direito penal. Assim, o reverso dela, isto é, a inexigibilidade, deixa de ser causa supralegal de exculpação. Em segundo lugar, distribuiu a exigibilidade em todos os escalões do sistema do delito. Em outras palavras, tirou-a da culpabilidade, na qual sempre esteve alojada, para servir também aos escalões do injusto, correspondentes à tipicidade e ilicitude. Justificou essa operação com idéia de que a 426 427 Exigibilidad e inexigibilidad como principio jurídico regulativo, p. 67. Ibid., p. 73. 161 exigibilidade é menos e mais do que foi concebida. Ela é menos porque não ocupa a hierarquia de causa supralegal de exculpação; ela é mais porque está a serviço não de um, mas de todos os escalões do delito. O estatuto de princípio regulativo conferido à exigibilidade é deduzido de uma aproximação que HENKEL faz dele com as cláusulas gerais. Assim, segundo HENKEL, detrás do conceito de cláusula geral se ocultam dois fenômenos basicamente distintos e contrapostos, a saber, o normativo e o regulativo. Normativa é a fórmula que contempla um conteúdo de valor e uma medida de julgamento; regulativa é a fórmula que não contempla conteúdo de valor nem medida de julgamento, ao contrário é neutra e formal. Partindo daí, a exigibilidade – finaliza HENKEL – “não é um conceito normativo, mas um princípio regulativo no sentido assinalado”.428 Crítica ao vazio de HENKEL. O defeito da teoria de HENKEL não parece ligado à extensão dos horizontes que reivindica para a inexigibilidade, fazendo-a escapar dos marcos da culpabilidade, para inserila também nos domínios da tipicidade e ilicitude, nem, de igual modo, às articulações com todas as formas do delito. Ele se manifesta quando HENKEL aproxima a inexigibilidade da idéia de cláusula geral para, em seguida, negando-lhe qualquer conteúdo, afirmá-la como alguma coisa neutra, formal e vazia. Com efeito, para salvar a inexigibilidade, HENKEL desarmou a rede em que se amparava e da qual é inseparável, pois é constituída de conceitos a ela conexos como liberdade, poder, autodeterminação, vontade, resistência humana, etc. Ora, para salvar a inexigibilidade, parece dispensável declará-la vazia. Afinal, o vazio se aproxima do nada e consta que, do nada, nada se 428 Exigibilidad e inexigibilidad como principio jurídico regulativo, p. 127. 162 cria. Para salvá-la, é suficiente reconhecê-la como categoria ainda sem lugar definido nos domínios da legalidade estrita, cujo uso, no entanto, é sustentável no âmbito da argumentação jurídica. Como isso é possível? 163 Capítulo VII A inexigibilidade como solução 1. A culpabilidade sob controle (da dogmática tradicional). O direito penal se move numa via de mão dupla: de um lado, sua atenção é voltada para a comunidade; de outro, para o indivíduo. No primeiro caso, proíbe e ordena condutas, bem como pune a comissão daquelas e a omissão destas, tendo em vista a segurança geral; no segundo, descreve permissões e exculpantes, tendo em vista a segurança individual. (Segurança geral e segurança individual implicam aqui o sentido, respectivamente, de uma liberdade programada como possível para todos e para um.) As permissões negam a ilicitude do fato típico. Na história do direito penal o registro delas é recorrente, por exemplo, as correspondentes à legítima defesa e ao estado de necessidade. As exculpantes negam censura ao autor, apesar do fato típico (e ilícito). O registro das exculpantes, no entanto, é mais tardio. Data do nascimento do conceito de culpabilidade. A descoberta (no sistema do delito) da culpabilidade tornou possível, como conseqüência, a descoberta 164 das exculpantes. Estas, ao cumprirem a função de negar aquela, garantem também a segurança como proteção da liberdade individual. Ocorre que o conceito de culpabilidade opera num domínio que envolve pessoas normais (= sadios), anormais (= enfermos ou mais exatamente neuróticos e psicóticos) e menores. Os normais são capazes de culpa; os anormais (assim considerados sempre segundo o grau da enfermidade) e menores, não. Contudo, mesmo os normais podem ser exonerados de culpa, na hipótese de terem praticado um ilícito, se lhes falta ou consciência (do injusto) ou vontade (livre). O consenso em torno deste ponto é bastante amplo. O dissenso se instaura em duas esferas: primeiro, quando a dogmática penal examina e discute sob que pressupostos pessoas normais podem reivindicar exoneração de culpa; segundo, quando a técnica jurídica fixa as condições ou regras em que dita exoneração se opera. Não é o caso de tratar aqui em detalhe a configuração do dissenso. É suficiente referir que o tratamento da culpabilidade, sob o aspecto das causas de sua exclusão, seja no âmbito da legalidade, seja no da dogmática, varia conforme variam respectivamente os códigos penais de diferentes países e os diversos modelos teóricos. Sem embargo, ainda sobra algum espaço para discutir não acerca de códigos penais (e suas variações), mas de modelos, a saber, o psicológico, o normativo e o finalista. No modelo psicológico, onde o que liga o agente ao fato é a disposição interna daquele, a culpabilidade é reconhecida quando há dolo ou culpa como espécies dela. Nesse caso, as exculpantes são concebidas tomando-se por base situações nas quais não se configura nenhuma daquelas espécies. Exemplos disso são: o caso fortuito, a força maior, o erro de fato, etc. Já com o giro processado pelo modelo normativo [em que, de um lado, o dolo e a culpa, de espécies, passam a ser elementos e, de outro, a ligação entre o agente e o fato passa a ser feita pela 165 reprovabilidade], seus teóricos ganharam dois problemas: o primeiro consistia em mostrar que a culpabilidade não podia ser esgotada nos conceitos de dolo e culpa. Havia outras situações em que, apesar do dolo e da culpa, o agente não era culpável. A partir disso, o segundo problema consistia em como identificar tais situações e qual o caminho para declarar o agente exculpado. O primeiro problema ficou bem resolvido: aquele que pratica o fato nos marcos do estado de necessidade o faz com dolo ou culpa; no entanto, não é culpado. Em torno desse ponto a dogmática penal se uniu. Mas não se uniu ou formou qualquer consenso em torno da solução apresentada para o segundo problema, isto é, aquela que fez das circunstâncias concomitantes e seus reflexos na criação de um quadro de motivação anormal, pressupostos para um juízo de inculpabilidade com apoio na inexigibilidade. Mesmo os normativistas puros (ligados à teoria finalista da ação), assim chamados porque depuraram a culpabilidade do dolo e da culpa, embora tivessem levado em conta a exigibilidade para conceber a culpabilidade, não levaram em conta a inexigibilidade para excluí-la, salvo como um princípio imanente nas causas previstas na lei. Tudo isso permite considerar que a dogmática penal, quando se volta para o tema da culpabilidade, costuma armar algo como uma cilada. De um lado, sustenta a tese de que a culpabilidade ainda é um campo aberto para descobertas; de outro, sua atitude é de reserva quando, por exemplo, o tema da inexigibilidade de conduta diversa é objeto de pesquisas conducentes a situá-la no posto das exculpantes. É como se, por um estranho propósito, objeção ou desconfiança quanto aos fundamentos capazes de justificá-la e, assim, garantir-lhe um lugar na ciência penal, sinalizasse para limites que de nenhum modo devem ser questionados. Isso ocorre, apesar da crença generalizada de que não são raras as situações para as quais as demandas por soluções justas restam insatisfeitas por falta de provisões normativas apropriadas. 166 2. A culpabilidade sob o fogo inimigo (do funcionalismo). À margem dessa discussão, mais recentemente instaurou-se outra cuja linha orienta-se para pôr em xeque (embora de forma semi-encoberta) a própria culpabilidade. Funcionalistas como CLAUS ROXIN e GÜNTHER JAKOBS são representativos dessa tendência; cada um deles, no entanto, se apóia em diferentes argumentos. ROXIN parte da premissa de que cada categoria do delito − tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade − deve ser examinada “sob o ângulo de sua função político-criminal”.429 Nesse sentido, os tipos servem para concretizar a idéia do nullum crimen; a antijuridicidade constitui o âmbito da “solução social de conflitos”; a culpabilidade serve para responder à questão de saber “até que ponto é preciso aplicar a pena”.430 Aqui interessa examinar apenas a função da culpabilidade. A rigor, a concepção de culpabilidade e aquilo que fundamenta sua exclusão foram bastante alteradas no sistema de ROXIN. O clássico “poder agir de outro modo”, em cuja base se conecta a idéia de liberdade, não serve mais para afirmá-la ou excluí-la. É que, sob esse aspecto, ROXIN se declara um agnóstico, pois recusa a solução do livre-arbítrio, tendo em vista sua natureza indemonstrável, para aceitar apenas aquilo que denomina de exeqüibilidade normativa (um conceito cujo conteúdo aponta para a idéia de capacidade de controle e possibilidade de comportamento conforme a norma) por sua qualidade de fenômeno empírico e, como tal, demonstrável.431 Com efeito, a culpabilidade e sua função para ROXIN são associadas às necessidades de prevenção (geral e especial). Mas a culpabilidade, por ela mesma, não implica já na resposta punitiva; ela atua em conjunto com considerações político-criminais, apoiadas na idéia de fim da pena. Desse modo, somente a combinação entre culpabilidade e necessidade preventiva conduz à responsabilidade jurídico-penal. A 429 Política criminal e sistema jurídico-penal, p. 29. Ibid., p. 30. 431 Cf. Derecho Penal, p. 807 ss. 430 167 conseqüência disso consiste numa inversão da posição da culpabilidade: de um conceito autônomo no sistema do delito passa à condição de pressuposto da responsabilidade. Por outro lado, as considerações acerca das necessidades preventivas não se vinculam às representações políticocriminais do juiz, mas a parâmetros que se extraem da própria lei.432 A repercussão desse ponto de vista no âmbito da exclusão de culpabilidade pela via da inexigibilidade é direta: ... a inexigibilidade não poderá ser considerada como causa geral de exclusão de culpabilidade nos delitos dolosos, porque, neste campo, o legislador regulou individualmente as situações de responsabilidade excluída, tomando uma decisão (segundo o seu entendimento dos fins da pena) 433 que não pode ser corrigida pelo juiz. JAKOBS adota como ponto de partida a idéia de que normas configuram a sociedade como meio de comunicação entre pessoas [personas]. Normas − para ele – constituem um “esquema determinante de interpretação do mundo”,434 permitindo que expectativas (não de indivíduos como natureza, mas de pessoas como construção social) sejam orientadas no âmbito dos contatos sociais. A orientação só resulta possível se não se toma em conta topar “a cada momento com qualquer comportamento imprevisível de outra pessoa”, pois, “do contrário – completa JAKOBS – cada contato social se converte em um risco imprevisível”.435 Apesar das normas orientando os contatos, as decepções sempre são possíveis. Isso afeta a expectativa de que a outra parte “respeitará as normas vigentes”.436 Por isso mesmo, no caso de decepção, não cabe renunciar a uma expectativa normativa. Esta deve ser mantida contrafaticamente. Afinal, “o decisivo como falha não está na expectativa do decepcionado, mas na 432 Cf. ibid., p. 793. Política criminal e sistema jurídico penal, p. 95. 434 Sobre la génesis de la obligación jurídica, p. 40. 435 Derecho penal: parte general. Fundamento y teoria de la imputación, p. 9. 436 Ibid., p. 10. 433 168 infração da norma por parte de quem decepciona”.437 Daí, o determinante no significado da pena − para JAKOBS – não é o comportamento do infrator, mas a própria norma. Ela, a pena, é uma réplica à infração da norma, e “sua missão é reafirmar a vigência da norma”.438 No modelo teórico concebido por JAKOBS, a sociedade então foi criada por normas, mantém as normas e vê-se garantida por elas. Sob esse aspecto, a função do direito penal é garantir, não bens jurídicos, mas a identidade normativa da sociedade. O delito provoca a quebra dessa identidade. Dito de outro modo, quem o pratica contradiz a norma e a pena surge como a resposta capaz de confirmá-la. Para descrever esse percurso dialético, JAKOBS recorre à metáfora bíblica do pecado original. Deus proibiu que Adão e Eva comessem do fruto da árvore do bem e do mal. A desobediência do casal contradisse a prescrição divina. Não restou ao Criador, para garantir sua identidade normativa, senão reagir com a punição.439 O episódio, embora extraído de um contexto religioso, permitiu a JAKOBS mostrar como a pena cumpre a função de mecanismo capaz de corrigir um defeito de comunicação (num contexto social). O crime é um defeito de comunicação (dá-se, com ele, que a norma deixou de ser reconhecida como orientação), e, como tal, uma manifestação de infidelidade ao direito. É nesse ponto que JAKOBS articula a idéia de culpabilidade: “o juízo de culpabilidade só pode ser um juízo acerca da falta de consideração da norma por parte do autor, isto é, acerca de sua falta de fidelidade ao ordenamento jurídico”.440 Na culpabilidade como infidelidade ao direito, os estados psíquicos do autor – dolo e consciência da ilicitude, por exemplo – são pouco relevantes para a formação de um juízo acerca dela, salvo na posição de indicadores de um déficit de 437 Ibid., p.10. Ibid., p. 13. 439 A imputação objetiva no Direito Penal, 2000, p. 13. 440 Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal, p. 23. 438 169 lealdade. O decisivo para o conteúdo do conceito de culpabilidade é regido pelo contexto normativo, pela concreta estrutura social, e não pelo contexto dos fatos psíquicos.441 Além de exonerar a dimensão psíquica de tarefas centrais na culpabilidade, JAKOBS exonera também o livre-arbítrio, pois se trata de conceito que carece − segundo ele − de dimensão social. Com efeito, JAKOBS explica que há uma plausibilidade psicológico-social na inculpação ou renúncia dela, isso no sentido de que existe uma disposição geral de aceitar ou não a responsabilidade na situação em que o autor se encontra: “Esta disposição se apóia na tolerabilidade do alcance da responsabilidade, e existe com independência de suposições sobre se o autor, no momento do fato, está dotado de livre-arbítrio”.442 Sem embargo, JAKOBS não resiste e ironiza a relação entre culpabilidade e liberdade; afinal, segundo ele, “aquilo pelo que o autor responde não necessita de supervisão alguma por parte de outras pessoas”, e deduz daí que o âmbito em que o autor pode ser culpável é “... âmbito livre, de autodeterminação, não no sentido de livrearbítrio, mas no sentido de falta de obstáculos juridicamente relevantes para seus atos...”.443 Por outro lado, um juízo de culpabilidade (um juízo ideal, que não é de ninguém e sim da norma) como infidelidade ao direito implica na falta de um contexto exculpante: “um contexto exculpante existe quando não se pode exigir que se obedeça à norma...”.444 O reconhecimento de tal contexto, no entanto, não toma em conta o autor perturbado em seu coeficiente psíquico, toma em conta apenas a situação na qual atuou injustamente: A obediência à norma é inexigível quando a motivação não jurídica do autor imputável, e que não respeita o fundamento de validez da norma, pode ser explicada por uma situação que 441 Ibid. Derecho Penal: parte general. Fundamentos y teoria de la imputación, p. 584. 443 Ibid., p. 586. 444 Ibid., p. 567. 442 170 para ele autor constitui uma desgraça, e que também em geral se pode definir como 445 desgraça... E na origem da qual, aliás, o autor de nenhum modo interveio. JAKOBS dá como exemplo de situações assim o estado de necessidade exculpante e o excesso na legítima defesa, previstos no código penal alemão. Ademais, acerca daquilo que denomina de inexigibilidade inespecífica como causa de exculpação, JAKOBS tem a compreensão de que é compatível com seu conceito funcional de culpabilidade. É que, segundo ele, pode dar-se uma exclusão geral de culpabilidade com os seguintes requisitos: 1. deve existir uma situação de conflito; 2. que faz aparecer o fato, valorando-o objetivamente, como solução adequada; 3. sem que o autor tenha sido o responsável pela situação do conflito. Tendo em conta tais limitações, nada se opõe à analogia com os § 33 e § 35 do código alemão. Não vê nisso, no entanto, qualquer efeito prático. Afinal, falta-lhe âmbito de aplicação, já que a regulação legal cobre de modo suficientemente elástico os âmbitos relevantes.446 3. Crítica ao funcionalismo. O modelo de ROXIN, partindo da norma jurídica, como o de JAKOBS, partindo do sistema social, implica num retorno à responsabilidade pelo resultado. Mais particularmente no caso de JAKOBS, tal retorno implica ainda na pretensão de mudar o paradigma da ciência penal. O custo epistemológico disso é representado pela morte do indivíduo (tal como fora configurado no início dos tempos modernos e recepcionado pela razão penal). O lugar deste, no entanto, passou a ser ocupado por pessoas. A relação do indivíduo (acompanhado de seu mundo subjetivo) era com o mundo real empírico; a relação de pessoas (afastadas do mundo subjetivo) passa a ser com o mundo das normas. (Um mundo no qual todos são submetidos a um destino normativo, em que ninguém é mais 445 446 Ibid., p. 601. Ibid., p. 716. 171 do que um papel [rol], pode ser tão tedioso quanto insuportável. Com efeito, um destino traçado pelas normas, longe de sedutor, pois não dá lugar nem para o herói, cuja posição era garantida pelo destino cósmico dos gregos antigos, parece estar próximo do terror, pois é disso que se trata quando não se toma em conta, em contextos normativos, a subjetividade do ser humano.) Talvez nesse ponto possa ser identificada a marca mais original da proposta metodológica de JAKOBS: a criação de um terceiro mundo.447 Ele parece reconhecer a existência de um mundo empírico (povoado de indivíduos), de um mundo subjetivo (alojado nos indivíduos), mas sua proposta só lida com o terceiro mundo (constituído de normas). Todo o jogo de comunicação mediado pelas normas passa por aí. Nesse jogo as expectativas são normativas e têm de ser estabilizadas a qualquer custo, isto é, o que vale é a eficácia de um sistema que reivindica confirmação toda vez que é desconfirmado pela infração. A conseqüência disso está nas expectativas de justiça que parecem não ter mais lugar no Direito Penal. Aliás, é o próprio JAKOBS quem chama atenção para a novidade: “... já não se defende na doutrina penal o fomento da justiça como fim independente”.448 Bem, esse ponto de vista pode ter algum sentido no sistema jurídico de um país cuja constituição seja indiferente ao problema da justiça como valor. Não terá sentido, no entanto, em países cuja constituição manda que a justiça como valor seja efetivada. JAKOBS mesmo diz em outro ponto: “O direito penal se legitima formalmente mediante a aprovação das leis penais conforme a constituição”.449 Isso só pode significar que o direito penal se configura não a partir de si mesmo, mas da constituição. Nesse caso, a 447 A idéia de terceiro mundo aqui é inspirada em Karl POPPER (Conhecimento objetivo, p.108 ss) para quem os três mundos são: “... primeiro, o mundo de objetos físicos (...); segundo, o mundo de (...) estados mentais, ou talvez de disposições comportamentais para agir; e, terceiro, o mundo de conteúdos objetivos de pensamento, especialmente de pensamentos científicos...”. 448 Derecho Penal: parte general. Fundamentos y teoría de la imputación, p. 20. 449 Ibid., p. 44. 172 palavra “configura” tem sentido amplo e alcança a própria idéia de limites do sistema penal. Onde tais limites estão localizados? Ora, parece que ali onde se admite que a constituição é o lugar onde são definidos os limites do sistema jurídico, entendido como totalidade e constituído de várias partes, e se admite também que o direito penal é parte do sistema jurídico, tem-se de admitir como conseqüência lógica que os limites do direito penal são definidos pela constituição. A implicação disso está em que, se num código penal, o do BRASIL, por exemplo, o estoque de normas exculpantes não responde às demandas de justiça que a natureza do caso concreto reclama e se a constituição que lhe dá validade elege a justiça como um valor diante do qual a indiferença do aplicador da lei é um sem sentido lógico, isso significa que a lacuna do código penal equivale a um silêncio que implica no consentimento de produzir justiça a qualquer custo, e não a qualquer custo recompor a vigência da norma. O preâmbulo da Constituição do Brasil (1968) assegura que liberdade, segurança e justiça são valores supremos de uma sociedade fraterna. A Constituição ainda assegura que justiça como valor supremo é uma prestação cujo encargo cabe ao Judiciário e exige dele que fundamente todas as decisões. Qualquer que seja a decisão tomada no âmbito desse poder ligada à área penal afeta a liberdade e a segurança (também valores supremos). Para garantir o controle do caráter efetivo de todos esses valores (liberdade, segurança e justiça), a Constituição quer que sejam levados em conta como fundamento do ato de decidir. Ora, na origem de todo fundamento há um argumento. Para esse fim, aliás, DWORKIN chama a atenção para o fato de que o direito é uma prática argumentativa.450 Argumentos, então, não importa se deduzidos do sistema penal ou inspirados na prática penal mesmo, desde que realizem a idéia de justo, garantem também a vigência do direito penal. Pois bem, a inexigibilidade é um conceito referido à práxis penal. Ele foi 450 Cf. O império do direito, p.17. 173 concebido num cenário pobre em possibilidades normativas e impróprias para oferecer alternativas para a justiça do caso concreto. É o que explica que somente tenha restado ao Tribunal alemão (onde foi descoberto) manejá-lo como argumento que iluminava a solução reclamada.451 Parece pouco, mas é disso que se trata aqui: conferir à inexigibilidade uma solução que tome em conta sua dimensão como argumento num quadro problemático. Como justificar essa posição? 4. A inexigibilidade fora do sistema penal. Ficou assinalado até aqui que, nos marcos tradicionais da dogmática penal, o estatuto teórico da inexigibilidade é difuso. As soluções apresentadas para demarcar seu alcance, localizá-la no sistema do delito e definir seu conteúdo têm sido objeto de profundo dissenso. Uma explicação para isso pode estar ligada à reduzida autonomia do conceito. Nos códigos penais, por exemplo, o brasileiro (1984), ora fica encoberto na estrutura do estado de necessidade, ora como princípio imanente de todas as exculpantes (coação irresistível, obediência hierárquica, etc.), ora ainda como fundamento do tipo penal (favorecimento pessoal); mesmo as soluções indicadas por GOLDSCHMIDT e FREUDENTHAL, cujos esforços também reivindicavam libertar o conceito da estrutura limitada do estado de necessidade justificante do código penal alemão de 1871 (§ 52 e § 54), inserindo-o nos domínios da culpabilidade, fizeram-no dependente, seja do fenômeno do poder (o dever só é exigível de quem pode cumpri-lo), seja de um princípio fundamental que apela para a natureza humana. Enquanto isso, a solução de HENKEL, ao invés de salvar o conceito, tornou-o uma espécie de herdeiro sem legado, isto é, sem o aporte de conceitos dos quais a inexigibilidade nunca esteve separada, por exemplo, liberdade, autodeterminação, etc. Já no âmbito do pensamento penal mais recente, a inexigibilidade foi parcialmente admitida por ROXIN 451 Cf. supra, p. 138 s. 174 (considera-a aplicável nos delitos culposos) e tornada possível na teoria, mas inútil na prática, por JAKOBS. Pois bem, fora da dogmática penal e sua tradição, mas sem perdê-la de vista, e fora ainda do pensamento penal mais recente, mas sem perder de vista a dimensão comunicativa da norma que lhe empresta JAKOBS, embora ele mesmo não seja o ponto de partida aqui, outros caminhos podem ser explorados. Isso se dá porque não convém aqui enquadrar ou manter a inexigibilidade no interior do sistema penal, embora desenvolvimentos nessa trilha sejam sempre sustentáveis. Portanto, não é a idéia de sistema que inspira a busca de uma solução para o problema da inexigibilidade. A hipótese a ser adotada se refere unicamente ao uso da inexigibilidade num quadro problemático, em que o sistema vasculhado nas suas possibilidades e limites já não dá respostas, e, apesar disso, busca-se justiça agora segundo uma visão que torna possível encontrá-la no argumento. Dir-se-ia que nisso há um retorno àquilo que BECCARIA um dia hostilizou e deu o nome de “sedução da eloqüência”.452 (O marquês referia-se, com essa expressão, certamente, à retórica como arte de argumentar praticada pelos antigos.) Pode até ser. Afinal, o cálculo segundo o more geométrico ao qual BECCARIA associou a promessa de segurança, falhou. Com isso, justifica-se um exercício de regresso a um procedimento ou modo de pensar que os modernos enterraram com a própria tradição. De qualquer modo, o decisivo aqui é assegurar a confiança não na legalidade secamente considerada, mas na idéia de justiça que a ela se vincula pela via mais ampla do direito. Com isso, a legalidade pode até ficar enfraquecida de algum modo, mas o direito, não. Afinal, se direito não é justiça, no sentido de que não são a mesma coisa, pelo menos o fim dele (também) é a busca de justiça. Ora, o melhor caminho para a busca de justiça é o discurso, a linguagem, cuja matéria-prima é o argumento. Logo, dá-se aqui a renúncia ao sonho de 452 Cf. Supra, p. 11. 175 parte da dogmática jurídica de transformar a inexigibilidade em norma ou instituto do sistema penal, para manejá-la no campo da argumentação. Para que se dê conseqüência a essa transição, trata-se, previamente, de cumprir aqui duas tarefas: uma é a de mostrar, com LUHMANN, que o direito opera com dois programas, o condicional e o finalista;453 outra é passar a inexigibilidade de axioma, princípio, etc., para a posição de topoi, isto é, de um ponto de vista que serve como apoio para a argumentação. 5. A dupla programação do direito. LUHMANN, em quem, aliás, JAKOBS se inspirou para uma das premissas de seu modelo, aquela que associa o direito não a sistemas psíquicos, mas ao sistema social como comunicação, certamente não o inspirou acerca do problema da justiça. Isso não significa que LUHMANN problematizou a idéia de justiça; significa apenas que seu modelo de análise do direito permite entrevê-la. Pois bem, a busca de justiça aqui (pelo manejo da idéia de inexigibilidade) parte de LUHMANN, mais particularmente da idéia segundo a qual o sistema jurídico toma por base operações que se articulam no código lícito/ilícito. Este código, aliás, em nada lembra uma norma e em si mesmo é vazio (uma de suas particularidades é a de ser manipulável independentemente do conteúdo de cada comunicação). Sob esse aspecto, programas cumprem a função de dar conteúdo ao vazio. A constituição (bem como as regras de modo geral) e a jurisprudência são programas conhecidos. Eles podem ser condicionais ou finalistas. O direito opera, sobretudo, com o programa condicional (se /então). Nesse caso, as regras para a decisão são formuladas de tal maneira que tornam possível uma dedução a partir dos fatos: “... se está presente a realidade a, então a decisão x é conforme o direito; senão, não”.454 Mas opera também com o programa finalista. Aí as regras traçam objetivos, metas, fins, que devem ser alcançados. O artigo 3º da 453 454 Cf. Sociologia do direito I, p. 103. Niklas LUHMANN, O direito da sociedade, p. 60. 176 Constituição do Brasil é exemplo disso. Alguns objetivos são apontados ali como fundamentais para a REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, por exemplo, a construção de “uma sociedade livre, justa e soberana”. De igual modo, a Lei n.º 7.210, já no artigo 1º revela que “tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”. A existência de tais programas permite dizer que uma lei pode ser eficaz do ponto de vista da condicionalidade, mas ineficaz do ponto de vista dos fins. Com efeito, não se discute aqui o direito penal do ponto de vista da condicionalidade. Sua eficácia (sempre dependente dos fatos), nesse setor, está fora de questão. O que se discute é o direito penal como programa finalista. Nesse setor, a eficácia do direito penal sempre estará sob suspeição ali onde o estoque de normas exculpantes for impróprio para atender às demandas de soluções justas em casos fora da rotina. Num cenário como esse, [estritamente considerada] a lei penal deve renunciar à sua posição ordenadora (de onde reivindica para si o monopólio de todos os pontos de partida), para permitir que outros mecanismos sejam acionados. 6. A tópica não foge de problemas. Aqui o uso de mecanismos não necessariamente legais para solução de conflitos implica numa inversão: o ponto de partida que conduz à decisão judicial deixa de ser a lei e seu lugar é ocupado pelo problema. O abandono da lei opera-se em casos-limite, por oposição a casos-padrão. Isso se dá porque nesses confins ela já não oferece as respostas procuradas e assim perde a função de direção. A direção agora cabe ao problema. É nele que a inexigibilidade ganha sentido; não mais na lei. Isso significa que nos casos-padrão para os quais a lei penal e o sistema a que pertence mostram-se suficientes não se justifica aquele abandono. Aí, a lei penal usada como premissa para a solução do conflito mostra naturalmente o vigor de sua performance 177 dedutiva. A busca de premissas fora do sistema penal, e agora a partir do problema conduz aos topoi. É como se a premissa procurada retirasse do problema sua direção prévia. Sob esse aspecto, instaura-se aqui o ponto em que a inexigibilidade é assumida como um topoi. Mas, que é isso, um topoi? Antes de responder essa questão, cabe enfrentar outra que pode ser levantada. Em primeiro lugar, com efeito, a título de objeção é previsível o argumento segundo o qual o direito penal não pode prescindir da ótica que lhe é própria, isto é, a positividade. Este argumento, contudo, para ser forte, teria de supor uma inexigibilidade totalmente desconectada com o direito positivo. Não é o caso. Afinal, a inexigibilidade ilumina o direito positivo ou, por outra, o direito penal, em múltiplas situações. É o que se dá, conforme já examinado acima, no setor dos tipos proibitivos, por exemplo, com o crime de favorecimento pessoal (artigo 348, § 2º, CP); no setor dos tipos permissivos, por exemplo, com o estado de necessidade (artigo 24, CP); no setor das exculpantes, por exemplo, com a coação irresistível (artigo 22, CP). Isso parece suficiente para demonstrar que a inexigibilidade leva em conta o direito positivo, sim; o que não leva em conta do direito positivo é aquilo que não existe, ou seja, uma regra específica que lhe confira autonomia. Com base nessa resposta, outro argumento pode ser levantado: mas, se o direito penal contém, ainda que encoberto, o espírito da inexigibilidade, por que não lançar mão da analogia como um argumento já consagrado para suprir as lacunas de seu sistema? Bem, não dá para desconhecer a analogia como uma dádiva do pensamento sistemático. Ela cumpre, sim, a função de suprir necessidades que os vazios sistemáticos fazem aparecer. É também nesse sentido que ninguém lhe nega o papel segundo o qual pode revelar, ali onde é manejada, o caráter fantasioso do discurso que fala da auto-suficiência do sistema penal. Parece ser disso que se trata quando VIEHWEG anota: “A 178 freqüente presença de raciocínios analógicos indica usualmente a falta de um sistema lógico perfeito”.455 Acontece que a analogia tem alcance limitado; não quanto à sua força lógica, mas quanto a seu efeito material.456 É que sua validade como argumento exige a comparação de semelhanças que nem sempre se apresentam entre as características próprias das exculpantes legalmente previstas e aquelas reveladas pelo caso concreto. Assim, o caráter limitado do efeito material da analogia consiste em que ela é seletiva, pois deixa de fora de seu âmbito de aplicação inúmeras possibilidades suscitadas pela experiência jurídica. Os topoi interferem nesse ponto, funcionando como instrumentos que podem evitar a seleção. 7. O sistema como risco para a depravação do humano. Para compreender como se dá essa interferência, trata-se de esclarecer o que significa a palavra topoi ou, ainda antes disso, o que significa a própria tópica. Com efeito, antigos e modernos trataram da tópica. Com os antigos, a tópica estava vinculada à retórica, abastecendo-a com instrumentos cuja função era a de aumentar a eficácia da argumentação. Tais instrumentos eram os topoi ou loci (= lugares [comuns]). Os topoi, por sua vez, tinham por função operar como pontos de partida na construção do argumento. Com os modernos, o sentido da tópica é alterado e o dos topoi mantido (em parte, pelo menos). Na obra de VIEHWEG, a tópica parece ganhar alguma autonomia em relação à retórica e os topoi, embora permaneçam aí como pontos de partida, passam a se constituir em fórmula ou proposta de solução (dos problemas) na obra de CANARIS.457 Sob qualquer desses aspectos, o decisivo é que os topoi (ou lugares) ocupam sempre a posição de premissas de ordem geral e funcionam, de acordo com PERELMAN e TYTECA, “enquanto orientações para a invenção (...) oferecidas para a 455 Tópica e jurisprudência, p. 40. O problema da distinção entre os conceitos de força lógica e efeito material de um argumento é colocado por FEYERABEND (Contra o método, p. 40) num contexto em que é anotada a dificuldade de tal tarefa. 457 Cf. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito, p. 269. 456 179 descoberta de pontos de vista solucionadores de problemas na direção indicada”. Tais premissas são articuladas “... no terreno do que é conforme as opiniões aceitas” e “... que intervêm para justificar a maior parte de nossas escolhas”458 no campo da argumentação ou do discurso. Não se trata aqui, contudo, do discurso como arte de persuadir; por exemplo, aquele a que se refere PERELMAN e TYTECA quando tratam da retórica antiga e que é proferido “... perante uma multidão reunida na praça pública, com o intuito de obter a adesão desta a uma tese...”459 ou, modernamente, o discurso de um advogado na defesa do réu. Trata-se do discurso no sentido que lhe empresta FERRAZ JÚNIOR, isto é, do discurso como decisão, por exemplo, o discurso do juiz, sempre inseparável da regra do dever de prova, e cuja característica é a de obrigar aquele que decide a revelar os fundamentos de seu ato, isto é, a “... prestar contas daquilo que (...) diz”.460 Dir-se-á: mas que há de diferente nisso, se afinal o modo de pensar sistemático no campo do direito também reclama o uso de premissas, mais particularmente, aquelas deduzidas da lei? 8. A tópica como techne (arte) de exaltação do humano. VIEHWEG, nas primeiras páginas de Tópica e jurisprudência, responde à questão. Para tanto, introduz o tema da recuperação da tópica na modernidade a partir de VICO e para quem o método científico entre os antigos era o retórico (tópica) e entre os modernos, o crítico. Um e outro fazem uso de pontos de partida. O ponto de partida do método crítico é o primum verum; o da retórica é o sensus communis. VICO não despreza as vantagens do método crítico, por exemplo, as que correspondem à agudeza e precisão; mas as desvantagens, segundo ele, parecem predominar, por exemplo, pobreza da linguagem, redução da fantasia, falta de amadurecimento do juízo, o que 458 Tratado da argumentação, p. 95. Ibid., p. 6. 460 Direito, retórica e comunicação, p. 40. 459 180 resulta, em uma palavra, na “depravação do humano”.461 Por seu turno, a retórica, pela sua peça medular (a tópica) evita tudo isso. Ela “proporciona sabedoria, desperta a fantasia e a memória e ensina como considerar um estado de coisas de ângulos diversos, isto é, como descobrir uma trama de pontos de vista”. Dessa forma, a retórica conduziria (como parece implícito no pensamento de VICO) à exaltação do humano. Para VIEHWEG, se, no campo da tópica ou modo de pensar problemático, as premissas têm apenas de ser legitimadas, o que ocorre “... porque foram aceitas por homens notáveis”,462 no campo do pensamento sistemático, elas têm de ser demonstradas. Acontece, pondera VIEHWEG, que a demonstração de uma premissa “... é uma questão puramente lógica” e isso “reclama um sistema dedutivo”, cujas operações fossem perfeitas. Ora, “a tópica pressupõe que um sistema semelhante não existe”.463 É que “sua permanente vinculação ao problema tem de manter (...) a dedução em limites modestos”.464 De qualquer forma, “quando se logra estabelecer um sistema dedutivo (...) a que toda ciência deve aspirar, a tópica tem de ser abandonada”.465 Dito brevemente: “numa situação ideal, a dedução torna totalmente desnecessária a invenção. O sistema assume a direção”.466 É provável que, nessa passagem, VIEHWEG tenha se referido apenas ao caráter supérfluo da tópica em vista de um ou outro domínio da ciência cuja suficiência dedutiva seja inquestionável. Nela, contudo, o sistema mesmo não é negado ou excluído; apenas assinala os “limites modestos” de suas possibilidades dedutivas. Logo, não parece haver uma oposição inconciliável entre a idéia de sistema e a tópica no pensamento de VIEHWEG; ao contrário, sistema e tópica se completam e não são poucos os 461 Tópica e jurisprudência, p. 20 s. Ibid., p. 53. 463 Ibid., p. 43. 464 Ibid. 465 Ibid. 466 Ibid. 462 181 que pensam dessa forma. Nesse sentido, a passagem, aplicada ao direito penal, pode servir ao propósito de compreendê-lo, não como um sistema perfeito ou auto-suficiente, mas como um sistema limitado. Isso significa que a idéia aqui não é desconhecer o sistema penal (e nele, mais particularmente, o sistema do delito), por conta de suas insuficiências e substituí-lo pela tópica; a idéia é assumi-lo no seu caráter limitado, para, se as demandas de justiça do caso concreto exigirem, completá-lo com a tópica. Para esse fim e contra VIEHWEG, não se trata de conferir qualquer precedência à tópica; trata-se, ao contrário, de confirmar com CANARIS a precedência do sistema, embora com a percepção de que suas carências (= lacunas), ligadas à situação concreta, e tendo por referência a eterna aporia da justiça, não podem dispensar o consolo da tópica.467 Nesse ponto, os topoi transitam da posição onde eram fórmulas de procura e passam a ser fórmulas de solução. A inexigibilidade de conduta diversa é isso: um topoi, ou seja, a fórmula de solução para problemas no setor das exculpantes penais, aplicável ali onde, a partir do sistema do delito, já não há mais saída para quem, dotado de razão e subjetividade, e sendo ainda consciente de si, livre e igual a todos, apenas reivindica ser reconhecido como indivíduo. 467 Cf. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito, p. 284 ss. 182 Conclusão Que resultado esta investigação pode apresentar? Não vale como confissão de malogro, se for dito aqui que apenas foi redescrito o tema da inexigibilidade de conduta diversa na sua relação com o caráter limitado das exculpantes penais e, portanto, com as lacunas daí implicadas, tendo em vista expectativas de justiça geradas diante do caso concreto. Redescrever um tema significa abordá-lo sob aspecto diferente do habitual (o domínio que serve de referência habitual para o exame da inexigibilidade e suas conexões é o da dogmática jurídica), compreendê-lo sob novos aspectos, tomá-lo de um ângulo hermenêutico no que isso significa (sob o aspecto filosófico) de denúncia dos limites do conhecimento tradicional. Nesse caso, o sentido de redescrever um tema implica o de retomá-lo segundo possibilidades ainda não exploradas. Isso não representa desprezo pelo que já foi descoberto em torno dele; apenas representa que o esforço por novas descobertas continua. Para que o esforço em busca de novas descobertas em torno da inexigibilidade e sua função no direito penal pudesse continuar, foi preciso deslocá-la para outro domínio, o da argumentação ou, mais particularmente, o da tópica. 183 Em princípio, não deve haver espanto diante disso. Afinal, desde os antigos sabe-se que o conhecimento pode ser revelado de muitos modos. Com base nisso, é possível assumir aqui que de muitos modos o direito pode ser revelado também. Convém esclarecer que nada disso se confunde com a idéia de um tratamento anárquico do conhecimento jurídico; apenas revela que o percurso até ele pode reivindicar o uso de distintas metodologias. Com efeito, entre os modernos o discurso jurídico tem se orientado habitualmente, ora pela pauta do jusnaturalismo, ora pela do positivismo jurídico. Aqui, sem rejeitar nenhuma delas, o discurso procura justificar-se no domínio ainda não esgotado da linguagem: especificamente da tópica e aí encontrar a solução para o problema colocado. Que problema? Ora, o de saber como a razão penal pode ainda assegurar ao indivíduo a segurança que um dia lhe prometeu se ela não foi capaz de evitar as incertezas decorrentes da insuficiente provisão normativa no campo das exculpantes. A solução pela via da inexigibilidade de conduta diversa e seu uso associado à tópica, longe de representarem apenas uma posição engajada, militante, em favor de uma prática jurídica idealizada, representam, sim, uma possibilidade que se justifica cientificamente, desde que não se renuncie a uma reflexão fundamentada acerca do que significam alguns dos termos centrais do problema. Destacam-se entre eles, indivíduo, segurança e razão penal. Em todo caso, nenhum terá muito sentido se tomado isoladamente. Somente quando são tomados em conjunto, ou melhor, em suas relações especificas, é que se torna conseqüente e relevante certificar que o indivíduo referido pela razão penal como ponto de partida para a montagem do direito que lhe corresponde, sempre que faltem as regras para a solução justa que o caso concreto reclama, encontra-se inseguro e, assim, desconstituído. Para “Seu Joãozinho”, por exemplo, no caso que serve de ilustração ao problema deste trabalho, faltaram regras adequadas a uma 184 solução materialmente justa, tendo em vista expectativas ligadas a uma estratégia absolutória. Não fora o arranjo que o tema da inexigibilidade possibilitou, seria inevitável a solução oposta, deixando-o inseguro como indivíduo, isto é, como um ser para o qual o direito penal destinou garantias, entre elas a de inspecionar a esfera subjetiva da ação que praticou, deduzindo daí todas as conseqüências, inclusive a de saber se, mesmo agindo com conhecimento e vontade rumo ao crime, podia fazê-lo de modo diverso. Sem o exercício dessa garantia, o indivíduo que o direito penal acolheu se desconstitui. A compreensão do que seja o indivíduo desconstituído diante do direito penal implica a compreensão de como ele se constituiu. Isso obedeceu a um processo em que se deu a renúncia à condição de ser natural que ostentava para assumir o posto de ser emancipado. Fala-se do indivíduo como homem emancipado quando em torno dele se agregam propriedades ou predicados, a saber, autonomia, igualdade, liberdade, subjetividade e razão que o tornam agora capaz (como ser moral) de assumir responsabilidades perante o Estado (que ele mesmo criou) e a lei (que ele também concebeu). A passagem que conduziu o homem à emancipação, no entanto, foi longa. (É como se aqui ficasse confirmada a regra segundo a qual a natureza não dá saltos.) Tudo começou na Antigüidade (com os gregos e romanos considerados cidadãos), passou pelo período medieval (em algum sentido) e foi finalizada nos tempos modernos. Somente nesta etapa, contudo, o indivíduo se constituiu numa categoria de caráter universal: referida a todos, portanto, e não a poucos. É aqui que a razão penal moderna entra em cena para assumir o indivíduo na sua inteireza. Isso se deu pela quebra de privilégios excludentes (= igualdade), pela ruptura com o legislador divino (= autonomia), pela adoção do cânon do livre-arbítrio (= liberdade), e, sobretudo, penetrando na sua [estritamente considerada] configuração interior (motivos, vontade, 185 consciência, em uma palavra, a própria subjetividade), para, a partir daí, qualificar e emitir juízos acerca de suas ações. (Qualquer modelo de direito penal, de que são exemplos, ora o positivismo criminológico, ora o de JAKOBS, que desconheça todos ou alguns desses aspectos, por exemplo, o coeficiente psíquico [= subjetividade] representa um desvio.) Com isso, a razão penal passou a entronizar o indivíduo como sujeito de deveres e ainda de direitos. Como dever número um foi consagrado o de fazer da norma o motivo de sua ação; como direito (número um também) foi consagrada a idéia de garantir suas expectativas de segurança. Para alcançá-la e, desse modo, evitar riscos para a liberdade, bastava-lhe um cálculo que tomasse em conta leis (escritas) cujas proposições, de um lado, distinguissem-se pela clareza e precisão de seus termos, e, de outro, tornassem completo e sem lacunas o direito penal dos novos tempos. Para assegurar a promessa de segurança feita ao indivíduo, a razão penal operou com dois instrumentos. O primeiro consistiu no princípio da legalidade; o segundo, no sistema do delito. O princípio da legalidade apareceu como uma construção da razão para depois ser incorporado aos códigos penais; o sistema do delito é igualmente uma construção da razão, mas efetivada a partir dos códigos penais. Para o que interessa aqui, contudo, a relação que mais importa entre esses dois instrumentos de segurança consiste no reconhecimento de que o sistema do delito não passa de uma projeção lógica do princípio da legalidade. Antes dessa relação, contudo, outra já havia se instaurado: aquela na qual a legalidade processara ou incorporara todas as propriedades que revelavam o indivíduo. Assim, propriedades (ou predicados) do indivíduo, legalidade penal e sistema do delito constituem uma tríade de elementos inseparáveis e que se completam. Não se questiona que tais elementos, assim 186 conectados, têm sido, no geral, suficientes para garantir expectativas de segurança quando aplicados aos casos-padrão, especialmente no setor da culpabilidade. Algo semelhante não pode ser dito em ralação a casoslimite: aqueles nos quais, embora a ação do sujeito esteja acompanhada do dolo ou da culpa (objetos de avaliação também no setor da culpabilidade) e mesmo da consciência da ilicitude, e assim, em princípio, pareça reprovável, dispensa tal juízo. É que a performance delitiva do sujeito se desenvolve em cenários nos quais estão esgotados os limites da resistência humana e já não restam mais forças para suportar a pressão das circunstâncias concomitantes (anormais). Nesses casos, o sujeito não pode escolher. A pressão insuportável das circunstâncias desfalca-o da liberdade, isto é, de predicado sem o qual ninguém é indivíduo. A supressão da liberdade e, assim, do indivíduo, implica também na supressão do juízo de censura. É que, sem ela, desaparece o fundamento capaz de justificá-lo. Mas a solução para casos dessa natureza tem sido dúbia. Em todo caso, no centro dessa dubiedade sempre se encontra a idéia da inexigibilidade de conduta diversa. Ela é adotada pela jurisprudência, na qual, aliás, foi inicialmente concebida, inclusive, embora com alguma economia, a dos tribunais brasileiros. Igualmente tem sido objeto de atenção pela dogmática penal, mas, nesse caso, embora adotada por penalistas de várias origens (brasileiros, portugueses, espanhóis, alemães, etc.), as resistências são mais fortes. Na base dessa atitude está a idéia de que a inexigibilidade, malgrado sua presença difusa como fundamento em institutos da parte geral (a legítima defesa, por exemplo) ou tipos da parte especial (como é o caso do favorecimento pessoal) dos códigos penais, não pode ser aplicada em busca de soluções com justiça por 3 (três) razões. Ora porque não se encontra prevista em lei como um conceito autônomo; ora porque é um conceito vazio; ora, ainda, porque leva à insegurança jurídica. 187 Tudo isso é refutável. Em primeiro lugar, porque se o poder e a força das circunstâncias concomitantes paralisam o poder e a força motivadora da lei, impotente, insuficiente ou lacunosa para mobilizar o sujeito em torno do dever–ser que prescreve, só resta à lei renunciar à sua posição ordenadora. A vantagem desse procedimento consiste em permitir que outros mecanismos sejam acionados e, desse modo, evita o recurso a si mesma para denunciar limites que apontam para a negação daquilo que constituiu, desde a aurora da modernidade, o ponto de partida de sua formulação: o indivíduo. Por outro lado, no ponto em que se dá a suspensão ou interrupção da busca por justiça sob o argumento da falta de normas [lacunas], dá-se também a submissão, de algum modo, a um direito penal do destino, da necessidade, sempre predador e autoritário: aquele que fundamenta a punição pela responsabilidade objetiva e que se recusa em fazer a pesquisa no interior do indivíduo, para, de lá, trazer à luz as causas subjetivas da conduta humana. Em segundo lugar, porque o conceito de inexigibilidade, longe de vazio, conecta-se, não apenas com circunstâncias externas referidas ao indivíduo, mas à sua interioridade, especialmente por conta de sua reduzida ou nenhuma capacidade de autodeterminação decorrente da supressão da liberdade de escolha. Em terceiro lugar, finalmente, porque não se trata de salvar a justiça pelo sacrifício da segurança jurídica, mas de garantir aquela em nome da segurança do indivíduo que um dia com tanta sensibilidade a razão penal prometeu. Sem embargo, o uso da inexigibilidade em busca da solução justa para o caso concreto não se justifica aqui a partir da idéia de sistema, embora, de alguma forma, isso seja possível. O sistema penal, aliás, em nenhum momento é refutado. Apenas fica reconhecido seu caráter limitado e é a partir desse ponto que se instaura o caminho pelo qual a inexigibilidade ao se encontrar com a tópica se assegura de sua legitimidade. Tanto mais isso tem sentido quanto mais se admite que a 188 servidão aos limites da legalidade, quando está em jogo a liberdade do indivíduo, portanto, sua segurança, é a ignorância de que ela, a própria legalidade, desde suas origens adotou como justificativa a pretensão de garantir a liberdade e a segurança do indivíduo. 189 Obras consultadas ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. 4. ed. Trad. Alfredo Bosi. São Paulo: Martins Fontes, 2000. ADORNO, T.; HORKHEIMER, M. Temas básicos da sociologia. 2. ed. Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 1978. __________. Dialética do esclarecimento. Trad. Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985. ADORNO, T. Minima moralia. 2. ed. Trad. Luiz Eduardo Bica. São Paulo: Ática, 1993. AGOSTINHO, S. A cidade de Deus. 7. ed. Trad. Oscar Paes Lemos. Petrópolis: Vozes, 2002. __________. Sobre a potencialidade da alma. 2. ed. Trad. Aloysio Jansen de Faria. Petrópolis: Vozes, 2005. __________. Confissões. Trad. J. Oliveira Santos e Ambrósio de Pina. São Paulo: Nova Cultural [s.d.]. ALVES JÚNIOR, T. Annotações theoricas e praticas ao Codigo Criminal. Rio de Janeiro: Editores Francisco Luz Pinto& Cia., 1864. ANTOLISEI, F. Manuale di Diritto Penale: Parte Generale. Milão: Dott A. Giuffré Editore, 1989. AQUINO, R. S. L.; Azevedo Franco, D.; Campos Lopes, O. G. P. História das sociedades: das comunidades primitivas às sociedades medievais. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1980. AQUINO, T. Súmula contra os gentios. Trad. Alexandre Correia. São Paulo: Nova Cultural, [s.d.]. 190 ARENDT, H. Entre o passado e o futuro. 5. ed. Trad. Mauro W. Barbosa de Almeida. São Paulo: Perspectiva, 2002. ARISTÓTELES. Política. 2. ed. Trad. Mário da Gama Kury. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1988. __________. Ética a Nicômacos. 2. ed. Trad. Mário da Gama Kury. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1992. __________. A Constituição de Atenas. São Paulo: Nova Cultural, 2004. ASÚA, L. G. Princípios do Derecho Penal: La ley y el delito. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1989. BACON, F. Novo Organum ou verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza. Trad. José Aluysio Reis de Andrade. São Paulo: Nova Cultural, 1999. BAUMANN, J. Derecho Penal: conceptos fundamentales y sistema. Trad. Conrado A. Finzi. Buenos Aires: Depalma, 1981. BECCARIA, C. Dos delitos e das penas. Trad. Torrieri Guimarães. São Paulo: Hemus – Livraria Editora, [s.d.]. BELING, E. V. Esquema de Derecho Penal. Trad. Sebastian Soler. Buenos Aires: Depalma, 1944. BENTHAM, J. Teoria das penas legais. 2. ed. São Paulo: Cultura, 1945. BETTIOL, G. Direito penal. 2. ed. Trad. Paulo José da Costa Júnior e Alberto Silva Franco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1977. BLOCH, E. Derecho natural y dignidad humana. Madrid: Ed. Aguillar, 1980. BOBBIO, N. Locke e o direito natural. Editora Universidade de Brasília, 1997. Trad. Sergio Bath. Brasília: 191 __________. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Trad. Márcio Pugliesi, Edson Bini e Carlos E. Rodigues. São Paulo: Ícone, 2006. BODENHEIMER, E. Teoría del derecho. 2. ed. Trad. Vicente Herrero. México: FCE, 1994. CACONO, A. M. Platão, Kant e o problema da autonomia. Rio de Janeiro: Lacerda Ed./Instituto Itália de Cultura, 2001. CANARIS, C-W. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Trad. A. Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989. CANOTILHO, J. J. G. Direito constitucional e teoria da constituição. 5. ed. Coimbra: Livraria Almedina, [s.d.]. CARRARA, F. Reminiscencias de catedra y foro. Trad. Jorge Guerreiro. Bogotá: Editora Temis, 1988. __________. Programa de Derecho Criminal. Trad. José Ortega Torres. Bogotá: Editorial Temis, 1996. CASSIRER, E. O mito do Estado. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1976. CHÂTELET, F.; DUHAMEL, O.; PISIER-KHOUCHNER, E. História das idéias políticas. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000. COULANGES, F. D. A cidade antiga. Trad. Jean Meluille. São Paulo: Martin Claret, 2002. DESCARTES, R. Discurso do método. 5. ed. Trad. J. Guinsburg e Bento Prado Júnior. São Paulo: Nova Cultural, [s.d.]. 192 __________. Meditações. 5. ed. Trad. J. Guinsburg e Bento Prado Júnior. São Paulo: Nova Cultura, [s.d.]. DWORKIN, R. O Império do direito. Trad. Jefferson Luz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1999. DURANT, W. História da civilização. Trad. Monteiro Lobato. São Paulo: Companhia Editora Nacional, [s.d.]. ECHANDÍA, A. R. Culpabilidad. Santa Fé de Bogotá: Editora Temis, 1999. ELIAS, N. O Processo civilizador. Trad. Renato Janine Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1994. EPICURO. Pensamentos. São Paulo: Martin Claret, 2006. ERASMO. De pueris (Dos meninos). Trad. Luiz Ferracine. São Paulo: Ed. Escala, [s.d.]. ESPINOSA, B. Ética. Trad. Joaquim de Carvalho, Joaquim Ferreira Gomes e António Simões. Lisboa: Relógio D’Água Editores, 1992. __________. Tratado teológico-político. Trad. Diogo Pires Aurélio, São Paulo: Martins Fontes, 2003. FEYERABEND, P. Contra o método. Trad. Cezar Augusto Mortari. São Paulo: Editora Unesp, 2007. FERRAJOLI, L. Derecho y razón. Madrid: Editorial Trotta, 2001. FERRAZ JÚNIOR, T. S. Direito, retórica e comunicação: subsídios para uma pragmática do discurso jurídico. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. __________. Estudos de Filosofia do Direito: reflexões sobre o poder, a liberdade, a justiça e o direito. São Paulo: Atlas, 2002. FERRI, E. La sociologie criminelle. Paris: Felix Alcan Editeuer, 1905. 193 __________. Princípios de Direito Criminal. Trad. Paolo Capitanio. Campinas: Bookseller Editora, 1996. FOUCAULT, M. A verdade e as formas jurídicas. Trad. Roberto Cabral de Melo Machado e Eduardo Jardim Morais. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2003. FRANK, R. Sobre la estructura del concepto de culpabilidad. Montevidéu-Buenos Aires: Editorial IB de F, 2002. FREUD, S. Moisés e o totemismo. Trad. Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1969. __________. Totem e tabu e outros trabalhos. Trad. Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago Editora, [s. d.]. FREUDENTHAL, B. Culpabilidad y reproche em el Derecho Penal. Montividéu-Buenos Aires: Editorial IB de F, 2003. GADAMER, H. G. Elogio da teoria. Trad. João Tiago Proença. Lisboa: Edições 70, [2001]. GALILEU. O ensaiador. São Paulo: Nova Cultural, [s.d.]. GIBBON, E. The decline and fall of roman empire. Universidade de Chicago, 1955. GOLDSCHMIDT, J. La concepción normativa de culpabilidad. 2. ed. Montividéu-Buenos Aires: Editorial IB de F, 2002. GROTIUS, H. O Direito da guerra e da paz (De jure belli ac pacis). 2. ed. Trad. Ciro Mioranza. Ijuí: Ed. Unijuí, 2005. HABERMAS, J. Para a reconstrução do materialismo histórico. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Brasília: Editora Brasiliense, 1983. HART, H. L. A. O conceito de direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. 194 HEGEL, G.W.F. Princípios da Filosofia do Direito. Trad. Orlando Vitorino. São Paulo: Martins Fontes, 1977. HELLER, A. O cotidiano e a história. 6. ed. Trad. Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder. São Paulo: Paz e Terra, 2000. HENKEL, H. Exigibilidad e inexigibilidad como principio jurídico regulativo. Montividéu-Buenos Aires: Editorial IB de F, 2005. HOBBES, T. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. 4. ed. Trad. João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Nova Cultural, 1988. __________. Do cidadão. Trad. Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 1992. __________. Os elementos da lei natural e política: tratado da natureza humana: tratado do corpo político. Trad. Fernando Dias Andrade. São Paulo: Ícone, 2002. __________. Diálogo entre um filósofo e um jurista. Maria Cristina Guimarães Cupertino. 2. ed. São Paulo: Landy Editora, 2004. HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. São Paulo: Centauro Editora, 2000. JAKOBS, G. Derecho Penal: parte general. Fundamentos y teoria de la imputación. 2. ed. Trad. Joaquin Cuello Contreras e Jose luis Serrano Gonzalez de Murillo. Madrid: Marcial Pons, 1997. __________. Estudios de Derecho Penal. Trad. Enrique Peñaranda Ramos, Carlos J. Suáres Gonzáles e Manuel Cancio Meliá. Madrid: Editorial Civitas, 1997. __________. Sobre la génesis de la obligación jurídica. Trad. Manuel Cancío Meliá. Bogotá: Universidade Externado de Colômbia, 1999. 195 __________. A imputação objetiva no Direito Penal. Trad. André Luís Callegari. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. __________. Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal. Trad. Manuel Cancío Meliá e Bernardo Feijóo Sánchez. Madrid: Thomson-Civitas, 2003. JESCHECK, H. H. Tratado de Derecho Penal: parte general. José Luis Manzanares Samaniego. Granada: Comares, 1993. KANT, E. Doutrina do direito. 2. ed. Trad. Edson Bini. São Paulo: Ícone, 1993. __________. Resposta à pergunta: que é “Esclarecimento”?. In: Textos Seletos. 3. ed. Trad. Raimundo Vier e Floriano de Souza Fernandes. Petrópolis: Editora Vozes, 2005. __________. Fundamentos da metafísica dos costumes. Trad. Lourival de Queiroz Henkel. Rio de Janeiro: Editora Tecnoprint, [s.d.]. KAUFMANN, A. Teoria da norma jurídica. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1976. KELSEN, H. Teoria pura do direito. 4. ed. Trad. João Baptista Machado. Coimbra: Armênio Amado-Editor, Sucessor, 1976. __________. Teoria geral das normas. Trad. José Florentino Duarte. Porto Alegre: Fabris, 1986. LEIBNIZ. Novos ensaios sobre o entendimento humano. Trad. Adelino Cardoso. Lisboa: Edições Colibri, 1993. LISZT, F. V. Tratado de direito penal alemão. Trad. José Higino Duarte Pereira. Campinas: Russel Editores, 2003. __________. A idéia do fim no Direito Penal. Trad. Hiltonmar Martins Oliveira. São Paulo: Rideel, 2005. 196 LOCKE, J. Segundo tratado sobre o governo. Trad. Jacy Monteiro. São Paulo: Nova Cultural, 1991. __________. Ensaio acerca do entendimento humano. Trad. Anoar Aiex. São Paulo: Nova Cultural, 1991. LOMBROSO. C. O homem criminoso. Trad. Maria Carlota Carvalho Gomes. Rio de Janeiro: Editora Rio, [1990]. LUHMANN, N. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983. __________. O Direito da sociedade. Trad. Javier Torres Nafarrate. São Paulo: PUC/SP, [2003?], 46 p. (Mimeo). LUTERO, M. Do cativeiro babilônico da Igreja. Trad. Martin N. Dreher. São Paulo: Martin Claret, 2006. MALET, A. Roma. Buenos Aires: Libreria Hachette, [s.d.]. MAQUIAVEL, N. Discursos sobre la primera década de Tito Lívio. Madrid: Alianza Editorial, 2005. MARTINS DA COSTA, Djalma. Inexigibilidade de conduta diversa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999. MAURACH, R.; ZIPF H. Derecho Penal: parte general. Buenos Aires: Astrea, 1994. MEZGER, E. Derecho Penal: parte general. México: Cardenas, 1990. MOMMSEN, T. História de Roma (Excertos). Rio de Janeiro: Editora Delta, 1962. MONTESQUIEU. O espírito das leis. Trad. Fernando Henrique Cardoso e Leoncio Martins Rodrigues. São Paulo: Abril Cultural, 1979. 197 __________. Grandeza e decadência dos romanos. Trad. Gilson Cézar de Souza. São Paulo: Germape, 2002. MUÑOZ CONDE, F. Teoría general del delito. 2. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 1991. NIETZSCHE, F. Vontade de potência. Trad. Mário D. Ferreira Santos. Rio de Janeiro: Ediouro, [s.d.]. OLIVARES, G. Q. Derecho Penal: parte general. Madrid: Marcial Pons, 1992. PLATÃO. A república. Trad. Enrico Corvisieri. São Paulo: Nova Cultural, [2000?]. POPPER, K. Conhecimento objetivo: uma abordagem evolucionária. Trad. Milton Amado. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 1999. PERELMAN, C. Lógica jurídica. Trad. Virgínia P. Pupi. São Paulo: Martins Fontes, 1988. PERELMAN, C.; TYTECA, L. O. Tratado da argumentação. Trad. Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1996. PUIG PEÑA, F. P. Derecho Penal. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1969. ROBERTS, J. M. O Livro de ouro da história do mundo. Trad. Laura Alves e Aurélio Rebello. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001. ROCCO, A. El problema y el método de la ciência del Derecho Penal. Santa Fé de Bogotá: Temis, 1999. ROUSSEAU, J. J. Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. Trad. Lourdes Santos Machado. São Paulo: Nova Cultural, 1991. __________. O contrato social. Trad. Rolando Roque da Silva. São Paulo: Ed. Cultrix, [s.d.]. 198 __________. Do contrato social: ensaio sobre as origem das línguas. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Série: Os pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1991. ROXIN, C. Derecho Penal: parte general. Fundamentos. La estructura de la teoria del derecho. Madrid: Civitas, 1997. __________. Política criminal e sistema jurídico-penal. Trad. Luís Greco. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2000. RUSSELL, B. A autoridade e o individuo. Trad. Agenor Soares Santos. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1956. __________. História da filosofia ocidental. Livro primeiro. 3. ed. Trad. Breno Silveira. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1969. SANTIAGO, H. Penso, logo existo. Discutindo filosofia. São Paulo, 2005; ano I, n. 1, p. 8-9. SAVELLE, M. História da civilização mundial. Trad. Milton Amado. Belo Horizonte: Ed. Irradiante, 1971. SAVIGNY, F. K. V. Metodologia jurídica. Trad. Heloísa da Graça Buratti. São Paulo: Rideel, 2005. SCHELLING. F. V. Obras escolhidas (Cartas filosóficas sobre o dogmatismo e o criticismo). 3. ed. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Nova Cultural, 1989. SCHOPENHAUER, A. Fragmentos para a história da filosofia. Trad. Maria Lúcia Cacciola. São Paulo: Ed. IIluminuras, 2003. SÊNECA. A vida feliz. Trad. Luiz Feracine. São Paulo: Escala, 2006. STRATENWERTH, G. Derecho Penal: parte general I. 4. ed. Trad. Manuel Cancio Melía e Marcelo A. Sancinetti. Buenos Aires: Hammurabi, 2005. 199 TOLEDO, F. A. Princípios básicos de Direito Penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1991. TEUBNER, G. O direito como sistema autopoiético. Trad. José Engrácia Antunes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. TOURAINE, A. Crítica da modernidade. 7. ed. Trad. Elia Ferreira Edel. Petrópolis: Vozes, 2002. WEBER, M. Economia e sociedade. Trad. Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999. WELLS, H. G. História universal. Trad. Anísio Teixeira. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1968. WELZEL, H. Derecho Penal aleman. 12. ed. Trad. Juan Bustos Ramirez e Sergio Yáñez Pérez. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1987. WESSELS, J. Direito Penal: parte geral. Trad. Juarez Tavares. Porto Alegre: Fabris, 1976. VECCHIO, G. D. Lições de filosofia do direito. Trad. Antônio José Brandão. Coimbra: Armênio Amado Editor, 1999. VIEHWEG, T. Tópica e jurisprudência. Trad. Tércio Sampaio Ferraz Jr. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1979. VOLTAIRE. Tratado sobre a tolerância. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 1993. __________. O preço da justiça. Trad. Ivone Castilho Benedittis. São Paulo: Martins Fontes, 2001. ZAFFARONI, E. R. Tratado de Derecho Penal. México: Cardenas Editor, 1988. vol. III. Excluído: ¶
Download