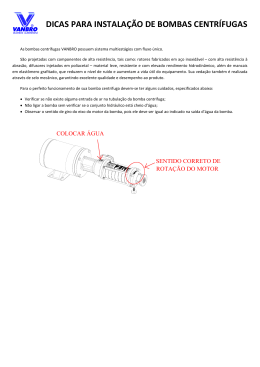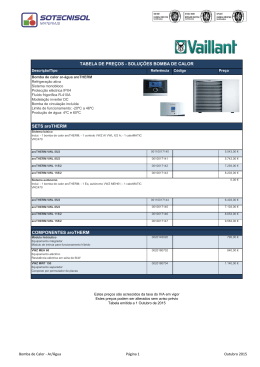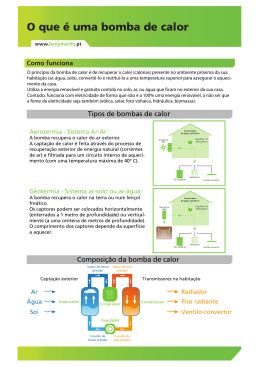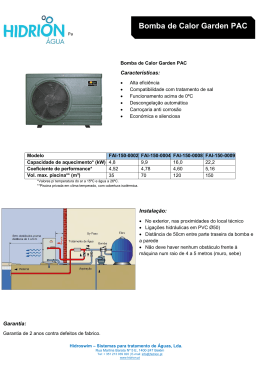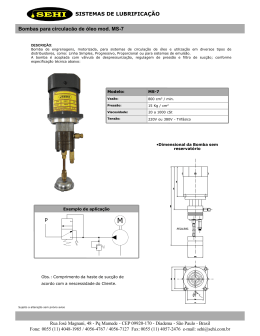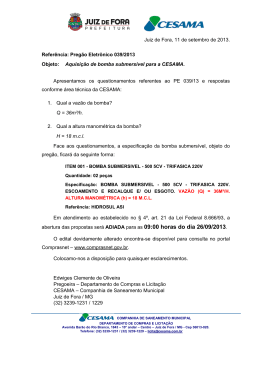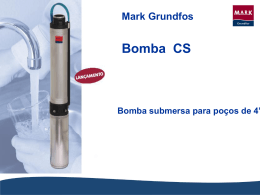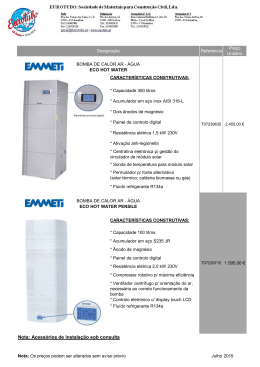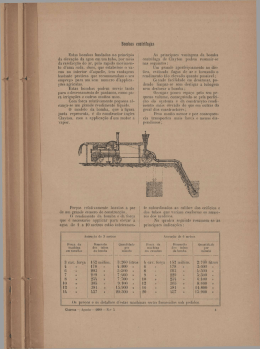UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO PRÓ-REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO ESCOLA POLITÉCNICA AGROECOLOGIA, ENGENHARIA E TECNOLOGIAS SOCIAIS APLICADOS À MELHORIA DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DAS CONDIÇÕES DE VIDA DE UM ASSENTAMENTO AGRÍCOLA Prof. Dr. Arisvaldo Viera Mello Júnior Gabriela Gumiero Miguel Bortoletto Giansante São Paulo 2014 Lista de Figuras, Tabelas e Gráficos Figura 1 - Hidrografia da bacia do Alto-tietê com dominialidade local Figura 2 - Assentamento Dom Pedro Casaldáliga Figura 3 – Temperatura e média mensal em Cajamar Figura 4 – Escavação do buraco (lado esquerdo) e da vala (lado direito) Figura 5 – Construção da casa da bomba (lado esquerdo) e o canteiro da obra (lado direito) Figura 6 – Desenho esquemático da casa da bomba Figura 7 – Plantação (lado esquerdo) e casa da bomba finalizada (lado direito) 8 8 9 11 Tabela 1 - Tabela Climática Tabela 2 – Levantamento de produção Tabela 3 – Coeficiente K para as principais culturas Tabela 4 – Indicações coeficiente K 9 10 10 10 Gráfico 1 - Curva característica de instalação (CCI) Gráfico 2 - Curva característica da bomba (CCB) Gráfico 3 - Sobreposição das curvas características da instalação (CCI) e (CCB) e da bomba Gráfico 4 – Relação da cavitação necessária NSPHr e a de projeto NSPHD 13 14 12 12 17 14 15 2 Sumário 1. Introdução ............................................................................................................................... 4 2. Objetivo................................................................................................................................... 5 3. Metodologia ............................................................................................................................. 6 3.1 Localização ......................................................................................................................... 7 3.2 Inventários de uso e ocupação do solo ..................................................................................... 9 3.3 Descrição do sistema .......................................................................................................... 10 4.Resultados .............................................................................................................................. 15 5.Conclusões .............................................................................................................................. 17 6.Bibliografia............................................................................................................................. 18 3 1. Introdução A transferência de conhecimento e tecnologia é fundamental na formação profissional. Entretanto, se isso for feito de maneira isolada da realidade, não se cumpre plenamente o objetivo final de preparar o profissional para o pleno exercício de suas funções como graduado. Os conteúdos abordados em sala de aula carecem de uma vivência prática da realidade que os cercam. A extensão universitária apresenta-se neste contexto como parte do tripé da universidade, e ela é essencial para complementar essa formação, aprofundando os conhecimentos profissionais e humanísticos dos alunos, além de contribuir para enaltecer e exercitar a cidadania dos mesmos na medida em que oferece a possibilidade deles trocarem conhecimento com a comunidade, assim, trazendo benefícios a ambos. Além disso, estimula o aprendizado, a capacidade de solucionar problemas práticos, a consolidação dos conceitos e conhecimentos adquiridos, e a valorização da integração com a sociedade (THIOLLENT, 2002). Seguindo essa visão surge o NEATS – Núcleo de Agroecologia e Tecnologias Sociais, um projeto de extensão desenvolvido por alunos de engenharia e de outros cursos, num âmbito interdisciplinar. Este projeto apoia-se na troca de experiências aonde o conhecimento se estrutura com outras esferas de conhecimento, assim criando oportunidades tanto do ponto de vista profissional quanto de cidadania. O engenheiro neste núcleo aprende sobre outras práticas e outras profissões o que vai ampliar o conhecimento humano dele, fator que tem impacto direto na sua formação. O desenvolvimento destas práticas ocorre no Escritório Piloto, espaço que abriga grupos de extensão na Escola Politécnica, o qual busca por meio da aplicação de conceitos e aprendizados de engenharia uma inserção do aluno no contexto social assim como prática de extensão universitária. O NEATS desenvolve atividades diversas, desde o estudo, formação acadêmica e tecnológica, a prática e a discussão. O núcleo também acredita na importância do programa Aprender com Cultura e Extensão, pois incentiva a prática de atividades extra-universitárias permitindo que haja um canal institucional entre a universidade e as demandas sociais. O objetivo do trabalho desenvolvido consistiu em aplicar, na prática, conhecimentos de engenharia, produção, agroecologia, irrigação e arquitetura na viabilização e sofisticação da produção agrícola e da reprodução material do assentamento Dom Pedro Casaldáliga, localizado no município de Cajamar, dentro da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). O assentamento abriga 20 famílias que tiveram recentemente acesso à terra, vivem da produção de subsistência familiar, não extrativista, e sustentável (sem utilização de agrotóxicos). Os produtos principais são hortaliça, porém devido às dificuldades de crédito agrícola, de energia, de água para irrigação, mercado, questões de transporte e de produção, eles enfrentam dificuldades para manterem-se produzindo na terra, por isso, muitos jovens buscam empregos mal remunerados na cidade. A proposta envolveu o dimensionamento de um sistema de irrigação e medidas de manejo sustentável da área levando em conta as características físicas da região (mananciais hídricos, qualidade da água, relevo, culturas), bem como as características sociais e culturais dos assentados (vocação para agricultura, sistema de produção, hábitos alimentares, sistema de produção agrícola familiar, e outras), fornecendo assim condições adequadas de uso da terra. 4 Muitas áreas rurais existentes na RMSP enfrentam restrições jurídicas e adversidades operacionais para desenvolver atividades agrícolas. Com o intuito de apresentar alternativas para auxiliar a solução desses problemas, o grupo acredita que o primeiro passo para solucionar os embargos burocráticos (falta de água para abastecimento da população, limitações para uso de energia elétrica, inexistência de projeto para viabilizar crédito para a produção, dificuldades de escoamento da produção, etc.) é desenvolver um planejamento de uso do solo e da água indicando metodologias sustentáveis de produção (ALTIERI, 1989). Essa atuação reflete diretamente na melhoria da qualidade de vida de quem é assistido no campo e indiretamente na vida da cidade aonde se busca o impacto sobre o preço do alimento, que é muito elevado na capital (NEVES et al., 2000). Por meio de conceitos aprendidos em um conjunto de disciplinas do curso de graduação da universidade, os alunos poderão contribuir para a solução dos citados problemas, por exemplo, no aumento da eficiência do abastecimento de água para irrigação e aumento da produção agrícola familiar. É importante destacar que todas as atividades foram desenvolvidas em parceria com as famílias, e não imposta a elas, buscando assim uma interação na qual se estabeleça um aprendizado em mão dupla, tanto dos alunos quanto dos assentados (ALTIERI, 2010). Dessa forma, o projeto terá continuidade e o conhecimento será construído multilateralmente, trazendo uma compreensão holística da questão (CAPORAL; COSTABEBER; PAULUS, 2006). 2. Objetivo O objetivo deste trabalho consiste em aplicar, na prática, conhecimentos de engenharia na viabilização da produção agrícola do assentamento Dom Pedro Casaldáliga. A proposta envolveu o dimensionamento de um sistema de irrigação e medidas de manejo sustentável da área levando em conta as características físicas da região bem como as características sociais e culturais dos assentados fornecendo assim condições adequadas de uso da terra. O escopo do trabalho restringe-se a área de 20 hectares nas quais se concentram as famílias do assentamento. Para cumprir esse objetivo conduziu-se uma série de atividades de construção de infraestrutura, levantamento de dados dentre outras. Foram as seguintes atividades propostas: 1. Estudo do terreno: levantamento topográfico da região; 2. Estudo da bacia hidrográfica da região; 3. Estudo da vegetação; 4. Elaboração do plano de manejo; 5. Elaboração do projeto de irrigação: 6. Construção da rede de abastecimento; 7. Entrega do plano de manejo para a prefeitura; 8. Plano de manutenção; 9. Documentação das atividades. 5 3. Metodologia O NEATS pauta que um projeto de engenharia deve ter como fundamento a viabilidade do projeto em relação às condições e a integração com a população do local. O trabalho foi desenvolvido no Assentamento Dom Pedro Casaldáliga devido à maior proximidade e facilidade de comunicação com os assentados. Buscou-se que, tanto o planejamento quanto a execução do projeto fossem feitos conjuntamente por todas as partes, de modo que se aproveitasse a experiência e o conhecimento tanto do projetista quanto do executor da obra (CAPORAL; COSTABEBER; PAULUS, 2006). Assim, não houvesse separação entre as etapas de construção e que o planejamento fosse coerente com o andamento da obra. Entende-se que quando o planejamento e a execução são feitos juntos há um aprimoramento do projeto que se baseia na realidade material do canteiro de obras. Além disso, foi com esse intuito que desenvolver práticas e tecnologias que se adequam à visão da realidade social que foi adotado na construção da casa da bomba, onde foram utilizados materiais disponíveis no assentamento como o tijolo baiano. A técnica de construção utilizada foi proposta pelos assentados que tinham grande experiência na construção civil. A obra foi conduzida em mutirões autogestinados em que as decisões foram tomadas coletivamente cabendo a noção participativa da extensão (THIOLLENT, 2002). O formato da casa da bomba foi um desafio do ponto de vista arquitetônico visto que necessitava proteger a bomba hidráulica e usar prioritariamente os tijolos baianos. Levou-se em consideração que a estrutura ficaria em um campo aberto e que deveria isolar o equipamento de crianças, animais e pessoas de fora do assentamento. A solução encontrada foi a abóboda visto que este tipo de estrutura suporta uma maior tensão por não apresentar cantos vivos, como por exemplo em uma estrutura retangular que apresentaria risco caso fosse a solução adotada. Entende-se que este trabalho é uma prática de extensão universitária, pois a partir da interação com a comunidade, é possível estabelecer vínculos efetivos da universidade com a sociedade, pois, sendo a USP uma universidade pública, ela deve ser um dos mecanismos de transformação social, e dentro deste contexto, uma atividade conjunta a movimentos sociais contempla esta meta, bem como promove aos alunos uma maior visão da realidade social e dos desafios que nossa sociedade enfrenta. Isto é um dos objetivos da extensão, transformar a universidade em um espaço de aprendizado interdisciplinar, teórico e prático, em que o aluno possa estar inserido nos problemas sociais e conseguir através da interface entre o conhecimento universitário e popular, ferramentas para intervir nesse tipo de problema (THIOLLENT, 2002). Encerrado o período deste programa, não foi possível atingir os seguintes objetivos: - Adaptação da Rede Elétrica; - Censo Florestal; e - Elaboração do Plano de Manejo. No caso da rede elétrica, a bomba não se adequava a tensão da rede. A inadequação da rede elétrica impede o funcionamento ótimo da bomba e a desgasta, o que impossibilitou o teste do sistema. 6 O Censo Florestal é uma atividade importante para dimensionar o impacto ambiental no bioma. Contudo esta atividade é extensa e existia a demanda imediata do fornecimento de água para irrigação. Dessa forma não se realizou o censo florestal. Na etapa de dimensionamento do sistema, utilizou-se para o cálculo da vazão necessária de irrigação a estimativa de uma produção de hortaliças, uma das culturas que mais demanda água. Desta forma, o sistema está planejado para a vazão máxima necessária de água. 3.1 Localização O assentamento Dom Pedro Casaldáliga com área total de 120 hectares e localiza-se na cidade de Cajamar em uma área rural. O relevo é planáltico onde há presença de morros. Próximo ao assentamento há uma área de preservação, e também plantações de eucalipto. A cidade de Cajamar está localizada na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (Figura 1). A cidade apresenta uma grande produtividade em seus poços que exploram o SAC (Sistema Aquífero Cristalino) com vazão média de 2,79 m3/h, que supri totalmente o abastecimento de água da região. A imagem de satélite da Figura 2 refere-se à região do assentamento. Nota-se que esta região possui um lago que será a fonte de abastecimento para a irrigação no assentamento, o qual é drenada por um manancial. O clima na região é quente e temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano em Cajamar. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. De acordo com a Köppen e Geiger (1928) o clima é classificado como Cfb. A Figura 3 apresentam as médias mensais de temperatura e precipitação de Cajamar. A temperatura média é 18.4 °C e a média anual de pluviosidade é de 1356 mm. A diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso é de 196 mm é. A precipitação do mês mais seco (Agosto) é de 35 mm. A maioria da precipitação ocorre no mês de Janeiro, com uma média de 231 mm. Janeiro e Fevereiro são os meses mais quentes do ano com uma temperatura média de 21,4 °C. A temperatura média em Julho é de 14,9 °C, senda está a mais baixa. A variação entre a temperatura média máxima e a mínima, durante o ano, é de 6,5 °C, conforme apresentado na Tabela 1. 7 Figura 1 - Hidrografia da bacia do Alto-tietê com dominialidade local (Fonte: fabhat.org) Figura 2 - Assentamento Dom Pedro Casaldáliga. Fonte: Google Earth. 8 Figura 3 – Temperatura e precipitação média mensal em Cajamar (Fonte: climate-date.org) Tabela 1 - Tabela climática (Fonte: climate-date.org) 3.2 Inventários de uso e ocupação do solo O assentamento possui ao todo 120 hectares de área, porém as 30 famílias que o ocupam se concentram em 20 hectares visto que o restante se encontra embargado no aguardo do processo de licenciamento ambiental. O sistema de abastecimento planejado busca abastecer a ocupação atual, suprindo a demanda imediata das famílias, que possuem suprimento de água para o consumo doméstico porém não para a produção agrícola. Quanto ao sistema de abastecimento já existia uma rede implantada de canos conectando às caixas d’água coletivas até a entrada do lote de cada família assentada. Todavia, devido a um incêndio recente ocorrido antes deste projeto perto das caixas d’água coletivas, algumas tubulações foram danificadas sendo necessário a verificação de seu estado e a substituição de algumas peças. No assentamento existe um sistema de bombeamento de água para os lotes voltado para o consumo básico das famílias. Como a maioria dos lotes se localiza em cota elevada a prática de 9 agricultura fica restrita visto que não há o fornecimento constante de água, dentre os assentados, somente as famílias que moram em cota baixa conseguem praticar a agricultura. Conversando com os assentados, elencou-se os principais produtos cultivados: Fidel Antônio Moraes Alcino Rosa Mandioca, milho, feijão Mandioca, milho, feijão e frutas diversas Hortaliças, mandioca e frutas diversas Alface, abacaxi, banana e almeirão Hortaliças, mandioca, feijão, batata doce e frutas diversas Tabela 2 – Levantamento de produção As maiores demandas hídricas provem da agricultura. A criação de animais não é expressiva e consome um volume ínfimo de água em relação à agricultura. As principais culturas são: alface, batata, feijão, milho, mandioca, banana. Não foi possível realizar a instalação de tensiômetros com o intuito de se levantar dados sobre a capacidade hídrica do solo. Este procedimento envolveria a produção deste equipamento e a capacitação dos assentados para seu manuseio. Como não foi possível reunir recursos para a aquisição e instalação dos tensiômetros optou-se por realizar a estimativa da demanda de água por meio do coeficiente de cultura K (FAO, 2012) para as seis principais culturas, conforme apresentado na Tabela 3. Cultura Coeficiente (K) Banana 1.2-1.35 Feijão 1.15 Batata 1.1 Milho 1.25 Alface 1.00 Mandioca 0.8 Tabela 3 – Coeficiente K para as principais culturas (FAO, 2012) Considerando que o coeficiente K representa a relação entre a cultura e sua resistência à falta de agua (Tabela 4), observa-se que das seis culturas principais apenas a mandioca apresenta K < 1 indicando que somente ela é tolerante à seca. K>1 K=1 K<1 Mais sensível a falta de agua, perdas grandes de produção Perdas variam diretamente proporcional a diminuição na agua Mais tolerante a falta de agua Tabela 4 – Indicações coeficiente K. (FAO, 2012) 3.3 Descrição do sistema 10 Na realização deste trabalho o processo de construção pode ser dividido em três momentos: 1) as reuniões semanais do grupo NEATS, 2) o cotidiano dos assentados, e 3) os mutirões coletivos de trabalho. As três instancias de trabalho estão interligadas e são interdependentes. Contudo, o grupo NEATS participou das reuniões e dos mutirões coletivos. O cotidiano dos assentados corresponderia para os residentes ao que o grupo desenvolvia nas reuniões semanais, ou seja, discussão e encaminhamentos necessários emergentes do último mutirão e demandas para o próximo. Geralmente neste momento os assentados terminavam etapas pontuais da construção ou aceleravam processos que levavam tempo. O NEATS como grupo interdisciplinar é composto por alunos de vários cursos, como arquitetura, engenharia ambiental, civil, produção e naval, letras, ciências sociais e geografia. As reuniões semanais tinham como objetivo discutir os encaminhamentos para o mutirão, por exemplo, a necessidade de compra de material, a pesquisa de técnicas de construção, a busca por auxílio científico com os professores entre outros. Também era objeto dessas reuniões a discussões de práticas alternativas com um viés humanístico e holístico – as práticas agroecológicas – norteadoras deste trabalho (por exemplo, estudo de técnicas alternativas, em adobe, e de práticas de irrigação e hidráulico, e uso da água.) (CAPORAL; COSTABEBER; PAULUS, 2006). Os mutirões eram marcados de acordo com a disponibilidade mútua entre os alunos e os moradores. Agendados para fins de semana, eles tinham pautas específicas acordadas entre ambas as partes previamente, sendo assim, o mutirão era pontual evitando o desperdício da força de trabalho. Em todas as etapas do projeto se utilizava o modelo autogestionário, em que não havia hierarquia nas decisões nem divisão de quem planeja e de quem executa. A construção da casa da bomba foi um processo que levou várias etapas. Primeiramente, foi escavado um buraco com diâmetro de 1 m e profundidade de 2 m além de uma vala até o lago com comprimento de 20 m e profundidade de 1 m (Figura 4). Após a escavação feita coletivamente e somente com pá e enxada, foi iniciada a construção da obra assentando-se os tijolos baianos em um formato circular usando cimento (Figura 5). Após ter concluída a parede circulares da casa da bomba optou-se por construir a cobertura no formato de abóboda. Finalizada a parte de construção do teto que teve o conhecimento em construção dos assentados como grande facilitadora foi construída a porta da casa de bomba, feita a partir de uma porta antiga, cortando-se no tamanho apropriado e cobrindo-a com cimento. A casa da bomba ficou como representado na Figura 6. 11 Figura 4 - Escavação do buraco (lado esquerdo) e da vala (lado direto). Figura 5 – Construção da casa da bomba (lado esquerdo) e o canteiro da obra (lado direito). Figura 6 - Desenho esquemático da casa da bomba. Após o término da casa da bomba, percorremos todos os canos até a caixa d’água de 5000 L que já estavam feitos e a caixa d’água instalada, a fim de ver se tinha algum defeito no encanamento. Após percorrer todos os canos, e trocando o que foi necessário para o funcionamento do sistema, foi instalada a tubulação de sucção da bomba até o lago. O cano que estava dentro do lago foi colocado dentro de um tambor que furado em toda a sua superfície e 12 afundado com o uso de brita. Assim, o tambor pode realizar a função de proteger a entrada do tubo contra impurezas. Com o encanamento finalizado, foi realizada a instalação elétrica da bomba, colocando chave de proteção e relé de sobrecarga. Assim iniciou-se o processo de instalação da bomba. A bomba instalada é uma bomba centrífuga da Schneider modelo ME-AL 24150 15 T 60 4V. Dentro da casa da bomba em cima de um pequeno platô, foi chumbada a bomba e colocados coxins a fim de não danificar a bomba devido à vibração. Depois, foi executado o processo da escorva da bomba que consistiu em colocar água na tubulação desde o pesqueiro até a bomba. Um dos fatores definidores das dimensões do projeto é a bomba hidráulica, que foi doada ao assentamento por uma igreja, sendo essa acompanhada de seu manual de instalação e operação além dos dados operacionais, por meio dos quais foi possível dimensionar o sistema de abastecimento. O sistema dimensionado ficou assim: A bomba apresenta uma curva característica (Gráfico 1), que simboliza a capacidade de bombeamento em relação à altura manométrica requerida, ou seja, qual é a vazão que a bomba consegue elevar considerando que a água deve vencer uma potência mínima. Esta potência é chamada de carga total e representa a soma entre a altura de projeto (diferença de cota entre o ponto de captação de água e o ponto onde está instalada a caixa d’água) e as perdas localizadas (em cotovelos, na própria bomba, etc.). O projeto apresenta uma curva com os mesmos eixos da curva da bomba (Gráfico 2), porém esta segunda curva tem concavidade positiva e representa a carga necessária para bombear uma certa vazão de água. Percebe-se que o projeto é viável quando se sobrepõem as duas curvas num mesmo gráfico (Gráfico 3) e estas se interceptam num ponto, conhecido como ponto de projeto, instância ideal para a instalação e operação do sistema. Porém, pode-se operar o sistema em qualquer ponto a esquerda do ponto de projeto, o que significa que a bomba consegue suprir mais vazão do que a requerida pela demanda. Outro fator importante no dimensionamento da bomba é a NSPH: Energia Disponível no Líquido na Entrada da Bomba, que designa a energia disponível da sucção. O sistema é funcional quando a energia disponível (NSPHD) é maior ou igual que a energia requerida (NSPHr) (AZEVEDDO NETTO, 1998). Conforme indicado no Gráfico 4 a bomba funciona dentro do requerimento técnico. 13 Gráfico 1 – Curva Característica da Instalação (CCI) Gráfico 2 – Curva Característica da Bomba (CCB) 14 Gráfico 3 – Sobreposição das curvas características da instalação (CCI) e da bomba (CCB) Gráfico 4 – Relação da cavitação necessária NSPHr e a de projeto NSPHD 4. Resultados Surgiram imprevistos e dificuldades que afetaram o planejamento e os objetivos iniciais conforme o projeto foi avançando: -Percorrer a rede de abastecimento trocando os canos danificados entre a caixa d’água e a bomba. Envolveu desenterrar alguns canos e aterrá-los novamente posteriormente. 15 -Dificuldades na construção da casa da bomba, a técnica de construção em abóboda teve que ser estudada a fundo e os mutirões dependeram da presença de alunos da FAU e do Sr. Fidel, possuidor de experiência na construção de fornos de pizza os quais se assemelham ao formato da casa da bomba. -A rede elétrica apresentava voltagem inferior ao motor elétrico da bomba, o projeto ficou atravancado até o conserto da rede por um eletricista. -Mau funcionamento da bomba que impossibilitou o funcionamento do sistema de bombeamento. Após o fim do ano de trabalho, o grupo conseguiu alcançar os seguintes objetivos: Estudo do terreno Elaboração do projeto de irrigação Documentação: registro de todas as atividades desenvolvidas, através de fotos, vídeos e relatórios periódicos. Construção da rede de abastecimento Estudo da bacia hidrográfica da região Avaliar a qualidade da água e sua potabilidade. Estudo do ciclo hidrológico da bacia e de sua série histórica de vazões, possibilitando a elaboração de cenários futuros; Plano de manutenção: acompanhamento da comunidade após a execução das atividades, bem como a avaliação dos resultados obtidos e o cumprimento das metas e objetivos traçados. Levantamento das principais espécies cultivadas e suas características. A Figura 7 mostra os resultados obtidos. Contudo, após um ano de trabalho não foi possível atingir todos os objetivos propostos. Apesar do planejamento prévio, surgiram imprevistos em campo que estavam longe do escopo deste trabalho e sobre os quais não se conheciam meios de se solucionar o problema. Os objetivos não alcançados são os seguintes: Adaptação da rede elétrica Estudo da vegetação Elaboração do plano de manejo Figura 7 – Plantação (lado esquerdo) e casa da bomba finalizada (lado direito). 16 5. Conclusões Devido aos problemas relatados, a bomba ainda não está em funcionamento – somente as famílias residentes em cotas mais inferiores e próximas ao pesqueiro conseguem manter uma produção estável. Solucionados estes problemas, será possível que o assentamento torne-se produtor de alimentos orgânicos e passe a fornece-los a escolas públicas, conforme estabelecido no Programa Nacional de Alimentação Escolar, e a outros consumidores. Foi possível perceber em campo a falta de assistência técnica rural (AGRA; SANTOS, 2001), que deveria auxiliar os pequenos produtores na consolidação da produção, neste caso, assentados e universitários somaram forças para solucionar os problemas e implementarem o projeto. Finalizado o período do programa, o projeto obteve sucesso em encaminhar a estruturação do assentamento como zona produtora alimentícia e contribuindo com a produção de alimentos de altíssima qualidade em uma zona de interesse social. Porém, o trabalho apresenta suas limitações conforme foram apresentadas anteriormente, o projeto para o Dom Pedro Casaldáliga não se encerra com o fim do programa Aprender com Cultura e Extensão, novas demandas surgiram durante o trabalho assim como novas possibilidades de atuação em outros contextos surgem a partir do momento em que se configura um projeto de extensão de sucesso. A partir desta experiência o grupo NEATS reconhece a importância do programa Aprender com Cultura e Extensão como via institucional de incentivo e fomento a extensão universitária, cobrindo um déficit existente na falta de financiamento de grupos de extensão. Além da instalação de infraestrutura, este projeto contribuiu para a formação dos membros do grupo, a partir da experiência prática aliando os conhecimentos teóricos com a realidade material. Existem muitas demandas in-loco e em outras realidades, o grupo pretende replicar estes aprendizados nessas outras instâncias, desta forma, alcança-se o objetivo da universidade pública e da extensão universitária: promover a transformação social (THIOLLENT, 2002). 17 6. Bibliografia AGRA, N. G.; SANTOS, R. F. d. Agricultura brasileira: situação atual e perspectivas de desenvolvimento. Anais do XXXIX Congresso da Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural. Recife, 2001 ALTIERI, M. Agroecologia: as bases científicas da agricultura alternativa. Rio de Janeiro: PTA/FASE, 1989. 240p. ALTIERI, M. Agroecologia, agricultura camponesa e soberania alimentar. Revista Neri, Presidente Prudente, ano 13, n.16, p. 22-32, jan./jul. 2010. AZEVEDO NETTO, J.M. et al. Manual de Hidráulica. São Paulo: Edgard Blucher, 8ed., 1998. 669p. CAPORAL, F.R.; COSTABEBER J.A.; PAULUS G. Agroecologia: Matriz disciplinar ou novo paradigma para o desenvolvimento rural sustentável. Seambu, Brasília, 29 p, abril 2006. FAO. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Crop yield response to water. Rome: FAO, 2012. 500p KÖPPEN, W.; GEIGER, R. Klimate der Erde. Gotha: Verlag Justus Perthes. 1928 NEVES, M. C. P.; MEDEIROS, C. A. B.; ALMEIDA, D. L. de; DE-POLLI, H.; RODRIGUES, H. R.; GUERRA, J. G. M.; NUNES, M. U. C.; CARDOSO, M. O.; RICCI, M. S. dos F.; SAMINÊZ, T. C. O. Agricultura orgânica: instrumento para sustentabilidade dos sistemas de produção e valorização de produtos agropecuários. Seropédica: Embrapa Agrobiologia, dez. 2000. 22p. (Embrapa Agrobiologia. Documentos, 122) THIOLLENT, M. Construção do Conhecimento e Metodologia da Extensão. In: CBEU – CONGRESSO BRASILEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 1, 2002, João Pessoa. Anais... 18
Download